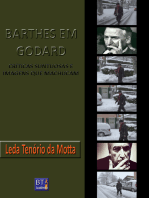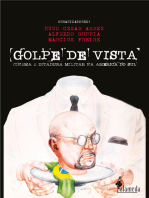Professional Documents
Culture Documents
AGAMBEN, Giorgio - O Cinema de Guy Debord
Uploaded by
Estela RosaOriginal Description:
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
AGAMBEN, Giorgio - O Cinema de Guy Debord
Uploaded by
Estela RosaCopyright:
Available Formats
O cinema de Guy Debord1 Giorgio Agamben O meu intuito o de aqui definir certos aspectos da potica, ou melhor, da tcnica composicional
l de Guy Debord no domnio do cinema. Evito voluntariamente a expresso obra cinematogrfica, nominao que ele prprio rejeitou que se pudesse utilizar a seu propsito. Considerando a histria da minha vida, escreveu ele em In girum imus nocte et consumimur igni [1978], no podia fazer aquilo a que se chama uma obra cinematogrfica. De resto, no apenas penso que o conceito de obra no til no caso de Debord, como sobretudo me pergunto se hoje, cada vez que se quer analisar aquilo a que se chama de obra, quer seja literria, cinematogrfica ou outra, no seria necessrio colocar em questo o seu prprio estatuto. Em vez de interrogar a obra enquanto tal, penso que preciso perguntar que relao existe entre o que se podia fazer e o que foi feito. Uma vez, como estava tentado (e ainda estou) a consider-lo um filsofo, Debord me disse: No sou um filsofo, sou um estrategista. Ele viu o seu tempo como uma guerra incessante em que toda a sua vida estava empenhada numa estratgia. por isso que penso ser preciso interrogar-nos sobre o sentido do cinema nessa estratgia. Porqu o cinema e no, por exemplo, a poesia, como o foi no caso de Isou, que tinha sido to importante para os situacionistas, ou porqu no a pintura, como para um dos seus amigos, Asger Jorn? Creio que isso se deve ligao estreita que existe entre o cinema e a histria. De onde vem essa ligao, e de que histria se trata? Tal deve-se funo especfica da imagem e ao seu carcter eminentemente histrico. preciso especificar aqui alguns detalhes importantes. O homem o nico animal que se interessa pelas imagens enquanto tais. Os animais se interessam bastante pelas imagens, mas na medida em que so enganados por elas. Podemos mostrar a um peixe a imagem de uma fmea, ele ir ejectar o seu esperma; ou mostrar a um pssaro a imagem de outro pssaro para o capturar, e ele ser enganado. Mas quando o animal se d conta que de se trata de uma imagem, desinteressa-se totalmente. Ora, o homem um
1
AGAMBEN, Giorgio. O Cinema de Guy Debord; imagem e memria. Texto acessado no stio eletrnico Blog Intermdias, http://www.intermidias.blogspot.com/2007/07/o-cinema-de-guy-debordde-giorgio.html , no dia 18 de fevereiro de 2008. Este texto a transcrio revista por Agamben de uma conferncia pronunciada em um seminrio consagrado a Guy Debord, com uma retrospectiva de seus filmes, durante a 6 Semana Internacional de Vdeo, em Genebra, no ano de 1995. Com 3 outros artigos, este texto foi publicado no livro, no momento indisponvel para venda, intitulado Image e Mmoire, ditions Hobeke, 1998 (p.65-76). (Collection Arts & Esthtique)
animal que se interessa pelas imagens uma vez que as tenha reconhecido enquanto tais. por isso que se interessa pela pintura e vai ao cinema. Uma definio do homem, do nosso ponto de vista especfico, poderia ser que o homem o animal que vai ao cinema. Ele se interessa pelas imagens uma vez que tenha reconhecido que no se tratam de seres verdadeiros. Um outro aspecto que, como mostrou Gilles Deleuze, a imagem no cinema (e no apenas no cinema, mas nos Tempos modernos em geral) j no algo de imvel, j no um arqutipo, quer dizer, algo fora da histria: um corte ele prprio mvel, uma imagem-movimento, carregada enquanto tal de uma tenso dinmica. essa carga dinmica que se v muito bem na fotos de Marey e de Muybridge que esto na origem do cinema, imagens carregadas de movimento. uma carga deste gnero que via Benjamin naquilo a que chamava uma imagem dialctica, que era para ele o prprio elemento da experincia histrica. A experincia histrica faz-se pela imagem, e as imagens esto elas prprias carregadas de histria. Poderamos considerar a nossa relao pintura sob este aspecto: no se trata de imagens imveis, mas antes de fotogramas carregados de movimento que provem de um filme que nos falta. Era preciso restitu-las a esse filme (vocs tero reconhecido o projeto de Aby Warburg). Mas de que histria se trata? preciso esclarecer que no se trata aqui de uma histria cronolgica, mas a bem dizer de uma histria messinica. A histria messinica define-se antes de mais nada por dois caracteres. uma histria da Salvao, preciso salvar alguma coisa. E uma histria ltima, uma histria escatolgica, em que alguma coisa deve ser consumada, julgada, deve passar-se aqui, mas num tempo outro, deve, portanto, subtrair-se cronologia, sem sair para um exterior. essa a razo pela qual a histria messinica incalculvel. Na tradio judaica h toda uma ironia do clculo, os rabinos faziam clculos muito complicados para prever o dia da chegada do Messias, mas no paravam de repetir que se tratavam de clculos proibidos, pois a chegada do Messias incalculvel. Mas, ao mesmo tempo, cada momento histrico aquele da sua chegada, o Messias sempre j chegado, est sempre j a. Cada momento, cada imagem est carregada de histria, porque ela a pequena porta pela qual o Messias entra. esta situao messinica do cinema que Debord partilha com o Godard das Histoire(s) du cinma. Apesar da sua antiga rivalidade Debord disse em 68 de Godard que ele era o mais tolo de todos os Suos pr-chineses , Godard reencontrou o mesmo paradigma que Debord tinha sido o primeiro a traar. Qual esse paradigma, qual essa tcnica de composio? Serge Daney, acerca das Histoire(s) de Godard, explicou que era a montagem: O cinema procurava uma coisa, a montagem, e
era dessa coisa que o homem do sculo XX tinha uma necessidade terrvel. o que mostra Godard nas Histoire(s) du cinma. O carcter mais prprio do cinema a montagem. Mas o que a montagem, ou antes, quais so as condies de possibilidade da montagem? Em filosofia, depois de Kant, chama-se s condies de possibilidade de alguma coisa os transcendentais. Quais so ento os transcendentais da montagem? Existem duas condies transcendentais da montagem, a repetio e a paragem. Isto, Debord no o inventou, mas f-lo vir luz, exibiu estes transcendentais enquanto tais. E Godard far o mesmo nas suas Histoire(s). J no temos necessidade de filmar, basta-nos repetir e parar. Esta uma nova forma epocal por relao histria do cinema. Este fenmeno espantou-me bastante em Locarno em 1995. A tcnica composicional no mudou, ainda a montagem, mas agora a montagem passa para primeiro plano, e mostra-se enquanto tal. por isto que se pode considerar que o cinema entra numa zona de indiferena em que todos os gneros tendem a coincidir; o documentrio e a narrao, a realidade e a fico. Faz-se cinema a partir das imagens do cinema. Mas voltemos s condies de possibilidade do cinema, a repetio e a paragem. O que uma repetio? H na Modernidade quatro grandes pensadores da repetio: Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger e Gilles Deleuze. Os quatro mostraram-nos que a repetio no o retorno do idntico, do mesmo enquanto tal que retorna. A fora e a graa da repetio, a novidade que traz, o retorno em possibilidade daquilo que foi. A repetio restitui a possibilidade daquilo que foi, torna-o de novo possvel. Repetir uma coisa torn-la de novo possvel. a que reside a proximidade entre a repetio e a memria. Dado que a memria no pode tambm ela devolver-nos tal qual aquilo que foi. Seria o inferno. A memria restitui ao passado a sua possibilidade. o sentido desta experincia teolgica que Benjamin via na memria, quando dizia que a recordao faz do inacabado um acabado, e do acabado um inacabado. A memria , por assim dizer, o rgo de modalizao do real, aquilo que pode transformar o real em possvel e o possvel em real. Ora, se pensarmos nisso, trata-se tambm da definio do cinema. No faz o cinema sempre isso, transformar o real em possvel, e o possvel em real? Podemos definir o j visto como o fato de perceber algo do presente como se j tivesse sido, e o inverso, o fato de perceber como presente algo que j foi. O cinema tem lugar nessa zona de indiferena. Compreendemos ento porque o trabalho com imagens pode ter uma tal importncia histrica e messinica, pois uma forma de projetar a potncia e a possibilidade em direo ao que por definio impossvel, em direo ao passado. O
cinema faz ento o contrrio do que fazem as mdias. As mdias do-nos sempre o fato, o que foi, sem a sua possibilidade, sem a sua potncia, do-nos portanto um fato sobre o qual somos impotentes. As mdias adoram o cidado indignado mas impotente. o mesmo objetivo do telejornal. a m memria, a que produz o homem do ressentimento. Ao colocar a repetio no centro da sua tcnica composicional, Debord torna de novo possvel aquilo que nos mostra, ou melhor, abre uma zona de indecidibilidade entre o real e o possvel. Quando mostra um trecho do telejornal, a fora da repetio tal que deixa de ser um fato consumado, e volta a ser, por assim dizer, possvel. Nos perguntamos: Como isto foi possvel? primeira reao , mas ao mesmo tempo compreendemos que sim, tudo possvel, mesmo o horror que nos fazem ver. Hannah Arendt definiu um dia a experincia final dos campos como o princpio do tudo possvel. tambm nesse sentido extremo que a repetio restitui a possibilidade. O segundo elemento, a segunda condio transcendental do cinema a paragem. o poder de interromper, a interrupo revolucionria de que falava Benjamin. muito importante no cinema, mas, mais uma vez, no apenas no cinema. o que faz a diferena entre o cinema e a narrao, a prosa narrativa, com a qual se tem tendncia a comparar o cinema. A paragem mostra-nos, pelo contrrio, que o cinema est muito mais prximo da poesia que da prosa. Os tericos da literatura sempre tiveram bastante dificuldades em definir a diferena entre a prosa e a poesia. Muitos elementos que caracterizam a poesia podem dar-se na prosa (que, por exemplo, do ponto de vista do nmero de slabas, pode conter versos). A nica coisa que se pode fazer na poesia e no na prosa so os enjambements e as cesuras. O poeta pode opor um limite sonoro, mtrico, a um limite sinttico. No se trata apenas de uma pausa, mas de uma nocoincidncia, uma disjuno entre o som e o sentido. Por isso Valry pde uma vez dar ao poema esta definio to bela: O poema, uma hesitao prolongada entre o som e o sentido. tambm por isso que Hlderlin pde dizer que a cesura, ao parar o ritmo e o desenrolar das palavras e das representaes, faz aparecer a palavra e a representao enquanto tais. Parar a palavra subtra-la do fluxo do sentido para a exibir enquanto tal. Poderamos dizer a mesma coisa da paragem tal como Debord a pratica, enquanto constitutiva de uma condio transcendental da montagem. Poderamos retomar a definio de Valry e dizer do cinema, pelo menos de um certo cinema, que uma hesitao prolongada entre a imagem e o sentido. No se trata de uma paragem no sentido de uma pausa, cronolgica, mas antes de uma potncia de paragem que trabalha
a prpria imagem, que a subtrai do poder narrativo para a expor enquanto tal. neste sentido que Debord nos seus filmes e Godard nas suas Histoire(s) trabalham com essa potncia da paragem. Estas duas condies transcendentais no podem nunca estar separadas, elas formam un sistema conjuntamente. No ltimo filme de Debord h um texto muito importante logo no incio: Mostrei que o cinema se pode reduzir esta tela branca, e esta tela preta. O que Debord entende por isto precisamente a repetio e a paragem, indissolveis enquanto condies transcendentais da montagem. O preto e o branco, o fundo em que as imagens esto to presentes que nem as conseguimos ver, e o vazio em que no h imagem alguma. Existem aqui analogias com o trabalho terico de Debord. Se tomarmos, por exemplo, o conceito de situao construda que deu nome ao situacionismo, uma situao uma zona de indecidibilidade, de indiferena entre uma unicidade e uma repetio. Quando Debord diz que preciso construir situaes trata-se sempre de algo que se pode repetir e tambm algo de nico. Debord o menciona ainda no final de In girum imus nocte et consumimur igni, quando, em vez da tradicional palavra Fim, aparece a frase: A retomar do incio. H aqui igualmente o princpio que trabalha no prprio ttulo do filme, que um palndromo, uma frase que se volta nela mesma. Neste sentido, h uma palindromia essencial no cinema de Debord. Juntas, a repetio e a paragem realizam a tarefa messinica do cinema de que falvamos. Esta tarefa tem essencialmente a ver com a criao. Mas no uma nova criao depois da primeira. No se deve considerar o trabalho do artista unicamente em termos de criao: pelo contrrio, no fundo de cada ato de criao h um ato de descriao. Deleuze disse um dia, acerca do cinema, que cada ato de criao sempre um ato de resistncia [O Ato de Criao por Gilles Deleuze]. Mas o que significa resistir? antes de mais nada ter a fora de des-criar o que existe, des-criar o real, ser mais forte que o fato que a est. Todo ato de criao tambm um ato de pensamento, e um ato de pensamento um ato criativo, pois o pensamento define-se antes de tudo pela sua capacidade de des-criar o real. Se esta a tarefa do cinema, o que uma imagem que foi assim trabalhada pelas potncias da repetio e da paragem? O que muda no estatuto da imagem? preciso repensar aqui toda a nossa concepo tradicional da expresso. A concepo corrente da expresso dominada pelo modelo hegeliano segundo o qual toda a expresso se realiza numa mdia quer seja uma imagem, uma palavra ou uma cor, que no fim deve
desaparecer na expresso acabada. O ato expressivo consumado quando o meio, a mdia, j no percebida enquanto tal. preciso que a mdia desaparea no que nos d a ver, no absoluto em que se mostra, que nele resplandece. Pelo contrrio, a imagem que foi trabalhada pela repetio e pela paragem um meio, uma mdia que no desaparece no que nos d a ver. o que eu chamaria de meio puro, que se mostra enquanto tal. A imagem d-se a ver ela prpria em vez de desaparecer no que nos d a ver. Os historiadores do cinema assinalaram como uma novidade desconcertante o fato de que, em Monika de Bergman (1952), a protagonista, Harriet Andersson, fixa de repente o seu olhar na objetiva da cmara. O prprio Bergman escreveu a propsito desta sequncia: Aqui e pela primeira vez na histria do cinema estabelece-se de sbito um contato direto com o espectador. Desde ento, a fotografia e a publicidade banalizaram este procedimento. Estamos habituados ao olhar da estrela de porn que, enquanto faz aquilo que tem a fazer, olha fixamente a cmara, mostrando assim que se interessa mais pelos espectadores do que pelo seu partner. Desde os seus primeiros filmes e de forma cada vez mais clara, Debord mostra-nos a imagem enquanto tal, isto , e segundo um dos princpios tericos fundamentais de A sociedade do Espetculo, enquanto zona de indecidibilidade entre o verdadeiro e o falso. Mas existem duas maneiras de mostrar uma imagem. A imagem exposta enquanto tal j no imagem de nada, ela prpria sem imagem. A nica coisa da qual no se pode fazer imagem , por assim dizer, ser imagem da imagem. O signo pode significar tudo, exceto o fato de estar a significar. Wittgenstein dizia que o que no se pode significar, ou dizer num discurso, o que de alguma forma indizvel, isso mostra-se no discurso. Existem duas formas de mostrar essa relao com o sem-imagem, duas formas de fazer ver o que j no h nada para ver. Uma o porn e a publicidade, que fazem como se houvesse sempre o que ver, ainda e sempre imagens por detrs das imagens; a outra a que, nessa imagem exposta enquanto imagem, deixa aparecer esse sem-imagem, o que , como dizia Benjamin, o refgio de toda a imagem. nesta diferena que se articulam toda a tica e toda a poltica do cinema.
You might also like
- Deleuze A Imagem MovimentoDocument244 pagesDeleuze A Imagem MovimentoLeonardo AlvesNo ratings yet
- O filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaFrom EverandO filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaNo ratings yet
- Da Abjeção - Jacques RivetteDocument2 pagesDa Abjeção - Jacques RivetteCalac100% (1)
- Slow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoFrom EverandSlow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoNo ratings yet
- A Mise en scène no cinema: Do clássico ao cinema de fluxoFrom EverandA Mise en scène no cinema: Do clássico ao cinema de fluxoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Da imagem ao clichê, do clichê à imagem: Deleuze, cinema e pensamentoFrom EverandDa imagem ao clichê, do clichê à imagem: Deleuze, cinema e pensamentoRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Barthes em Godard: Críticas suntuosas e imagens que machucamFrom EverandBarthes em Godard: Críticas suntuosas e imagens que machucamNo ratings yet
- Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroFrom EverandBernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Programa de Teorias Do Cinema (UFBA, 2019.1)Document7 pagesPrograma de Teorias Do Cinema (UFBA, 2019.1)Marcelo RibeiroNo ratings yet
- Cinema de Exposição - André ParenteDocument13 pagesCinema de Exposição - André ParenteLaécio RicardoNo ratings yet
- Estética da interrupção no cinema experimental e instalaçõesDocument5 pagesEstética da interrupção no cinema experimental e instalaçõesJefferson de Albuquerque100% (1)
- Produção de Presença - GumbrechtDocument4 pagesProdução de Presença - GumbrechtFabíola Lourenço100% (1)
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971From EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No ratings yet
- XAVIER, Ismail - O Olhar e A CenaDocument75 pagesXAVIER, Ismail - O Olhar e A CenaED JUNIOR100% (2)
- Livro Pudovkin em Potuguees OcrDocument30 pagesLivro Pudovkin em Potuguees OcrAlexandre RosaNo ratings yet
- Páthos e Práxis: Eisenstein versus BarthesDocument18 pagesPáthos e Práxis: Eisenstein versus BarthesLenz21100% (1)
- Jonas Mekas CINUSPDocument258 pagesJonas Mekas CINUSPLuís Rocha Melo100% (1)
- Poéticas Do Movimento - Interfaces 20091230Document12 pagesPoéticas Do Movimento - Interfaces 20091230Paulo Caldas100% (1)
- O olhar e a simulação em VertigoDocument8 pagesO olhar e a simulação em VertigoArt PostiçaNo ratings yet
- História do cinema desde a invenção até os pioneirosDocument180 pagesHistória do cinema desde a invenção até os pioneirosTaynan de CarvalhoNo ratings yet
- A mulher no cinema segundo a crítica feminista Ann KaplanDocument8 pagesA mulher no cinema segundo a crítica feminista Ann KaplanAnderson de SouzaNo ratings yet
- Sob o Risco Do RealDocument6 pagesSob o Risco Do RealDaniela Ioppi100% (1)
- Fritz Lang em O Desprezo: Um papel de si mesmoDocument251 pagesFritz Lang em O Desprezo: Um papel de si mesmoWilliam SalgadoNo ratings yet
- Filme Dispositivo No Doc Contemporaneo CONSUELO LINSDocument7 pagesFilme Dispositivo No Doc Contemporaneo CONSUELO LINSJoão Paulo CamposNo ratings yet
- A Revolucao Estetica Jacques RanciereDocument29 pagesA Revolucao Estetica Jacques RanciereArthur Bueno100% (1)
- O rosto humano e a políticaDocument5 pagesO rosto humano e a políticaLucas MarquesNo ratings yet
- Cap. 3 - A Dis-Posição Das Coisas - Quando As Imagens Tomam Posição, Georges Didi-HubermanDocument25 pagesCap. 3 - A Dis-Posição Das Coisas - Quando As Imagens Tomam Posição, Georges Didi-HubermanBruna Carneiro Leão SimõesNo ratings yet
- Jean-Claude Bernardet O Processo Como ObraDocument6 pagesJean-Claude Bernardet O Processo Como ObraRodrigoCerqueiraNo ratings yet
- O Ensaio Filmico Como Encontro Entre o Sujeito e oDocument6 pagesO Ensaio Filmico Como Encontro Entre o Sujeito e oAdrianaFernandesNo ratings yet
- Influência Das Vanguardas Européias Na Estética Do Filme Limite de Mário PeixotoDocument44 pagesInfluência Das Vanguardas Européias Na Estética Do Filme Limite de Mário PeixotoKiti SoaresNo ratings yet
- Jacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFDocument14 pagesJacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFcamaralrs9299100% (1)
- Jean Claude BernardetDocument2 pagesJean Claude BernardetFlavio BarolloNo ratings yet
- "Estética, Obstáculos, e Cinegrafia Integral", Germaine DulacDocument6 pages"Estética, Obstáculos, e Cinegrafia Integral", Germaine DulacPedro Henrique FerreiraNo ratings yet
- Praxis-do-Cinema - Noel-Burch - Sobre A Utilização Estrutural Do SomDocument11 pagesPraxis-do-Cinema - Noel-Burch - Sobre A Utilização Estrutural Do SomJean CostaNo ratings yet
- 49) 2010 - Mateus Araujo Silva (Org.) - Jean Rouch 2009 Retrospectivas e Coloquios No Brasil (Belo Horizonte, Balafon, 2010, 172p)Document176 pages49) 2010 - Mateus Araujo Silva (Org.) - Jean Rouch 2009 Retrospectivas e Coloquios No Brasil (Belo Horizonte, Balafon, 2010, 172p)Maria ChiarettiNo ratings yet
- Cinema SimDocument157 pagesCinema SimEduardo100% (1)
- A poética de OzuDocument58 pagesA poética de OzuMario Santiago100% (1)
- A experiência da alteridade em GrotowskiDocument183 pagesA experiência da alteridade em GrotowskiLuciano Flávio de OliveiraNo ratings yet
- XAVIER, Ismail Cinema, Revelação e Engano PDFDocument15 pagesXAVIER, Ismail Cinema, Revelação e Engano PDFSergio100% (1)
- Devires - Dossiê Jean Luc GodardDocument150 pagesDevires - Dossiê Jean Luc GodardMarcelo Oliveira100% (1)
- Cinema & Audiovisual Escritos: Trajetória de Reflexões e PesquisasFrom EverandCinema & Audiovisual Escritos: Trajetória de Reflexões e PesquisasNo ratings yet
- Golpe de vista: Cinema e ditadura militar na América do SulFrom EverandGolpe de vista: Cinema e ditadura militar na América do SulNo ratings yet
- Cinema Nacional Anos 90 - Ismail XavierDocument6 pagesCinema Nacional Anos 90 - Ismail XavierCaíque Mello RochaNo ratings yet
- A análise fílmica entre método e hermenêuticaDocument13 pagesA análise fílmica entre método e hermenêuticaDaniela JesusNo ratings yet
- CALDAS, Paulo - GADELHA, Ernesto (O RGS.) - Dança e Dramaturgia(s)Document157 pagesCALDAS, Paulo - GADELHA, Ernesto (O RGS.) - Dança e Dramaturgia(s)Fernanda PimentaNo ratings yet
- Aumont Estética Do FilmeDocument4 pagesAumont Estética Do FilmerahmedeirosNo ratings yet
- A fronteira é terra de ninguémDocument2 pagesA fronteira é terra de ninguémEstela RosaNo ratings yet
- A Escrita Do Deus - Borges, LuisDocument8 pagesA Escrita Do Deus - Borges, LuisLucianoPereiraNo ratings yet
- Ideia Da Prosa - Giorgio AgambenDocument66 pagesIdeia Da Prosa - Giorgio AgambenEstela RosaNo ratings yet
- A Cabeca Entre As Mãos - Herberto HelderDocument46 pagesA Cabeca Entre As Mãos - Herberto HelderEstela Rosa100% (2)
- A Richard WoodhouseDocument1 pageA Richard WoodhouseEstela RosaNo ratings yet
- Linguagem CinematográficaDocument2 pagesLinguagem CinematográficaJuliaNo ratings yet
- From Exhibition To Reception - Reflections On The Audience in Film History (Robert C. Allen)Document4 pagesFrom Exhibition To Reception - Reflections On The Audience in Film History (Robert C. Allen)Ryan BrandãoNo ratings yet
- VANGUARDA - INOVAÇÃO: O DESAFIO DA CRIAÇÃO NO MUNDO PÓS-MODERNODocument100 pagesVANGUARDA - INOVAÇÃO: O DESAFIO DA CRIAÇÃO NO MUNDO PÓS-MODERNOLucas NakamuraNo ratings yet
- Filmografia Amazonense PDFDocument13 pagesFilmografia Amazonense PDFsusyecfNo ratings yet
- A Mise-en-Scène Como Criação de Um Espaço Essencialmente Cinematográfico: o Sonoro e o InfalívelDocument101 pagesA Mise-en-Scène Como Criação de Um Espaço Essencialmente Cinematográfico: o Sonoro e o InfalívelArtesãos do Som100% (1)
- O Figurino e o Cinema MudoDocument7 pagesO Figurino e o Cinema MudoMarina FrotaNo ratings yet
- Relatório: Amai-Vos Uns Aos LoucosDocument97 pagesRelatório: Amai-Vos Uns Aos LoucosFernanda FrazaoNo ratings yet
- Cinema Militante - TeseDocument393 pagesCinema Militante - TeseLuiz Gustavo P S CorreiaNo ratings yet
- (LIVRO) TRESH Et. Al. Cosmograms PDFDocument40 pages(LIVRO) TRESH Et. Al. Cosmograms PDFSaulo Eduardo RibeiroNo ratings yet
- Apropriação de imagens no documentário e no ensaio fílmicoDocument18 pagesApropriação de imagens no documentário e no ensaio fílmicoWilker PaivaNo ratings yet
- A Jornada Cinematográfica de Truffaut em A Noite AmericanaDocument4 pagesA Jornada Cinematográfica de Truffaut em A Noite AmericanaLua LuaNo ratings yet
- Disserta oDocument282 pagesDisserta oWolmyrNo ratings yet
- Livro História Do Cinema Mundial MECDocument179 pagesLivro História Do Cinema Mundial MECJessé Guimarães da Silva100% (1)
- Resumo Da Aula - Guia Essencial de Leituras Sobre CinemaDocument5 pagesResumo Da Aula - Guia Essencial de Leituras Sobre CinemaGabriela CostaNo ratings yet
- Produção em Audiovisual e CinemaDocument192 pagesProdução em Audiovisual e CinemaThiago Laurindo 2100% (3)
- (Artigos) - RELAÇAO CINEMA-HISTORIA 1-Jorge NóvoaDocument10 pages(Artigos) - RELAÇAO CINEMA-HISTORIA 1-Jorge Nóvoarosanerio100% (1)
- A linguagem do cinema clássicoDocument18 pagesA linguagem do cinema clássicoLeandro LessinNo ratings yet
- Monografia Montagem de TrailersDocument136 pagesMonografia Montagem de TrailersPatricia de Oliveira Iuva0% (1)
- História do cinema de animação emDocument14 pagesHistória do cinema de animação emKênia MachadoNo ratings yet
- Festival Do Rio 2011 PDFDocument41 pagesFestival Do Rio 2011 PDFCleros2No ratings yet
- A História Do CinemaDocument26 pagesA História Do CinemaNathalia100% (1)
- Narrativas Sensoriais - Osmar GonçalvesDocument137 pagesNarrativas Sensoriais - Osmar GonçalvesFlaviaNo ratings yet
- Nem Tudo Nem Nada Eduardo EscorelDocument13 pagesNem Tudo Nem Nada Eduardo EscorelVanessa RodriguesNo ratings yet
- Sétima Arte - E-BookDocument48 pagesSétima Arte - E-BookAnderson GabrielNo ratings yet
- A luz no cinema: da história à animaçãoDocument210 pagesA luz no cinema: da história à animaçãoFernanda SalloumNo ratings yet
- Catalogo Jornada Cinema MudoDocument49 pagesCatalogo Jornada Cinema MudoGlória CoutinhoNo ratings yet
- O fluxo narrativo acelerado dos remakes de horrorDocument610 pagesO fluxo narrativo acelerado dos remakes de horrorElicarlo SantanaNo ratings yet
- Festival do Rio 2011 - Programação OficialDocument41 pagesFestival do Rio 2011 - Programação OficialLouise De Carvalho SimõesNo ratings yet
- MonografiaDocument114 pagesMonografiaJefferson AssunçãoNo ratings yet
- Apostila - CinemaDocument7 pagesApostila - CinemamariocsoaresNo ratings yet