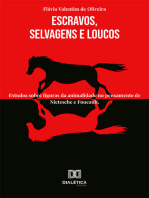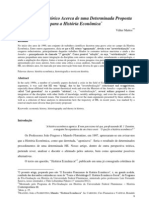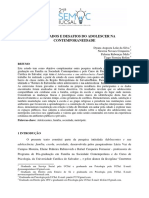Professional Documents
Culture Documents
PORTELLI - A Filosofia e Os Fatos.
Uploaded by
Natalí Durand0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views9 pagesantropologia amazonica
Original Title
PORTELLI -A Filosofia e Os Fatos.
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentantropologia amazonica
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views9 pagesPORTELLI - A Filosofia e Os Fatos.
Uploaded by
Natalí Durandantropologia amazonica
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 9
2.
Tempo
A Filosofia e os Fatos (*)
Narração, interpretação e significado
nas memórias e nas fontes orais
ALESSANDRO PORTELLI (**)
Vamos começar com uma história: Frederick Douglass, escravo nascido em
Maryland em 1817, conseguiu fugir com a idade de vinte anos e se envolveu com o
movimento contra a escravidão, chegando a ser um orador muito solicitado pela
eloquência com que narrava suas próprias experiências como escravo. Na forma tão
atraente que ele tinha de contar de viva voz a história de sua vida, os dirigentes brancos
do movimento abolicionista viram um testemunho vivo contra a escravidão; e, para torná-
lo ainda mais convincente, insistiam na necessidade de que sua exposição se limitasse à
dimensão objetiva, concreta, factual: “dá-nos os fatos”, lhe di ziam, “e deixe que nós
filosofemos”.
Esta distinção entre os fatos, dos quais era depositário o escravo, e a filosofia,
reservada a seus patrocinadores brancos e instruídos, me parece um bom exemplo de
uma má interpretação, que tem sido a base da recuperação das memórias e das fontes
orais, na época contemporânea: de um lado, a ilusão do testemunho como uma tomada de
consciência imediata, de primeira mão, autêntica, fiel à experiência histórica; e, de
outro, a divisão do trabalho entre o materialismo das fontes e a intelectualidade do
historiador e do sociólogo. Esta separação se fundamenta em preconceitos de caráter
classista, que têm muito a ver com a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual
e, no caso do negro Frederick Douglass e de seus patrocinadores liberais brancos,
inclusive com preconceitos de caráter racista. No entanto, o eixo sobre o qual gira toda a
questão não é nem mais nem menos que a ambígua utopia da objetividade: por um lado, a
objetividade da fonte e, por outro, a objetividade do cientista com seus procedimentos
neutros e assépticos.
Não obstante, no espaço intermediário (na terra de ninguém dos fatos e da
filosofia, e no duvidoso confim onde ambos se superpõem) se coloca o território
(*)
Este texto foi publicado na revista espanhola Fundamentos , tendo sido traduzido para o português por
Ingeborg K. de Mendonça e Carlos Espejo Muriel. Foi base da palestra proferida em 23 de agosto de 1996, no
Departamento de História da UFF.
(**)
Professor da Universidade de Roma, La Sapienza e autor de The text and the voice. Speaking, writing and
democracy in american literature, Columbia Univ. Press, 1994.
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 1
inexplorado e exorcizado da subjetividade. O principal paradoxo da história oral e das
memórias é, de fato, que as fontes são pessoas, não documentos, e que nenhuma pessoa,
quer decida escrever sua própria autobiografia (como é o caso de Frederick Douglass),
quer concorde em responder a uma entrevista, aceita reduzir sua própria vida a um
conjunto de fatos que possam estar à disposição da filosofia de outros (nem seria capaz
de fazê-lo, mesmo que o quisesse). Pois, não só a filosofia vai implícita nos fatos, mas a
motivação para narrar consiste precisamente em expressar o significado da experiência
através dos fatos: recordar e contar já é interpretar. A subjetividade, o trabalho através do
qual as pessoas constroem e atribuem o significado à própria experiência e à própria
identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo do discurso. Excluir ou
exorcizar a subjetividade como se fosse somente uma fastidiosa interferência na
objetividade factual do testemunho quer dizer, em última instância, torcer o significado
próprio dos fatos narrados.
Por isso, também, Frederick Douglass resiste com todas as suas forças ao
procedimento de seus bem intencionados patrocinadores: tanto nos discursos orais
como nas diferentes redações de sua autobiografia, insiste em falar por si mesmo, em
interpretar e julgar-se a si mesmo e aos demais, entrelaçando continuamente os fatos
com a análise da subjetividade. Por exemplo, contando os primeiros anos de sua vida
transcorridos na plantação, Douglass descreve os overseers ,, os vigilantes brancos
1
garantidores da disciplina e da organização do trabalho dos escravos. Estes vigilantes
constituíam o inimigo mais direto e cruel dos escravos, mas Douglass frisa que não eram
todos iguais: por exemplo, escreve que “o senhor James Hopkins era um homem
diferente e melhor, um bom homem na medida em que um vigilante de escravos podia
sê-lo; embora, por vezes, agitasse o chicote, era evidente que não o fazia por gosto, mas
sim com muito asco”.
Como se depreende, o fato importante não é o que o senhor Hopkins fazia, mas
seu estado de ânimo, sua subjetividade. Desta maneira, o historiador pode muito bem
perguntar -se em que importa o prazer ou o desprazer com que um vigilante de escravos
levava a cabo seus violentos deveres para com os que a ele estavam submetidos. As
chibatadas, afinal de contas, são todas iguais e deixam sinal sobre o corpo do escravo.
Douglass, inclusive, reparou nisso: “o diploma da escravidão escrito nas costas”. Mas
Douglass trata de nos fazer compreender que a chicotada estabelece também uma
relação política: graças a ela a subjetividade do vigilante deixa o sinal na subjetividade do
escravo, e viceversa. O desprazer do senhor Hopkins se converte, então, para Douglass,
num sinal evidente da contradição entre a escravidão e a natureza humana: nem sequer o
vigilante pode se negar, no fundo, a reconhecer a humanidade dos que golpeia, do mesmo
modo que a sua própria. O sistema escravista desumaniza, pois, tanto os escravos como
os senhores, mas algo continua resistindo-lhe e escapando-lhe; por isso, nos resíduos da
humanidade, na irredutível subjetividade de ambos, estão as raízes da resistência dos
escravos e das contradições dos senhores. A subjetividade do senhor Hopkins, e a
interpretação que dela nos dá Douglass, se transforma agora num fato histórico de
grande importância, pois contribui para fundamentar a subjetividade antagonista de
Douglass, sua filosofia de resistência e crítica à escravidão.
1
Em inglês no original (N. do Tr.). Em português a palavra seria feitor.
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 2
Em segundo lugar, esta narração revela outra estratégia de Frederick Douglass: o
intercâmbio de papéis na relação entre o observado e o observador. Na escravidão como
na antropologia, o poder julgar e definir pertence institucionalmente a quem maneja o
chicote, a lapiseira ou o gravador. Douglass, no entanto, insiste em querer ser ele, o
escravo, quem observa e julga os senhores; ser ele, o negro, quem julga e observa os
brancos. Curiosamente, o episódio mais famoso de sua autobiografia é aquele em que
Douglass analisa as transformações que o papel escravista impõe à psicologia de sua
patroa.
Para além da subjetividade do senhor Hopkins e através dela, através de sua
capacidade para vê -la e interpretá-la, Douglass estabelece sua própria subjetividade, sua
própria capacidade de ver, interpretar, influir na história. A relação entre estas duas
subjetividades é, pois, o argumento de sua narração. No entanto, contra o centralismo da
dimensão subjetiva, implícita nas fontes orais e nas memórias, se formulam duas
objeções de grande importância: em primeiro lugar, diz-se que a subjetividade é um
elemento incontrolável, irreconhecível, idiossincrático, no qual não se pode basear
seriamente uma análise; então, como podemos saber se, verdadeiramente, o senhor
Hopkins chibateava sem prazer, com desgosto? Não poderia Douglass haver-se
enganado?
Mesmo supondo que as coisas ocorreram como as conta Douglass, como é
possível tirar conclusões generalizadoras de um episódio individual? Por definição, a
subjetividade diz respeito ao indivíduo, ao passo que a história e a pesquisa social dizem
respeito a grupos humanos mais vastos. O que nos autoriza, pois, a pensar que Frederick
Douglass e o senhor Hopkins são, como se costuma dizer, representativos? A
impossibilidade de passar do individual ao social tornaria inutilizáveis para fins
científicos as fontes orais e as memórias, na medida em que a subjetividade constitui seu
próprio argumento.
A aproximação mais usual consiste, pois, em tentar excluir a subjetividade, tanto
das fontes como do observador, do campo dos fenômenos estudados, para concentrar-se
em fenômenos aparentemente mais concretos e controláveis. Assim, historiadores
quantitativos como Robert Fogel ou Stanley D. Engerman não levantaram o problema dos
impalpáveis estados de ânimo do que açoita e do que é açoitado, mas a contagem do
número exato de chibatadas. Utilizando todas as fontes documentais disponíveis e
sofisticados métodos de análise estatística, chegaram à conclusão de que os escravos
eram açoitados uma média de 0,7 vezes por ano. Trata-se de uma modalidade de pesquisa
indubitavelmente legítima e necessária, ainda que possua uma grande dose de abstração
quanto à realidade e, portanto, em última instância, um risco sério de falsificação: pois,
apesar de tudo, é literalmente impossível açoitar uma pessoa 0,7 vezes.
Em realidade, é impossível até mesmo comparar os açoites entre si, ou medir
precisamente o vigor com que os açoites foram administrados; este dado, de fato,
depende em parte inclusive do prazer ou do desprazer de quem tem em mãos a chibata.
Por isso, por muito controlável ou conhecida que seja, a subjetividade existe, e constitui,
além disso, uma característica indestrutível dos seres humanos. Nossa tarefa não é, pois,
a de exorcizá-la, mas (sobretudo quando constitui o argumento e a própria substância de
nossas fontes) a de distingüir as regras e os procedi mentos que nos permitam em alguma
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 3
medida compreendê-la e utilizá-la. Se formos capazes, a subjetividade se revelará mais
do que uma interferência; será a maior riqueza, a maior contribuição cognitiva que chega
a nós das memórias e das fontes orais.
Vamos, porém, retomar a primeira pergunta: é óbvio que não podemos estar
seguros se o senhor Hopkins açoitava os escravos sem prazer. Douglass poderia haver
interpretado mal seus gestos, poderia haver confundido suas lembranças, inclusive
poderia haver inventado tudo. No entanto, há uma coisa da qual estamos absolutamente
seguros, e esta coisa é a existência da narração de Douglass. Não temos, pois, a certeza
do fato, mas apenas a certeza do texto: o que nossas fontes dizem pode não haver
sucedido verdadeiramente, mas está contado de modo verdadeiro. Não dispomos de
fatos, mas dispomos de textos; e estes, a seu modo, são também fatos, ou o que é o
mesmo: dados de algum modo objetivos, que podem ser analisados e estudados com
técnicas e procedimentos em alguma medi da controláveis, elaborados por disciplinas
precisas como a lingüística, a narrativa ou a teoria da literatura.
Todas estas disciplinas também nos permitem lançar uma ponte entre a
subjetividade individual e aquela que vai mais além do indivíduo. De fato, os textos -
tanto os relatos orais como os diálogos de uma entrevista - são expressões altamente
subjetivas e pessoais, como manifestações de estruturas do discurso socialmente
definidas e aceitas (motivo, fórmula, gênero, estilo). Por isso é possível, através dos
textos, trabalhar com a fusão do individual e do social, com expressões subjetivas e
práxis objetivas articuladas de maneira diferente e que possuem mobilidade em toda
narração ou entrevista, ainda que, dependendo das gramáticas, possam ser reconstruídas
apenas parcialmente. Neste sentido, a construção do que comumente se chama “cânon”
literário constitui uma probabilidade de se instituir inclusive um conceito de
representatividade qualitativa, mais do que quantitativa ou estatística, o que é
precisamente o problema que estudamos, quando nos pedem que definamos a
representatividade de nossas fontes.
Gostaria de dar um exemplo específico: um trecho que faz parte de uma entrevista
realizada em Térni, uma cidade operária da Umbria, na Itália central, em 1983. O
narrador, Ferruccio Máuri, descreve o dia em que os operários das fábricas de Térni se
reuniram na praça para escutar pelos alto-falantes o discurso de Mussolíni, anunciando a
entrada da Itália na segunda guerra mundial.
“Levaram todos os operários das aciarias (...) à praça Tácito: ali estavam os alto-
falantes, o rádio que iria transmitir o famoso discurso, chamemo-lo de guerra, de
Mussolíni, não? E a coisa que mais me impressionou (aqui pode haver diferentes
opiniões, mas os que estavam perto de mim..), eu estava entusiasmado com a guerra; era
um rapazote, a aventura; fazia quatro dias que estava na aciaria, era a ingenuidade da
juventude; lembro-me que, quando entrei na aciaria, estava ansioso pelo momento em
que estourasse a guerra. Porém, vi os que estavam a meu redor muito preocupados,
enquanto em Roma aplaudiam. Quero dizer que, pela primeira vez (e isto não é falar por
falar), vi a seriedade obreira, a preocupação. Sem que conseguisse compreender as
causas. Enquanto eu estava eufórico, enquanto em Roma aplaudiam a valer, ao meu redor
(outros poderão dizer: “não, aplaudiram”), a meu redor, os operários que estavam
comigo mostravam sua grande preocupação. Grande preocupação.”
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 4
Também aqui o tema da narração é a subjetividade. Como Douglass tratava de
interpretar o estado de ânimo do senhor Hopkins, Ferruccio Máuri trata de reconstruir o
estado de ânimo dos operários e sua atitude face à guerra, para propor uma imagem da
identidade histórica da classe operária. Assim como Douglass construiu sua própria
subjetividade através da relação interpretativa com a do senhor Hopkins, também
Ferruccio Máuri narra como o fato de ver pela primeira vez a subjetividade operária
gerou uma mudança na construção de sua própria identidade pessoal. Ainda que
mantenha, em seu relato, que tais considerações, correspondentes à subjetividade da
classe e da pessoa, sejam estranhas ao campo da história: “eu não falo por falar”, diz,
como para afirmar que inclusive as coisas das quais fala são, em última análise, fatos.
A narração intensamente pessoal de Máuri tornou possível o uso de estruturas
simbólicas e procedimentos narrativos que vão além do individual. No plano simbólico
é significativa a repetida contraposição entre o que acontecia em Roma e o que via em
Térni: ”enquanto sentia que em Roma aplaudiam... vi os que estavam perto de mim muito
preocupados”. Térni fica a menos de cem quilômetros de Roma, e um tema bastante
freqüente nas entrevistas e nos relatos é o complexo de inferioridade da província face à
metrópole e o ressentimento da cidade industrial e operária contra a capital burocrática,
o ressentimento da cidade vermelha contra Roma como símbolo da retórica imperial
fascista. Através deste dado culturalmente aceito, Máuri institui uma cadeia de
continuidade entre a identidade local, a identidade de classe e a identidade pessoal, em
que uma sustenta, motiva e explica a outra.
No plano narrativo, Máuri utiliza um procedimento que se assemelha tanto às
fontes orais como ao romance moderna, posterior ao século XIX: o ponto de vista
circunscrito. Este procedimento reconhece, por um lado, os limites da percepção
individual, mas, pelo outro, baseia neles a autoridade da narração. Vejamos o exemplo de
um contexto completamente diferente: o antropólogo James Clifford conta, na
introdução de seu Writing Culture, a história do índio canadense Cree que foi chamado a
prestar um depoimento perante um tribunal; quando lhe foi pedido que jurasse dizer toda
a verdade, a testemunha respondeu: “Não sei se posso dizer a verdade... posso apenas
dizer o que sei”. Do mesmo modo, no romance moderna, desde Conrad e James em
diante, a autoridade narrativa já não se baseia na ficção impossível de um narrador
onisciente acima do desenvolvimento dos fatos, mas na experiência limitada e ainda
concreta de um narrador parcial imerso em seu interior. O ponto é, pois, que nos
romances modernos, como na narração de Máuri e de Douglass, os fatos importantes
são os que se desenvolvem dentro da consciência: não são os fatos vistos, mas o
processo de visão, interpretação e, em consequência, de mudança.
Máuri insiste, pois, no fato de que a sua é uma das muitas narrações possíveis:
“pode haver opiniões diferentes”, “outros poderão dizer...” Isto é literalmente certo:
outros narradores, de fato, dizem que “então a gente aplaudia”. Mas Máuri não pretende
dizer toda a verdade. Como o depoente Cree, pode dizer apenas o que sabe, o que lembra
ou acredita recordar haver visto. Sua autoridade narrativa deriva justamente do caráter
restritivo do ponto de vista. Assim, podemos imaginar a relação entre o ponto de vista
subjetivo de Máuri e uma autoridade narrativa objetiva, supondo um narrador onisciente,
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 5
capaz de ver toda a praça a partir do alto, distante e onicompreensivo. Na topografía da
praça de Térni, um narrador assim estaria colocado num único lugar: na torre do edifício
do bairro, ou seja, no lugar do poder político, no lugar das metralhadoras da polícia
dirigidas para a praça. A oposição entre a limitada visão de Máuri e a complexa visão do
hipotético policial reproduz assim a oposição entre autoridade pessoal a partir de baixo e
autoridade institucional a partir do alto; entre a experiência interna e o controle externo.
O desaparecimento do narrador onisciente anula a possibilidade de uma só e
acertada versão dos fatos. O exemplo literário mais próximo ao episódio contado por
Máuri é o procedimento das “múltiplas escolhas” ou das “possibilidades alternativas”
que caracteriza La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Neste romance, inclusive,
temos uma praça cheia de gente, em que cada um vê, ou acredita ver, diferentes
manifestações do mesmo símbolo central: a letra vermelha. Hawthorne, sempre disposto
a distinguir a subjetiva e fantástica “verdade do coração humano” da “minuciosa
fidelidade dos fatos” do romance realista, sugere que o significado do evento consiste em
sua capacidade de gerar múltiplas visões, múltiplos relatos, múltiplas interpretações. De
fato, a narração de Ferrucio Máuri, como a de Frederick Douglass, é a memória de um
ato interpretativo: pelos sinais que viram, tratam de resgatar a “verdade do coração
humano”, constituída no caso de Máuri pela subjetividade operária, e no caso de
Douglass, pelo estado de ânimo de seu feitor.
Como em todo ato interpretativo, Máuri parte de comportamentos visíveis,
códigos expressivos socialmente reconhecidos, que permitem formular hipóteses sobre
os estados de ânimo: o fato de que, apesar da forte pressão social e do exemplo
transmitido a partir de Roma pelo rádio, os operários não aplaudiram; a expressão dos
rostos, a “seriedade operária”. Mas também aqui, no centro da narração não está tanto a
interpretação, mas o ato interpretativo: como Douglass perante o senhor Hopkins,
também Máuri pode enganar-se no momento de interpretar o estado de ânimo dos
operários; porém, quer seja justa ou equivocada, a interpretação que deu ao momento
constitui um ato fundamental na construção da narrativa em si. E é aí onde a narração se
separa de uma forma mais radical da pretensa objetividade do depoente, para inclinar-se
no sentido da auto-reflexão da autobiografia (inclusive Máuri dizendo que não fala por
falar) e da literatura: não é casualidade que, inclusive espacialmente, Máuri esteja no
centro do espaço narrativo: “ao meu redor vi...”. O protagonista último da história é ele
próprio, ou, melhor dito, sua consciência.
Esta história pessoal está, inclusive, representada por meio de um gênero
narrativo socialmente definido: a história iniciática ou de iniciação. “Fazia quatro dias
que estava na aciaria [e] pela primeira vez vi a seriedade operária”. O argumento desta
narração é o seguinte: a forma como Máuri passou do rapaz ingênuo, que estava apenas
transformando-se em operário e era um entusiasta da guerra, ao jovem engajado na
oposição que, poucos anos depois, combateria na resistência antifascista e finalmente
viria a ser o militante comunista que foi durante toda a sua vida.
O processo de transformação, o trabalho da consciência, manifesta-se na
entrevista pelo fatigante trabalho da palavra. As interrupções, digressões, repetições,
correções que caracterizam a narração de Máuri são procedimentos constitutivos da
oralidade, graças aos quais o discurso oral se apresenta mais como um processo do que
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 6
como um texto acabado. Estes procedimentos da oralidade põem em evidência o trabalho
da palavra, da memória, da consciência. A dificuldade e a atenção com que Máuri põe em
execução sua narração são a metáfora do fatigante trabalho da consciência através da
qual o narrador se apropria, no transcurso de sua vida, dessa “seriedade operária” que ele
reconhecera ou imaginara ao seu redor nesse dia na praça.
As narrações de Douglass e de Máuri são, pois, histórias de construção da
subjetividade pessoal através da interpretação da subjetividade dos demais e da dimensão
subjetiva das realidades históricas: a relação entre os escravos e a hierarquia escravistas,
entre a classe operária e a guerra. Resta ainda perguntar em que medida estas narrativas
constituem matéria não exclusivamente literária, mas histórica: ou seja, em que medida a
subjetividade de seus narradores pode ajudar a delinear uma subjetividade mais ampla.
Em outras palavras: em que medida Douglass e Ferrucio Máuri são representativos?
Pois bem, quando falamos de textos, fica perfeitamente claro que
representatividade não significa normalidade, nem significa média (uma representação
mais qualitativa do que quantitativa se baseia fundamentalmente na exceção). A Divina
Comédia de Dante Alighieri é um texto representativo do medieval italiano não porque
constitua a expressão média dos notáveis florentinos do século XIV, mas porque, em sua
capacidade de ser única, agrupa as possibilidades não expressas de toda a época. Neste
sentido, por exemplo, Ralph Waldo Emerson definia como “homens representativos”
figuras como Shakespeare ou Montaigne, Goethe ou Platão, e poderia muito bem haver
incluído Frederick Douglass. Este, de fato, atuou politicamente como representante das
massas afroamericanas durante e depois da escravidão, e sua autobiografia é hoje parte
integrante do cânon literário e cultural dos Estados Unidos. Durante gerações, os
afroamericanos têm dado o nome de Frederick Douglass a seus filhos, reconhecendo-o
como um modelo, uma projeção elevada de si mesmos e do que desejavam ser.
Não se pode dizer o mesmo de Ferrucio Máuri. Também ele foi escolhido para
cargos representativos no plano local, mas sua figura está mais próxima dos militantes
operários de Térni de meia idade: é “mais um”, mas esse “um” é muito mais do que
Douglass. A representatividade de um narrador como Máuri não está tanto a nível de uma
trajetória biográfica, mas a nível de uma construção textual. Seu relato se caracteriza
pelo modo exemplar como utiliza procedimentos narrativos e simbólicos socialmente
compartilhados (a simbologia da identidade local, o ponto de vista circunscrito, o relato
da iniciação, o uso da digressão e da repetição), e os organiza e situa dando destaque a
seu significado potencial. O ato individual das palavras, em suma, revela e amplia as
2
possibilidades expressivas da langue socialmente dada: o que vale, em graus e modos
diferentes, também para a autobiografia de Frederick Douglass e para todo o “clássico”
literário.
Portanto, a palavra chave aqui é possibilidade. No plano textual, a
representatividade das fontes orais e das memórias se mede pela capacidade de abrir e
delinear o campo das possibilidades expressivas. No plano dos conteúdos, mede-se não
tanto pela reconstrução da experiência concreta, mas pelo delinear da esfera subjetiva da
experiência imaginável: não tanto o que acontece materialmente com as pessoas, mas o
2
Em francês no original (N. do Tr.)
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 7
que as pessoas sabem ou imaginam que possa suceder. E é o complexo horizonte das
possibilidades o que constrói o âmbito de uma subjetividade socialmente compar-
tilhada.
Para dar um exemplo, voltemos mais uma vez aos 0,7 açoites em média
administrados aos escravos segundo os cálculos de Fogel e Engerman. Uma vez de
posse deste dado, o que significa? No plano estatístico em que os dois historiadores
quantitativos realizam a análise, significa que os escravos eram açoitados de vez em
quando, menos de uma vez ao ano, e os açoites não constituíam um dado significativo em
sua experiência. Junto com outros dados do mesmo gênero, podemos afirmar que a
escravidão não era, afinal, pior do que outras condições de submissão social, aí
compreendida também a condição operária. Afinal de contas, a diferença estatística
entre 0 e 0,7 é desprezível.
No plano subjetivo da possibilidade trata-se, porém, de uma diferença
incomensurável. A diferença entre os escravos e os operários livres, de fato, não
consiste tanto nas vezes em que os primeiros eram açoitados, mas no fato de uns
poderem ser castigados e os outros não. Não são as chicotadas efetivamente recebidas,
mas as potenciais, que definem o horizonte de expectativas para os escravos, incluídos
aqueles que nunca haviam sido açoitados. Se noventa e nove escravos nunca eram
chicoteados e, não obstante, um deles recebia setenta chibatadas, a experiência
excepcional deste último dava cor às expectativas e ao comportamento de todos os
demais: a história estatisticamente excepcional do escravo número cem representa o
horizonte de possibilidades de todos os demais.
O mesmo vale para a experiência operária: o número de operários mortos por
acidentes no trabalho nas aciarias de Térni é estatisticamente quase insignificante em
relação àqueles que escaparam vivos e incólumes; mas a possibilidade de morrerem
esmagados sob uma caçamba ou queimados por um rio de aço fundido, está presente no
pensamento e nos comportamentos cotidianos de todos os que trabalham na usina. E
ainda mais: nos anos setenta em Térni quatro jovens morreram de overdose de heroína.
Um número relativamente pouco importante, se não fosse o fato de que até então
ninguém havia morrido dessa maneira. A droga começava a fazer parte das possibilidades,
dos riscos, das preferências de toda uma geração. Assim, uma moça que nunca havia tido
relação alguma com o mundo dos viciados em drogas nem com a contracultura, me dizia
numa entrevista que sentia que estes mortos a afetavam diretamente: indicavam um
caminho que ela também poderia haver tomado. Os escravos açoitados eram quiçá
relativamente poucos, os mortos na usina e os mortos por heroína são relativamente
raros (apesar de sempre serem demasiados). Mas todos os escravos, todos os operários,
todos os moços dos anos setenta em diante vivem subjetivamente a possibilidade da
chibata, da morte, da droga, inclusive se objetivamente não foram tocados.
A história oral e as memórias, pois, não nos oferecem um esquema de
experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, reais ou
imaginárias. A dificuldade para organizar estas possibilidades em esquemas
compreensíveis e rigorosos indica que, a todo momento, na mente das pessoas se
apresentam diferentes destinos possíveis. Qualquer sujeito percebe estas possibilidades
à sua maneira, e se orienta de modo diferente em relação a elas. Mas esta miríade de
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 8
diferenças individuais nada mais faz do que lembrar-nos que a sociedade não é uma rede
geometricamente uniforme como nos é representada nas necessárias abstrações das
3
ciências sociais, parecendo-se mais com um mosaico, um patchwork , em que cada
fragmento (cada pessoa) é diferente dos outros, mesmo tendo muitas coisas em comum
com eles, buscando tanto a própria semelhança como a própria diferença. É uma
representação do real mais difícil de gerir, porém parece-me ainda muito mais coerente,
não só com o reconhecimento da subjetividade, mas também com a realidade objetiva
dos fatos.
[Recebido para publicação em agosto de 1996]
3
Em inglês no original (N. do Tr.)
T e m p o, Rio de Janeiro , vol. 1, n ° . 2, 1996, p. 59-72. 9
You might also like
- Escravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultFrom EverandEscravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultNo ratings yet
- LORIGA, Sabina - A Biografia Como Problema PDFDocument4 pagesLORIGA, Sabina - A Biografia Como Problema PDFErika CerqueiraNo ratings yet
- História Pública DebateDocument3 pagesHistória Pública DebateRafael Gimenez MendonçaNo ratings yet
- Fichamento Michel de CERTEAU - A Operação HistoriográficaDocument6 pagesFichamento Michel de CERTEAU - A Operação HistoriográficaGabrielNo ratings yet
- Durval Albuquerque - Um Leque Que RespiraDocument15 pagesDurval Albuquerque - Um Leque Que RespiraLuiz Henrique Blume100% (1)
- As narrativas mestras mudam entre os alunosDocument33 pagesAs narrativas mestras mudam entre os alunosCaio CobianchiNo ratings yet
- A Genealogia Do Poder em Michel FoucaultDocument9 pagesA Genealogia Do Poder em Michel Foucaultanovak09No ratings yet
- FISCHER 2003 Foucault Revoluciona A Pesquisa em EducaçãoDocument19 pagesFISCHER 2003 Foucault Revoluciona A Pesquisa em EducaçãoFabi SilvaNo ratings yet
- A última lição de Foucault sobre o neoliberalismoDocument11 pagesA última lição de Foucault sobre o neoliberalismoValéria Cazetta100% (1)
- Por Um Ensino Que DeformeDocument14 pagesPor Um Ensino Que Deformemariana_santos_36No ratings yet
- (A) RÉMOND, René - Por Que A História PolíticaDocument2 pages(A) RÉMOND, René - Por Que A História Políticasandrinco4640No ratings yet
- Os revisionistas e a negação do HolocaustoDocument3 pagesOs revisionistas e a negação do Holocaustosirlenesf100% (1)
- Resumo Do Livro Como Eles AgiamDocument16 pagesResumo Do Livro Como Eles AgiamAlex HolandaNo ratings yet
- Ambientes da Ecologia: perspectivas em política e educaçãoDocument10 pagesAmbientes da Ecologia: perspectivas em política e educaçãoleNo ratings yet
- Tudo É Histórico, Logo, A História Não ExisteDocument6 pagesTudo É Histórico, Logo, A História Não ExisteFábio Leonardo BritoNo ratings yet
- THOMPSON A Mídia e A ModernidadeDocument6 pagesTHOMPSON A Mídia e A ModernidadeRoberta Henriques100% (1)
- Análise da obra 'A Terra e o Homem no NordesteDocument5 pagesAnálise da obra 'A Terra e o Homem no NordesteJoão BatistaNo ratings yet
- fICHAMENTO - APOLOGIA DA HISTÓRIA (Introdução Aos Estudos Históricos)Document3 pagesfICHAMENTO - APOLOGIA DA HISTÓRIA (Introdução Aos Estudos Históricos)Clevson BarrosNo ratings yet
- Ansara, Soraia. (2012) - Políticas de Memória X Políticas Do Esquecimento: Possibilidades de Desconstrução Da Matriz Colonial. Psicologia Política, 12 (24), 297-311.Document15 pagesAnsara, Soraia. (2012) - Políticas de Memória X Políticas Do Esquecimento: Possibilidades de Desconstrução Da Matriz Colonial. Psicologia Política, 12 (24), 297-311.Alessandro SilvaNo ratings yet
- Marxismo Ocidental - LosurdoDocument20 pagesMarxismo Ocidental - LosurdoTico CamêloNo ratings yet
- A Contribuição de Edward Thompson para o Conceito de Classe SocialDocument11 pagesA Contribuição de Edward Thompson para o Conceito de Classe SocialAlex DanciniNo ratings yet
- O Odio A Democracia PDFDocument63 pagesO Odio A Democracia PDFLaís SouzaNo ratings yet
- Agronegócio e indústria cultural: padronização da vida e da arteDocument7 pagesAgronegócio e indústria cultural: padronização da vida e da arteEmanuela Do CarmoNo ratings yet
- O silêncio como resistência: a análise de Spivak sobre a subalternidade femininaDocument3 pagesO silêncio como resistência: a análise de Spivak sobre a subalternidade femininaThiago Cardassi Sanches100% (1)
- Compreendendo as misérias através da mídiaDocument4 pagesCompreendendo as misérias através da mídiasgalva19No ratings yet
- A Esquerda Militar No Brasil PDFDocument4 pagesA Esquerda Militar No Brasil PDFandrequeirozujs100% (2)
- Carceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Document336 pagesCarceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Wlamir SilvaNo ratings yet
- SANTHIAGO. História Pública Como Prática E Campo de Reflexões Debates, Trajetórias e Experiências No BrasilDocument18 pagesSANTHIAGO. História Pública Como Prática E Campo de Reflexões Debates, Trajetórias e Experiências No BrasilMerylin SantosNo ratings yet
- Gramsci: intelectuais e hegemoniaDocument2 pagesGramsci: intelectuais e hegemoniaMario Cesar PestanaNo ratings yet
- A Doença Revelando A História.Document20 pagesA Doença Revelando A História.Aline NunesNo ratings yet
- Relativismo Cultural e UniversalismoDocument2 pagesRelativismo Cultural e UniversalismoDaniel Bueno AmorimNo ratings yet
- Geopolitica Do Conhecimento MIGNOLODocument38 pagesGeopolitica Do Conhecimento MIGNOLOAline CruzNo ratings yet
- Análise Do Livro Caminhos e FronteirasDocument10 pagesAnálise Do Livro Caminhos e FronteirasFelipe FernandesNo ratings yet
- Biopoder, racismo e morte na sociedade reguladoraDocument4 pagesBiopoder, racismo e morte na sociedade reguladoramarcelo almeida duarteNo ratings yet
- Definicoes Hist Oral PDFDocument3 pagesDefinicoes Hist Oral PDFMakunaima KulaNo ratings yet
- Resumo Apologia Da História - Marc BlochDocument7 pagesResumo Apologia Da História - Marc BlochYuri BandeiraNo ratings yet
- Barbara Fields - Escravidão, Raça e Ideologia Nos Estados UnidosDocument17 pagesBarbara Fields - Escravidão, Raça e Ideologia Nos Estados UnidosJones100% (1)
- O Verdadeiro SexoDocument5 pagesO Verdadeiro SexoMarcus DicksonNo ratings yet
- 2 Fichamento Schaff - Aula Dia 31.03Document23 pages2 Fichamento Schaff - Aula Dia 31.03Sandra Barros Alves MeloNo ratings yet
- Análise crítica do uso da imprensa como fonte históricaDocument18 pagesAnálise crítica do uso da imprensa como fonte históricaChrystian Wilson PereiraNo ratings yet
- Fichamento - A Operação Historiográfica M. CerteauDocument4 pagesFichamento - A Operação Historiográfica M. CerteauThiago ArendNo ratings yet
- Resenha - Teoria Da História - II - Os Primeiros Paradigmas-Positivismo e HistoricismoDocument8 pagesResenha - Teoria Da História - II - Os Primeiros Paradigmas-Positivismo e HistoricismoHarrison Miranda100% (1)
- Historia Das Revistas PiauiensesDocument15 pagesHistoria Das Revistas PiauiensesMayara FerreiraNo ratings yet
- 5.TRONTO. Mulheres e CuidadosDocument18 pages5.TRONTO. Mulheres e CuidadosGustavo de Oliveira AlexandreNo ratings yet
- ADORNO, S. A Criminalidade Urbana Violenta No Brasil - Um Recorte Temático. BID, Rio de Janeiro, n.35, p.3-24, 1ºsem. 1993.Document22 pagesADORNO, S. A Criminalidade Urbana Violenta No Brasil - Um Recorte Temático. BID, Rio de Janeiro, n.35, p.3-24, 1ºsem. 1993.Thiago NascimentoNo ratings yet
- Fontes para a história: a opacidade do transparenteDocument28 pagesFontes para a história: a opacidade do transparenteIago AlmeidaNo ratings yet
- A renovação da História EconômicaDocument34 pagesA renovação da História EconômicaValter Mattos da CostaNo ratings yet
- Pesquisa iluminação eficiência energéticaDocument19 pagesPesquisa iluminação eficiência energéticaPatrik MachadoNo ratings yet
- De Certeau e A Operação HistoriográficaDocument9 pagesDe Certeau e A Operação HistoriográficaJosi BroloNo ratings yet
- O que um professor de história precisa saber segundo CaimiDocument4 pagesO que um professor de história precisa saber segundo CaimiH TTNo ratings yet
- Regimes autoritários no BrasilDocument19 pagesRegimes autoritários no BrasilAnderson TorresNo ratings yet
- Lawrence Stone - ProsopografiaDocument23 pagesLawrence Stone - ProsopografiaAnderson TorresNo ratings yet
- Análise estrutural de Lévi-Strauss sobre parentesco e mitologiaDocument7 pagesAnálise estrutural de Lévi-Strauss sobre parentesco e mitologiaFred1211No ratings yet
- História da história e o sentido ocidentalDocument9 pagesHistória da história e o sentido ocidentalMárcio MoraesNo ratings yet
- Capitalismo, trabalho e Uber: a transformação do empregoDocument23 pagesCapitalismo, trabalho e Uber: a transformação do empregoIvan Dias MartinsNo ratings yet
- 1887 - 3254590-Hayden White e A Crise Do HistoricismoDocument29 pages1887 - 3254590-Hayden White e A Crise Do HistoricismoGuilherme BombaNo ratings yet
- Joaquina: Mulher, Negra, Escrava e Mendiga. Uma saga de cidadaniaFrom EverandJoaquina: Mulher, Negra, Escrava e Mendiga. Uma saga de cidadaniaNo ratings yet
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)From EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsFrom EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo ratings yet
- O direito à educação do adolescente privado de liberdadeDocument223 pagesO direito à educação do adolescente privado de liberdadenilvaneNo ratings yet
- Significado de Exclusão Social (O Que É, Conceito e Definição) - SignificadosDocument2 pagesSignificado de Exclusão Social (O Que É, Conceito e Definição) - SignificadosEmilene RibeiroNo ratings yet
- Narrativas autobiográficas na pesquisa sobre formação de professoresDocument12 pagesNarrativas autobiográficas na pesquisa sobre formação de professoresMarcelo MunizNo ratings yet
- 5º Ano - Caderno de Apoio Remoto 2021Document51 pages5º Ano - Caderno de Apoio Remoto 2021adeilson xavier da silvaNo ratings yet
- Arquitetura e Narratividade Paul RicoeurDocument9 pagesArquitetura e Narratividade Paul Ricoeurcecilia.ricaNo ratings yet
- A Síndrome Do Medo Contemporâneo e A Violência Na EscolaDocument14 pagesA Síndrome Do Medo Contemporâneo e A Violência Na EscolaValéria Cristina de OliveiraNo ratings yet
- Isaiah Berlin O Populismo RussoDocument14 pagesIsaiah Berlin O Populismo RussoPatrick PetersonNo ratings yet
- Concurso Público para Professor Docente I de Física no Rio de JaneiroDocument11 pagesConcurso Público para Professor Docente I de Física no Rio de JaneiroJoeme AlvesNo ratings yet
- O Rap como comunicador e influenciador comunitárioDocument29 pagesO Rap como comunicador e influenciador comunitárioVitor NascimentoNo ratings yet
- IDN Cibersegurança PDFDocument266 pagesIDN Cibersegurança PDFLuís César100% (1)
- Determinação social da saúde: modelo de Dahlgren e WhiteheadDocument7 pagesDeterminação social da saúde: modelo de Dahlgren e WhiteheadCamila ProttNo ratings yet
- Ensino de Botânica com textos alternativosDocument15 pagesEnsino de Botânica com textos alternativosEmanuele AlvesNo ratings yet
- Direito Achado Na Rua ArtDocument44 pagesDireito Achado Na Rua ArtJoseh Marcos De França da SilvaNo ratings yet
- Cristianismo - Aula 4.Document16 pagesCristianismo - Aula 4.Edson de SantanaNo ratings yet
- Resenha - A Reforma Empresarial Da EducaçãoDocument6 pagesResenha - A Reforma Empresarial Da EducaçãoAngela LeiteNo ratings yet
- 2017 - A Pesquisa de História de Vida Nos Estudos OrganizacionaisDocument36 pages2017 - A Pesquisa de História de Vida Nos Estudos OrganizacionaisLucMorNo ratings yet
- Lista - Final de Comunicações AprovadasDocument413 pagesLista - Final de Comunicações AprovadasMúsico de SáNo ratings yet
- Antropologia Social - ConceitoDocument4 pagesAntropologia Social - ConceitoVetinhoNo ratings yet
- Controle SocialDocument62 pagesControle SocialBianca N C BasilioNo ratings yet
- 2022 - 3 - SCABELLO Et Al - Dinâmicas Urbanas e Ambientais, Representações Sociais e Práticas DocentesDocument162 pages2022 - 3 - SCABELLO Et Al - Dinâmicas Urbanas e Ambientais, Representações Sociais e Práticas DocentesEditora SertãoCultNo ratings yet
- CG Ebook FinalDocument179 pagesCG Ebook FinalEliana PougyNo ratings yet
- Tese Marilda Power PointDocument101 pagesTese Marilda Power PointThais Cristina SantosNo ratings yet
- Caderno de Questões Pmpa 2023Document268 pagesCaderno de Questões Pmpa 2023Wescley CoutinhoNo ratings yet
- Significados e Desafios Do Adolescer Na ContemporaneidadeDocument16 pagesSignificados e Desafios Do Adolescer Na ContemporaneidadeGilberto Miranda JúniorNo ratings yet
- Didatica de 2Document18 pagesDidatica de 2Ednilsa MacocaNo ratings yet
- Arthur Ramos e a mestiçagem no BrasilDocument8 pagesArthur Ramos e a mestiçagem no BrasilMoa MJrNo ratings yet
- DRP Guia de Como FazerDocument68 pagesDRP Guia de Como FazerBreno Sousa100% (1)
- K WDCyc V7 PR WWQ7 J DF Yqq Yn NDocument6 pagesK WDCyc V7 PR WWQ7 J DF Yqq Yn NJussara Gomes MarquesNo ratings yet
- Psicopedagogia na Educação InfantilDocument17 pagesPsicopedagogia na Educação InfantiltatianeNo ratings yet
- As duas faces do guetoDocument2 pagesAs duas faces do guetoClaudionor Araujo100% (2)