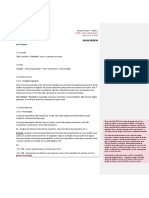Professional Documents
Culture Documents
Mídia, estereótipos e educação visual
Uploaded by
Andrea CardosoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Mídia, estereótipos e educação visual
Uploaded by
Andrea CardosoCopyright:
Available Formats
MDIA, IMAGINRIO DE CONSUMO E EDUCAO
P AOLA BASSO MENNA BARRETO GOMES *
RESUMO: Atravs de levantamentos empricos, este artigo discute
os esteretipos visuais propagados na cultura de consumo. Tra-
tarei de alguns tpicos relativos s artes visuais, considerando
que a visualidade contempornea intensamente marcada pelas
imagens infantis veiculadas na mdia e por objetos de consumo. A
influncia do imaginrio estereotipado constri uma subjetividade
homogeneizada, reforando os discursos hegemnicos que esta-
belecem desigualdades. Pensando a arte como alternativa para
novas formas de presentidade, defendo o desenvolvimento de um
olhar crtico sobre estas imagens e aponto algumas estratgias
para abordarmos esta questo dentro da sala de aula.
Palavras-chave: mdia, esteretipos, imagens, educao visual,
consumo.
Este texto prope um debate sobre o papel dos cones e das imagens
da cultura de massas no campo educativo, uma discusso que parte da mi-
nha experincia como arte-educadora e da constatao emprica da forte
1
influncia das fbricas de imaginrio na formao visual das crianas. O
embrio deste texto foram inquietaes surgidas dentro de sala de aula,
onde, independente do trabalho desenvolvido, apareciam com muita fre-
qncia cones de consumo e entretenimento como, por exemplo, os per-
sonagens da Disney. Como professora de artes, estava bastante atenta para
formas de expresso que fossem distintas dos conhecimentos verbal e de-
dutivo (nos quais est centralizada a estrutura do currculo formal), e o fato
de estas expresses apresentarem-se dentro de padres estereotipados de
representao visual me incitou a refletir sobre o significado das produes
2
de meus alunos. No contato com as produes visuais de todo o universo
escolar, percebia a tendncia em reproduzir imagens ou solues visuais
* Mestranda em Educao na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail:
pag@iname.com
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 191
advindas da mdia. Todos os trabalhos do ambiente escolar fossem ilus-
traes de livros didticos, cartazes confeccionados pelos prprios alunos,
por professores ou funcionrios, imagens recortadas das revistas, os traba-
lhos especficos da minha disciplina e tambm os desenhos e produes
3
espontneas que os alunos me mostravam ou escondiam eram consi-
derados produo significativa, expresso dos modos de olhar o mundo
daqueles alunos, de seus professores e de outras pessoas que participa-
vam da escola. A constatao de que professores, alunos e funcionrios
estavam na maior parte das vezes reproduzindo imagens que circulavam
atravs de instncias predominantemente comerciais, suscitava muitas ques-
tes. Quais eram os significados daquelas imagens? Que tipo de poder exis-
tia naquelas representaes para que fossem enfaticamente reproduzidas?
Que tipo de espao possuam as expresses singulares, que traziam outras
formas de visualidade dentro da escola? O que fazer para trabalhar peda-
gogicamente com cones e solues visuais de cunho estereotipado?
Na tentativa de responder a estas e muitas outras questes, me pro-
pus a investigar as representaes da mdia e as implicaes pedaggi-
cas deste modo miditico de ver o mundo, o conhecimento visual
construdo por inmeras referncias imagticas, produzidas em locais apa-
rentemente bastante desvinculados da escola. Esta tendncia se exprime
atravs das variadas pesquisas na rea de educao que, ao invs de
deterem-se exclusivamente no campo da escola institucional e da sala de
aula, focalizam os saberes propagados pelos mais variados campos da
cultura. Dentre todos estes lugares onde os saberes se propagam, desta-
ca-se a mdia. Embora o termo mdia seja usado como substituto para
meios de comunicao (Fischer, 1996, p. 28), o alcance deste campo,
denominado miditico, no diz respeito apenas aos veculos tradicionais
onde so difundidas as informaes (rdio, jornais, revistas, televiso,
vdeos, entre outros), mas tambm aos outros veculos e produtos que ser-
vem como meios de propagao do imaginrio e dos discursos da cultu-
ra. Ao trabalhar com este campo, a palavra mdia est designando mei-
os de massa (ou mass-media), meios de comunicao social, meios ele-
trnicos de comunicao, indstria cultural, entre outros (idem, p. 28).
As relaes entre mdia e produo de sujeitos sociais so anali-
sadas na pesquisa de Rosa Fischer, que investiga a construo de signi-
ficados e a formao de subjetividade por meio daquilo que a autora de-
nomina dispositivo pedaggico da mdia. Inserido nesta linha de pesqui-
sa, este trabalho tambm tem como propsito fazer com que professores
e professoras, assim como outros agentes dos processos educacionais,
tenham acesso a
192 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
abordagens abrangentes e objetivas de conhecimento da mdia televisual,
instrumentalizando-os para dominarem uma tecnologia e, principalmente,
para assumirem tambm um papel de crticos da cultura, nesse processo
fundamental de pensar a histria do prprio tempo. (Fischer, 1997, p. 63)
Servindo-se da metodologia de Michel Foucault, atravs da an-
lise da mnima materialidade de documentos extrados da mdia, des-
crevendo os modos concretos em que se manifestam os discursos,
que podemos compreender as complexas estratgias de construo de
sentido (idem, p. 70).
Embora minha rea de atuao seja as artes visuais e as questes
propulsoras derivem das minhas preocupaes com o imaginrio este-
reotipado que se apresentava em meu cotidiano de professora, a inves-
tigao desse imaginrio, em princpio de ordem puramente visual, fez
com que outros tipos de representao, no necessariamente visuais,
fossem analisadas. O papel das figuras produzidas por corporaes
como a Disney, a Warner e a Mattel, por exemplo, no diz respeito so-
mente a figuras atraentes e coloridas para serem consumidas, mas tam-
bm a posies e lugares sociais representados por esses personagens.
No entanto, atravs do consumo massivo e de uma insistente apario
dessas figuras nos lugares mais diversos que personagens como Mickey,
Pernalonga e Gasparzinho (para citar apenas alguns), independente de
nossas escolhas, passam a fazer parte de nossas vidas. A observao
de que a maior parte dos produtos destinados s crianas estampa per-
sonagens da indstria do entretenimento, sejam produtos de higiene,
como pastas-de-dente ou xampus, sejam peas do vesturio, seja o ma-
terial escolar, sejam embalagens de alimentos (ou mesmo um desenho
de personagem da Disney impresso em um biscoito), faz com que tenha-
mos de discutir o papel destas figuras na construo de uma infncia
voltada para o consumo de imagens.
Partindo do pressuposto da infncia como uma construo cultu-
ral moldada, Shirley Steinberg aponta a necessidade de estudos no
campo do tecnopoder exercido pela mdia, a ponto de considerar uma
responsabilidade cvica dos profissionais em educao deterem-se no
que se pode denominar currculo das grandes corporaes, assim como
seus efeitos sociais e polticos. Estas corporaes criam e veiculam
seus prprios mitos, seus dolos e suas crenas, que representam ver-
dades inquestionveis para fs e adoradores, consumidores em poten-
cial, no apenas de seus produtos como tambm da mitologia propaga-
da pela empresa. Verdades mitificadas so saberes em evidncia, discur-
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 193
sos tidos como certos, aceitos sem inquietaes, dificilmente questio-
nados pelo senso-comum. Rosa Fischer observa que no apenas no Bra-
sil, mas tambm em mbito mundial, os meios de comunicao consti-
tuem-se como lugares de circulao e legitimao de saberes dos mais
variados campos, de modo que, ao abordar a condio da mdia como
produtora de verdade, h
a necessidade de uma anlise que possa situar-nos nesse presente em
que a imagem, o fato de ter aparecido na TV ou ter merecido qualquer
espao nos jornais e revistas configura poder, produz efeitos nas pesso-
as, constri um tipo especial de verdade. (Fischer, 1996, p. 126)
A verdade presente nos saberes estabelecidos pela mdia, tecida
nas redes simblicas das quais emergem discursos dos mais variados
campos, produz modos de ser que constituem subjetividades. Na medi-
da em que tambm construtora e propagadora de imaginrios, a mdia
serve de referencial para a produo das identidades.
Trabalhando com o pressuposto de que a aprendizagem profunda muda
nossa identidade, vemos o processo pedaggico como processo que en-
volve nosso desejo (nossa nsia por algo alm de ns mesmos, uma nsia
moldada pelo contexto social no qual atuamos, por nosso investimento
afetivo naquilo que nos rodeia), captura nossa imaginao e constri nos-
sa conscincia. (Steinberg, 1997, p. 102)
A mdia e as tecnologias que ostentam manifestaes de poder
inerentes aos interesses capitalistas produziriam, de acordo com
Kincheloe, uma era de consumo. Este autor cita o consumo como
centralizador do estilo de vida dito ps-moderno, a ponto de o prprio
consumo, ou mais precisamente as empresas que constroem uma cul-
tura de consumo, produzirem sentido. Sentido que constri identidades,
produzindo-nos como sujeitos de determinados discursos. Sujeitos de
consumo, somos perpassados por discursos que vendem imagens e
modos de ser, de sermos atrelados no s a produtos variados, mas
tambm a imagens geralmente personificadas destes e aos estilos im-
plicados em suas formas. Steinberg (1997, p. 109), considerando os es-
tudos culturais relativos ao consumo, alega que em alguma medida so-
4
mos aquilo que consumimos.
Sobre a evoluo de um personagem de desenho animado para
um signo de consumo, temos a interessante contribuio da pensadora
194 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
americana Susan Willis que, ao analisar um dos grandes cones da cul-
tura popular, a figura do Mickey Mouse, faz importantes colocaes so-
bre modos de consumo puramente visuais. Ao constatar que, desde a
dcada de 30, personagens que se tornaram conhecidos atravs da
mdia so usados como emblemas para promover vendas, a autora de-
fine que a mudana de personagem de desenho animado para emble-
ma ocorre no momento de sua definio como mercadoria (Willis, 1997,
p. 71). Os emblemas de companhias como a Disney ou a Warner no es-
tariam implicados diretamente no ato de comprar, mas na promoo e
na venda da multinacional que os veicula.
Na sociedade de consumo avanada, o ato de consumir no envolve ne-
cessariamente uma troca econmica. Consumimos com os olhos, absor-
vendo produtos com o olhar cada vez que empurramos um carrinho pe-
los corredores de um supermercado, assistimos televiso ou dirigimos
ao longo de uma rodovia pontuada por logotipos. O consumo visual de
tal forma parte de nosso panorama cotidiano que no nos damos conta
dos significados inscritos em tais procedimentos. (Willis, 1997, p. 44)
Apesar da inevitabilidade dos cones de consumo, que se infiltram
massivamente nos mais prosaicos produtos cotidianos, so poucas, den-
tro do mbito da arte-educao, as discusses que aprofundam a ques-
to da hegemonia das grandes corporaes na formao da visualidade
das ltimas geraes. Durante as duas ltimas dcadas, a tendncia dos
professores de arte engajados nas discusses de sua rea de conheci-
mento era fazer a crtica do desenho pronto, mas ignorar totalmente o
poder de figuras como as da Disney, trabalhando em sala de aula com
propostas alheias a este imaginrio que, quando surgia, era explicita-
mente ou sutilmente condenado. Manter a distncia aparente entre os
diversos meios em que a informao visual circula e o ambiente esco-
lar uma tentativa quase sempre falha, pois a escola, muitas vezes, pro-
cura preservar a integridade dos contedos disciplinares tradicionais
sem confront-los com o conhecimento corriqueiro produzido massiva-
mente pelos veculos miditicos.
Diante de to grande nmero de ofertas visuais, performticas e espeta-
culares na sociedade, a escola encontra-se em desvantagem, pois os
chamados auxiliares de ensino audiovisual, a comunicao corporal do
professor, sua retrica, no convencem. O mundo da escola um mun-
do cinza, parado e passivo. As imagens na escola so manipuladas como
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 195
se fossem neutras e inofensivas, alm de serem mal aproveitadas em ter-
mos de possibilidade educativa. No se prepara o professor para desem-
penhos comunicativos e expressivos ao nvel do desafio do ensino e das
crianas atuais, no se prepara o professor, sobretudo, para dialogar com
o mundo atravs de um universo imagina. (Meira, 1999, p. 132)
As palavras de Marly Meira, que possui uma longa trajetria dentro
da arte-educao, exprimem minha inquietao no que se refere educa-
o visual. Ao defender uma educao esttica e ao discutir o mundo
imaginal, do qual fazem parte os mitos, os ritos e todas as formas de arte,
a autora prope a ampliao do poder estratgico da imaginao por meio
de um fazer criador com autoria (op. cit., p. 124). Este fazer est intricado
com a qualificao da experincia esttica, com o fazer-se presente, com
a intensidade emocional dos sujeitos colocados nesta experincia. Mas
onde est a intensidade desta experincia dentro de nossas salas de aula?
Como tornar presentes professores e alunos acostumados com informa-
5
es imagticas to distantes da esttica defendida por Marly?
Na medida em que as referncias dos alunos e at dos prprios
professores fundamentam-se nas informaes circulantes pelos meios de
comunicao de massa, a prtica pedaggica contempornea nos mos-
tra que uma educao que no dialogue diretamente com estas informa-
es quase impossvel. Contudo, o problema maior surge na medida em
que, ao invs de promover o dilogo, a educao apenas reproduz o dis-
curso da mdia, reforando um modo de saber as coisas em que a infor-
mao compacta e a frmula de fcil reconhecimento so privilegiadas em
relao reflexo crtica e criao de conhecimentos singulares. No caso
especfico da Educao Artstica, apesar dos movimentos a favor da livre-
6
expresso difundidos nos anos 70, a permanncia da cpia de modelos,
do tecnicismo e da reproduo visual estereotipada denota um modo de
olhar referido indstria de consumo e s imagens da mdia. Certamente
que este modo de olhar, calcado nas representaes da cultura de mas-
sas, est intricado em complexa rede de vises locais e histricas que
constituem um modo de ver e, conseqentemente, de produzir.
Este produzir, na prtica escolar, na maior parte das vezes, era
um reproduzir. Mesmo nas aulas de artes em um espao distinto da es-
7
cola formal, onde a centralidade do ensino recai sobre a visualidade e
os outros sentidos tambm so privilegiados, a tendncia que observei
era a mesma, principalmente nos alunos acima da idade escolar. A dife-
rena que no espao alternativo de oficina, as possibilidades de tra-
balho, por serem muito mais amplas em termos de tempo, espao e tro-
196 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
cas interpessoais, oferecem uma chance maior de que os alunos desen-
volvam solues individuais e produes singularizadas. Contudo, seja
neste espao alternativo ou no espao obrigatrio da sala de aula, a re-
produo de solues formais institudas apresentava-se como uma cons-
tante e somente um trabalho intenso sobre a desconstruo das formas
hegemnicas pode abrir caminho para novas formas de representao.
Os problemas de uma visualidade calcada na reproduo incidem
em vrios fatores que contribuem para a lenta agonia da instituio escola.
O primeiro deles que a escola no est preparando os alunos para um
mundo repleto de imagens, sendo que a prpria formao dos professores
deficitria no que se refere ao conhecimento visual. As imagens esto sen-
do usadas dentro da escola, mas nem os professores, tampouco os alunos,
possuem oportunidades para trabalharem com o conhecimento que ine-
rente a este campo. necessrio conhecimento para que os sujeitos con-
sigam lidar com o cabedal de referncias imagticas oferecidas pela cultu-
ra contempornea. Sem uma formao visual adequada, a maioria das pes-
soas deixa seu olho seguir o fluxo das tendncias, copiando ao invs de cri-
ar, reproduzindo o que visto, em vez de singularizar a viso.
O segundo problema, que talvez seja mais grave, diz respeito ao
esvaziamento simblico deste excesso de reproduo. Walter Benjamim
8
e Theodor Adorno foram os precursores da crtica das reprodues em
srie surgidas na era industrial. Suas discusses detinham-se em torno
do valor esttico, fazendo uma distino muito grande entre a esttica da
obra de arte e a pobreza dos objetos serializados, fabricados industri-
almente. Marly Meira faz uma referncia sobre os desvios estticos pra-
ticados na sociedade, deturpaes que ocorreriam quando as manifes-
taes artsticas possuem fins meramente utilitrios, ou seja, servem
apenas ao consumo (op. cit., p. 129). Acredito que, antes de um suposto
empobrecimento ou desvio das formas estticas, o excesso de repro-
duo precisa ser pensado como um problema quando comea a envol-
ver ausncia de significado, quando no nos afeta mais, quando o que
nos diz muito superficial. No so as formas que precisam ser discuti-
das, pois, conforme com Suely Rolnik (1989, p. 247), a fartura que a cul-
tura de massa oferece um luxo, que pede teso e no lamento, mas
sim a sua falta de intensidade, sua dessignificao.
No se trata de separar a forma de seu sentido, pois o significa-
do est na aparncia que, em sua forma materializada, instituda so-
bre o significado. A prpria forma o sentido. Quando falo de sentido
estou falando da capacidade das coisas, sejam quais forem suas formas,
em nos afetar, em nos fazer sentir, de produzirem intensidades. Aquilo
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 197
que nos afeta atinge no apenas os territrios visveis, mas tambm o
que Rolnik (op. cit., p. 46) chama de corpo vibrtil, primeira instncia
propulsora de desejos, fora incontrolvel em que a passagem destes
afetos o que parece gerar brilho. Nem sempre as imagens e as for-
mas visveis afetam nosso corpo vibrtil, apenas povoam as paisagens,
entulhando nosso olho, inflacionando o imaginrio. So apenas refle-
xos, indcios, informaes. As imagens que nos falam ao que muitos cha-
mam alma, as imagens que afetam nosso corpo vibrtil, no so ape-
nas imagens, mas tambm smbolos, figuras plenas de significados.
Contudo, as formas e seus significados se modificam no transcorrer da
histria, se transformam no sabor de diferentes contextos. O carter sim-
blico de uma imagem inconstante, mutvel e instvel, que tanto pode
nos atingir e nos fazer vibrar, quanto pode parecer ser sentido algum,
no nos afetando, apenas imprimindo uma informao vazia.
Antes de tratar a questo do esvaziamento simblico e da ausn-
cia de significado, considero importante explicitar o lugar de onde trata-
mos esta questo. A esttica que os frankfurtianos pranteavam, na apo-
logia do declnio da verdadeira arte, extremamente remota para ns.
Quase tudo o que sabemos das obras e dos artistas representantes desta
arte nos chega atravs de reprodues que sempre reduzem as reais di-
menses do trabalho original. Somente uma parcela mnima da popula-
o conhece os museus, tem oportunidade de visitar as raras exposies
e assistir aos poucos espetculos que acontecem neste pas, ou seja,
uma quantidade nfima de pessoas tem acesso aos reduzidos eventos
artsticos que fazem parte desta tradio. Embora seja uma tradio que
pouco interessa ao grande pblico e que quase nunca entendida, so
as suas representaes que ostentariam a erudio, o bom-gosto, a
visualidade dita superior.
O que restaria para a maior parte das pessoas que construram sua
visualidade atravs da indstria cultural e da cultura de massas? Aceitarmos
que a cultura popular, que todos consumimos e que faz parte da nossa vida,
a expresso esteticamente inferior lastimada por Adorno e Benjamim? Por
que condenaramos a reproduo, se atravs dela que as produes mais
distantes e as imagens mais inusitadas chegam at ns?
A quase total inexistncia de imagens originais e um cotidiano
povoado de objetos industrializados colocam-nos numa cultura de inten-
sa reprodutibilidade visual. O julgamento do valor esttico da mirade de
imagens e produtos que consumimos est condicionado a todo um modo
de olhar que se constitui dentro da prpria cultura visual, propagada por
estes produtos. O fato de as massas no possurem acesso s formas pu-
198 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
ras da arte no implica a ausncia de uma esttica e sim na constituio
de uma outra esttica. A questo do gosto envolvido com acesso s for-
mas artsticas genunas produz angstia apenas para aqueles que conde-
nam esta esttica constituda dentro da cultura de massas. Os elementos
estticos advindos de todas as instncias culturais, em maior ou menor
escala, fazem parte de nossa vida, conferindo cores especficas nossa
paisagem existencial. O que pode trazer angstia para homens, mulheres
e crianas a analgesia gradativa que vai sendo propagada na profuso
excessiva de informaes, informaes advindas daquilo que Rolnik (op.
cit.) chamou de central distribuidora de sentido. Esta central, identificada
com a mdia, nos capturaria por meio de imagens que estancam os flu-
xos desejantes propulsionados no corpo vibrtil. Estas imagens em si
estariam desprovidas do sentido (aquele que nos faz sentir), sua nica
funo (e este seu nico sentido) preencher a carncia, o vazio da
desconexo com o desejo que nos desterritorializa.
A busca de um territrio estvel, a necessidade de uma paisagem
conhecida, onde no precisamos enfrentar as vicissitudes dos desejos,
o que bloquearia as matrias de expresso, num processo que a au-
tora chama de sndrome da carncia-e-captura. O sujeito capturado,
seja pela central distribuidora de sentido ou mesmo por sistemas ditos
alternativos, que se colocam em oposio central, um sujeito ca-
rente de planos de consistncia para seus afetos desterritorializados (op.
cit., p. 155). A captura, como modo de produo de desejo na socieda-
de industrial e na mdia (idem, p. 226), aquilo que nos estiliza, que nos
prende a formas estagnadas, que nos torna diretamente plugveis
imagem em si, que est por toda parte, limpa de qualquer espcie de afe-
to (idem, p. 232).
As imagens perdem seu sentido quando sua reproduo no car-
rega mais intensidades, quando sua presena est ali somente para po-
voar um espao, quase sempre aleatoriamente. So elementos que fa-
zem parte apenas do territrio visvel, que no falam ao corpo vibrtil,
que no dizem respeito aos nossos afetos. Quando imagens e outros
elementos visuais so utilizados assim, a questo da reproduo, que
primeiramente poderia ser entendida como transcrio de uma refern-
cia, torna-se mera repetio dessignificada. o trabalho desprovido de
significado ou com um significado pobre, do fazer por fazer, simplesmen-
te porque preciso fazer, pois alguma coisa precisa ser apresentada.
Este fazer denota um olhar por olhar, um olhar vazio incapaz de ler o
cabedal de significados que as imagens carregam. Este olhar analfabe-
to, quando traz as imagens para si, carrega junto delas todos esses sig-
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 199
nificados sem um aparente significado e toda uma ausncia de signifi-
cados que gera angustia e sofrimento. Sobre a imagem, Meira (op. cit.,
p. 124) nos diz que esta
um corpo de idias, um recorte tico sobre os valores, um mapa de sen-
tidos sobre algo que se aprendeu. No conseguiremos dialogar com a dor,
a ignorncia, a falta, o destino, o acaso, a incompletude, nem com a ale-
gria, o jogo, a festa, o jbilo, sem acesso criao de imagens.
Rolnik (op. cit., p. 235) fala que somente o despertar do corpo
vibrtil faz com que se deixe de ser apenas espectador, sujeito em si
observando objetos em si com um olho entulhado de imagens.
Este entulho imagtico o que faz tantos autores falarem num mun-
do povoado de imagens, inflacionado, cuja quantidade de imagens que
passam por ns e pelas quais passamos to grande que se pode dizer que
vivemos em uma cultura da passagem. Imagens que passam, como todas
as outras coisas. Os filmes passam nas telas dos cinemas, nos vdeo-cas-
setes e na televiso. As modas passam assim como passam as msicas e
as imagens da imensa fbrica de passagens que a mdia. Passamos por
lugares, por experincias, por situaes. A paisagem passa fora dos meios
de transporte, passam pessoas. Os sujeitos passam pelas instituies, mas
milhes de outras coisas passam pelos sujeitos. Passam os pensamentos,
o tempo passa. Passam os afetos E o que fica de todas essas coisas por que
passamos e que passam por ns? As coisas passam, algumas vezes vol-
tam e quase sempre vo embora, mas tudo o que passa sempre deixa a sua
marca. Marcas que de-formam, re-formam, produzem novos formatos, repro-
duzem formas e formalizam alguma coisa de seu significado.
Todavia, a cultura da passagem, onde a remodelao das formas
desestabiliza todas as certezas, nos desterritorializando, ao invs de li-
dar com estas inadequaes como fora propulsora para a produo de
novas formas, mais adequadas transitoriedade, tende a fixar alguns
moldes enrijecidos. Talvez a rigidez destes moldes procure estabelecer
alguma forma segura em meio a tantas formas em transio. Como edu-
cadores, o importante levarmos em conta tanto as acomodaes (for-
mas fixas) quanto o transitrio (formas que passam), assumindo os con-
flitos que permeiam o contexto em que estamos e procurando trabalhar
concomitantemente com o estvel e com o provisrio.
Por isso, a importncia do incentivo produo dos alunos, no
ignorando as referncias, mas reorganizando-as de modo singular.
200 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
Quando o ato de reproduzir uma imagem estiver impregnado de senti-
do, esta reproduo estar produzindo singularidades. O sujeito torna-
se sujeito do ato de reproduzir, produzindo, mesmo que atravs de uma
frmula referendada, a sua marca. No mais a marca que as coisas dei-
xaram no sujeito, mas sim a marca que o sujeito imprimiu em alguma coi-
sa. Essa marca subjetiva que ressignifica o que poderia estar destitu-
do de sentido, pois a produo envolve presena, o estar ali, o fazer-se
inteiro dentro de uma ao. A reproduo aleatria sem significado es-
tigmatiza a ausncia, no h mais sujeito, apenas a mquina civilizatria
se autocopiando desenfreadamente.
A ausncia do sujeito intensamente referendada na obra do pen-
sador Jean Baudrillard (1997, p. 78), que alega estarmos vivendo na su-
premacia dos objetos, em um mundo onde o que importa so as aparn-
cias. Neste imprio das aparncias, a cultura da passagem faz com que
as coisas desapaream facilmente, mas os verdadeiros desaparecidos
so os milhes de telespectadores que esperam ser arrancados da
inexistncia.
Estamos em um mundo onde a funo essencial do signo consiste em fa-
zer desaparecer a realidade e ao mesmo tempo colocar um vu sobre
este desaparecimento. Atrs de cada imagem alguma coisa desapareceu
(a fora do signo da imagem vem menos do que ela representa e mais
da prestidigitao que lhe prpria). (Idem, p. 80)
No campo indiferenciado, banalizado, desintensificado, de nos-
sa vida cotidiana, da banalidade de imagens que se tornou costumeira
(Idem, 1997b, p. 86), a mdia nos permite ver somente o que foi visto pe-
los outros, o que captado por cmeras, o olhar do olhar do outro.
Baudrillard nos fala de uma realidade simulada, na qual as coisas fingem
ser o que no so. Nesta realidade, a ausncia das coisas no a falta
das coisas em si, mas sim as foras que so perdidas dentro da produ-
o ilimitada de coisas, cuja lgica faz com que desaparea o sentido.
O sentido que resta, dentro do pensamento apocalptico de Baudrillard,
seria apenas ilusrio.
Ns insistimos em acumular, adicionar, inflacionar. E no que sejamos mais
capazes de encarar o domnio simblico da ausncia, por isso que nos
encontramos hoje em dia mergulhados na iluso contrria, aquela desen-
cantada da profuso, a iluso moderna da proliferao das telas e das
imagens. (Idem, 1997b, p. 83)
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 201
Para tericos com fundamentao marxista, como Susan Willis, a
questo da ausncia dos sujeitos e da supervalorizao dos objetos
deve-se ao fato de vivermos em um tempo em que as pessoas primeira-
mente so vistas como consumidoras, enquanto o ato de produzir des-
valorizado dentro do capitalismo atual.
Se as pessoas esto mais prontas a se aceitarem como consumidoras
do que produtoras, se a gratificao associada ao consumo e no ao
ato de trabalhar, fazer, realizar, temos que admitir e lembrar que nessa
sociedade o trabalho inatingvel ou alienante. (Willis, 1997, p. 76)
Ou seja, a desvalorizao da fora de trabalho est intricada na
feitura de uma subjetividade contempornea totalmente cunhada pelo
consumo.
Nossas roupas, nossos acessrios, os objetos que usamos, as m-
sicas que escutamos, os filmes e espetculos a que assistimos, os livros
que lemos ou deixamos de ler, os alimentos que ingerimos, os lugares que
freqentamos, tudo nos constitui como sujeitos identificados com a cultu-
ra que consumimos em variadas manifestaes. Nossas identidades so
marcadas por aquilo que podemos ou no podemos possuir, definindo lu-
gares especficos na complexidade das redes sociais. As marcas daquilo
que consumimos ou desejamos consumir tambm imprimem uma certa
participao dos sujeitos nos anseios da coletividade. O consumo de ima-
gens e informaes que, atravs da mdia esto no domnio de todos, pro-
duzem uma ntida sensao de pertencimento social, pois fazem parte de
sistemas codificados em comum. As produes individuais, principalmente
aquelas que no fazem uso do cdigo de significados comum, no pos-
suem o mesmo sentido, e por serem singulares, quase sempre dizem res-
peito apenas a ns e aos que partilham da especificidade de nosso cdi-
go. Pode-se dizer que, enquanto o consumo nos conecta com o mundo, a
produo parece nos ausentar. A produo s faz sentido quando se tor-
na re-produo. As singularidades pouco interessam ao mercado, o sin-
gular de cada um s interessa mdia quando falar em nome da subjeti-
vidade pluralizada a quem ela se dirige.
Quando a vida nos chama a protagonizar nossos pequenos dra-
mas, consumidores em potencial das narrativas e discursos vendidos pela
mdia que somos, encontramo-nos totalmente despreparados, afinal, as
coisas nunca so como se passam nos filmes e na televiso. Nestes lu-
gares, aprendemos que a bondade recompensada e que o verdadei-
ro amor para sempre, que seremos felizes se mantivermos a casa lim-
202 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
pa e cuidarmos de nosso corpo. As formas que a mdia utiliza para falar
diretamente a ns, so tradues e recortes de nossas prprias vidas,
reconstrudos com uma forma especial, feita para seduzir: so as prpri-
as pessoas que, em seus investimentos de desejo, atualizam a mdia no
papel de centralizadora de sentido e valores, dando-lhe crdito e reali-
dade (Rolnik, op. cit., p. 116). A seduo das formas da mdia fundamen-
ta-se na mesma esttica das formas artsticas puras que a Escola de
Frankfurt advogava (e haveria alguma esttica que no fosse estti-
ca?), a diferena que suas formas, ao contrrio da arte tradicional, so
calcadas na efemeridade das imagens e na fragmentao de informa-
es. Transcrevendo os mitos atravs das linguagens que lhe so espe-
cficas, utilizando smbolos impregnados de poder, a mdia constri suas
prprias narrativas dentro de padres estticos que tanto agradam ao
popular como tambm suscitam a ateno de um olhar erudito, quebran-
do barreiras entre padres, imiscuindo estilos e olhares, muitas vezes
servindo como campo frtil para o engendramento de novas posies.
Podemos ver a mdia como mquina propcia para a criao de no-
vos territrios, mas precisamos estar atentos ao que Rolnik chama de ve-
neno da captura, quando o desejo investe contra si mesmo a favor do
status quo. A sndrome descrita pela autora percebida num movimento
espiral que surge quando as inevitveis desterritorializaes so vividas
como carncia, quando as rupturas e transformaes so dadas como
perda e os sujeitos no conseguem desprender-se dos referenciais ante-
riores. Esta situao provoca vulnerabilidade captura pela centralizao
dos sentidos e valores. Na sua desesperada busca por um modelo, o su-
jeito investe na prpria captura, vai em busca daquilo que promete a es-
tabilidade de um territrio, mas que, no entanto, nunca consegue ser atin-
gido. A incapacidade de alcanar este modelo gera humilhao e a per-
da de sensibilidade do corpo vibrtil, que, por sua vez, levariam ao en-
fraquecimento da potncia de criao e intimidao do desejo em seu
carter produtivo. O sujeito insensvel, intimidado para exprimir as foras
capazes de construir novos territrios, sofre de uma fragilizao ainda
maior que o faz viver outras desterritorializaes mais e mais como ca-
rncia (Rolnik, 1989, p. 116-117).
O que Rolnik chama de poltica de captura do desejo tem como
estratgia o entulhamento de imagens at que o prprio gesto criador fi-
que soterrado e no possa mais se lanar. A partir das concepes de
Michel Foucault, a autora conclui que esta poltica no funciona a partir
da represso, mas sim atravs da incitao do desejo. O problema o
investimento na reproduo dos sistemas vigentes, aumentando seu po-
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 203
der, reforando seus mitos. O corpo, que deveria viver os afetos em suas
intensidades, vive uma espcie de sentido exclusivamente mecnico de
uma existncia feita de territrios psicossociais padronizados (Rolnik, op.
cit., p. 118). O poder dissociado do corpo o que inverteria o fluxo
desejante de criao e produo, o poder exercido sobre o corpo que,
na medida em que nos subjetiva dentro de disciplinamentos muito estrei-
tos, estagnaria a capacidade de engendramento de novas singularidades.
Os movimentos corpreos, nos quais circulam os fludos do desejo, ao
invs de impulsionarem a desterritorializao das formas vigentes, alimen-
tam a reproduo dessas mesmas formas (idem, p. 118-119).
Frente ao embrutecimento e estereotipia percebidos em muitas
pessoas, a autora conclui que sem uma poltica de subjetividade deve
estar sendo muito difcil sobreviver (Idem, p. 119). A estratgia apontada
tem como base as idias de Michel Foucault partilhadas por Gilles
Deleuze e deglutidas por Flix Guattari, em que as lutas de poder e a cons-
tituio de subjetividades acontecem dentro das estruturas capilares de
nossa existncia. nos fatos prosaicos, nas histrias individuais, nos em-
bates cotidianos e na circulao coloquial de saberes que o poder exer-
cido. Foucault nos fala de micropoderes, Guattari, de micropolticas,
atentando-nos para a possibilidade de resistncia nas menores esferas do
sistema. A luta acontece em dimenses palpveis, faz parte de nossa vida,
nos coloca dentro do embate corpreo com as sujeies institudas pela
hegemonia de certos padres. Guattari (1999, p. 17) chama os embates de
processos de singularizao, movimentos desejantes que contestam os
modos de encodificao preestabelecidos. nas prticas, que esto ao
nosso alcance, em nosso campo de atuao, que a revoluo molecular
proposta pela micropoltica acontece. A luta pela ressingularizao o que
pode produzir a ruptura com os sistemas de modelizao e criar novas
formas de subjetividade, subjetividades mutantes que possam habitar a
instabilidade dos territrios existenciais na plenitude de suas foras, cri-
ando universos sustentveis, que engrenem-se entre si a partir dos fluxos
desejantes conectados ao corpo vibrtil. Somente a reapropriao eco-
lgica de todo o arsenal de coisas produzidas e reproduzidas pode nos
trazer confiana para criarmos sobre as referncias absorvidas e ressig-
nific-las no apenas como meros objetos de consumo, mas como obje-
tos subjetivadores que portam sentido.
Um ponto programtico primordial da ecologia social seria o de fazer tran-
sitar essas sociedades capitalsticas da era da mdia em direo a uma
era ps-mdia, assim entendida como uma reapropriao da mdia por
204 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
uma multido de grupos-sujeito, capazes de geri-la numa via de ressin-
gularizao. (Idem, 1990, p. 47)
Esta era ps-mdia proposta por Guattari s vivel atravs da
micropoltica da gesto de detritos e reaproveitamento de toda a matria,
na qual engendraremos modos de subjetivao permeveis realidade
miditica, em que mirades de informaes compem as paisagens que
nos cercam. A migrao de espaos entre a mdia, a escola e a cultura
audiovisual precisa ser pensada como territrio imprescindvel para uma
educao que d conta da problemtica de um mundo inflacionado de
imagens e da formao de novas subjetividades. O trabalho pedaggico
precisa se debruar sobre o que poderiam ser os dispositivos de produ-
o de subjetividade, indo no sentido da re-singularizao individual e/ou
coletiva, ao invs de ir no sentido de uma usinagem pela mdia (idem, p.
15). A singularizao da subjetividade se faz emprestando, associando,
aglomerando dimenses de diferentes espcies (idem, 1999, p. 37), ou
seja, no indo contra a mdia, mas sim transitando por ela sem deixar-se
levar pelo que Rolnik descreveu como veneno da captura.
Notas
1. Fbricas de imaginrio um termo utilizado por autores como Kincheloe e
Giroux para designar as grandes corporaes produtoras de imagens, como
a Walt Disney Corporation, a Time Warner Entertainment Inc., entre outros.
2. Estas constataes partem desde meu estgio como professora de sries ini-
ciais, em 1987, e foram feitas ao longo de minha trajetria como professora
de artes em vrias instituies de Porto Alegre, como a Escola Santa Rosa
de Lima e o Colgio de Aplicao da UFRGS.
3. Gostaria de incluir como produo expressiva os desenhos clandestinos que
depredam o patrimnio escolar, interferncias visuais que os alunos fazem
nas classes, nas paredes, nas portas dos banheiros. Antes de achar que tais
aes so agressivas ou depredadoras, gostaria de pensar que so estra-
tgias dos alunos em apropriarem-se do espao e, como tal, deveriam ser tra-
balhadas de forma a tornarem o ambiente escolar expresso legtima de sua
produo. Enquanto este tipo de ao for considerado subversivo e o espa-
o escolar for determinado somente dentro das esferas administrativas, jo-
vens e crianas tentaro imprimir clandestinamente as suas marcas nestes
locais.
4. Transpondo as teorias destes autores para a realidade brasileira, faz-se ne-
cessrio abordar o consumo como fator de excluso, na medida em que mui-
tos sequer consomem alimentos para sua subsistncia. Os que possuem po-
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 205
der de compra, ao consumirem determinados produtos, so incitados a ad-
quirirem outros, num crculo interminvel do qual milhes esto excludos.
5. Aqui, a esttica parte das concepes de Bachelard e Maffesoli, onde o es-
ttico denota vibrao, emoo, sentimento de beleza. Embora a autora
no faa rupturas com a idia hegeliana de esttica, o que seu texto prope
distingue-se, em parte, do purismo proposto pela Escola de Frankfurt.
6. Nos anos de 1980, a chamada arte-educao no advoga mais o livre-fazer,
pois a influncia da metodologia triangular defende o ensino das artes funda-
mentado no fazer, no contextualizar (Histria da Arte) e na leitura visual.
7. Fora da escola formal, observei trabalhos de alunos de todas as faixas etrias
como estagiria da Escolinha de Artes da UFRGS, durante o ano de 1989, e
como professora da Oficina de Artes Sapato Florido, no perodo de 1994 a 1996.
8. Walter Benjamim e Theodor W. Adorno, juntamente com Marx Horkheimer,
Siegfried Kracauer e Herbert Marcuse, foram os pensadores da Escola
hegeliana de Frankfurt. A teoria crtica de tradio marxista proposta por esta
Escola foi precursora no debate sobre os problemas da produo em srie
e consumo massificado. O termo indstria cultural foi cunhado dentro des-
ta Escola, por Adorno.
Recebido para publicao em 20 de maro de 2000.
MASS-MEDIA, CONSUMPTIONS IMAGERY AND EDUCATION
ABSTRACT: Through empirical appreciation, this article discusses the
visual stereotypes propagated in consumption culture. Some topics
about visual arts will be approached , considering that contemporary
visuality is intenselly marked by infantile images disseminated in the
media and consumption objects. The influence of steroetyped imagery
constructs a homogeneous subjectivity, strengthening the hegemonic
discourses that establish unevenesses. Thinking art as an alternative
to new forms of being, I argue about the importance of critical eye
development against this images and try to indicate some strategies
for discussing that matter inside the classroom.
Key words: media, stereotypes, images, visual education, consumption.
Referncias bibliogrficas
ADORNO, Theodor. O fetichismo na msica e a regresso da audio. In:
A obra de arte e suas tcnicas de reproduo. Coleo Os Pen-
sadores. So Paulo: Abril Cultural, 1975.
ADORNO, Theodor & HORKHEIMER, Max. Humanismo e comunicao
de massa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970.
206 Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001
BARBOSA, Ana Mae & SALLES, Helosa Margarido (org.). O Ensino da
Arte e sua histria. So Paulo: MAC/USP, 1992.
BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos objetos. So Paulo: Perspectiva,
1997.
_______. A arte da desapario. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/N-Ima-
gem, 1997b.
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Adolescncia em discurso: Mdia e produ-
o de subjetividade. Porto Alegre, Programa de Ps-Graduao
em Educao, Faculdade de Educao, UFRGS, 1996.
_______. O estatuto pedaggico da mdia: Questes de anlise. Educao
o
& Realidade. Porto Alegre, n 22, vol. 2, jul./dez. 1997, p. 59-80.
GIROUX, Henri. A Disneyzao da Cultura Infantil. In: SILVA, T.T. & MOREIRA,
A.F. Territrios contestados. Campinas: Mercado das Letras, 1995.
GUATTARI, Flix. As Trs Ecologias. Campinas: Papirus, 1990.
GUATTARI, Felix & R OLNIK , Suely. Micropoltica: Cartografias do desejo.
Petrpolis: Vozes, 1999.
KINCHELOE, Joe. Mac Donalds, poder e criana: Ronald Mac Donald faz
tudo por voc. Identidade social e a construo do conhecimento.
Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria de
Educao, 1997.
MEIRA, Marly. Educao Esttica, arte e cultura do cotidiano. In: PILLAR,
Analice Dutra (org.). A educao do olhar. Porto Alegre: Mediao,
1999.
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: Transformaes contemporne-
as do desejo. So Paulo: Estao Liberdade, 1989.
STEINBERG, Shirley. Kindercultura: a Construo da Infncia pelas Gran-
des Corporaes. Identidade Social e a Construo do Conheci-
mento. Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secre-
taria de Educao, 1997.
WILLIS, Susan. Cotidiano para comeo de conversa. Rio de janeiro:
Graal, 1997.
Educao & Sociedade, ano XXII, n 74, Abril/2001 207
You might also like
- Atabaque e CapoeiraDocument3 pagesAtabaque e CapoeiraAndrea CardosoNo ratings yet
- Direito Penal II 2014.2 - Juliana DamascenoDocument56 pagesDireito Penal II 2014.2 - Juliana DamascenoAndrea CardosoNo ratings yet
- Se Deus Fosse Um Activista Dos Direitos HumanosDocument9 pagesSe Deus Fosse Um Activista Dos Direitos HumanosAndrea CardosoNo ratings yet
- Emancipação: A Publicidade E A Proteção Do Consumidor Infanto-Juvenil: Breve Denúncia Da Violação de GarantiasDocument11 pagesEmancipação: A Publicidade E A Proteção Do Consumidor Infanto-Juvenil: Breve Denúncia Da Violação de GarantiasAndrea CardosoNo ratings yet
- Versão 10.0 Sociologia Jurídica - SeminárioDocument15 pagesVersão 10.0 Sociologia Jurídica - SeminárioAndrea CardosoNo ratings yet
- A Criança e A Midia Download PDFDocument200 pagesA Criança e A Midia Download PDFAndrea CardosoNo ratings yet
- Se Deus Fosse Um Activista Dos Direitos HumanosDocument9 pagesSe Deus Fosse Um Activista Dos Direitos HumanosAndrea CardosoNo ratings yet
- Movimentos SociaisDocument20 pagesMovimentos SociaisAndrea CardosoNo ratings yet
- Codigo de Ética - PPDocument4 pagesCodigo de Ética - PPAndrea CardosoNo ratings yet
- Apresentação de Sociologia JurídicaDocument21 pagesApresentação de Sociologia JurídicaAndrea CardosoNo ratings yet
- Capitulo I IntroducaoDocument19 pagesCapitulo I IntroducaoNathan Petreli Ad'aNo ratings yet
- Versão 10.0 Sociologia Jurídica - SeminárioDocument15 pagesVersão 10.0 Sociologia Jurídica - SeminárioAndrea CardosoNo ratings yet
- Grade Curricular Curso de Direito 2010Document3 pagesGrade Curricular Curso de Direito 2010Rafael MaiaNo ratings yet
- Bocc Penafria Analise PDFDocument10 pagesBocc Penafria Analise PDFAndrea CardosoNo ratings yet
- Album de Partituras para Flauta Doce 2011 Jorge Nobre-1Document52 pagesAlbum de Partituras para Flauta Doce 2011 Jorge Nobre-1Eduardo Leandro Sabino93% (14)
- Partitura Rap Aiê, N'Toto, NiléDocument1 pagePartitura Rap Aiê, N'Toto, NiléAndrea CardosoNo ratings yet
- Politica Cinematografica AnitaDocument127 pagesPolitica Cinematografica AnitaMariana CoelhoNo ratings yet
- Politica Cinematografica AnitaDocument127 pagesPolitica Cinematografica AnitaMariana CoelhoNo ratings yet
- 036 - A Sociedade Contra o Estado - DocDocument11 pages036 - A Sociedade Contra o Estado - DocAndrea CardosoNo ratings yet
- Melhorando a aplicação dos recursos do PNAEDocument5 pagesMelhorando a aplicação dos recursos do PNAEQueila SilvaNo ratings yet
- Portfolio Unopar - Ensino Fundamental - MatemáticaDocument30 pagesPortfolio Unopar - Ensino Fundamental - MatemáticaKelly AlvesNo ratings yet
- Enfrentamento Da Cultura Do Fracasso EscolarDocument34 pagesEnfrentamento Da Cultura Do Fracasso EscolarSqUiN NNo ratings yet
- Avaliação da aprendizagem como construção do saberDocument17 pagesAvaliação da aprendizagem como construção do saberedujmrNo ratings yet
- Educação base da BNCCDocument95 pagesEducação base da BNCCLolaTeixeiraNo ratings yet
- UFMB Estatística I - Exercícios Tendência CentralDocument15 pagesUFMB Estatística I - Exercícios Tendência CentralxxxxxxxxxxxxxxxNo ratings yet
- Professora Usa Xadrez para Dar Lies de Matemtica e Combater BullyingDocument4 pagesProfessora Usa Xadrez para Dar Lies de Matemtica e Combater Bullyingapi-242362498No ratings yet
- Mat Regra de TresDocument24 pagesMat Regra de Trescomentada100% (1)
- PV Prof MatematicaDocument10 pagesPV Prof MatematicaMarii Chan72No ratings yet
- ME67B Maquinas de FluxoDocument3 pagesME67B Maquinas de FluxoengenheirojarmesonNo ratings yet
- A Alma Da WebQuest - Jarbas NovelinoDocument12 pagesA Alma Da WebQuest - Jarbas NovelinojoanirseNo ratings yet
- Escola Curriculo e CulturaDocument33 pagesEscola Curriculo e CulturaVania Beraldo100% (1)
- Fichas para Contar HistóriasDocument9 pagesFichas para Contar HistóriasElisa LopesNo ratings yet
- Enfermeiro Como EducadorDocument16 pagesEnfermeiro Como EducadorsantanagiNo ratings yet
- Sistema Morfofuncional Ed. FisicaDocument204 pagesSistema Morfofuncional Ed. FisicaVanessa Gomes100% (2)
- Psicologia Escolar: Teorias CríticasDocument14 pagesPsicologia Escolar: Teorias CríticasAmanda P S Bello100% (1)
- Concurso TRE-PA oferta vagas nível médio e superiorDocument45 pagesConcurso TRE-PA oferta vagas nível médio e superiorAlder PinheiroNo ratings yet
- Mapas de Foco da BNCC para Ciências Humanas no Ensino FundamentalDocument134 pagesMapas de Foco da BNCC para Ciências Humanas no Ensino FundamentalEdvanir CostaNo ratings yet
- Plano desenvolvimento alunoDocument6 pagesPlano desenvolvimento alunoCristina Buss Marques De SouzaNo ratings yet
- Bissetrizes FBDocument15 pagesBissetrizes FBfsfhtduNo ratings yet
- CTTrans editorial 2019Document20 pagesCTTrans editorial 2019Cttrans TransitoNo ratings yet
- Aula ImpactoDocument12 pagesAula ImpactoKleberNascimentoNo ratings yet
- Mestres de Capoeira: memória e salvaguarda no século XXIDocument207 pagesMestres de Capoeira: memória e salvaguarda no século XXIHugodePayensNo ratings yet
- Anais 4 CILASCI PDFDocument668 pagesAnais 4 CILASCI PDFWillian MenezesNo ratings yet
- Apostila Professor P2 Matemática PDFDocument543 pagesApostila Professor P2 Matemática PDFAlex Mattos100% (2)
- Exercícios-P.a PGDocument3 pagesExercícios-P.a PGNathan RezendeNo ratings yet
- Cronicas Celso AntunesDocument32 pagesCronicas Celso AntunesveronicaNo ratings yet
- SobrenaturalDocument117 pagesSobrenaturalPedro VillanovaNo ratings yet
- Triângulos semelhantes e segmentos proporcionaisDocument22 pagesTriângulos semelhantes e segmentos proporcionaismay tatarugaNo ratings yet
- Provas de matemática com exercícios de equações de 2o grauDocument4 pagesProvas de matemática com exercícios de equações de 2o grauROBERTO MARQUES BONIFÁCIO BARROSONo ratings yet