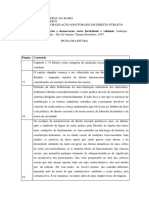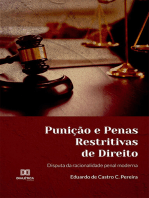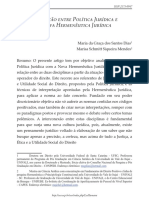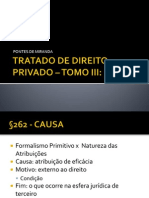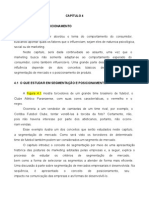Professional Documents
Culture Documents
Tarsis Barreto Oliveira - Tese PDF
Uploaded by
Isabela RossinoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Tarsis Barreto Oliveira - Tese PDF
Uploaded by
Isabela RossinoCopyright:
Available Formats
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM DIREITO
DOUTORADO EM DIREITO PBLICO
TARSIS BARRETO OLIVEIRA
PENA E RACIONALIDADE: A FUNO COMUNICATIVA E
ESTRATGICA DA SANO PENAL NA TIPOLOGIA
HABERMASIANA
Salvador
2011
TARSIS BARRETO OLIVEIRA
PENA E RACIONALIDADE: A FUNO COMUNICATIVA E
ESTRATGICA DA SANO PENAL NA TIPOLOGIA
HABERMASIANA
Tese apresentada ao Programa de PsGraduao em Direito da Universidade Federal
da Bahia, como requisito parcial para a
obteno do grau de Doutor em Direito Pblico.
Orientadora:
Minahim.
Salvador
2011
Prof.
Dr.
Maria
Auxiliadora
O48
Oliveira, Tarsis Barreto,
Pena e racionalidade: a funo comunicativa e estratgica da sano penal
na tipologia habermasiana / por Tarsis Barreto Oliveira. 2011.
226 f.
Orientadora: Prof. Dr. Maria Auxiliadora Minahim.
Tese (Doutorado) Universidade Federal da Bahia
Faculdade de Direito, 2011.
1. Pena (Direito) 2. Tipo (Direito penal) 3. Direito penal Filosofia 4. Habermas, Jrgen, 1929- I. Universidade Federal da Bahia
CDD- 345.0773
TARSIS BARRETO OLIVEIRA
PENA E RACIONALIDADE: A FUNO COMUNICATIVA E ESTRATGICA DA
SANO PENAL NA TIPOLOGIA HABERMASIANA
Tese apresentada ao Programa de PsGraduao em Direito da Universidade
Federal da Bahia, como requisito parcial
para a obteno do grau de Doutor em
Direito Pblico.
APROVADA PELA BANCA EXAMINADORA
___________________________________________
Prof. Dr. Maria Auxiliadora Minahim
___________________________________________
Prof. Dr. Alessandra Rapassi Mascarenhas Prado
___________________________________________
Prof. Dr. Nelson Cerqueira
___________________________________________
Prof. Dr. Alexandre Srgio da Rocha
__________________________________________
Salvador, 29 de julho de 2011
DEDICATRIA
Ao meu filho Lucas, a primavera sobre o meu
trajeto.
Aos meus pais Jos e Maria, por acreditarem no
conhecimento como forma de progresso e
libertao.
AGRADECIMENTOS
A Deus, pela realidade extraordinria da VIDA.
minha orientadora, Doutora Maria Auxiliadora Minahim, estrela viva da constelao
dos grandes juristas ptrios, iluminando de forma inovadora uma doutrina penal
ainda presa s amarras de uma viso dogmtica.
Ao Doutor Alexandre Srgio da Rocha e Doutora Alessandra Rapassi, pelas
preciosas contribuies oferecidas durante o Exame de Qualificao desta tese e em
momentos posteriores.
Aos meus irmos Rodrigo, Cristina e Janine, por estarmos juntos, em minha
trajetria acadmica, nos sacrifcios e nas conquistas at aqui alcanadas.
Aos professores do Programa de Ps-Graduao em Direito da UFBA, pelo privilgio
insubstituvel das aulas presenciadas. Em especial referncia, ao Doutor Washington
Luiz da Trindade e ao Doutor Nelson Cerqueira, pelas magistrais lies.
Aos colegas doutorandos e mestrandos do Programa, pelo companheirismo e
incentivo.
E a todas as pessoas que, em diferentes medidas, tornaram este momento possvel.
EPGRAFE
Nossos sistemas de idias (teorias, doutrinas,
ideologias) esto no apenas sujeitos ao erro, mas
tambm protegem os erros e iluses neles inscritos.
Est na lgica organizadora de qualquer sistema de
idias resistir informao que no lhe convm ou
que no pode assimilar. Quanto s doutrinas, que
so teorias fechadas sobre elas mesmas e
absolutamente convencidas de sua verdade, so
invulnerveis a qualquer crtica que denuncie seus
erros.
Edgar Morin
RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a racionalidade comunicativa da pena.
Nesta perspectiva, analisa-se inicialmente a linguagem enquanto instrumento
viabilizador de controle social, bem como a eficcia da comunicao no plano da
linguagem. Invoca-se, aqui, a teoria da ao comunicativa, de Jrgen Habermas,
cuja tipologia da ao, aliada sua particular teoria de atos de fala, confere ao
pensamento filosfico os pilares de uma racionalidade comunicativa, presente no
plano racional do discurso. De posse destes elementos, passa-se ao estudo das
penas, com especial foco nos fundamentos legitimadores de sua aplicao, a incluir
as teorias absolutas, relativas e mistas, para, em seguida, examin-la enquanto ato
comunicativo e estratgico de convencimento. A racionalidade da pena aqui
analisada revela-se tanto no plano do consenso racionalmente obtido pelos seus
destinatrios (pena como ato comunicativo), quanto no instrumento estratgico de
consecuo dos fins visados pelo poder historicamente constitudo (pena como ato
estratgico). Demonstra-se, por derradeiro, que a compatibilizao, socialmente
revelada no contexto jurdico, entre a realidade estratgica da pena e sua realidade
comunicativa, promove o carter de justia da reprimenda punitiva frente aos
destinatrios da norma, estabilizando as expectativas sociais, ao mesmo tempo em
que viabiliza a sua utilizao racional pelo Estado na salvaguarda de seus fins.
Palavras-chave: Pena, Racionalidade, Linguagem, Ao comunicativa, Ato
comunicativo, Ato estratgico, Justia.
ABSTRACT
This research has as its goal to investigate the communicative rationality of the
penalty. In this perspective, we firstly analyze language as a manageable instrument
for social controlling, as well as the effectiveness of communication in the context of
language. This paper approaches Jrgen Habermas theory of communicative action,
whose typology of action, together with his particular theory of speech act, provides
philosophical thoughts the pillars of a new communicative rationality, in the
perspective of a rational pattern of speech. With the use of these elements, we
analyze the penalties, specially focusing the legitimized basis for its application,
including absolute theories, relative theories and mixed theories, together with the
study of penalty as a communicative act or a strategical act of convincement. The
rationality of penalty is examined here either in the perspective of the consensus
rationally obtained by its receivers (penalty as a communicative act) or as a
strategical instrument used by historically built power to achieve its aims (penalty as
a strategical act). At last, we demonstrate that the balance (socially observed in
juridical context) between the strategical reality of the penalty and its communicative
reality provides penalty a sense of justice towards the receivers of the law, stabilizing
social expectations, as well as providing its rational apply by the State in the
guarantee of its ends.
Key-words: Penalty, Rationality, Language, Communicative action, Communicative
act, Strategical act, Justice.
SUMRIO
INTRODUO
INSTRUMENTAL
10
EPISTEMOLGIO
DO
PENSAMENTO
DE
HABERMAS
17
2.1
LINGUAGEM E COMUNICAO NA VIDA SOCIAL
17
2.1.1
A linguagem e a compreenso do mundo: a posio ortodoxa
18
2.1.2
Teoria dos atos de fala: a posio pragmtica
25
2.1.3
Linguagem e vida social: a posio construtivista
29
2.2
TIPOLOGIA DAS AES EM HABERMAS
35
2.2.1
Ao teleolgica
37
2.2.2
Ao normativa
38
2.2.3
Ao dramatrgica
39
2.2.4
Ao comunicativa
40
2.2.5
Ao estratgica (teleolgico-estratgica)
46
2.2.6
Os atos de fala luz da tipologia da ao de Habermas
49
2.3
TEORIA DA AO COMUNICATIVA
53
2.3.1
Caractersticas fundamentais da ao comunicativa
54
2.3.1.1 A situao de fala ideal
54
2.3.1.2 O consenso verdadeiro
55
2.3.1.3 Os interesses universalizveis
57
2.3.2
A racionalidade comunicativa
58
2.4
NATUREZA
COMUNICACIONAL
DO
DIREITO
AS
CATEGORIAS HABERMASIANAS
67
A PENA NA TRADIO JURDICA
90
3.1
A PENA COMO SANO TICO-MORAL-RELIGIOSA
92
3.2
FUNDAMENTOS TICO-POLTICOS DO DIREITO PENAL
99
3.3
TEORIAS DA PENA
121
3.3.1
Teorias absolutas da pena
128
3.3.2
Teorias relativas da pena
133
3.3.2.1 Preveno geral
134
3.3.2.2 Preveno especial
138
3.3.3
145
Teorias mistas da pena
A RACIONALIDADE DA PENA
150
4.1
A PENA LUZ DA RACIONALIDADE COMUNICATIVA
159
4.2
OPINIO
PBLICA
FORMAO
DO
CONSENSO
NA
PERSPECTIVA DE HABERMAS
180
4.3
O SENTIMENTO DE JUSTIA DA PENA
194
CONCLUSO
206
REFERNCIAS
212
11
1 INTRODUO
A imposio da pena carrega consigo a necessidade de sua justificao frente aos
destinatrios sociais. A busca de uma racionalidade que a legitime atende a uma
exigncia histrica de fundamentao dos mecanismos repressores estatais, que
utilizam a pena como instrumento estratgico para a consecuo de seus fins.
Em que pese seu elevado grau de coercibilidade e fora dissuasora, a sano penal
representa, apenas, um dos diversos instrumentos de controle social dispostos no
plano
da
realidade
coletiva.
Ditos
mecanismos
de controle,
socialmente
transmissveis por intermdio da linguagem (meio viabilizador da tradio), permitem
o ajustamento das condutas humanas, moldando os comportamentos sociais a um
conjunto de padres pr-estabelecidos, repassados de gerao a gerao. Por meio
deles, estabilizam-se as aes individuais na medida em que cada sujeito passa a
atuar de acordo com expectativas mtuas de comportamento. Observa-se que cada
sociedade abriga uma srie de sanes dispostas a disciplinar e conformar as
condutas transgressoras e desviantes dos padres sociais, de forma a garantir a
vigncia da ordem instituda.
Apesar de representarem, para o sujeito social, um conjunto de coeres limitadoras
sua liberdade e vontade, ditos mecanismos de controle encontram aceitao pela
prpria sociedade, quando os considere dotados de sentido. A lgica conformadora
desse sentido faz parte de um universo simblico compartilhado por cada indivduo e
evolutivamente transmissvel pela tradio, projetando-se a linguagem como o
instrumento legitimador de padres sociais comuns que esses mecanismos de
controle pretendem preservar.
Invocam-se, neste contexto, as concepes de Jrgen Habermas, cujo instrumental
epistemolgico orientar o presente trabalho. importante ressaltar que a anlise
aqui desenvolvida no se confunde com a teoria do prprio Habermas acerca do
Direito. O que aqui se intenta utilizar categorias fundamentais da epistemologia
habermasiana, a saber, a teoria da ao comunicativa e a noo de racionalidade
comunicativa, para analisar a racionalidade da pena, sem compromisso com as
concluses a que o prprio Habermas poderia chegar nessa direo.
Isto se d porque, na teoria habermasiana do Direito, outros pressupostos, que aqui
no se colocam, so admitidos, notadamente aqueles que presidem concepo
12
tica de Habermas.
Busca-se, nesta pesquisa, demonstrar que a racionalidade da pena estrutura-se em
bases comunicativas, correspondendo ora a um ato comunicativo, ora a um ato
teleolgico-estratgico de convencimento. Isto seria pouco mais que bvio, no fora
a circunstncia de que a aceitao social da pena no deriva de qualquer
tecnicalidade jurdica, nem, tampouco, da coero irresistvel imposta por um Estado
todo-poderoso, mas reside em um sentimento em geral e indefinvel de justia.
O elemento inovador deste trabalho consiste exatamente em procurar a
caracterizao dessa justia na convergncia harmoniosa da natureza comunicativa
com a natureza estratgica da pena. Trata-se, dito de outro modo, da harmonizao
entre a compreenso da pena segundo a racionalidade instrumental, idealizada pelo
Iluminismo e amplamente considerada por Max Weber, entre outros pensadores,
com a racionalidade comunicativa referida por Habermas.
Deste modo, a hiptese de trabalho que aqui se busca demonstrar : quando a
natureza estratgica da pena (dissuasora) compatibiliza-se com sua natureza
comunicativa (racionalidade comunicativa) a sociedade a considera (em princpio)
como uma instncia de consubstancializao da justia.
A expresso em princpio, colocada acima entre parnteses, merece um
esclarecimento.
Ao contrrio do que possam supor leitores menos atentos, elemento essencial do
pensamento de Habermas a ideia de um consenso verdadeiro, alcanado pela
interlocuo ilimitada no espao e no tempo, em uma situao de fala ideal. Este
consenso
verdadeiro,
fundamentador
da verdade
das
proposies
da
racionalidade dos interlocutores, um elemento transcendental, no sentido kantiano
do termo, no se confundindo com o consenso emprico ou ftico, embora sejam as
caractersticas do consenso verdadeiro as que legitimam o consenso ftico, isto ,
aquele que ocorre em situaes prticas dentro de uma comunidade maior ou
menor, em deliberao democrtica.
Para afirmar-se que faticamente a sociedade se comporta desta ou daquela maneira
seria preciso pesquisa emprica, cuja amplitude e dificuldade o autor se dispensa de
conjecturar, j que no esta a natureza da pesquisa empreendida nem este o
objetivo deste trabalho.
13
O que se pretende aqui fazer a demonstrao terica, a partir do exame da pena
do ponto de vista das categorias habermasianas, de que o sentimento de justia da
reprimenda penal pode ser mais precisa e corretamente identificado no como um
sentimento subjetivo cuja existncia factual se restasse por verificar empiricamente,
mas como uma fuso do carter comunicacional da pena como dissuasora com seu
carter comunicativo. Tal fuso empresta ao efeito dissuasor no apenas a
racionalidade instrumental que conecta o Estado repressor com o apenado, mas
uma racionalidade comunicativa, conectando o Estado repressor com toda a
sociedade, inclusive o apenado.
Observe-se que, enquanto esta tese fundamenta-se no instrumental epistemolgico
habermasiano, suas concluses no representam uma repetio da teoria
habermasiana do Direito. Com efeito, ser exposta a viso de Habermas, que
ancora o consenso verdadeiro em bases ticas, no caso do Direito, para, por
confronto, evidenciar que no se est fazendo, nesta tese, a suposio em que
Habermas se baseia de uma intuio universal do bem.
Foge ao escopo deste trabalho uma discusso aprofundada das relaes entre tica
e Direito, especialmente Direito Penal. O que se est afirmando , to somente, a
desnecessidade de formular uma hiptese tica absolutista em face dos
instrumentos fornecidos pela Teoria da Ao Comunicativa.
Este trabalho, em sua elaborao, iniciou-se pela indagao acerca da possvel
racionalidade da pena. No seu desenrolar, surgiu a possibilidade de que a sano
penal fosse, neste caso, uma das instncias possveis da deciso judicial, que teria,
qualquer
que
fosse
seu
escopo
de
aplicao,
idntica
ou
semelhante
fundamentao.
No considerou o autor necessrio explorar essa conjectura, por dois motivos. O
primeiro que, se for verificado que o que aqui se discute tem aplicao mais ampla
do que a simples legitimao da pena, no se prejudica sua aplicao legitimao
da pena, que o objetivo do trabalho. O segundo que, em que pese a relevncia
de todos os campos do Direito para a sociedade, em princpio, o Direito Penal
alcana uma repercusso mais ampla e profunda no seio da sociedade, chegando,
at mesmo de forma preferencial, aos mais simples e menos instrudos, que, apesar
de suas poucas pretenses intelectuais, so, entretanto, agudamente sensveis a
uma concepo intuitiva de justia. Desse modo, o objeto desta tese cresce em
14
significado, j que ela vai buscar o fundamento terico sobre o qual se apoia esse
sentimento de justia que a todos nos acessvel.
A busca de uma racionalidade a orientar a imposio estatal da pena frente aos
indivduos no preocupao recente. A procura de respostas para o tema proposto
revela um dos mais inquietantes dilemas do Direito Penal, e, em sua essncia, do
prprio Direito. No obstante, as tentativas histricas de fundamentao da pena
propostas pelo Direito Penal olvidaram, em essncia, o carter comunicativo da
pena enquanto norma jurdica. Com efeito, demonstra-se a insuficincia da
fundamentao da sano penal segundo bases instrumentais (estruturadas numa
relao meio-fim, prprias da filosofia calcada no sujeito e de carter iluminista).
Neste contexto, as clssicas doutrinas absolutas, relativas e mistas correspondem a
tentativas histricas de justificao da pena, que, embora tenham alcanado
avanos tico-polticos na limitao da atuao repressiva estatal, por estarem
presas a uma racionalidade pr-estabelecida (aplicao de meios racionais para a
obteno de fins), nada dizem sobre a realidade comunicativa dos sujeitos sociais.
Estes,
interagindo
intersubjetivamente
no
dinmico
processo
comunicativo,
promovem alteraes no quadro de legitimao da norma, provocando modificaes
no consenso (acordo racional) entre os participantes.
Valoriza-se aqui, o agir racional como correspondendo ao agir comunicativo, capaz
de modificar a validade social da norma enquanto pretenso de verdade. Em outras
palavras, a racionalidade da pena, longe de ser determinada por critrios
instrumentais (baseados nos atos volitivos irracionais de quem as estabelece), s
encontra sua lgica legitimadora no reconhecimento racionalmente motivado dos
seus destinatrios sociais.
De posse do instrumental habermasiano, busca esta pesquisa revelar uma nova
racionalidade para a pena, fundamentando-a, ento, como um ato comunicativo, ao
mesmo tempo em que permanece como um ato teleolgico-estratgico de
convencimento. Neste diapaso, investiga-se a natureza estratgica da pena,
utilizada como instrumento para a consecuo dos fins perseguidos pelo poder
institudo,
promovendo
nos
receptores
uma
modificao
psicolgico-
comportamental, de molde a conformar as aes individuais e estabilizar as relaes
coletivas.
15
O presente trabalho estrutura-se em cinco captulos, sendo o primeiro esta
introduo.
No segundo captulo, examina-se, inicialmente, o papel da linguagem e da
comunicao na vida social, inclusive a teoria dos atos de fala e a dinmica do
processo comunicacional, com destaque para o papel da linguagem enquanto
mecanismo viabilizador do controle social. Isto se faz necessrio em virtude da
importncia da comunicao (e da linguagem) para engendrar a estabilizao das
aes coletivas na medida da atuao de cada sujeito conforme as expectativas
sociais de seus semelhantes e, tambm, como intrito ao pensamento de Habermas.
o fenmeno da comunicao e da pretenso de verdade que vai inspirar o filsofo
alemo a construir todo o arcabouo de seu edifcio terico-epistemolgico.
Embora e sempre convm repetir ao de comunicar-se no seja sinnimo de
ao comunicativa em Habermas (ainda que no sejam incompatveis), a estrutura
da comunicao que vai representar o modelo de construo da discusso racional
ou discurso que fundamenta o consenso verdadeiro e, por essa via, a racionalidade
comunicativa.
Em seguida, ainda no captulo segundo, apresenta-se a tipologia das aes
proposta por Jrgen Habermas, como elemento necessrio ao exame da Teoria da
Ao Comunicativa. Cabe, neste ponto, observar-se que, em que pese haver na
tipologia habermasiana da ao as aes normativas, a base irredutvel da anlise
de Habermas fundamenta-se na existncia do binmio ao comunicativa e ao
estratgica (teleolgico-estratgica). Como se ver, este o instrumento utilizado
nos argumentos desta tese, embora isto permita chegar-se a uma viso que no
reproduz necessariamente todas as concepes de Habermas acerca do Direito.
A ao comunicativa apresentada em sequencia. Nela, os sujeitos sociais buscam
o consenso, a partir do acordo racional entre os participantes do discurso, que, livres
de qualquer coero, manifestam suas pretenses de verdade, sob a cogncia da
fora do melhor argumento. Isto se faz possvel pela admisso da existncia de
interesses universalizveis, cujo reconhecimento permitir que o consenso se
estabelea. Aqui, o acordo racional obtido valer como regra disciplinadora das
futuras aes individuais dos participantes.
A ao estratgica, por seu turno, busca o xito do sujeito social diante do(s) seus(s)
16
oponente(s), promovendo uma modificao psicolgico-comportamental no(s)
destinatrio(s), de forma obteno de fins que atendam a determinados interesses
particulares.
especialmente relevante a caracterizao da natureza da ao comunicativa,
pelos conceitos de situao de fala ideal, consenso verdadeiro e interesses
universalizveis. Promove-se, assim, uma diferenciao entre racionalidade
comunicativa e racionalidade instrumental, necessria pretendida definio da
justia da pena como convergncia dessas duas racionalidades, objetivo final desta
tese.
Finalizando o segundo captulo, examina-se a natureza comunicacional do Direito,
indicando-se, no caso, situaes em que a comunicao envolvida seja de natureza
comunicativa ou de natureza estratgica. O Direito cumpre uma funo primordial
como realidade cultural e comunicacional, correspondendo a um mecanismo
disciplinador por excelncia das condutas sociais dos indivduos. O exame de como
a aplicao da pena gera, diante dos sujeitos, a confirmao das expectativas de
vigncia das normas, atuando como um complexo de verdades socialmente
partilhadas, ou mero temor da perseguio pelo poder coercitivo do Estado,
essencial para o estabelecimento da proposio que, ao final, se defender.
O terceiro captulo apresenta uma viso da pena na tradio jurdica. Nele contmse comentrios que sublinham a tentativa de justificar a pena por meio de uma
racionalidade instrumental, na feio preconizada pelo Iluminismo. A inteno dessa
parte alinhar diversas vises da pena luz da racionalidade instrumental, para, em
momento subsequente, retom-las luz da concepo habermasiana de
racionalidade comunicativa. Neste passo, apresentam-se a pretendida justificao
da pena enquanto sano tico-moral-religiosa, os fundamentos tico-polticos do
Direito Penal, bem como a perspectiva instrumental de legitimao da pena, com
destaque para as teorias absolutas, relativas (a incluir a preveno geral e a
preveno especial) e mistas. Alm disso, aborda-se a opo hodierna por solues
combinadas entre as teorias, que resguardem as funes retributiva, preventiva e
ressocializadora da pena.
Essa exposio, aparentemente superabundante em relao s exigncias da
demonstrao da hiptese de trabalho , na verdade, essencial. Ela seguida,
como se disse acima, por minuciosa indicao de um ponto de vista alternativo,
17
pretendendo-se evidenciar o fundamento comunicativo da evoluo do Direito Penal,
de que trata o quarto captulo. Nele, mostra-se a necessidade de compatibilizao
da natureza estratgica da pena indeclinvel com sua natureza comunicativa.
Esta necessidade imperativa para compatibilizar-se a reprimenda penal com os
valores cambiantes da sociedade, que elabora livre e soberanamente sua forma de
vida no contexto democrtico do Estado.
A necessidade de compatibilizao entre as funes comunicativa e estratgica da
pena fundamental para conformar a realidade jurdica realidade factual,
considerado o ideal do que Habermas chama vida boa para a sociedade.
Finalmente, mostra-se como essa harmonia entre os significados estratgico e
comunicativo da pena permite determinar sua justia, o que, no se reduzindo a uma
noo meramente subjetiva, nem por isso discrepa daquilo que se manifesta, com
esse nome, na sensibilidade social.
O que se pretende oferecer de inovador, nessa anlise, um desvelamento do
processo legitimador da pena, que encontrar abrigo na fuso de duas vises da
racionalidade especialmente considerada a racionalidade comunicativa fundante
do modo de vida democrtico excluindo-se a possibilidade de postular-se a priori
uma noo de justia que descesse, como um deus ex machina, sobre o Direito
Penal. Tais consideraes so retomadas, sumarizadas e ressaltadas no quinto e
conclusivo captulo.
18
2 INSTRUMENTAL EPISTEMOLGICO DO PENSAMENTO DE HABERMAS
A plena compreenso da teoria da ao de Habermas, a ser utilizada para
fundamentar a legitimao social da pena, necessita da explicitao de alguns
aspectos do fenmeno da comunicao humana. A teoria da comunicao campo
frtil para discusso e, no obstante ser indispensvel para contextualizar o que se
discutir mais adiante, afasta-se, se aprofundado o debate, do foco deste trabalho.
Deste modo, o autor ater-se- exposio de algumas ideias bsicas, omitindo
deliberadamente outros aspectos que no serviriam necessidade acima
enunciada. Trata-se, a bem dizer, de uma rememorao, ou coletnea de
informaes que devem estar presentes na mente do leitor quando consideraes
ulteriores forem desenvolvidas. A isto se destina este captulo.
Dotado de inteligncia capaz de lhe conferir constante domnio sobre a natureza, o
homem, no obstante auferir progressivamente as ferramentas garantidoras de sua
prpria sobrevivncia, manifestou, desde os primrdios, sua nsita natureza social,
tornando inexorvel a sua interao em uma famlia, tribo ou aldeia. A linguagem,
ainda que incipientemente desenvolvida em eras remotas, exprimindo-se por sinais,
gestos ou expresses corporais, permitiu ao homem a objetivao da sua prpria
existncia na confirmao de uma realidade comum socialmente experimentada e
compartilhada com seus semelhantes.
Frente a uma natureza qual era preciso conquistar as possibilidades da prpria
subsistncia, mas que, ao mesmo tempo, lhe apresentava o amlgama de todo o
mistrio e desconhecido da vida, surgia no homem a necessidade de compreender o
universo de sua realidade, na busca de explicaes que pudessem conferir sentido a
sua prpria existncia1.
2.1 LINGUAGEM E COMUNICAO NA VIDA SOCIAL
As palavras explanao e explicao tm, ambas, o sentido etimolgico de tirar as dobras ou
rugas. A presena do misterioso e do desconhecido, potencialmente ameaadores, dissipada diante
da explicao ou explanao que, suprimindo as rugas ou dobras do desconhecimento, deixa a
descoberto, no plano liso, o que haja para ser conhecido. Portanto, a qualidade intrnseca da
explicao no ser verdadeira, ser tranquilizadora. a que residiria a origem da ideia de
significado. Para Christensen (1968, p. 55), por exemplo, o significado precede verdade, j que uma
proposio pode adquirir significado para o sujeito antes mesmo de ser utilizada para tornar um
enunciado verdadeiro.
19
O sculo XX testemunhou o surgimento de uma transformao no campo da
comunicao, propiciada pela revoluo informacional, permitindo o intercmbio
mais rpido das mensagens, seja pelo rdio, cinema, televiso, como por outros
instrumentos. Entretanto, no se concebe a comunicao como uma simples troca
de informaes entre sujeitos, constituindo-se, ao contrrio, num intrincado
mecanismo viabilizado pela linguagem. (MELO, 1998, p. 45)
Mais do que o medium que permite a expresso e o compartilhamento intersubjetivo
das idias, pensamentos e emoes no convvio social, a linguagem o meio
viabilizador da tradio, significando, em essncia, elemento primordial para a vida
dos indivduos em sociedade.
2.1.1 A linguagem e a compreenso do mundo: a posio ortodoxa
Na posio aqui chamada de ortodoxa, a ontologia subjaz epistemologia, vale
dizer, existe um mundo suscetvel de ser conhecido e a linguagem um dos
instrumentos viabilizadores do conhecimento.
importante ressaltar que essa viso, embora tradicional e, para muitos, intuitiva,
no a nica concepo da relao entre o sujeito cognoscente e o mundo
conhecido, no transcorrer do sculo XX.
Os
autores
que
sucessivamente
contemporneo, independentemente
marcaram
de suas
evoluo
prprias
do
pensamento
crenas
metafsicas,
propiciaram um instrumental para que se desvende no mundo uma complexidade
bem maior do que a posio tradicional poderia supor, na medida que apontam para
o sujeito no como um mero expectador, mas como um participante que cada vez
mais se torna relevante para a determinao dessa realidade.
Vejam-se algumas posies nessa linha.
Bruner (1997, p. 85) destaca as ferramentas (tcnicas interpretativas) utilizadas por
uma comunidade, a incluir os mitos, sua tipologia de compromissos humanos e suas
tradicionais maneiras de negociar e renegociar os diversos significados. Para Bruner
(1997, p. 65-67), a procura do significado instiga a capacidade humana a interiorizar
a linguagem, utilizando seu sistema de sinais como um interpretante, moldando o
20
organismo pr-lingustico para o trfego da linguagem2.
Desse modo, por meio da linguagem que as pretensas explicaes do mundo,
mticas ou racionais, vo surgir e desenvolver-se, possivelmente de maneira
simbitica, quer dizer, ambas surgem juntas, interdependentes, valendo-se uma da
outra para buscar sua razo de existir e ampliar-se.
Para Teles (1977, p. 14), os mitos surgiram da necessidade consciente ou
inconsciente do homem em entender o seu meio e realidade desconhecidos3,
sentindo a sua mente primitiva a necessidade de explicar a prpria natureza,
comparada, segundo ele4, a uma folha de papel em branco, sobre a qual o homem
escrevia seus mitos, na tentativa de dar sentido sua existncia. Note-se que os
mitos, ainda que concebidos por um indivduo, s ganhavam fora e expresso na
medida em que fossem socialmente compartilhados por um determinado grupo
social.
O mito5, conceituado por Teles como um contexto explicativo, no-lgico, muitas
vezes fantstico, motivado pelo meio fsico e humano em que vive a coletividade,
tem as caractersticas de ser: fantasioso (apela para as foras da imaginao),
pouco lgico (ausente de coerncia interna) e explicativo (se no tiver por funo
explicar algum fenmeno, alguma coisa, no mito). Revela, ainda, o fato de
2
Uma vez que as crianas pequenas tenham captado a idia bsica da referncia para qualquer uso
da linguagem ou seja, uma vez que elas possam nomear, perceber a recorrncia e registrar a
terminao da existncia seu principal interesse lingstico passa a centrar-se na ao humana e
seus resultados, particularmente na interao humana. Agente e ao, ao e objeto, agente e
objeto, ao e localizao, possuidor e posse compem a maior parte das relaes semnticas que
aparecem no primeiro estgio da fala. Essas formas aparecem no apenas em atos referentes, mas
tambm em solicitaes, ao efetuar trocas, ao dar e ao tecer comentrios sobre a interao de outros.
A criana pequena, alm disso, mostra-se desde cedo profundamente sensvel a metas e sua
aquisio e a variantes de expresses como foi embora, para concluso, e uh oh para
inconcluso. As pessoas e suas aes dominam o interesse e a ateno da criana. Esta a primeira
exigncia da narrativa. (BRUNER, 1997, p. 72)
3
Por certo, os mitos antigos, em especial a Teogonia de Hesodo, narravam tambm o modo pelo
qual o mundo havia emergido do caos, como se diferenciaram as suas diversas partes, como se
constituiu e estabeleceu o conjunto da sua arquitetura. (VERNANT, 1990, p. 377-378)
4
Em referncia aos mitos, Teles cita o relato de Orlando Vilas-Boas, cujos estudos sobre os
indgenas revelaram o mito por eles criado para explicar a dominao do homem branco: A trs
ndios diferentes foram dados um arco branco, um arco preto e uma carabina. Os trs chegaram s
margens de um lago de guas muito claras. Os dois ndios que escolheram os arcos no quiseram
entrar no lago, puseram apenas as mos em suas guas. As mos ficaram brancas e eles tentaram
limp-las numa rvore. A ouviram a voz de Avinhoka (divindade protetora) que disse: Assim como a
rvore, vocs no sero para sempre. O terceiro ndio, que havia escolhido a carabina, entrou na
gua e saiu completamente branco. Em seguida foi deitar-se sobre uma pedra. A este, disse
Avinhoka: Assim como a pedra, voc ser eterno. (TELES, 1977, p. 14-15)
5
Cassirer reporta que, no exame da evoluo histrica, no encontramos nenhuma grande cultura
que no tenha sido dominada e impregnada de elementos mticos. (CASSIRER, 1976, p. 21)
21
estarem adstritos a uma realidade local, da a sua limitao.6
As manifestaes filosficas, culturais e sociolgicas do homem encontram na
linguagem7 o fio condutor da existncia coletiva, na medida em que engendram
padres de relacionamento apreensveis por cada membro do grupo e socialmente
compartilhados nos processos de interao social.
Dita linguagem enfrentava, em pocas remotas, os percalos de sua prpria
assimilao pelos sujeitos sociais, adquirindo, gradativamente, os contornos de uma
estrutura de signos cada vez mais sofisticada, culminando no surgimento da escrita8.
Sobre este momento histrico, revelam Breton e Proulx (2002, p. 19) a inveno do
alfabeto (do latim alphabetum) pelos fencios (ou, antes deles, pelos semitas da
Sria, entre o segundo e o primeiro milnio a.C.), alfabeto este que padecia da
limitao de no conter vogais. Entre os sculos VIII e IV a.C, este empecilho foi
contornado pelos gregos, que introduziram as vogais e, com esta nova estrutura de
transcrio da lngua falada, impulsionaram, pela escrita, a expanso do
conhecimento.
O processo de comunicao estruturava-se paulatinamente ao avano da linguagem
escrita, aperfeioando a interao entre os povos, num processo de transformao
da linguagem9, da aprendizagem humana e da prpria cultura10. O processo de
6
enquanto os ndios bacairis do Brasil explicam o Sol como uma bola de penas de arara, tal
interpretao jamais poderia ser feita por um grupo esquim. (TELES, 1977, p. 15)
7
Para Penteado, a linguagem representa um mtodo puramente humano de comunicao de idias,
emoes e desejos, viabilizada por um sistema de smbolos produzidos voluntariamente, onde as
palavras s adquirem sentido quando um ser pensante faz uso delas. (PENTEADO, 2001, p. 12)
8
De acordo com Breton e Proulx, a histria da inveno da escrita realizou-se em duas grandes
ondas sucessivas, correspondentes a dois modos de escrita diferentes: a escrita ideogrfica (nascida
na Mesopotmia por volta do 4 milnio a.C) e a escrita alfabtica. (BRETON; PROULX, 2002, p. 18)
9
Janet v a linguagem em seu carter de transformao e intelectualizao das aes. Para ele,
todas as aes so representadas na linguagem, mas somente os atos intelectuais elementares
desempenham o papel mais relevante, j que a palavra extrada da frmula verbal representa,
sobretudo, uma operao intelectual. (JANET, 1936, p. 265)
10
Sobre a essncia constitutiva desta cultura, Melo faz referncia ao pensamento do socilogo
francs Edgar Morin: Edgar Morin, socilogo francs, situado nessa linha de raciocnio, entende que
uma cultura constitui um corpo complexo de normas, smbolos, mitos e imagens que penetram o
indivduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoes. E explica que essa
penetrao realiza-se atravs dos mecanismos da projeo e da identificao, fornecendo pontos de
apoio vida pblica e vida imaginria. A partir da, podem ser analisados os focos culturais de
naturezas diferentes que se encontram em dinmica nas sociedades modernas, tais como a religio,
o Estado nacional, a tradio das humanidades, a tradio popular, os movimentos de massa, etc.
Refletindo as atividades dos vrios estratos sociais (classes, instituies, grupos) os focos
introduzem a noo de sociedades policulturais. Assim, ao lado de uma cultura nacional, de uma
cultura religiosa, sobrevivem, em sistema de interdependncia, uma cultura clssica, uma cultura
popular, uma cultura de massas, etc. O que verdadeiramente significativo nessa realidade
policultural, como acentua Edgar Morin, que uma cultura faz-se conter, controlar, censurar pelas
22
comunicao interpessoal equivale ao prprio processo de aprendizagem humana,
representando, ambos, processos contnuos, dinmicos e evolutivos.
A vida humana um processo, como a comunicao, a aprendizagem, a
organizao social. O ponto de vista do terico de comunicao de que
nenhum aspecto isolado do comportamento humano pode ser analisado
convenientemente, se forem deixados de lado quaisquer dos demais
aspectos desse comportamento. No compreendemos bem o processo de
comunicao se no tentarmos relacionar todas as variveis umas com as
outras, se no empregarmos todo o nosso conhecimento, como quer que
tenha sido obtido, tenha vindo de onde for, para ajudar-nos a explicar e a
predizer como as pessoas so o que so, e em que se esto transformando.
(BERLO, 1991, p. 103)
O aprendizado da linguagem relaciona-se com a prpria vida social. No processo
comunicacional, as mensagens captadas so sujeitas a decodificao (percepo de
um estmulo), interpretao (formao de um estmulo-resposta) e codificao
(descoberta de uma resposta). (BERLO, 1991, p. 183)
A interao entre os sujeitos (fontes e recebedores) envolve um rol de expectativas
nsitas aos participantes do processo comunicacional11, com o mtuo manejamento
dos smbolos revelados na linguagem (BERLO, 1991, p. 108-110). Da advm a
relao de mtua afetao entre a fonte e o recebedor, envolvendo uma
dependncia fsica, emptica e interativa entre os sujeitos, a partir das expectativas
geradas pelas mensagens, fazendo com que passemos a assumir, reciprocamente,
papis um frente ao outro. (BERLO, 1991, p. 118-119)
Revela-se, com isso, o carter de realimentao exercido sobre a fonte,
semelhantemente ao que ocorre, como exemplifica Berlo (1991, p. 103-104), com
uma platia sobre o palestrante. O riso provocado na platia por uma anedota
transmite a mensagem de que a ao foi bem sucedida e que surtiu efeito,
autorizando o palestrante a prosseguir; do contrrio, o silncio da platia faz com
demais culturas, e, simultaneamente, tende a desagregar a outras culturas. um sistema de
influncias recprocas que corresponde prpria mobilidade dos indivduos dentro dos estratos
sociais e que marca o dinamismo das sociedades modernas. (MELO, 1998, p. 186)
11
Considerando-se a importncia do adjetivo comunicativo(a) a ser amplamente empregado no
sentido em que Jrgen Habermas o usa, reservar-se-, para referncia ao fenmeno da
comunicao, no sentido usual, o adjetivo comunicacional. Assim convencionado, em alguns casos
comunicacional e comunicativo podero aparecer como sinnimos; em outros casos, no. Como o
prprio Habermas (1984b, p. 295) observa: Atos de comunicao no devem ser confundidos com o
que apresentei como ao comunicativa.
23
que ele mude sua estratgia, a fim de obter xito12.
A comunicao enfrenta, inevitavelmente, alguns percalos. Isso ocorre em virtude
do conflito entre as expectativas do emitente e as do receptor da mensagem, j que
as previses que se fazem no processo da comunicao so baseadas nas
expectativas dos sujeitos, frustradas a partir do momento em que um deles se
comporte contrariamente a elas. (BERLO, 1991, p. 153)
No obstante, o percurso inexorvel sempre o de, por meio da comunicao,
afetarmos (influenciarmos) o nosso ambiente e a ns mesmos, beneficiando-nos das
previses a respeito do comportamento (pessoal e social) dos demais sujeitos.
(BERLO, 1991, p. 103)
Lesly (1995, p. 47), discorrendo sobre as condies e circunstncias da eficcia ou
ineficcia da comunicao frente ao receptor, pontua que devem ser consideradas,
neste processo:
a) a predisposio do receptor (dada a sua educao, herana, viso de vida
etc.);
b) propenso (inata) em acreditar que algo reconfortante ( psique) ou que
pode agir como escudo contra culpa ou medo;
c) necessidades bsicas de cada indivduo (valor prprio, aceitao do grupo,
autoadmirao etc.);
d) necessidade bsica de harmonia entre as necessidades e desejos do
indivduo e as exigncias e presses sociais que sobre ele recaem;
e) fidelidade da mensagem (donde se deve indagar se o emissor e o receptor
do os mesmos significados a palavras e smbolos);
f) habilidade e experincia do comunicador (relacionada aptido para atingir
12
Ao mesmo tempo, os membros da audincia dependem da realimentao. Se algum no ri da
anedota e todos os demais riem, estas respostas so realimentadas no recebedor que no riu. Ele
comea a duvidar do prprio senso de humor e com freqncia comea a rir das anedotas
seguintes, quer lhe paream engraadas ou no. Eventualmente, elas podero mesmo parecer-lhe
engraadas. As fontes e os recebedores de comunicao so mutuamente interdependentes, pela
existncia e pela realimentao. Cada qual exerce contnua influncia sobre si e sobre os outros
conforme as respostas que dem s mensagens que produzem e recebem. Um jornal afeta seus
leitores selecionando as notcias que iro ler. De outro lado, os leitores tambm afetam o jornal
(embora, provavelmente, nem tanto quanto alguns donos de jornais gostariam que acreditssemos).
Se os leitores no comprarem o jornal (realimentao negativa), este modificar a sua seleo e
apresentao do noticirio. (BERLO, 1991, p. 104)
24
o receptor da maneira desejada).
Lesly (1995, p. 47-48) no descura uma anlise realstica dos fatos, ao acentuar a
tendncia natural de certas pessoas a mal-perceber ou a mal-interpretar
comunicaes persuasivas, a depender de suas prprias predisposies, fugindo
da mensagem ou distorcendo-a, de forma que lhes parea mais favorvel13.
Embora seja mais frequente referir-se a uma comunicao verbal, indubitavelmente
vislumbra-se a ocorrncia de uma comunicao no verbal14. Em sua obra A
comunicao no verbal, Davis (1979, p. 20) pondera a incidncia factual de
outras formas de comunicao exteriorizadas por outros meios que no a palavra,
citando a linguagem corporal, a linguagem cintica, a linguagem do rosto, olhos e
mos, os ritmos do corpo, alm da comunicao pelo olfato, tato, cdigos no
verbais na infncia, dentre outros.
No outro o entendimento de Watzlawick, Beavin e Jackson (2007, p. 44-45), ao
afirmarem a inexistncia de um no comportamento, o que, dito em outras palavras,
tornaria impossvel a um indivduo no se comunicar, sobretudo se atribuirmos
comunicao o valor de mensagem, independendo, portanto, de intencionalidade,
conscincia, xito ou compreenso mtua15.
Este processo inexorvel; todos a ele se sujeitam desde o nascimento, quando se
iniciam mecanismos interativos de comunicao. Neste sentido, a linguagem vista
por Pinker (2004, p. 7) como uma pea de constituio biolgica do crebro, uma
13
Nesta linha de raciocnio, Lesly cita vrios exemplos: anti-semitas tendem a distorcer propaganda
a favor da tolerncia, emitida por grupos judaicos; partidrios de um candidato poltico distorcem a
posio do candidato, de modo a traz-la para uma posio mais prxima a seus prprios pontos de
vista a respeito de um assunto; partidrios de ambos os lado tm a tendncia de julgar discursos
neutros como favorveis a seus pontos de vista; partidrios (polticos) tm maior predisposio que
outros para aceitar como fatos notcias que apiam suas prprias posies. (LESLY, 1995, p. 4748)
14
Davis atribui o grande interesse pblico pela comunicao no-verbal necessidade dos indivduos
em restabelecerem contato com as suas prprias emoes, na busca de uma verdade emocional
passvel de expresso pelo modo no-verbal. (DAVIS, 1979, p. 20)
15
Tampouco podemos dizer que a comunicao s acontece quando intencional, consciente ou
bem sucedida, isto , quando ocorre uma compreenso mtua. Se a mensagem enviada iguala a
mensagem recebida uma importante mas diferente ordem de anlise, pois que deve assentar,
fundamentalmente, nas avaliaes de dados especficos, introspectivos, relatados pelo sujeito, os
quais preferimos negligenciar para a exposio de uma teoria comportamental da comunicao.
Sobre a questo da incompreenso, o nosso interesse, dadas certas propriedades formais da
comunicao, vai para o desenvolvimento de patologias afins, margem das motivaes ou
intenes dos comunicantes (na verdade, a despeito das mesmas). (WATZLAWICKl; BEAVIN;
JACKSON, 2007, p. 45-46). Observe-se que na obra de Niklas Luhmann as relaes entre
conscincia e comunicao so fundamentais e minuciosamente discutidas. O escopo desta tese,
porm, no exige nem permite, no texto, o maior aprofundamento dessa questo.
25
habilidade complexa e especializada desenvolvida espontaneamente na criana e
manifestada sem que se perceba a sua prpria lgica interna16. Fala ele da
existncia de um dicionrio mental (contendo um lxico de palavras e conceitos) e
uma gramtica mental (contendo regras que associam palavras na transmisso de
relaes entre conceitos) (PINKER, 2004, p. 9)
Ernst Cassirer (2001, p. 174-175) analisa a linguagem sob a perspectiva sensvel,
intuitiva e conceitual. Sobre a linguagem na fase de expresso sensvel, afirma que
o conhecimento no deve tomar como ponto de partida as relaes entre sujeito e
objeto, eu e mundo, realidade e aparncia, mundo interior e exterior, nem tomar
como base as suposies dogmticas, presas busca de uma rgida delimitao
substancial, devendo, ao contrrio, ser formulada a partir da perspectiva dos
fenmenos presentes ao esprito.
Do ponto de vista intuitivo, Cassirer (2001, p. 208) encontra na linguagem a
passagem do mundo da sensao para o mundo da intuio pura, onde, atravs
do exame das intuies de espao, tempo e nmero, a linguagem pode transformar
impresses em representaes, realizando a sua funo essencialmente lgica.
Do ponto de vista conceitual, a linguagem deve, para alcanar o conceito, buscar os
motivos do encadeamento e separao que se mostram ativos no processo de
formao lxica. Para isso, segundo Cassirer (2001, p. 351), a tarefa que compete
linguagem no a de elevar a imaginao a uma generalidade mais ampla, mas sim
de al-la a uma determinao sempre crescente, servindo a generalidade como o
veculo para alcanar a meta verdadeira do conceito17.
16
Destacando a sua importncia, Pinker manifesta que: a linguagem est to intimamente
entrelaada com a experincia humana que quase impossvel imaginar vida sem ela. muito
provvel que, se voc encontrar duas ou mais pessoas juntas em qualquer parte da Terra, elas logo
estaro trocando palavras. Quando as pessoas no tm ningum com quem conversar, falam
sozinhas, com seus ces, at mesmo com suas plantas. Nas nossas relaes sociais, o que ganha
no a fora fsica, mas o verbo o orador eloquente, o sedutor de lngua de prata, a criana
persuasiva que impe sua vontade contra um pai mais musculoso. A afasia, que a perda da
linguagem em conseqncia de uma leso cerebral, devastadora, e, em casos graves, os membros
da famlia chegam a sentir que a prpria pessoa que foi perdida para sempre (PINKER, 2004, p. 7)
17
Cassirer, dimensionando as fases da reflexo epistemolgica: Para a reflexo epistemolgica,
existe um caminho ininterrupto que conduz da esfera da sensibilidade da intuio, desta ao
pensamento conceitual e deste novamente ao juzo lgico. Ao percorr-lo, a epistemologia est
consciente de que as diversas fases do mesmo, embora devam ser distinguidas umas das outras de
modo rigoroso na reflexo, nunca devem ser consideradas como dados da conscincia
independentes entre si e existindo separadamente uns dos outros. Pelo contrrio, aqui no s cada
momento mais complexo inclui o mais simples, e cada momento posterior engloba o anterior,
como tambm, inversamente, aquele est preparado e pr-moldado neste. Todos os componentes
que constituem o conceito do conhecimento esto relacionados uns com os outros e com a meta
26
Jung (2008, p.18) destaca o papel que os smbolos desempenham para a espcie
humana, promovendo a objetivao da prpria realidade na vida cotidiana.
Reconhece Jung que o homem, alm de fazer uso da linguagem (falada ou escrita),
utiliza tambm sinais ou imagens no estritamente descritivos, alguns dos quais,
malgrado no possurem nenhum sentido intrnseco, alcanaram significao pelo
seu uso generalizado.
Esta busca da verdade revelada nos textos, elevada a uma perspectiva investigativa
das cincias, acabou por dar origem Hermenutica, vista por Schleiermacher
(2003, p. 70-72) como a arte de encontrar, atravs da linguagem, o sentido
determinado no texto. O percurso do intrprete envolveria, inicialmente, a construo
a partir do inteiro valor prvio da lngua, comum a escritor e leitor, procurando, na
perspectiva deste ltimo, a possibilidade da sua interpretao. Entretanto, j admitia
Schleiermacher a incidncia de uma multiplicidade de sentidos para as palavras, o
que se revelava pela variabilidade de pontos de vista extrada do estudo das
diversas lnguas.
As diversas posies acima apresentadas tm em comum a concepo da
linguagem como uma forma de interao entre os sujeitos, ao mesmo tempo em que
um elemento despertador de aes internas conscincia subjetiva. Estes aspectos
sero, mais adiante, retomados por Habermas, inspirando-o formulao de sua
teoria da ao comunicativa.
2.1.2 Teoria dos atos de fala: a posio pragmtica
A teoria dos atos de fala corresponde a uma viso da linguagem em que
preponderam os aspectos pragmticos. Desse ponto de vista, a linguagem
considerada, sobretudo, pelos efeitos que causa ou pode causar.
Segundo reporta Koch (2007, p.17-19), atribui-se a J. L. Austin18, seguido de Searle
e Strawson19, a formulao da teoria dos atos de fala (atos de discurso ou atos de
linguagem), surgida do interior da Filosofia da Linguagem e sendo, posteriormente,
comum do conhecimento, que o objeto: eis por que uma anlise mais precisa capaz de descobrir
em cada um deles os indcios que remetem a todos os outros. (CASSIRER, 2001, p. 389)
18
De acordo com Arajo (2004, p.129), a taxonomia dos atos de fala de Austin baseia-se numa viso
de ao humana, o que repercutiu positivamente para a lingustica e para a filosofia da linguagem,
atentas aos requisitos da pragmtica.
19
Austin, Searle e Strawson so citados como grandes expoentes da Escola Analtica de Oxford.
27
apropriada pela Lingustica Pragmtica. Tinha origem o estudo da linguagem como
forma de ao (dizer como fazer), passando-se reflexo sobre as vrias
espcies de aes humanas realizadas atravs da linguagem. Fazia-se, assim, a
distino entre os atos locucionrios (verificados na emisso de um conjunto de sons
organizados de acordo com as regras da lngua), ilocucionrios (proposio ou
contedo proposicional dotado de determinada fora pergunta, assero, ordem
etc...) e perlocucionrios (destinados produo de certos efeitos sobre o
interlocutor (convenc-lo, assust-lo, agrad-lo etc., podendo atingir os efeitos
intentados ou no).
De acordo com Koch (2007, p.18-19), uma diferena frequentemente apontada entre
atos ilocucionrios e perlocucionrios que os primeiros sempre se realizam, pelo
simples fato de serem enunciados. J os segundos podem se verificar ou no, a
depender do xito na produo do resultado almejado. Lembra Koch (2007, p.19),
entretanto, que todo ato de fala , ao mesmo tempo, locucionrio, ilocucionrio e
perlocucionrio, a depender do efeito produzido sobre o interlocutor pelo enunciado
lingstico proferido.
Note-se que a comunicao viabilizada pelos atos de fala apenas porque os fatos
que ela reporta so conhecidos, ainda que em diferente medida, tanto pelo emissor
quanto pelo receptor. Assim, de acordo com Arajo (2004, p. 140), sem um
contedo
descritivo,
sem
uma
proposio
verdadeira,
referncia
fica
impossibilitada de comunicar um fato.
Para Arajo (2004, p. 251), nos atos de fala a ao orienta-se por pretenses de
validade criticveis e por razes que motivam a ao, sendo que o contedo
proposicional, expresso em pretenses de validade, confere ao ato de fala um
sentido pragmtico, possibilitando ao ouvinte a crtica das razes expostas para
garantir a sua legitimidade e oportunidade.
A pretenso de validade que aqui aparece um conceito essencial ao pensamento
de Habermas. A palavra pretenso indica que o locutor reivindica para seu ato
comunicacional uma validade que, entretanto, no se pode ter por estabelecida sem
um exame intersubjetivo do assunto.
Medina (2007, p. 14) esclarece a viso habermasiana de que o contnuo processo
de desafio e reivindicao pelos sujeitos inter-relacionados essencial dinmica
28
da comunicao. Assim, se do ponto de vista da sua produo a essncia de um ato
de comunicao se mostra num fazer-demanda, do ponto de vista da sua recepo,
o fundamento a atitude sim/no do interlocutor, podendo este aceitar ou rejeitar a
oferta de comunicao em suas diversas dimenses de validade.
Outro grande expoente da teoria dos atos de fala foi John Searle (1981, p. 26), que
fundamentava a relevncia dos seus estudos na medida em que, em sua
concepo,
toda
comunicao
lingustica
envolve
atos
lingsticos,
correspondendo os atos de fala unidade bsica ou mnima da comunicao
lingstica.
A tipologia dos atos de fala de Searle foca a diferenciao entre os atos
proposicionais, ilocucionais e perlocucionais. Em sua viso, nos atos proposicionais,
a forma gramatical caracterstica corresponde a partes de frases (predicados
gramaticais para o ato de predicao, nomes prprios, pronomes e certos tipos de
sintagma nominais para a referncia), sendo impossvel a tais atos ocorrerem
sozinhos (ou seja, no se pode referi-los e predic-los sem se fazer uma assero,
pergunta ou se executar um outro ato ilocucional qualquer). Comunicamo-nos todos
mediante frases, e no mediante palavras soltas, sem contexto. (SEARLE, 1981, p.
37)
Quanto aos atos ilocucionais, Searle (1981, p. 59) concebe a sua realizao na
escrita de alguma coisa ou na enunciao de sons (promovendo uma significao)
ou atravs do ato de fala. J nos atos perlocucionais, consideram-se os efeitos ou
conseqncias que estes tm sobre as aes, pensamentos ou crenas dos
ouvintes, persuadindo-os ou convencendo-os. (SEARLE, 1981, p. 37)
Frise-se que Searle20, embora reconhecendo avanos medidos pelo pioneirismo de
20
Austin prope suas cinco categorias de maneira apenas experimental, mais como uma base para
discusso do que como um conjunto de resultados estabelecidos: No estou, diz ele, apresentando
nada disso de maneira sequer minimamente definitiva (Austin, 1962, p. 151). Penso que elas
constituem uma excelente base para discusso, mas tambm acho que a taxinomia precisa ser
profundamente revista, pois contm vrios pontos fracos. Eis as cinco categorias de Austin:
Vereditivos. Estes consistem na pronncia de um veredito, oficial ou no-oficial, sobre a evidncia ou
as razes relativas a valor ou fato, tanto quanto estes se possam distinguir. So exemplos dessa
classe de verbos: acquit (inocentar), hold (estatuir), calculate (calcular), describe (descrever), analyze
(analisar), estimate (estimar), date (datar), rank (hierarquizar), assess (avaliar) e characterize
(caracterizar); Exercitivos. Cada um deles consiste em proferir uma deciso favorvel ou
desfavorvel a uma certa linha de ao ou advog-la, uma deciso de que algo deva ser assim,
enquanto distinta de um juzo de que assim. So alguns exemplos: order (ordenar), command
(mandar), direct (instruir), plead (pleitear), beg (suplicar), recommend (recomendar), entreat (rogar) e
advise (aconselhar). Request (pedir) tambm um exemplo bvio, mas Austin no o inclui na lista.
29
Austin na formulao de sua teoria dos atos de fala, tece profundas crticas
concepo elaborada por seu antecessor, enumerando, dentre inmeras, o fato de
que a taxonomia formulada por Austin21 no promove uma classificao de atos
ilocucionrios, mas uma classificao de verbos ilocucionrios ingleses (SEARLE,
1995, p. 14). Alm disso, segundo Searle22, a inexistncia de um princpio claro de
classificao e a confuso promovida entre atos ilocucionrios e verbos
Assim como os citados acima, Austin inclui ainda: appoint (designar), dismiss (exonerar), nominate
(nomear), veto (vetar), declare closed (declarar fechado), declare open (declarar aberto), e tambm
announce (anunciar), warn (advertir), proclaim (proclamar) e give (dar); Compromissivos. Todo o
propsito de um compromissivo, diz Austin, comprometer o falante com uma certa linha de ao.
Alguns exemplos bvios so: promise (prometer), vow (jurar solenemente, fazer voto), piedge
(empenhar), covenant (convencionar), contract (contratar), guarantee (garantir), embrace (aderir) e
swear (jurar); Expositivos so usados em atos de exposio que envolvem a explanao de
concepes, a conduo de argumentos e o esclarecimento de usos e referncias. Austin d muitos
exemplos, entre os quais: affirm (afirmar), deny (negar), emphasize (enfatizar), illustrate (ilustrar),
answer (responder), report (relatar), accept (aceitar), object to (objetar), concede (conceder), describe
(descrever), class (classificar), identify (identificar) e call (chamar); Comportativos. Essa classe, com a
qual Austin estava bastante insatisfeito (urna novela, ele dizia), inclui a noo de reao ao
comportamento e sorte de outras pessoas, e a noo de atitude e expresso de atitude diante da
conduta passada ou iminente de algum. Entre os exemplos citados por Austin esto: apologize
(desculpar-se), thank (agradecer), deplore (deplorar), commiserate (compadecer-se), congratulate
(congratular), felicitate (felicitar), welcome (dar as boas-vindas), applaud (aplaudir), criticize (criticar),
bless (abenoar), curse (amaldioar), toast (brindar) e drink (beber sade). Mas tambm,
curiosamente: dare (afrontar), defy (desafiar), protest (protestar) e challenge (contestar). (SEARLE,
1995, p. 12-14).
21
Sobre a formulao terica dos atos de fala de Austin, dispe Corra: A perspectiva que a
pragmtica inaugurou para os estudos lingsticos sepultou de vez a dicotomia entre verbos que
descrevem e verbos que indicam ao, abrindo espao para pensar a linguagem como sujeita
performatividade generalizada. A partir de ento, passou-se a entender que no a lngua que
significa, isto , o sentido no est somente nas palavras. Est, ao mesmo tempo, nas palavras, nas
pessoas que as utilizam e nas circunstncias em que so utilizadas. O ritual que produz sentido j
no , portanto, apenas verbal. Essa perspectiva de estudo da linguagem chamada pragmtica. Em
outras palavras, alm do sentido de partida do enunciado, que prev um arranjo sinttico e um
contedo semntico bsico, h a aposio de uma fora ilocucionria, isto , a forma que o ato de
fala ganha no momento em que produzido. Para chegar a essa concluso, o filsofo da linguagem
J. L. Austin (1990) parte da seguinte questo: o que produzir um enunciado? Para ele, produzir
trs atos, simultaneamente. Ao mesmo tempo em que se produz um ato locucionrio, que inclui um
arranjo sinttico e um contedo semntico, produz-se tambm um outro ato, o ilocucionrio,
responsvel por um fazer: uma promessa, um batismo, um juramento etc. Mas produzir um ato de
fala , ainda, obter efeitos em razo desse ato; , pois, cumprir, ao mesmo tempo, um ato
perlocucionrio. A proposio da simultaneidade desses trs atos no momento em que se produz um
nico e mesmo enunciado , a meu ver, a grande contribuio de Austin reflexo sobre a
linguagem. Com ela, esse filsofo da linguagem estabelece um campo de conhecimento que permite
diferentes abordagens, pondo a reflexo lingstica em contato (confronto?) com a lgica (relao
linguagem/mundo), com a prpria pragmtica (relao linguagem/ao) e com a retrica (relao
linguagem/persuaso). Inclui, desse modo, no horizonte de reflexo: a problematizao da linguagem
como representao do mundo (dilogo com a lgica), a considerao da ao entre interlocutores
(campo prprio da pragmtica) e, finalmente, determina em que extenso se produz um efeito,
calculado pela ao (verbal ou no-verbal) esperada da parte do interlocutor (dilogo com a retrica).
(CORRA, 2002, p. 42)
22
Searle assim resume as crticas taxonomia de Austin, em ordem crescente de importncia: 1)
confuso persistente entre verbos e atos; 2) nem todos os verbos so verbos ilocucionrios; 3)
excessiva sobreposio entre as categorias; 4) muitos dos verbos catalogados no satisfazem a
definio dada para a categoria; 5) inexistncia de princpio consistente de classificao. (SEARLE,
1995, p. 18).
30
ilocucionrios acaba por promover uma sobreposio e heterogeneidade entre as
categorias por ele propostas, enfraquecendo a sua classificao. (SEARLE, 1995, p.
15-16)
Note-se que as crticas23 levadas a efeito no desnaturam a utilidade e a prpria
existncia dos atos de fala; apenas denunciam a fragilidade nas tentativas de
sistematizao de uma teoria capaz de englobar os inmeros atos de fala, dada a
sua variao, subjetividade e generalidade.
A teoria dos atos de fala, sublinhando a importncia dos aspectos pragmticos da
linguagem, ser, tambm, uma fonte de inspirao para a idia habermasiana do
agir comunicativo.
2.1.3 Linguagem e vida social: a posio construtivista
Wittgenstein (2005, p. 15) atribui a toda palavra a existncia de um significado,
sendo este o objeto por ela designado. Promovendo uma analogia entre a linguagem
e o jogo, entende-a no numa viso essencialista (voltada busca de um conceito
de linguagem), mas como uma atividade entrelaada num conjunto de atividades
que, semelhantemente a um jogo, envolve aes coletivas, de cooperao, disputa e
competio, atuando os seus intervenientes na expresso das prprias regras
medida que o jogo se desenvolve. (WITTGENSTEIN, 2005, p. 33)
Na viso wittgensteiniana, as regras de projeo da linguagem nascem no interior da
prpria linguagem, voltadas para um contexto prtico, o que acaba por conferir a ela
o carter de autonomia, sendo que, no obstante ser autnoma (separando-se do
mundo o sistema lingstico), o dualismo linguagem-mundo sempre persiste
(MARQUES, 2003, p. 130-131). Wittgenstein foca a sua particular anlise no aspecto
volitivo
(comportamento
voluntrio)
do
emitente
da
expresso
lingstica,
investigando acerca da regio psicolgica da vontade, a envolver aspectos como a
crena, inteno e expectativa, indissociveis ao sujeito no uso cotidiano da
23
Ainda sobre as crticas teoria dos atos de fala, acentua Koch: Mais recentemente, a Teoria dos
Atos de Fala tem sido alvo de crticas e recebido algumas reformulaes. Uma das crticas que a
teoria unilateral, colocando uma nfase quase exclusiva no locutor isto , que trata da ao, mas
no da interao. Critica-se, tambm, o fato de se levarem em conta basicamente enunciados
isolados, examinados fora de um contexto real de uso. Um problema que se vem tentando sanar o
de no se terem levado em conta, na caracterizao das atividades ilocucionais, seqncias maiores
de enunciados ou textos. (KOCH, 2007, p. 22)
31
linguagem, dando margem aos mltiplos jogos da linguagem por ele abordados
(MARQUES, 2003, p. 174). Wittgenstein, na sua segunda fase, o primeiro filsofo
moderno a insistir na importncia da pragmtica para o significado, entrelaando
inextricavelmente a comunicao lingustica com a vida social.
No se concebe, entretanto, uma apreenso substancial da realidade por parte do
sujeito. Invariavelmente, a compreenso de um texto no est imune
inevitabilidade do choque promovido entre o objeto cognoscvel e o universo da prcompreenso24 do intrprete25.
nesta perspectiva que se desenvolve a filosofia hermenutica de Gadamer (1997,
p. 27-28):
Toda forma de compreender enraizada na situao hermenutica do
sujeito, nessa espcie de espao de que todos partimos, conscientes ou
no, na medida em que conhecemos. Vincula-se ao conjunto de
experincias trazidas na Histria que formam indissociavelmente nosso raio
de viso e pr-moldam nossas interaes intelectivas com os fenmenos
que se postam frente. (...) Assim sendo, o homem, ao interpretar qualquer
fenmeno, j possui antecipadamente uma pr-compreenso difusa do
mesmo, um pr-conceito, uma antecipao prvia de seu sentido,
influenciada pela tradio em que se insere (suas experincias, seu modo
de vida, sua situao hermenutica etc.). Por esse motivo, fracassar todo
empreendimento que intente compreender objetivamente, em absoluto,
qualquer tipo de fenmeno, eis que a compreenso, como dito, sujeita-se
tambm tradio ao qual pertence aquele que se d ao conhecer.
Essa realidade se revela, segundo Gadamer26, no apenas no plano textual, mas
24
Ainda sobre a incidncia da pr-compreenso no processo interpretativo, explicita Larenz: No
sentido do processo do compreender existe, por regra, uma conjectura de sentido, mesmo que por
vezes ainda vaga, que acorre a inserir-se numa primeira perspectiva, ainda fugidia. O intrprete est
munido de uma pr-compreenso, com que acede ao texto. Esta pr-compreenso refere-se coisa
de que o texto trata e linguagem em que se fala dela. Sem uma tal pr-compreenso, tanto num
como noutro processo, seria difcil, ou de todo impossvel, formar-se uma conjectura de sentido.
(LARENZ, 1997, p. 288)
25
De fato, como explicita Gadamer: No existe seguramente nenhuma compreenso totalmente livre
de preconceitos, embora a vontade do nosso conhecimento deva sempre buscar escapar de todos os
nossos preconceitos. No conjunto da nossa investigao mostrou-se que a certeza proporcionada
pelo uso dos mtodos cientficos no suficiente para garantir a verdade. Isso vale, sobretudo, para
as cincias do esprito, mas de modo algum significa uma diminuio de sua cientificidade. Significa,
antes, a legitimao da pretenso de um significado humano especial, que elas vm reivindicando
desde antigamente. (GADAMER, 1997, p. 631)
26
Compreender e interpretar se subordinam de uma maneira especfica tradio da linguagem.
Para a compreenso vale o mesmo que para a linguagem. Ambas no devem ser tomadas apenas
como um fato que se pode investigar empiricamente. Ambas jamais podem ser um simples objeto;
abrangem, antes, tudo o que, de um modo ou de outro, pode chegar a ser objeto. Por fim, Gadamer
discorre que a linguagem que vive no falar, que abarca toda a compreenso, inclusive a do intrprete
dos textos, est to envolvida na realizao do pensar e do interpretar que verdadeiramente nos
32
igualmente no plano da conversao, da a impossibilidade de se prever o seu
sucesso ou o seu fracasso. A conversao, dotada que de um esprito prprio,
revela um processo dinmico de acordo em que os sujeitos, abrindo espao para os
diversos pontos de vista, buscam a compreenso (GADAMER, 1997, p. 497-499)
A forma de realizao desta compreenso a interpretao, razo pela qual, para
Gadamer (1997, p. 502-503), todo compreender interpretar (conceitos
indissociveis), sendo que este interpretar se desenvolve no medium de uma
linguagem27.
A partir destes elementos, realando o carter condicionador da linguagem,
Gadamer (1997, p. 577) vislumbra vises de mundo diferentes a partir da
multiplicidade de tradies culturais em que cada um est imerso, razo pela qual os
diversos mundos, separados no curso da histria, apresentam grandes diferenas.
No obstante esta condicionalidade e conformidade de comportamento, viabilizadas
pela tradio, o mundo est aberto a constantes transformaes, j que a linguagem
viabiliza entre os sujeitos a convergncia de atitudes de mudana. Em outras
palavras, a linguagem, ao mesmo tempo em que condiciona o comportamento,
tambm viabiliza um agir transformador sobre o mundo. (GADAMER, 1997, p. 580)
Advm da as relaes entre e linguagem e a vida social, no apenas no sentido de
ver-se a linguagem como um elemento instrumental no processo social das
interaes intersubjetivas, mas sim como um algo essencial prpria construo
desse referente comum aos falantes e geralmente identificado com a realidade
objetiva. Gadamer contemporneo de Habermas e, tal qual ele, motivado pela
conscincia das relaes entre linguagem e vida social, ainda que com um enfoque
diferente.
A linguagem vista por Berger e Luckmann (1985, p. 11) como uma qualidade
pertencente a fenmenos independentes de nossa volio (no sentido de que no
podemos desejar que no existam), destacando, entre as vrias realidades, a
realidade da vida cotidiana, considerada esta a realidade por excelncia. Para eles,
restaria muito pouco se desconsiderssemos o contedo que nos transmitem as lnguas e
quisssemos pens-las unicamente como normas. (GADAMER, 1997, p. 523-524)
27
Para Gadamer, a linguagem tem a funo de deixar falar o objeto, consistindo no medium
universal em que se realiza a prpria compreenso. (GADAMER, 1997, p. 502-503)
33
a realidade da vida cotidiana28 possui singularidade pela impossibilidade de
voltarmos as costas a ela, de ignorarmos a sua presena, estando cada um imerso
na esfera que a circunscreve, onde os fenmenos se apresentam em padres prestabelecidos e objetivados previamente entrada em cena do sujeito no mundo.
(BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 38)
A realidade partilhada pelo sujeito com seus semelhantes promove a coexistncia de
suas
vivncias,
gerando
um
intercmbio
contnuo
de
expressividades,
simultaneamente acessveis a ambos os sujeitos no processo comunicativo.
(BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 47)
Afirmam Berger e Luckmann (1985, p. 57) que a vida cotidiana , sobretudo, a vida
com a linguagem, da resultando a importncia de sua compreenso para a prpria
compreenso da realidade.
Por consequncia, o acervo social de conhecimentos acaba sendo, por intermdio
da linguagem, transmitido de gerao a gerao, estruturando-se o mundo em
termos de rotina, e o conhecimento em termos de convivncias. (BERGER;
LUCKMANN, 1985, p. 64-65)
Vivo no mundo do senso comum da vida cotidiana equipado com corpos
especficos de conhecimento. Mais ainda, sei que outros partilham, ao
menos em parte, deste conhecimento, e eles sabem que eu sei disso. Minha
interao com os outros na vida cotidiana por conseguinte
constantemente afetada por nossa participao comum no acervo social
disponvel do conhecimento. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 62)
O principal efeito disto corresponde estabilizao das aes individuais,
possibilitando a construo de um mundo social disposto numa ordem institucional,
em que cada indivduo passa a agir no plano de realidade que lhe presente
(entregue) e de acordo com as expectativas sociais dos outros indivduos.
(BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 83)
28
A linguagem tem origem e encontra sua referncia primria na vida cotidiana, referindo-se
sobretudo realidade que experimento na conscincia em estado de viglia, que dominada por
motivos pragmticos (isto , o aglomerado de significados diretamente referentes a aes presentes
ou futuras) e que partilho com outros de uma maneira suposta evidente. Embora a linguagem possa
tambm ser empregada para se referir a outras realidades, o que ser discutido a seguir dentro em
breve, conserva mesmo assim seu arraigamento na realidade do senso comum da vida diria. Sendo
um sistema de sinais, a linguagem tem a qualidade da objetividade. Encontro a linguagem como uma
facticidade externa a mim, exercendo efeitos coercitivos sobre mim. A linguagem fora-me a entrar
em seus padres. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 58)
34
O processo de adequao e ajustamento, lembram Berger e Luckmann (1985, p.
89), experimentado desde a infncia, com a sujeio das crianas ao
comportamento disciplinado pelos adultos, sendo que quanto maior for a
institucionalizao da conduta, tanto maior ser a previsibilidade de seu controle no
plano social29, da repousar a lgica das instituies no nas instituies, mas na
maneira como estas so tratadas no plano da reflexo social, valendo dizer que: a
conscincia reflexiva impe a qualidade de lgica ordem institucional. (BERGER;
LUCKMANN, 1985, p. 89-91)
A concepo de Berger e Luckmann (1985, p. 93) da existncia de um controle
social revela-se no fornecimento institucionalizado de regras de conduta transmitidas
como uma receita a todos os membros do grupo social, definindo os papis que
devem ser desempenhados no contexto das instituies, capazes de controlar e
predizer condutas e, ao mesmo tempo, enxergando qualquer desvio da ordem
estabelecida como um afastamento da realidade, passvel, portanto, de punio30.
Vivemos em funo de um universo simblico, compartilhado por todos os homens
que integram determinada sociedade e que, por fornecer a base de todos os
sentidos, propicia a legitimao das prticas sociais, de tal sorte que a proposio de
um outro universo simblico reflete em uma ameaa ao status quo. (BERGER;
LUCKMANN, 1985, p. 142)
Berger e Luckmann so tributrios da sociologia fenomenolgica de Alfred Schutz. A
viso de mundo construtivista que eles elaboram, embora com construtos tericos
diferentes, perfeitamente compatvel com a teoria habermasiana do agir
comunicativo. Com efeito, a teoria da construo dos universos simblicos e de seu
efeito legitimador , com outros conceitos, paralela tese habermasiana da
construo do consenso verdadeiro fundamentador da verdade e da racionalidade.
De modo semelhante, os usos, de que falam Ortega y Gasset31, correspondem a
29
Ao nvel das significaes, quanto mais a conduta julgada certa e natural, tanto mais se
restringiro as possveis alternativas dos programas institucionais, sendo cada vez mais predizvel e
controlada a conduta. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 89)
30
Ns estamos condenados a no poder sair da absoluta liberdade e indeterminao da linguagem e
da argumentao e somos, por conseqncia, condenados a compreender a realidade a partir
daquilo que a estatudo. Dentro desse contexto, o mundo vivido, as instituies e o direito tm a
funo de amortizar as instabilidades de tais formas de vida. (DUTRA, 2005, p. 196)
31
Ao seguir os usos, comportamo-nos como autmatos, vivemos por conta da sociedade ou
coletividade. Esta, no entanto, no algo humano ou sobre-humano; ao contrrio: atua
exclusivamente mediante o simples e puro mecanismo dos usos, dos quais ningum sujeito criador,
35
formas de comportamento socialmente impostas pela convivncia, e adotadas, de
uma forma ou de outra, porque no tem remdio. Estes usos, cuja principal
caracterstica a irracionalidade, permitem aos indivduos prever a conduta dos
seus semelhantes, impondo, sob presso, um determinado repertrio de aes que
obrigam o indivduo a viver altura dos tempos, injetando nele a herana acumulada
do passado. (ORTEGA Y GASSET, 1973, p. 48-49)
Neste particular, as instituies sociais, atravs de mecanismos de coero e
sano, promovem o forado ajuste dos comportamentos desviantes ao conjunto
das normas sociais vigentes no grupo.
A est, enfim, o papel da linguagem como mecanismo de controle social, na medida
em que, ao estabelecer a ordem (estado da realidade), viabiliza a realizao do
mundo, apreendendo-o e produzindo-o, cuja eficcia realizadora a conversao,
de tal forma que todos os que empregam a mesma lngua so mantenedores da
realidade. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 204)
Esta posio acrescenta credibilidade hiptese de Sapir-Whorf, que postula uma
diferenciao de racionalidades para falantes de lnguas diferentes (CHANDLER, s.
d.).
Nas palavras de Edward Sapir, escritas em 1929:
[...] puro delrio imaginar que a pessoa ajusta-se realidade de um modo
que no seja essencialmente pelo uso da linguagem e que a linguagem seja
meramente um meio incidental para resolver problemas especficos de
comunicao e reflexo. O que acontece que o mundo real , em grande
medida, construdo inconscientemente sobre os hbitos lingsticos do
grupo. No h duas linguagens suficientemente semelhantes para que se
32
considere representarem a mesma realidade social .
Em 1940, seu discpulo Benjamim Lee Whorf diria:
responsvel e consciente. E, como a vida social ou coletiva consiste nos usos, essa vida no
humana, algo intermdio entre a natureza e o homem, uma quase-natureza e como a natureza:
irracional, mecnica e brutal. No h uma alma coletiva. A sociedade, a coletividade a grande
desalmada, - j que o humano naturalizado, mecanizado e como que mineralizado. Por isso est
justificado que a sociedade se chame mundo social. No , com efeito, tanto humanidade como
elemento inumano em que a pessoa se encontra. No obstante, a sociedade, ao ser mecanismo,
uma formidvel mquina de fazer homens. (ORTEGA Y GASSET, 1973, p. 49)
32
No original: It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of
language and that language is merely an incidental means of solving specific problems of
communication or reflection. The fact of the matter is that the real world is to a large extent
unconsciously built upon the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently
similar to be considered as representing the same social reality. (SAPIR, 1958, p. 159 apud
CHANDLER, s.d.)
36
[...] o mundo se apresenta como um fluxo caleidoscpico de impresses que
tm de ser organizadas por nossas mentes e isto significa, em grande
medida, pelos sistemas lingusticos de nossas mentes. Decompomos a
natureza, organizamo-la por meio de conceitos e atribumos significados
pelo modo como o fazemos, em grande medida, porque fazemos parte de
um acordo para organiz-la deste modo acordo que se sustenta em nossa
comunidade comunicacional e est documentada nas formulaes de nossa
linguagem. claro que o acordo implcito e no declarado, mas seus
termos so completamente obrigatrios; sem subscrevermos os dados de
organizao e classificao determinados pelo acordo, no podemos,
33
sequer, falar .
A hiptese de Sapir-Whorf parece
antecipar, como conjectura,
a teoria
habermasiana da razo comunicativa.
A linguagem revela-se, assim, no apenas no medium da apreenso da realidade e
do seu compartilhamento aos membros do grupo, descortinando-se, muito alm, no
prprio mecanismo legitimador dos padres sociais, estabilizando as aes
individuais dos seus membros no plano das vivncias socialmente sentidas. Em
outras palavras, somos condicionados pela linguagem e, desta forma, condicionados
a reproduzir e cumprir as regras e convenes por ela estabelecidas.
Percebe-se, portanto, que a comunicao no tem, na vida social, um papel
meramente instrumental, mas constitui-se em elemento dinmico com carter
estruturante da prpria realidade que pode ser conhecida e reconhecida
intersubjetivamente. Alm disso, serve para ordenar os comportamentos humanos,
justificando expectativas recprocas de desempenho. esta compreenso que vai
inspirar Jrgen Habermas, ao buscar, no modelo da discusso racional, o
fundamento das pretenses de verdade e, na possibilidade desse fundamento, a
prpria definio de racionalidade.
Este o assunto das prximas sees.
2.2 TIPOLOGIA DAS AES EM HABERMAS
Embora a linguagem seja um instrumento privilegiado de comunicao, esta no se
33
No original: the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized
by our minds and this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up,
organize it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to an
agreement to organize it in this way an agreement that holds throughout our speech community and
is codified in the patterns of our language. The agreement is, of course, an implicit and unstated one,
but its terms are absolutely obligatory; we cannot talk at all except by subscribing to the organization
and classification of data which the agreement decrees. (WHORF, 1940, p. 213-214 apud
CHANDLER, s. d.)
37
resume apenas interao mediada pelo idioma. Com efeito, assim como a teoria
dos atos de fala mostra que, entre as funes da linguagem, esto aquelas de
alterar o mundo concreto mediante, por exemplo, atos perlocucionrios de comando,
conhece-se uma linguagem no verbal, ou seja, a produo de signos lingusticos
cujo significado convencional compreendido pelos participantes de uma
determinada comunidade comunicacional.
No , portanto, de difcil compreenso que a cada ao humana tanto o agente
quanto terceiros interessados queiram atribuir um significado, no caso associado
intencionalidade da ao.
Jrgen Habermas 34 desenvolveu minuciosa teoria acerca da ao em face de seu
contedo comunicacional. Dessa teoria tratam o presente captulo e o subsequente.
Jrgen Habermas concebe uma diviso das aes35 em aes sociais e aes nosociais. Na ao social o sujeito se relaciona com outros atores em mltiplos
aspectos cognitivos, entrando em contato com a realidade intersubjetivamente
compartilhada com seus pares. Este mundo social abriga um contexto normativo que
fixa que interaes regem as correspondentes normas (por quem estas so aceitas
como vlidas), pertencendo ao mesmo mundo social. (HABERMAS, 1984b, p. 88)
J na ao no social, a orientao do sujeito est voltada, exclusivamente, para o
xito diante do mundo externo, atuando com vistas a alcanar um objetivo. Esta
atuao racional corresponde exatamente ao instrumental, na qual o agente,
atuando tanto frente ao prognstico acerca de acontecimentos observveis quanto
das regras do agir, busca o atingimento de seus prprios fins diante do mundo
(PIZZI, 2005, p. 78). Em outras palavras, a sua atuao visa fins prprios,
independentemente de atuao subjetiva compartilhada com outros sujeitos,
restringindo-se, neste caso, a racionalidade ao mundo objetivo, com a utilizao de
34
Filsofo alemo, originrio da Escola de Frankfurt (em que se destacam Max Horkheimer e
Theodro Adorno), erigiu uma revolucionria teoria cujo instrumental possibilitou uma nova dimenso e
alcance no estudo do agir, com aplicabilidade em mltiplos temas da atualidade. Sua obra Theorie
des Kommunikativen Handelns (Teoria da Ao Comunicativa, volumes I e II) ser citada nesta
tese pela edio americana. A razo disto , no apenas o tradutor, Thomas McCarthy, ser
considerado um dos mais expressivos estudiosos do pensamento de Habermas, mas, no dizer do
prprio McCarthy, ter sido ele profundamente tranquilizado pela boa vontade do autor [Habermas]
em ler completamente uma primeira verso e sugerir todas as mudanas que considerou adequadas.
(HABERMAS, 1984b, p.v) Desse modo, a traduo americana alcana a autoridade da original.
35
Habermas denomina de ao a manifestao simblica em que o autor entra em relao com o
mundo (mundo objetivo das coisas, mundo social das normas ou o mundo subjetivo dos afetos).
(HABERMAS, 1984b, p. 96)
38
regras tcnicas assentadas sobre um saber emprico.
Habermas d enfoque s aes sociais, promovendo uma distino entre:
teleolgicas,
normativas,
dramatrgicas,
comunicativas
estratgicas
(ou
teleolgico-estratgicas), constituindo estas a tipologia36 que se passa a analisar.
2.2.1 Ao teleolgica
A ao teleolgica pressupe relaes entre um ator e o mundo de estados de
coisas existentes, sendo o mundo objetivo definido como a totalidade de estados de
coisas que existem ou que podem se apresentar ou ser produzidos mediante uma
adequada interveno no mundo. Esta concepo de mundo remonta a Wittgenstein
na primeira fase37.
Este modelo dota o agente de um complexo cognitivo-volitivo de modo que este
pode, de um lado, mediante suas percepes, formar opinies sobre os estados de
coisas existentes e, de outro, desenvolver intenes com a finalidade de trazer
existncia os estados de coisas desejados. (HABERMAS, 1984b, p. 87). Habermas
classifica como ao teleolgica um conceito que pressupe um s mundo (o mundo
objetivo), cujas regras de ao materializam um saber tcnico e estrategicamente
utilizvel, susceptvel a crticas no que toca s suas pretenses de verdade, e
susceptvel de melhora pela via do saber terico-emprico. (HABERMAS, 1984b, p.
333)
Este agir teleolgico (instrumental) opera sobre fatos empricos, j que se limita
descrio da atividade teleolgica interveniente no mundo objetivo para o
atingimento de determinado fim. Sua eficcia, baseada num conceito instrumental de
verdade, est condicionada s circunstncias de manipulao das leis da natureza.
(PIZZI, 2005, p. 81-82)
O que se avalia, aqui, o xito do agente em transformar a sua realidade exterior,
traando um juzo valorativo sobre sua competncia emprica, na medida da
36
Pizzi, enfocando as trs principais categorias de ao em Habermas (teleolgica, estratgica e
comunicativa), distingue-as da seguinte forma: a ao teleolgica (dita instrumental) vincula-se ao
seguimento de regras tcnicas e s ponderaes do ponto de vista da eficcia de uma interveno no
mundo fsico; a ao estratgica supe a afluncia de um sujeito sobre os demais; j a ao
comunicativa pressupe a busca, pelos agentes, do entendimento. (PIZZI, 2005, p. 80)
37
o mundo tudo aquilo que o caso. O mundo a totalidade dos fatos, no das coisas.
(WITTGENSTEIN, 1947, p. 31)
39
adequao entre os meios por ele empregados e a eventual consecuo dos fins por
ele pretendidos. Na ao teleolgica, o agente atua com propsitos instrumentais
visando ao xito, na superao de obstculos do mundo objetivo, atuando
racionalmente e tendo como fulcro o sucesso de sua ao, utilizando-se, para isso,
de uma racionalidade instrumental.
Em outras palavras, o falante articula meios e fins, aplicando os meios que lhe so
disponveis no mundo objetivo, e orientando-se racionalmente para o alcance de
interesses prprios, regendo-se sua ao pela constatao emprica das regras da
eficincia, numa relao dada entre o sujeito e o mundo objetivo. Observe-se que
esta racionalidade instrumental no difere daquela preconizada pelo Iluminismo e
que presidiu ao desenvolvimento das cincias da natureza. Por outro lado, os
interesses que inspiram estas aes so particulares ao agente, nada se dizendo a
respeito de como alcanariam terceiros interessados. Adotada a viso do
racionalismo tradicional, a ao teleolgica seria concebvel para um sujeito
solipsista.
2.2.2 Ao normativa
A ao normativa (ao regulada por normas) pressupe, segundo Habermas,
relaes entre um ator e dois mundos o mundo objetivo de estados de coisas
existentes e o mundo social, no qual esse ator, em sua qualidade de sujeito, interage
com outros atores, iniciando-se entre eles interaes normativamente reguladas
(HABERMAS, 1984b, p. 88). Nesta tica, todos os atores que se regem pelas
correspondentes normas (para quem estas so aceitas como vlidas), pertencem ao
mesmo mundo social (aqui, o mundo das normas), vlido para todos os seus
destinatrios. De acordo com Habermas, ditas normas gozam de validez social ou
vigncia quando so reconhecidas pelos seus destinatrios como vlidas ou
justificadas, j que merecedoras do assentimento de todos os que so por elas
afetados (HABERMAS, 1984b, p.88). V-se, desde logo, que a justificao das
normas depende da aceitao consensual das pretenses de validez, o que, em
ltima anlise, subordina a idia de ao normativa a um conceito fundamental: o de
ao comunicativa.
Assim, os membros de um grupo social podem legitimamente esperar uns dos
40
outros que cada um deles oriente as suas aes pelos valores normativamente
fixados por todos os afetados, constituindo este modelo de ao um complexo
motivacional que determina o comportamento conforme as normas. Pode-se avaliar,
nesse sentido, se os motivos e aes de um ator esto em consonncia com as
normas vigentes, bem como se as normas encarnam valores que expressam
interesses susceptveis de universalizao pelos seus destinatrios, critrio para a
sua aferio como legtimas ou ilegtimas. (HABERMAS, 1984b, p. 89)
O modelo de ao normativa pressupe, ento, a possibilidade de o agente
distinguir entre os componentes fticos e os componentes normativos de sua ao;
entre as condies, meios e valores, podendo os sujeitos implicados adotar tanto
uma atitude de conformidade como de inconformidade diante das normas
(HABERMAS, 1984b, p. 90).
Dito de outro modo, na ao normativa, o sujeito posiciona-se frente aos valores,
costumes e normas sociais institudas no meio social, como seu destinatrio, sendo
sua atuao racional, intersubjetivamente compartilhada com os demais sujeitos, a
condio de legitimao (assentimento) de ditos valores, costumes e normas no
plano existencial.
Considera-se, aqui, a existncia de dois mundos (mundo objetivo e mundo social),
em que o sujeito, atuando sobre um contexto normativo em que est inserido e
afetado, posiciona-se assentindo ou dissentindo observncia dos valores
socialmente existentes, sendo que, na medida em que se representarem valores
universalizveis (aceitos reflexivamente por seus destinatrios) encontraro
legitimidade e validez pelos sujeitos sociais.
2.2.3 Ao dramatrgica
No que tange ao dramatrgica, na tipologia habermasiana ela no se refere nem
a um ator solitrio nem ao membro de um grupo social, mas a participantes em uma
interao, constituindo, uns para os outros, um pblico diante do qual colocam-se a
si mesmos em cena. Neste contexto, o ator suscita em seu pblico uma determinada
imagem ou impresso de si mesmo, revelando a sua prpria subjetividade e
controlando o acesso dos demais esfera de seus prprios sentimentos,
pensamentos, atitudes e desejos, a que somente ele tem acesso privilegiado.
41
(HABERMAS, 1984b, p. 85-86)
Na ao dramatrgica os sujeitos implicados governam sua interao regulando o
recproco acesso prpria subjetividade. No se trata, segundo Habermas, de um
comportamento expressivo espontneo, mas de uma estilizao da expresso das
prprias vivncias, feita com vista aos expectadores. (HABERMAS, 1984b, p. 86).
Ditas aes podem ser recusadas como enganos ou autoenganos, cujos padres de
valor dependem, por sua vez, de inovaes no mbito das expresses valorativas, a
exemplo das obras de arte. (HABERMAS, 1984b, p. 334)
A ao dramatrgica pressupe, assim, um interesse subjetivo ulterior do agente,
que, na prpria ao, coloca-se em cena: Do ponto de vista da ao dramatrgica,
entendemos a ao social como uma reunio em que os participantes constituem-se
em pblico visvel uns para os outros, e cada um representa, para que os outros
assistam38. (HABERMAS, 1984b, p. 90)
A ao dramatrgica, equiparada por Habermas a uma representao teatral,
coloca frente a frente atores sociais que se relacionam intersubjetivamente,
engendrando uma conexo entre as suas expresses subjetivas, fazendo revelar um
universo que prprio a cada um, mas que , ao mesmo tempo, compartilhado por
todos os outros atores. Assim, compreende dois mundos: um mundo interior
subjetivo e um mundo exterior objetivo. A ao dramatrgica no abriga o
pressuposto de veracidade. Portanto, a inteno do ator que representa no a
comunicao de uma verdade, mas a formao de uma opinio segundo interesses
que no so necessariamente universalizveis. Desse modo, a ao dramatrgica
tem, em seu mago, uma inteno estratgica.
2.2.4 Ao comunicativa
Na tipologia habermasiana de ao, destaca-se a ao comunicativa39, na qual dois
38
No original: From the perspective of dramaturgical action we understand social action as an
encounter in which participants form a visible public for each other and perform for one another.
39
No original: The concept of communicative action refers to the interaction of at least two subjects
capable of speech and action who establish interpersonal relations (whether by verbal or by
extraverbal means). The actors seek to reach an understanding about the action situation and their
plans of action in order to coordinate their actions by way of agreement. The central concept of
interpretation refers in the first instance to negotiating definitions of the situation which admit of
consensus. As we shall see, language is given a prominent place in this model. (HABERMAS, 1984b,
p. 86)
42
ou mais sujeitos capazes de linguagem e de ao buscam o entendimento,
coordenando de comum acordo seus planos de ao. Esta ao envolve o conceito
central de interpretao, referindo-se negociao de definies da situao
susceptveis de consenso, desempenhando a linguagem um papel fundamental.
Habermas, aqui, refere-se tanto a formas ingnuas como a reflexivas de
comunicao, orientando-se a ao comunicativa por pretenses de verdade,
capazes de levar, por um juzo racional, resoluo de controvrsias,
desenvolvendo-se formas institucionalizadas de fala argumentativa em que as
pretenses de verdade, colocadas inicialmente de forma ingnua (e imediatamente
respondidas em sentido afirmativo ou negativo) podem se converter em tema para
pretenses de verdade controvertidas. (HABERMAS, 1987, p. 74)
Como a ao comunicativa exige uma orientao por pretenses de verdade, remete
de antemo possibilidade de que os participantes na interao distingam com
maior ou menor clareza quanto influncia de uns sobre os outros e o entendimento
de uns em relao aos outros. (HABERMAS, 1987, p. 74)
Destaca Habermas, aqui, um aspecto fundamental na ao comunicativa, com vistas
relevncia do papel que desempenha: o de servir tradio, integrao e
renovao do saber cultural, bem como criao de solidariedade e formao de
identidades pessoais. Isso porque, para ele, as estruturas simblicas do mundo da
vida se reproduzem por via da continuao do saber vlido, da estabilizao da
solidariedade dos grupos e da formao de atores capazes de responder por suas
aes.40
Na ao comunicativa, mesmo que os interlocutores no aceitem o resgate efetivo
das pretenses dos demais (validade de suas enunicaes), conferem a todos os
participantes os mesmos direitos no processo de entendimento. (REESE-SCHAFER,
2008, p. 47)
por esta razo que no se pode explicar a pretenso de validade das normas sem
se recorrer ao acordo racionalmente motivado, ou sem a convico de que o
40
No original: Under the functional aspect of mutual understanding, communicative action serves to
transmit and renew cultural knowledge; under the aspect of coordinating action, it serves social
integration and the establishment of solidarity; finally, under the aspect of socialization, communicative
action serves the formation of personal identities. The symbolic structures of the lifeworld are
reproduced by way of the continuation of valid knowledge, stabilization of group solidarity, and
socialization of responsible actors. (HABERMAS, 1987, p. 137)
43
consenso pode efetuar-se com razes. Na viso de Habermas (1980, p. 133):
O modelo apropriado mais a comunidade de comunicao daqueles
afetados, que, enquanto participantes num discurso prtico testam as
pretenses de validade das normas e, na extenso em que aceite com
razes, cheguem convico que em dadas circunstncias as normas
propostas ento certas. A pretenso de validade das normas baseia-se
no nos atos volitivos irracionais das partes contratantes e sim no
reconhecimento racionalmente motivado das normas, que pode ser
questionado em qualquer tempo. O componente cognitivo das normas no
, pois, limitado ao contedo proporcional das expectativas normatizadas de
comportamento. A pretenso de validade normativa em si cognitiva, no
sentido da suposio (embora contra os fatos), que poderia ser
redimensionada discursivamente, isto , fundamentada no consenso dos
participantes atravs da argumentao.
Habermas (1980, p. 133) desloca constantemente o foco de sua argumentao para
o campo da justificao das aes. Um exemplo disso a afirmao de que uma
tica desenvolvida sobre linhas imperativistas carece de uma necessria
justificao, o que s poderia ser contornado por uma argumentao moral.
Quanto ao discurso41 racionalmente realizado pelos sujeitos, este teria como objeto
as pretenses de verdade dos interlocutores, cujos temas e contribuies
(irrestritos), no sofreriam qualquer espcie de fora (coero), sendo a nica fora
prevalecente a fora do melhor argumento. A vontade racional, por seu turno,
revelar-se-ia no consenso racionalmente justificado pelo uso da argumentao.
(HABERMAS, 1980, p. 136-137)
De acordo com Habermas (1980, p. 136-137):
Desde que em todos os afetados, em princpio, pelo menos a possibilidade
de participar nas deliberaes prticas e a racionalidade da vontade
formada discursivamente, consistem no fato que as expectativas recprocas
de comportamento, erguidas ao status normativo, reclamam validade a um
interesse comum combinado sem decepo. O interesse comum, porque
o consenso livre de constrangimento permite apenas o que todos podem
querer; livre de decepo, porque at a interpretao das necessidades,
na qual cada indivduo precisa estar apto para reconhecer o que ele quer,
torna-o o objeto de formao discursiva da vontade. A vontade, formada
discursivamente, pode ser chamada racional, porque as propriedades
formais do discurso e da situao deliberativa garantem suficientemente que
um consenso s pode surgir atravs de interesses generalizveis,
interpretados apropriadamente, pelo que quero dizer necessidades que
podem ser participadas comunicativamente. Os limites de um tratamento
decisionista de questes prticas so superados assim que, enquanto
argumentao, for esperado testar a capacidade de generalizao dos
interesses, invs de se resignarem a um impenetrvel pluralismo de
41
Em alemo, diskurs, traduzido, dependendo do tradutor, ora como discurso, ora como discusso
racional.
44
orientaes de valores aparentemente ltimos (ou atos de crena ou
atitudes).
A consequncia fundamental da noo habermasiana de ao comunicativa42 est
em que, na medida em que as normas expressem interesses universalizveis
baseados num consenso racional, elas passaro a ser justificveis, distinguindo-se,
por esta natureza, das normas que meramente estabilizam relaes de fora
(HABERMAS, 1980, p. 141). Esta, alis, a razo pela qual a discusso do conceito
de justia se deve fazer em termos de ao comunicativa e no de ao normativa.
Segundo Habermas (1980, p. 153), a prpria idia de Deus corresponde ao nome
para uma estrutura comunicativa que fora os homens, sob pena da perda da sua
humanidade, a ir alm da sua natureza acidental, emprica, para um encontrar o
outro indiretamente, isto , rumo a algo objetivo que no eles prprios. Assim, a
idia de Deus estaria transformada em um conceito de logos que determinaria a
comunidade dos crentes no real contexto de uma sociedade auto-emancipadora.
Habermas parte do ponto de vista de que as afirmaes a respeito do mundo esto
obrigadas a justificar-se argumentativamente, a fim de satisfazerem as pretenses
de verdade universais (verdade, correo normativa e sinceridade). Assim, sendo
aceitas determinadas afirmaes como vlidas, elas constituem faticidade para
nossas pretenses de verdade; no sendo aceitas como vlidas, inexistir
entendimento comunicativo, por ausente a coordenao das aes entre os
participantes. (SIMIONI, 2007, p. 59)
atravs do agir comunicativo43 que se produzem as estruturas simblicas do
mundo da vida, comportando a linguagem a razo comunicativa em forma de
42
Sobre a experincia comunicativa, Habermas afirma que ela emerge de um contexto de interao
que liga pelo menos dois sujeitos no quadro de intersubjetividade linguisticamente produzido pelo
entendimento quanto a significaes constantes, sendo que o observador to participante quanto o
observado. (HABERMAS, 2009, p. 147-148).
43
Habermas faz uma distino entre o agir comunicativo em sentido forte e o agir comunicativo em
sentido fraco. No agir comunicativo em sentido forte, os envolvidos no s partem do pressuposto de
que se orientam por fatos e dizem o que consideram verdadeiro e o que pensam, mas tambm da
idia de que perseguem seus planos de ao apenas dentro dos limites de normas e valores
vigentes. Na base do agir comunicativo em sentido fraco est a suposio de um mundo objetivo que
o mesmo para todos; no agir comunicativo em sentido forte, os envolvidos contam apenas com um
mundo social intersubjetivamente partilhado por eles. E continua: Enquanto no agir comunicativo em
sentido fraco apenas atos de fala constatativos e expresses de vontade sem autorizao normativa
entram em jogo, o agir comunicativo em sentido forte exige um uso da linguagem que tambm se
refira a algo num mundo social. (HABERMAS, 2004b, p. 120)
45
pretenso de verdade, e, com ela, a capacidade dos participantes em chegarem a
um consenso fundamentado argumentativamente. (SIMIONI, 2007, p. 153)
A autocompreenso promovida na interao humana simultnea, correspondendo
a uma simultaneidade de entendimento, articulada tanto na totalidade das relaes
da vida (intersubjetivamente compartilhada com outros sujeitos), como no horizonte
intra-subjetivamente experienciado do sujeito consigo mesmo. (FERREIRA, 2000b,
p. 91)
A competncia dos sujeitos no apenas lingstica, mas tambm comunicativa,
vinculada a um processo de interao lingstica dentro de um contexto de ao.
Este processo dinmico da comunicao se d pela emisso de opinies numa
forma privilegiada de comunicao entre os sujeitos (espao livre de argumentao),
onde a nica fora presente a fora do melhor argumento. (PIZZI, 2005, p. 71)
Nesta tica, Pizzi (2005, p. 73) afirma que a estrutura da linguagem, apoiada numa
base racional, promove o espao para a reconstruo das condies de um
entendimento possvel, superando-se a teoria do conhecimento calcada na relao
sujeito-objeto pela prtica comunicativa dos sujeitos participantes de uma discusso
racional no uso pragmtico da linguagem.
A linguagem assume, assim, uma importncia nuclear na tipologia da ao em
Habermas, sobretudo na sua concepo de ao comunicativa. Para Pizzi (2005, p.
64-65), a competncia comunicativa relaciona-se capacidade dos sujeitos em
insistirem em uma compreenso mtua das pretenses de validade na busca de um
acordo, cuja interao se d tanto na esfera da intersubjetividade (relao dos
sujeitos entre si) como na esfera dos objetos (sobre os quais se entendem), num
modo de vida comunicativo44.
Para Habermas, no modelo comunicativo de ao a linguagem s relevante do
ponto de vista pragmtico de que os interlocutores, ao fazerem uso de
44
Pizzi, sobre o modo de vida comunicativo: Por modo de vida comunicativo se compreende o
procedimento por meio do qual os sujeitos examinam o comum a todos, alimentando prticas e
orientaes simblicas concernentes compreenso, interpretao, cooperao e justificao do
agir. Uma forma de vida comunicativa relaciona-se, portanto, prxis social, cujas relaes se
desenvolvem a partir de convices e definies comuns, ou seja, de um mundo intersubjetivamente
compartilhado. No se trata, pois, de estruturas e regras de uma linguagem articular, mas de
processos que envolvem a articulao dos concernidos (ou supostamente implicados). (PIZZI, 2005,
p. 69)
46
proferimentos45 voltados ao entendimento, contraem relaes com o mundo no s
diretamente (como na ao teleolgica), mas tambm de um modo reflexivo.
Na ao comunicativa os sujeitos no se referem a algo no mundo objetivo, social ou
subjetivo, mas relativizam as suas manifestaes ou emisses contando com a
possibilidade de que a validade destas possa ser discutida por outros atores. Nesta
tica, o entendimento funciona como um mecanismo coordenador da ao, de tal
forma que os participantes da interao se pem de acordo sobre a validade que
pretendem para suas proposies, ou seja, que reconhecem intersubjetivamente as
pretenses de verdade com que se apresentam uns frente aos outros (HABERMAS,
1984b, p. 98-99).
Aqui, os prprios atores buscam um consenso, submetendo as suas proposies
aos critrios da verdade, da retido e da veracidade entre os atos de fala e os trs
mundos com os quais o locutor contrai relaes. (HABERMAS, 1984b, p. 99)
Frise-se que a noo de acordo concebida por Habermas no corresponde noo
usual (concebida no senso comum). Para Habermas, um acordo (alcanado
comunicativamente) no pode apenas ser induzido por um influxo exercido de fora,
mas tem, do contrrio, de ser aceito como vlido pelos seus participantes,
diferenciando-se, portanto, de uma mera coincidncia ftica.
Assim, os processos de entendimento, segundo Habermas, tm como meta um
acordo que satisfaa as condies de um assentimento, racionalmente motivado, ao
contedo de uma emisso, tendo, portanto, uma base racional, e no sendo
imposto por nenhuma das partes, razo pela qual os acordos obtidos com fora ou
violncia no podem ser subjetivamente reconhecidos como acordos. (HABERMAS,
1984b, p. 287)46 A essa situao em que os interlocutores trocam livremente
argumentos capazes de convencer47, sem nenhuma coero externa, lanando mo,
45
Proferimentos distinguem-se das sentenas de que se compem. Enquanto as sentenas
representam composies lingusticas suscetveis de anlise sinttica e semntica, os proferimentos
so de natureza pragmtica, representando o uso dessas sentenas em situaes reais de fala.
46
No original: A communicatively achieved agreement has a rational basis; it cannot be imposed by
either party; whether instrumentally through intervention in the situation directly or strategically through
influencing the decisions of opponents. Agreement can indeed be objectively obtained by force; but
what comes to pass manifestly through outside influence or the use of violence cannot count
subjectively as agreement. Agreement rests on common convictions.
47
Utilizar-se- a palavra convencer relacionando-a mudana da opinio do interlocutor mediante
argumentos logicamente irrepreensveis e, a palavra persuadir, referindo-a mudana da opinio do
interlocutor por quaisquer meios, lgicos ou no. Deste modo, uma falcia pode ser base de
persuaso, mas no de convencimento.
47
entre si, de todos os tipos de atos de fala, ser chamada situao de fala ideal48.
Com efeito, a ao comunicativa49 reafirma a ordem social na medida em que dito
acordo legitima as pretenses de verdade sustentadas pelos atores, confrontadas
que so aos juzos de verdade (se as pretenses de verdade existem no mundo
ftico), correo (se as pretenses de verdade se adquam s normas vigentes) e
sinceridade (se as pretenses de verdade representam de forma autntica os
sentimentos de cada sujeito).
Concebe-se, assim, a ao comunicativa como uma interao entre sujeitos livres e
em igualdade de condies, que, intersubjetivamente, sustentam suas pretenses
de verdade num agir racional em direo ao consenso (entendimento mtuo), e
tendo como medium a linguagem, prevalecendo unicamente a fora do melhor
argumento. Nesta modalidade de ao, os sujeitos participantes do discurso atuam
em cooperao para o atingimento de um acordo comum que sirva de base racional
para as suas aes.
A ao comunicativa abre espao para a defesa das idias e para a busca racional
de consenso entre os participantes. Nesta perspectiva, a situao de fala ideal,
apesar de reconhecida como utpica pelo prprio Habermas, deve ser pressuposta
no contexto social, a fim de que a comunicao possa desenvolver-se em seu
espectro de racionalidade.
2.2.5 Ao estratgica (teleolgico-estratgica)
Finalizando a tipologia habermasiana de ao, passa-se denominada ao
estratgica. Segundo Habermas, a ao teleolgica converte-se em ao estratgica
quando no clculo que o agente faz de seu xito intervm a expectativa de decises
de ao menos outro agente que tambm atua visando realizao de seus prprios
48
Entende Habermas como situao de fala ideal o espao equitativamente oportunizado de fala a
todos os atores num discurso, ausente em seu contexto qualquer forma de coao ou presso interna
ou externa, tendo, como nica regra racionalmente vlida, a fora do melhor argumento.
49
Por meio das evidncias culturalmente adquiridas, das solidariedades de grupo intuitivamente
presentes e das competncias dos indivduos socializados, consideradas como know how, a razo
que se manifesta na ao comunicativa se mediatiza com as tradies, com as prticas sociais e os
complexos de experincias ligadas ao corpo, que sempre se fundem em uma totalidade particular.
(HABERMAS, 2000, p. 452)
48
propsitos. (HABERMAS, 1984b, p. 85)50
Note-se que Habermas (1984b, p. 87) faz clara distino entre a ao teleolgica e a
ao estratgica. Enquanto a primeira pressupe a existncia de um s mundo (o
mundo objetivo), a ao estratgica pressupe a existncia de ao menos dois
sujeitos que atuam com vistas obteno de um fim, e que realizam os seus
propsitos orientando-se e influindo sobre as decises de outros atores51.
No modelo estratgico de ao, a linguagem utilizada como um medium atravs do
qual os interlocutores, orientando-se em direo ao seu prprio xito, podem influir
uns sobre os outros com o fim de induzir o oponente a formar opinies ou de realizar
as intenes que lhes convm, em direo a seus prprios fins52.
Traando precisa diferenciao entre a ao teleolgica, comunicativa e estratgica,
Arajo (2004, p. 249) discorre que na primeira o falante se comporta de forma
racional em relao aos estados de coisa existentes (sem a intervenincia de outros
atores). Na segunda, prevalece o carter argumentativo e consensual da linguagem,
promovendo-se entendimento e acordo. J na ltima modalidade citada, prevalece a
influncia de cada ator sobre os demais53.
Certos comportamentos racionais, utilizando como meios de controle o dinheiro e o
poder, estabelecem relaes estratgicas sobre as decises de outros participantes,
50
No original: The teleological model of action is expanded to a strategic model when there can enter
into the agents calculation of success the anticipation of decisions on the part of at least one
additional goal-directed actor. This model is often interpreted in utilitarian terms; the actor is supposed
to choose and calculate means and ends from the standpoint of maximizing utility or expectations of
utility.
51
Ainda sobre a diferenciao entre o agir instrumental e o agir estratgico, Pizzi explica que: A
expresso ao estratgica limita-se a designar o tipo de agir que , ao mesmo tempo, social e
orientado em funo de meios-fins. Logo, se o agir instrumental organiza os meios para a
manipulao de objetos, a ao estratgica tem como ponto de referncia o xito do falante diante de
um oponente racional. Nas interaes estratgicas, os meios comunicativos utilizam a linguagem,
sem, todavia, preocupar-se com a interao entre os diferentes planos dos participantes. Assim, o
xito da ao depende do grau de eficcia colhido na tentativa de influenciar as decises de um
oponente racional. (PIZZI, 2005, p. 82)
52
No original: The teleological model of action takes language as one of several media through which
speakers oriented to their own success can influence one another in order to bring opponents to form
or to grasp beliefs and intentions that are in the speakers own interest. (HABERMAS, 1984b, p. 95)
53
A mesma diferenciao estabelece Habermas (1984b, p. 285) em seu quadro explicativo entre a
ao teleolgica (espcie de ao no-social, tambm denominada de instrumental), e as aes
comunicativa e estratgica (espcies de ao social):
(Traduo do autor)
49
induzindo a processos de formao lingstica de consenso (HABERMAS, 1987, p.
280). Este, entretanto, no o consenso verdadeiro, porque alcanado por meios
outros que no a livre aceitao de argumentos substanciais.
Deve-se ponderar, com Habermas (1993, p. 98), que, apesar de quaisquer de ns
podermos manipular outros sujeitos, nem todos se portam sempre dessa forma,
pois, se tal ocorresse, a prpria categoria da mentira perderia o seu sentido, com
reflexos profundos na prpria tradio de socializao entre os seres humanos.
Na ao estratgica, o falante pode incitar o ouvinte a tomar decises cujas
conseqncias so favorveis s para si mesmo, nesse caso influenciando o
opositor a aceitar que o alcance de seus fins conveniente para todos, ou seja, que
tais fins representam no apenas o seu prprio xito, mas tambm a satisfao dos
interesses de todos os participantes. (PIZZI, 2005, p. 83)
Pizzi (2005, p. 83-84) lembra que a influncia de um ator sobre um outro pode
ensejar, inclusive, a utilizao de ameaas, julgamentos ou promessas de
gratificao, fato que identifica a ao estratgica como o xito a ser alcanado,
afastando-a das caractersticas de liberdade prprias ao comunicativa.
A concepo de ao estratgica em Habermas ampla, e compreende tanto uma
ao estratgica ostensiva (em que o receptor tem conscincia da inteno do
emissor de agir conforme seus propsitos particulares), quanto de forma disfarada,
neste
caso
promovendo
uma
dissimulao
consciente
(manipulao)
ou
inconsciente (comunicao sistematicamente distorcida) sobre o receptor. Em
qualquer das hipteses, visa invariavelmente o xito de sua ao, conformando as
atitudes e pensamentos do receptor esfera de suas expectativas54.
No modelo habermasiano, portanto, a ao estratgica visa consecuo de um
54
A estrutura da ao estratgica sintetizada por Habermas (1984b, p. 333) no quadro abaixo:
(Traduo do autor)
50
objetivo, elegendo o ator os meios que considera mais adequados, na situao
dada, para alcanar o xito, isto , para efetivar no mundo o estado de coisas por
ele desejado (HABERMAS, 1984b, p. 285)55. Assim, Habermas chama de
estratgica a ao orientada ao xito, considerando-se o aspecto de atendimento
das regras de escolha racional e avaliando-se sua eficcia pela capacidade de influir
sobre as decises de um oponente igualmente racional. (HABERMAS, 1984b, p.
285)56
Em outras palavras, a ao estratgica fundamenta o direcionamento da ao na
racionalidade teleolgica das metas individuais dos atores sociais envolvidos, que,
egocentricamente, e utilizando como medium a linguagem, buscam influenciar o(s)
outro(s) para o atingimento de suas metas particulares, ainda que em detrimento dos
demais sujeitos (sejam eles parceiros ou oponentes), invariavelmente utilizados
como meios para a consecuo de seus fins.
2.2.6 Os atos de fala luz da tipologia da ao de Habermas
Na teoria dos atos de fala no se compreende apenas a estrutura semntica de uma
palavra, frase ou sentena, mas o efeito visado por seu emitente, bem como o efeito
produzido diante do receptor. Ao produzir um ato de fala, o sujeito expressa-se e
expressa a realidade que o circunscreve, mas os efeitos produzidos pelo ato de fala
ultrapassam o simples mbito do falante, constatando-se as modificaes cognitivas
e comportamentais que passa a gerar sobre os sujeitos intercomunicantes que
atuam no discurso57.
Adentrando a realidade presente na comunicao entre os sujeitos, Habermas
passa a estudar os efeitos produzidos pelos atos de fala, no qual os sujeitos,
55
No original: The model of purposive-rational action takes as its point of departure the view that the
actor is primarily oriented to attaining an end (which has been rendered sufficiently precise in terms of
purposes), that he selects means that seem to him appropriate in the given situation, and that he
calculates other foreseeable consequences of action as secondary conditions of success. Success is
defined as the appearance in the world of a desired state, which can, in a given situation, be causally
produced through goal-oriented action or omission.
56
No original: We call an action oriented to success strategic when we consider it under the aspect of
following rules of rational choice and assess the efficacy of influencing the decisions of a rational
opponent.
57
O mesmo saber proposicional ganha uma faceta inteiramente diversa quando utilizado em atos
de fala, nos quais se visa ao consenso. Neles a razo adquire uma dimenso maior do que a
dimenso tradicional de logos, limitada representao do real. Trata-se de uma racionalidade cujo
grau de idealizao transcende o contexto, pois que toca o ponto-chave da teoria da ao
comunicativa: as pretenses de validez. (ARAJO, 2004, p. 249-250)
51
envolvidos num discurso, buscam o entendimento nas trs esferas de mundo por ele
concebidas (mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo).
Assim que, para Habermas (1984b, p. 305), na ao comunicativa se consideram
determinantes os atos de fala nos quais o falante veicula pretenses de verdade
susceptveis de crtica. Por outro lado, quando o falante produzir atos de fala diante
dos quais o receptor seja levado a agir no sentido que deseja o falante, estaremos
diante de uma ao estratgica. H, entretanto, uma relao de dependncia entre
os atos perlocucionrios (produtores de efeitos) e os atos ilocucionrios (portadores
de sentido). (HABERMAS, 2004b, p. 122). O sucesso da ao estratgica (produo
de efeitos) depende do sucesso do ato ilocucionrio (sua compreenso pelo
receptor)58.
Assim, tal qual Austin, Habermas destaca a existncia factual59 de trs possveis
atos de fala: atos de fala locucionrios, ilocucionrios e perlocucionrios.
Os atos de fala locucionrios correspondem a mera expresso lingstica, na qual o
interlocutor diz (profere) algo sobre o mundo. Aqui, no visa ele a argumentao
com os demais sujeitos (interlocutores), nem influenci-los sobre determinado ponto.
Um ato de fala locucionrio corresponde, to somente, a uma emisso de palavras
ou frases, sem pretenses de influncia sobre os falantes; um mero exprimir-se
(dizer algo) a respeito do seu universo interior ou exterior, atendendo sintaxe da
linguagem.
Os atos de fala ilocucionrios correspondem s proposies emitidas pelo sujeito na
inter-relao com seus semelhantes, buscando o entendimento sobre determinado
ponto. Aqui, produzem-se modificaes tanto no emissor quanto no receptor da
mensagem, sendo que ditas proposies (opinies, idias, sentimentos) expressos
58
Habermas d um exemplo dessa dependncia, ilustrada na seguinte afirmao: _Voc se
comporta como um porco! Notam-se, no exemplo dado, dois efeitos simultaneamente alcanveis
pela emisso deste ato de fala. Aqui, o efeito dissuasor na modificao de comportamento por parte
do receptor (faz-lo comportar-se civilizadamente sucesso perlocucionrio) depende, no obstante,
da compreensibilidade pelo receptor do ato ilocucionrio formulado (argumentao de que o indivduo
est se comportando com um porco sucesso ilocucionrio). O mesmo se d na seguinte
afirmao: _ Se voc no me der o dinheiro de Pedro, comunicarei a seu superior que... Neste caso,
o efeito perlocucionrio da intimidao (sucesso perlocucionrio) depende da compreenso
(entendimento) do anncio de uma sano negativa condicionada (sucesso perlocucionrio).
(HABERMAS, 2004b, p. 122)
59
A concepo de teoria dos atos de fala de Habermas no se limita a estes trs tipos, deixando clara
em sua obra a existncia de outros atos de fala, a exemplo dos atos regulativos (ligados ao
normativa) e os expressivos (ligados ao dramatrgica), os quais, por no se relacionarem s
aes comunicativa e estratgica (foco desta pesquisa), no sero devidamente explorados.
52
pelos sujeitos, levados a efeito no plano de um discurso, promovem o entendimento
viabilizado no plano argumentativo.
Para Habermas, os atos ilocucionrios, por buscarem o entendimento entre os
sujeitos, promovem o acordo lingstico racionalmente motivado entre eles,
harmonizando entre si seus planos individuais de ao, livres que esto de usos
instrumentais (ao fsica, a exemplo de uma imposio violenta) ou estratgicos
(influncia pela fala, com imposio do ponto de vista), residindo a inteno
comunicativa no prprio dizer, contrariamente aos atos perlocucionrios60, os
quais, por visarem o xito na produo de efeitos sobre o ouvinte, acabam por
impedir o acordo racionalmente motivado entre os sujeitos. (ARAJO, 2004, p. 253)
Os atos de fala ilocucionrios encaixam-se com exatido na perspectiva da ao
comunicativa proposta por Habermas, em que os sujeitos, livres de qualquer presso
ou coao, manifestando suas pretenses de verdade no plano de um discurso
racionalmente motivado, e na situao de fala ideal, buscam o entendimento sobre
algum ponto, sendo a nica fora prevalecente a do melhor argumento, e tendo
como direo (fim) o consenso (aqui entendido como o acordo racional que orientar
as aes dos participantes), servindo ento de base para o agir comum regulador
das futuras aes. Nos atos de fala ilocucionrios, o contedo semntico das
proposies emitidas pelos sujeitos visam ao entendimento intersubjetivo entre os
participantes, que confrontam a verdade das proposies, viabilizando, assim, a
ao racional comunicativa.
Os atos de fala perlocucionrios, por seu turno, correspondem s proposies
racionalmente motivadas tendentes persuaso de uma das partes sobre a outra
(de um sujeito sobre o outro), calculadas no intuito de se atingir uma determinada
meta ou se obter um determinado xito, engendrando uma modificao no
comportamento do receptor de forma com que ele aja de acordo com o que
esperado pelo emissor do ato perlocucionrio. Estes atos de fala correspondem, na
tipologia habermasiana, ao estratgica (teleolgico-estratgica),61 cujos efeitos
60
Segundo revela Dutra (2005, p. 87), Habermas afirma que o uso estratgico da linguagem (uso
perlocucionrio) parasitrio do uso ilocucionrio (uso normal da linguagem), visto que enfraquece a
fora ilocucionria geradora de consenso, viabilizada pelo reconhecimento intersubjetivo das
pretenses de validade, fazendo-se uso de meios extralingsticos (como a ameaa e o poder).
parasitrio, porque a compreensibilidade da mensagem tomada de emprstimo do ato ilocucionrio.
61
Em contextos estratgicos de ao, a linguagem funciona, em geral, segundo o modelo de
perlocues. Aqui, a comunicao lingstica subordinada aos imperativos do agir racional
53
so racionalmente calculados por um sujeito frente aos seus oponentes. Segue-se
que, na concepo de Habermas62, ditos atos de fala expressam a realidade vivida
pelos sujeitos nos trs mundos existentes: o mundo objetivo das coisas (relativo ao
conjunto das entidades sobre as quais possvel um enunciado verdadeiro), o
mundo social das normas (relativo adequao das proposies ao contexto das
normas observadas nas relaes entre os sujeitos) e o mundo subjetivo das
vivncias e afetos (relativo sinceridade e autenticidade dos sentimentos e idias
dos sujeitos).
Em outras palavras, os atos ilocucionrios viabilizam o entendimento entre os
sujeitos intersubjetivamente relacionados, estando ligados ao comunicativa; j
os atos perlocucionrios visam ao convencimento estrategicamente motivado de
influncia de um sujeito sobre o(s) outro(s), produzindo uma modificao
psicolgico-comportamental do(s) oponente(s), na satisfao ou ajuste aos seus
prprios interesses, estando relacionados, ento, ao estratgica.
Para Habermas (1987, p. 64), na reproduo simblica do campo da vida, os atos de
fala s podem cumprir simultaneamente as funes de transmisso de saber,
integrao social e socializao dos indivduos se em cada ato de fala o componente
proposicional, o componente ilocucionrio e o componente expressivo se integrarem
em uma unidade gramatical63.
orientada a fins. Interaes estratgicas so determinadas pelas decises de atores orientados ao
sucesso, que se observam mutuamente. Eles se encontram sob condies de uma dupla
contingncia, como antagonistas que, no interesse dos planos de ao de cada um, exercem
influncia um sobre o outro (normalmente sobre as atitudes proposicionais do outro). Eles suspendem
as atitudes performativas de interlocutores, na medida em que assumem, da perspectiva de terceiras
pessoas, os papis de falante e ouvinte envolvidos. Desse ponto de vista, as metas ilocucionrias s
so relevantes como condies de sucessos perlocucionrios. Por conseguinte, sujeitos da ao
estratgica que se comunicam entre si no perseguem suas metas ilocucionrias sem reservas
como ocorre no uso comunicativo da linguagem. (HABERMAS, 2004b, p. 123-124)
62
Diferenciando o agir comunicativo do agir estratgico a partir da utilizao, pelo sujeito, de atos
ilocucionrios/perlocucionrios, Habermas deixa claro que: Falamos ento de agir comunicativo
quando agentes coordenam seus planos de ao mediante o entendimento mtuo lingstico, ou seja,
quando eles os coordenam de tal modo que lanam mo das foras de ligao ilocucionrias prprias
dos atos de fala (1). No agir estratgico, esse potencial de racionalidade comunicativa permanece
inutilizado, mesmo quando as interaes so linguisticamente mediadas. Como aqui os envolvidos
coordenam seus planos de ao mediante uma influenciao recproca, a linguagem no
empregada comunicativamente no sentido j explicado, mas de forma orientada a conseqncias.
Para a anlise desse uso da linguagem, as chamadas perlocues fornecem uma chave apropriada
(HABERMAS, 2004b, p. 118)
63
No obstante, ressalta Habermas que o sucesso do ato de fala depende da aceitao da oferta
(proposio) por parte do receptor, posicionando-se com um sim ou no a uma pretenso de
verdade passvel de crtica, baseando as suas posies em argumentos racionais. Para ele, como a
54
Isto particularmente relevante porque, assim como qualquer construo lingstica
pode ser examinada segundo a sintaxe, a semntica e a pragmtica, tambm os
proferimentos, que so os enunciados usados em situao real de fala, tm uma
dimenso formal, comunicativa e, se for o caso, estratgica.
Como se viu, a racionalidade que preside ao estratgica de natureza
instrumental, enquanto a construo do acordo racional pressupe um outro tipo de
racionalidade. Para fundamentar adequadamente esta distino, necessrio um
exame mais minucioso da teoria da ao comunicativa. A isto destina-se o prximo
captulo.
2.3 TEORIA DA AO COMUNICATIVA
A teoria da Ao Comunicativa, proposta por Jrgen Habermas, gerou impactantes
repercusses no campo das diversas cincias sociais e do Direito.
Na concepo habermasiana de ao comunicativa, os indivduos, livres de
qualquer coao ou presso, participam em igualdade de condies do processo
comunicativo, manifestando suas opinies e idias com o fim de chegarem a um
acordo (dito, neste caso, racional) entre eles. Nesta dinmica, os argumentos so
colocados em xeque pelos prprios sujeitos envolvidos, prevalecendo a tese do
melhor argumento. Visa-se, neste discurso, o consenso, mas este nunca definitivo,
podendo ser superado pela coerncia e solidez de novos argumentos, da porque
referido consenso no visto por Habermas como um fim, mas como um processo
(ou meio).
A racionalidade do discurso pressupe a manifestao autntica e sincera das
opinies dos sujeitos envolvidos, compreendendo-se a predisposio destes para se
deixarem convencer apenas pela fora do melhor argumento. Isto se constitui no agir
comunicativo. A caracterstica essencial ao agir comunicativo a pretenso de
verdade, isto , a convico de cada participante, em boa f, de que sua
manifestao verdadeira. A discusso entretida desse modo se diz discusso
racional e o consenso obtido mediante uma discusso racional dito consenso
verdadeiro.
linguagem e o entendimento no esto dispostos numa mesma relao meio-fim, a utilizao de atos
de fala imprescindvel busca da compreenso entre os sujeitos. (HABERMAS, 1984b, p. 287)
55
Para Habermas, o consenso verdadeiro o sintoma mais caracterstico da verdade,
mas nunca uma verdade definitiva, razo pela qual qualquer tese ou discurso pode
ser revisto ou contestado pelos sujeitos envolvidos. Observe-se que Habermas
distingue entre a discusso racional e uma discusso emprica, restrita a um nmero
finito de interlocutores coevos. A discusso racional tem, como outra caracterstica
fundamental, a incluso de participantes sem limitao espacial ou temporal. Assim,
o consenso verdadeiro distingue-se de qualquer consenso empiricamente
alcanado, que no seno uma aproximao perfectvel do consenso verdadeiro.
A teoria da ao comunicativa de Habermas abre espao, dessa forma, a uma
relativizao das cincias e das verdades, podendo quaisquer idias e argumentos
ser superados com base na tese do melhor argumento, dentro do acordo
racionalmente motivado dos participantes de qualquer discurso. Explica-se, deste
modo, a sucessiva e gradual modificao das verdades bem estabelecidas em
todos os saberes, ao longo da histria da humanidade.
2.3.1. Caractersticas fundamentais da ao comunicativa
A teoria da ao comunicativa contempla a associao de trs conceitos
fundamentais: a situao de fala ideal, o consenso verdadeiro e os interesses
universalizveis.
2.3.1.1 A situao de fala ideal
Compreende-se como situao de fala ideal a igualitria oportunizao de atos de
fala pelos interlocutores, estando ausente qualquer forma de constrangimento,
presso ou coao entre eles ou sobre eles.
Nos casos em que existe um uso privilegiado ou majoritrio de determinados atos de
fala, no se configura a situao de fala ideal. Por exemplo, se um dos locutores tem
o privilgio dos atos de fala que exprimem comando, ele pode, facilmente, suprimir
as objees dos interlocutores, levando a uma situao que se assemelha ao
consenso. Este, porm, no ser o consenso verdadeiro, de vez que a supresso
das objees no se deveu ao convencimento dos interlocutores por meio de
argumentos capazes de convencer. Eles foram, apenas, reduzidos ao silncio por
um comando.
56
Esta a razo pela qual a situao de fala ideal to importante no contexto da
teoria de Habermas. Habermas (1971, p. 136 sq.) reconhece que ela jamais se
realiza nas condies do discurso emprico. Entretanto, leva os locutores a agir, na
efetuao dos atos de fala e das aes, contrafactualmente, como se a situao de
fala ideal no fosse mera fico, mas real (grifo no original). Declara-a, ainda, o
fundamento normativo do ato de se entender linguisticamente [...] antecipado, mas,
enquanto fundamento antecipado, tambm eficaz. (HABERMAS, 1971, p. 140)
2.3.1.2 O consenso verdadeiro
No plano da Teoria da Ao Comunicativa, revela-se de igual importncia a
caracterizao do conceito de consenso verdadeiro. Os participantes de uma
discusso asseguram-se que o consenso obtido verdadeiro pela ausncia de seu
questionamento ulterior por qualquer dos interlocutores, situados que esto na
perspectiva de uma situao de fala ideal64.
preciso distinguir o consenso verdadeiro de Habermas do consenso emprico ou
factual. Como se viu na seo anterior, na ausncia da situao de fala ideal a
situao de consenso pode ser obtida no por um acordo racional entre os
locutores, mas pela supresso de sua capacidade de objetar e argumentar. Mesmo
que a coero no seja evidente, o apelo a interesses particulares (no
universalizveis) pode levar os interlocutores a comportarem-se de modo a supor-se
que o consenso se tenha estabelecido. Neste caso, trata-se meramente de um
consenso emprico que no se identifica com o consenso verdadeiro.
no plano do discurso que as pretenses de verdade dos sujeitos podem se
64
A impossibilidade terica da situao de fala ideal no significa a impossibilidade desse
reconhecimento unnime, por parte dos participantes de uma discusso prtica, de que o consenso
que alcanaram verdadeiro. Significa que, sendo impossvel que todos os locutores teoricamente
concebveis participem efetivamente da discusso, sempre possvel admitir que algum deles
houvesse de apresentar um argumento novo que invalidasse a unanimidade factualmente alcanada.
Havendo consenso suficientemente amplo acerca da verdade de determinados enunciados, as
pessoas que no participam desse consenso so consideradas "ignorantes" dessa verdade. Atravs
de um conveniente processo de educao elas podem "reorganizar seu comportamento sob o
imperativo das pretenses de validade" e passar a integrar o conjunto dos participantes desse
consenso. Por outro lado, todas as pessoas que participam de um consenso poderiam, em princpio,
ser levadas a rever sua opinio por argumentos produzidos em apoio de uma opinio inicialmente
minoritria. (ROCHA, 1990, p. 196) (Esta citao remete a um texto de Habermas anteriormente
citado no trabalho de Rocha, que diz: Tanto quanto me parece, nisto se exprime o entrelaamento
especificamente humano das produes cognitivas e das motivaes da ao com a intersubjetividade lingstica: neste estdio do desenvolvimento sociocultural, o comportamento animal
reorganizado sob os imperativos das pretenses de validade). (HABERMAS, 1976, p. 350)
57
manifestar, com vistas ao consenso. De acordo com Rocha (1990, p. 181), o
consenso revela-se verdadeiro na medida em que os sujeitos racionais, em uma
situao de discusso, permitem-se corrigir as suas pretenses de verdade, na
busca do melhor argumento racional orientador de suas aes individuais. No plano
do discurso voltado ao entendimento, os sujeitos racionais65 manifestam argumentos
ditos substanciais, j que capazes de convencer os participantes.
O acordo racional aqui evidenciado fundamenta a objetividade da experincia
comunicativa e o consenso alcanado pode ser sintoma da verdade reivindicada
para os enunciados consensualmente admitidos. Rocha (1990, p. 188-199) aponta
a caracterstica elementar de um consenso dito verdadeiro: a presena da situao
de fala ideal, a qual envolve a igualitria oportunizao de atos de fala pelos
participantes do discurso, o que acaba por diferenciar dito consenso de um
consenso emprico (factualmente alcanado). O consenso verdadeiro s se
assemelha ao consenso emprico na medida em que as condies de interlocuo
se assemelhem situao de fala ideal.
No discurso emprico, sendo finito o nmero de participantes da discusso, admitese sempre a possibilidade de alguma forma de controle sobre cada um deles, no
impedindo a incidncia de coero externa, razo pela qual se deve ampliar
indefinidamente o nmero de participantes do discurso, de tal forma a viabilizar a
manifestao de um consenso verdadeiro. (ROCHA, 1990, p. 188-189)
A racionalidade dos interlocutores o que lhes permite alcanar um consenso
ausente de coero externa, reconhecidas pelos sujeitos necessidades comuns,
compartilhadas de modo comunicacional. Neste plano, a razo atua como condio
de possibilidade do consenso verdadeiro, configurando-se na prpria efetuao
desse consenso. (ROCHA, 1990, p. 191)
De acordo com Rocha (1990, p. 191):
A possibilidade efetiva de utilizar uma linguagem comum para realizar,
intencionalmente, a comunicao intersubjetiva aparece, em conseqncia,
como o sintoma definitivo da racionalidade dos interlocutores. A ocorrncia
de um consenso que se pretende verdadeiro , ao mesmo tempo, a
legitimao de uma linguagem comum que se estrutura e usada de modo
a que no nvel semntico esteja pressuposta a verdade dos enunciados; no
nvel sinttico, a cogncia dos argumentos e, no nvel pragmtico, a
racionalidade dos locutores.
65
Entendem-se como racionais os sujeitos capazes de entrar em acordo.
58
O consenso verdadeiro , pois, sinal caracterstico da racionalidade dos sujeitos,
que, envoltos na perspectiva de uma situao de fala ideal, buscam o entendimento
no plano do discurso, diferenciando-se, nesta medida, do consenso emprico, que,
por envolver um nmero finito de participantes, s passvel de manifestar
particulares consensos factuais entre os envolvidos.
2.3.1.3 Os interesses universalizveis
Ao viabilizar o consenso entre os sujeitos, a ao comunicativa permite a
exteriorizao de interesses universalizveis, assim entendidos os interesses que se
possam revelar comuns a todos os participantes do discurso. Isto se verifica na
aceitao, pelos sujeitos livres de qualquer presso ou coao, do melhor
argumento (argumento substancial) que, por sua fora racionalmente cogente,
harmoniza as pretenses de verdade de todos os participantes.
Nesta ordem, a ao comunicativa, por visar o consenso entre os sujeitos (a partir
do acordo racional orientador das aes individuais dos interlocutores), expressiva
dos interesses universalizveis. A ao estratgica, ao contrrio, por visar o xito
sobre o oponente quanto a metas individuais, expressa interesses particulares, no
universalizveis, na medida em que se verifica impraticvel um consenso verdadeiro
em torno da pretenso de validade que eles reivindicam.
A expresso de interesses universalizveis pode se evidenciar a partir da motivao
da ao empreendida pelos sujeitos, em cujo mbito se verificar a manifestao de
interesses comuns ou, do contrrio, de interesses particulares pelos sujeitos sociais
envolvidos no discurso.
Na perspectiva da ao comunicativa, pressuposta que est uma situao de fala
ideal, cada participante pode, igualitariamente, manifestar suas pretenses de
verdade, com vistas a um consenso. Note-se que o acordo aqui obtido dito racional
justamente porque os participantes tm conscincia de que ele s pode surgir de
interesses universalizveis, comuns a todos os integrantes do discurso.
Tal o pensamento de Rocha (1990, p. 180), para quem a situao de discusso
presente no discurso racional j garantia suficiente de universalizao de
59
interesses (grifo acrescentado).
Um consenso obtido comunicativamente compreende, portanto, a expresso de
interesses comuns a todos os participantes do discurso, garantindo a harmonizao
das pretenses de validade dos participantes no plano do acordo racionalmente
obtido.
Nesta tica, pode-se fazer uma distino entre normas susceptveis de justificao e
normas que estabilizam relaes de fora. Na medida em que as normas exprimem
interesses universalizveis, elas repousam sobre um consenso racional. De outra
forma, na medida em que as normas regulam interesses no-universalizveis, elas
repousam sobre a fora66.
2.3.2 A racionalidade comunicativa
A filosofia centrada no eu perpassou sculos de influncia na cultura ocidental.
Nada mais explicvel, ao considerar-se o pano de fundo histrico que antecedeu o
advento do Iluminismo67.
Para o Iluminismo, o indivduo era o centro do conhecimento, sujeito unificado e
dotado das capacidades de razo, conscincia e de ao, atributos que o
perseguiam em todo o caminhar de sua existncia. (HALL, 2001, p. 10-11)
Esta nova viso da realidade das idias, e das idias com o mundo, possibilitou o
culto do homem como nica realidade a partir da qual brotava o conhecimento.
Ressalte-se que a influncia das idias iluministas68 encontra-se ainda presente nas
concepes filosficas atuais, tendo sido transportadas dos sculos XVII e XVIII at
os nossos dias.
66
No original: on peut distinguer les normes susceptibles dune justification des normes qui stabilisent
des rapports de force. Dans la mesure o les normes expriment des intrts universalisables, elles
reposent sur un consensus rationnel (ou elles trouveraient un tel consensus si une discussion pratique
pouvait avoir lieu). Dans la mesure o les normes rglent des intrts non universalisables, elles
reposent sur la force. (HABERMAS, 1978, p. 153-154)
67
O Iluminismo, movimento filosfico, poltico e social advindo do incio do sc. XVIII, promovia um
culto da razo sobre a obscuridade religiosa, o antropocentrismo em detrimento do teocentrismo, bem
como o combate s idias absolutistas que sustentavam os regimes monrquico-despticos. Teve
como grandes expoentes Voltaire, John Locke, David Hume, Adam Smith, dentre outros.
68
Note-se que Gadamer no o nico a tecer crticas ao pensamento Iluminista. Segundo explicita
Stein, Hans-Georg Gadamer, numa crtica ao racionalismo da ilustrao, afirma que o pensamento
iluminista cego para a inevitabilidade de preconceitos no processo do compreender, referindo-se
inevitabilidade das pr-concepes do intrprete em qualquer processo interpretativo. (STEIN, 1987,
p. 111-112)
60
Apenas para ilustrar este apego viso racionalista tendo o homem como centro
irradiador do conhecimento, Schopenhauer (2005, p. 41-42) afirmava que apenas os
pensamentos prprios eram verdadeiros e tinham vida, j que somente eles
poderiam ser entendidos de forma autntica e completa. Nesta lgica, os
pensamentos alheios seriam como obras da refeio de outra pessoa ou roupas
deixadas por um hspede na casa, numa relao como a que existe entre o fssil
de uma planta pr-histrica e as plantas que florescem na primavera.
Uma filosofia baseada nos moldes de uma ao instrumental com fulcro na relao
sujeito-objeto acaba por ignorar o carter da influncia coletiva sobre o pensamento
humano. Conforme salienta Rouh (1937, p. 189)69, o pensamento no apenas
expresso, mas se completa, confirmando-se por suas prprias repeties pelas
verificaes indefinidas dos indivduos, sendo que a cada dia uma linha se
acrescenta a uma certeza primitiva.
A dinmica da vida moderna, calcada na interao cada vez maior entre os sujeitos,
em um mundo cujas fronteiras entre povos e naes se esvaecem, em que a
revoluo tecnolgica da informao coopta o indivduo comunicao voluntria ou
mesmo forada com seus semelhantes, torna o homem cada vez mais integrado
coletividade. Nesta realidade de estgio civilizatrio, a perspectiva de uma filosofia
nos moldes de uma racionalidade instrumental no se mostra capaz de obter todas
as respostas para os problemas que afligem a humanidade. Uma filosofia nos
moldes de uma racionalidade comunicativa, como proposta por Habermas, revela a
oportunizao e abertura de novas perspectivas no estudo dos conflitos e das
contradies internas da sociedade moderna.
Assim, fundamentar a apreenso da verdade pautada exclusivamente na sua
verificao pelo sujeito olvidar o plexo de verdades que se estabelecem e se
revelam nas relaes entre os sujeitos no convvio social. Ditas verdades no podem
ser ignoradas. Parodi (1937, p. 64)70, a propsito, lembra que somente a sociedade
69
No original: La pense ne sexprime pas, seulement, elle se complte, se confirme par ses propres
rptitions, par les vrifications indfinies des hommes. Ainsi chaque jour une ligne de plus sajoute
la certitude primitive.
70
No original: La socit, et la socit seule, serait cratrice de valeurs proprement dites, cest--dire
doues dune sorte dexistence objective: car elle impose lindividu, par lducation, par lopinion, par
lexemple, au besoin par la contrainte matrielle, et, plus subtilement encore, par la fusion de sa
conscience avec la conscience collective, des jugement tout faits, distincts et trs souvent
antagonistes et rdacteurs de ses prfrences propres; jugements qui lui sont antrieurs et lui
survivront, qui le dbordent de toutes faons, comme le milieu social quils expriment, et le dominent
61
seria criadora dos chamados valores propriamente ditos, j que dotados de alguma
experincia objetiva, imposta aos indivduos pela educao, opinio, exemplo,
constrangimento material ou, ainda, pela fuso da sua conscincia com a
conscincia coletiva, pelo julgamento que ela confere aos fatos, traando os
contornos no meio social em que se exprimem.
Na construo do mundo social da criana ocorre uma progressiva apropriao
cognitivo-social e moral da estrutura vigente de papis nos quais se estruturam as
relaes interpessoais. Assim, o sujeito desenvolve a sua identidade como membro
de um grupo social por meio de uma reestruturao simblica de suas orientaes
de ao e de suas disponibilidades de ao frente a expectativas particulares de
comportamento. (HABERMAS, 1987, p. 33)
Habermas (1987, p. 63) revela a harmonizao do comportamento dos diversos
participantes
da interao, ligados
entre si
pela comunicao lingstica,
promovendo, alm do entendimento, a coordenao da ao e a socializao dos
atores. Assim, os atos comunicativos atuam na transmisso do saber culturalmente
acumulado, reproduzindo-se a tradio cultural por meio da ao orientada ao
entendimento e promovendo-se, ainda, o cumprimento das normas, a integrao
social, a instaurao de controles internos de comportamento e a formao de
estruturas da personalidade.
Observe-se que Habermas (1984b, p. 99)71 define, precisamente, as condies de
validade das aes voltadas ao entendimento (aes comunicativas):
Um ator que se orienta ao entendimento precisa, neste sentido, sustentar
pelo menos trs reivindicaes de validade por meio de seu proferimento, a
saber:
1. Que o enunciado formulado seja verdadeiro (ou que as
pressuposies existenciais do contedo proposicional mencionado
sejam factualmente satisfeitas);
2. Que o ato de fala esteja correto no que se refere ao contexto
normativo existente (ou que o contexto normativo que deve ser satisfeito
seja legtimo ele prprio);
3. Que a inteno manifesta do locutor queira significar aquilo que
de toute la force avec laquelle la sienne propre na pas de commune mesure, et de toute lautorit
prestigieuse de ce milieu mme.
71
No original: an actor who is oriented to understanding in this sense must raise at least three validity
claims with his utterance, namely:
1. That the statement made is true (or that the existential presuppositions of the propositional
content mentioned are in fact satisfied);
2. That the speech act is right with respect to the existing normative context (or that the
normative context that it is supposed to satisfy is itself legitimate); and
3. That the manifest intention of the speaker is meant as it is expressed.
62
expressa.
Essas condies representam o pressuposto de veracidade ou sinceridade. Com
efeito, o primeiro item indica que o locutor reivindica a pretenso de verdade do seu
enunciado; o segundo item pressupe o cumprimento das normas de uso da
linguagem (rigor tcnico) e das que configuram a situao de fala ideal (rigor tico no
procedimento com seus interlocutores); e o terceiro item consagra o princpio da
veracidade ou sinceridade em sua forma explcita, quer dizer, a comunicao do
locutor transparente quanto a suas autnticas intenes e ele cr, em boa-f, que
seja verdadeira a pretenso de verdade que ele reivindica.
Apesar de reconhecer o papel da ao instrumental (permitindo ao homem
apropriar-se da natureza, garantindo, pelo trabalho, a sua prpria subsistncia e
autoconservao, Habermas promove uma ampliao filosfica do campo das aes
humanas para alm de uma mera ao pragmtica em relao s coisas do mundo
objetivo.
A este respeito, Habermas, contrariamente a Marx, propugna a irredutibilidade da
espcie humana a uma mera ao instrumental sobre a natureza, onde a ao
comunicativa, longe de ser resumida a uma mera relao de trabalho, assume feio
e regras prprias no campo da interao humana. (DURO, 1996, p. 23).
A racionalidade tem menos a ver com o conhecimento ou com a aquisio do
conhecimento do que com a forma com que os sujeitos capazes de linguagem e de
ao dele fazem uso. (HABERMAS, 1984b, p. 8). Nesta tica, o mundo72 s cobra
objetividade pelo fato de ser reconhecido e considerado como um s por uma
comunidade de sujeitos capazes de linguagem e de ao. Assim, o conceito abstrato
de
mundo
condio
necessria
para
que
os
sujeitos
que
atuam
comunicativamente possam se entender entre si sobre o que se passa no mundo ou
o que se deve produzir no mundo. O mundo compartilhado intersubjetivamente
delimitado pela totalidade das interpretaes pressupostas pelos participantes,
devendo-se verificar as condies para que se possa alcanar, comunicativamente,
o consenso entre eles. (HABERMAS, 1984b, p. 12-13)
72
Habermas faz uma aluso existncia de trs mundos: o mundo objetivo (compreendido como a
totalidade das entidades sobre as quais so possveis enunciados verdadeiros), o mundo social (visto
como a totalidade das relaes interpessoais legitimamente reguladas), e o mundo subjetivo
(enunciado como a totalidade das prprias vivncias nas quais cada um tem um acesso privilegiado e
na qual o interlocutor pode manifestar-se diante do pblico). (HABERMAS, 1987, p. 120)
63
Sobre a incapacidade de superao das dicotomias vividas pela Filosofia com base
no paradigma da conscincia, Pizzi (2005, p. 48-49) diagnostica, em funo dessas
dificuldades, a perda de objeto pela prpria Filosofia, renunciando a suas pretenses
universais e criticveis, razo pela qual esta foi levada a um rompimento dos
esquemas da teoria do conhecimento e da considerao metodolgica da
problemtica da compreenso. Este , segundo Pizzi (2005, p. 49), o carter
singular da Teoria da Ao Comunicativa, qual seja, o de superar as redues de
uma racionalidade debilitada, rompendo com o solipsismo metodolgico e
modificando, com essa reviravolta, o prprio carter tradicional da filosofia.
Habermas prope a superao da razo instrumental (aplicao de meios racionais
para a obteno de fins) por uma razo comunicativa, levada a efeito pelos
indivduos em mltiplos processos de interao e cujas bases de comunicao,
intermediadas pela linguagem, podem ser aperfeioadas num processo dinmico de
emancipao, tendo como atores os participantes livres que interagem no discurso.
Na proposta habermasiana de racionalidade comunicativa, surge a necessidade de
comunicao entre os sujeitos, na medida das exigncias de fundamentao
intersubjetivamente partilhadas entre eles. Assim, a necessidade prtica de
coordenar planos de ao engendra a expectativa de cada participante de que os
destinatrios tomem posio, assumindo um perfil claro em relao a suas
pretenses de validade73. No entanto, o entendimento entre os participantes s pode
ser alcanado na existncia de relaes simtricas entre eles, envolvendo, entre
outras condies, relaes de reconhecimento mtuo, transposio recproca de
perspectivas e disposio para aprender um com o outro. (HABERMAS, 2001, p.
162-163)
Na comunicao sobre os fatos ou nas relaes com as pessoas e os objetos, os
sujeitos intersubjetivamente relacionados devem poder, segundo Habermas,
relacionar-se com algo no mundo objetivo (dado para ns como idntico para todos),
a fim de entenderem-se sobre algo na comunicao. Neste mister, devem partir de
um pressuposto pragmtico, supondo o mundo como a totalidade dos objetos
existentes independentemente, e que podem ser julgados, garantindo a todos os
73
De acordo com Habermas: Estes esperam uma reao afirmativa ou negativa, que conta como
resposta, porque somente o reconhecimento intersubjetivo de exigncias de validez criticveis
provoca o tipo de generalidade pela qual obrigatoriedades fidedignas com conseqncias relevantes
para a interao se deixam fundamentar para ambos os lados. (HABERMAS, 2002. p. 105)
64
sujeitos na interao a antecipao formal de possveis objetos de referncia
(mesmo mundo objetivo no qual se entendem e podem intervir). (HABERMAS, 2002,
p. 39-40)
Desvelando a racionalidade comunicativa, Habermas (2000, p. 437) esclarece:
Por racionalidade entendemos, antes de tudo, a disposio dos sujeitos
capazes de falar e de agir para adquirir e aplicar um saber falvel. Enquanto
os conceitos bsicos da filosofia da conscincia obrigarem a compreender o
saber exclusivamente como um saber sobre algo no mundo objetivo, a
racionalidade medida pela maneira como o sujeito solitrio se orienta
pelos contedos de suas representaes e de seus enunciados. A razo
centrada no sujeito encontra sua medida nos critrios de verdade e xito,
que regulam as relaes do sujeito que conhece e age segundo fins com o
mundo de objetos ou estado de coisas possveis. Em contrapartida, assim
que concebemos o saber como algo mediado pela comunicao, a
racionalidade encontra sua medida na capacidade de os participantes
responsveis da interao orientarem-se pelas pretenses de validade que
esto assentadas no reconhecimento intersubjetivo. A razo comunicativa
encontra seus critrios nos procedimentos argumentativos de desempenho
diretos ou indiretos das pretenses de verdade proposicional, justeza
normativa, veracidade subjetiva e adequao esttica.
Assim, prope Habermas (2000, p. 437-438) um novo modelo de racionalidade, com
foco no discurso unificador do consenso entre os participantes, superando suas
concepes subjetivas em favor de um consenso racionalmente motivado,
contrariamente a uma racionalidade com respeito a fins, de base cognitivoinstrumental e calcada na filosofia do sujeito.
Como explicita Habermas (2004a, p. 15-16):
evidente que a autoconscincia e a capacidade da pessoa de assumir
uma posio refletida e deliberada quanto s prprias crenas, desejos,
valores e princpios, mesmo quanto ao projeto de toda a sua vida, um dos
requisitos necessrios para o discurso prtico. H um outro requisito,
porm, to importante quanto esse. Os participantes, no momento mesmo
em que encetam uma tal prtica argumentativa, tm de estar dispostos a
atender exigncia de cooperar uns com os outros na busca de razes
aceitveis para os outros; e, mais ainda, tm de estar dispostos a deixar-se
afetar e motivar, em suas decises afirmativas e negativas, por essas
razes e somente por elas.
Concebe Habermas (2004a, p. 15-16) um plano racional em que cada participante
livre, dotado que est de uma autoridade epistmica para dizer sim ou no,
voltando-se, no obstante, inevitavelmente para a busca de um acordo racional em
que somente sejam acolhidas as solues racionalmente aceitveis para todos os
65
envolvidos. Assim, a busca de um consenso pelos participantes pressupe a
liberdade comunicativa de cada um, afirmando o vnculo social a que todos
invariavelmente se sujeitam.
Malgrado a receptividade das concepes habermasianas74, presentes na teoria da
Ao Comunicativa (considerado o momento histrico em que esta surgiu segunda
metade do sculo XX), no se pode olvidar que o processo de comunicao entre os
sujeitos sempre acompanhou o ser humano, tendo sido, to somente, intensificado
na era contempornea pelo advento de novas tecnologias.
Aguirre Oraa (1998, p. 345)75 contrape a viso de Habermas de Hans-Georg
Gadamer. Enquanto a viso de Gadamer teria como base a busca do sentido
presente obra, contido em toda manifestao humana e em toda comunicao
lingstica, numa abertura de nosso esprito verdade e na receptividade da razo
que se oferece diante da realidade, a concepo de Habermas estaria fundada
sobre uma argumentao discursiva na qual o consenso sobre a verdade das
assertivas e das normas possa advir de uma reflexo crtica, capaz de criar sentido
sobre uma criatividade de nosso esprito frente realidade.
Para Freitag (2005, p. 101), Habermas prope uma superao da filosofia da
conscincia pela teoria da interao, da razo reflexiva pela razo comunicativa,
engendrando, numa proposta dialgica, a superao do conceito monolgico da
razo pura de Kant76 por uma razo comunicativa, tendo como medium a linguagem,
em que a verdade deixaria de assentar-se no sujeito epistmico, no mais sendo
vista como um fim, mas como o processo em que pretenses de verdade,
questionadas pelos participantes do discurso, objetivariam o consenso. Nesta
74
Registre-se que a teoria da ao comunicativa, de Jrgen Habermas, apesar da grande acolhida e
sucesso no meio filosfico e acadmico, no est livre de crticas, como lembra Medina: A
abordagem de Habermas sobre a comunicao tem sido criticada por muitos como sendo
demasiadamente racionalista e por demais idealista, posto que no leva em conta os aspectos no
racionais (e at mesmo irracionais) da comunicao, e no presta a ateno adequada e suficiente
interao entre a comunicao e o estratgico. (MEDINA, 2007, p. 15)
75
No original: Lune, celle de Gadamer, est plutt axe sur la prise et la reprise continuelles du sens
dj loeuvre dans toute manifestation humaine et dans toute communication langagire, sur une
ouverture de notre esprit ladvenir de la vrit, sur une rceptivit de la raison qui soffre
lavnement du sens et de la ralit. Lautre, celle de Habermas, se fonde surtout sur une
argumentation discursive dans laquelle le consensus sur la vrit des assertions et des normes puisse
affleurer, sur une rflexion critique capable de crer du sens, sur une crativit de notre esprit
lgard de la ralit. Grosso modo, telles sont les differences.
76
No mbito da teoria da ao comunicativa, a oposio de Habermas a Kant compreende outros
pontos de divergncia. Um deles, como reporta Freitas (2005, p. 102), concerne questo da
moralidade. Se para Kant o critrio ltimo da moralidade repousa no imperativo categrico, para
Habermas este se condensa no processo argumentativo, desencadeado pelo discurso prtico.
66
perspectiva, podem ser questionadas tanto a verdade dos fatos, a correo ou
justeza das normas, bem como a veracidade do interlocutor.
Desloca-se, pois, o eixo da filosofia moderna de uma filosofia centrada no sujeito,
em sua relao com o objeto cognoscvel, para uma filosofia ancorada na
intersubjetividade, centrada nas manifestaes racionais do indivduo, levadas a
efeito na comunicao com seus pares, tendo como medium a linguagem, num
dinmico processo cooperativo entre os participantes.
Habermas supera a concepo weberiana de racionalidade, de base instrumental
(baseada na relao meios-fins), propondo, em seu lugar, a racionalidade
comunicativa. Nesta, os sujeitos comunicantes orientam as suas pretenses de
verdade na busca do consenso, ou seja, o acordo racionalmente motivado,
construdo comunicativamente e intermediado pela linguagem. Este acordo, sempre
dinmico e mutvel, condiciona o comportamento dos sujeitos na realidade social.
Em outras palavras, somente uma racionalidade comunicativa pode promover a
legitimao dos valores presentes numa sociedade, o que no atingido por uma
racionalidade instrumental (racionalidade meios-fins).
Consoante discorre Chamon Junior (2007, p. 121), a proposio de Habermas
trazida na teoria da ao comunicativa, de uma reconstruo da racionalidade da
sociedade moderna, rejeitando-se as concepes metafsicas com referncias a
uma racionalidade pr-estabelecida (monolgica, na concepo de Kant) e partindose para uma realidade compartilhada pelos sujeitos no mundo da vida (mundo
social), permite erigir a noo de ao comunicativa, j que o racional e o irracional
s podem ser reconhecidos pelos sujeitos no plano da comunicao.
Dessa forma, no mundo da vida que os sujeitos, atravs de aes orientadas ao
entendimento, podem sustentar ou terem reguladas suas pretenses de validade de
maneira crtica e argumentativa, tendo como pano de fundo a fora do melhor
argumento. por isso que a razo que Habermas propugna, a razo comunicativa,
discrepa da razo instrumental utilizada por Max Weber. Pela ao comunicativa e
pela possibilidade ideal do consenso verdadeiro, os participantes da discusso
revelam sua prpria racionalidade. (CHAMON JUNIOR, 2007, p. 121-122)
O mundo da vida, de que fala Habermas (1987, p. 135), emancipa-se da filosofia da
conscincia, configurada no contexto criador de horizonte nos processos de
67
entendimento, promovendo-se, na perspectiva de uma racionalidade comunicativa,
uma reconstruo do saber dos sujeitos envolvidos77.
A racionalidade comunicativa garante a participao no processo de interao entre
os sujeitos no plano das regras explicitadas a partir do Lebenswelt. No agir
comunicativo, o sujeito presume o domnio lingstico das relaes com o mundo e
a cooperao mtua, com o fim de entender-se com os demais, tendo, como meio,
a linguagem e, como fim, o entendimento mtuo. (PIZZI, 2005, p. 55)
A razo comunicativa no tem o fim de sepultar os avanos do movimento
racionalista (razo centrada no sujeito), mas de permitir um avano nos seus
postulados, preservando o seu potencial crtico. A propsito, reconhecem-se os
avanos feitos pelo racionalismo, permitindo uma emancipao do pensamento
crtico das amarras da doutrina teocrtica da Igreja e a expanso do Iluminismo,
colocando-se o homem como o centro dos acontecimentos. (AGRA, 2008, p. 411)
No plano filosfico, a proposio de uma racionalidade comunicativa na superao
de uma racionalidade instrumental tem como corolrio a busca de concepes
capazes de explicar as contradies internas e os conflitos da presente era. Neste
mister, Souza (2006, p. 7) denuncia o dilema entre o restabelecimento de dimenses
restauradoras que identifiquem eventual desvio na racionalidade engendradora da
atual crise filosfica ou a procura de novas dimenses racionais que proporcionem
um outro vis para a filosofia.
At este ponto, pretendeu-se apresentar o pensamento de Habermas com vistas
cabal fundamentao do conceito de racionalidade comunicativa. Observe-se que as
idias de situao de fala ideal, consenso verdadeiro e interesses universalizveis,
diretrizes do processo de justificao das pretenses de validade finalmente
acolhidas pelo consenso verdadeiro, encontram similares no comportamento social
ftico. Deste modo, se no se chega a caracterizar a identidade (inalcanvel) entre
77
Sobre esta realidade comunicativa, Habermas ensina que os sujeitos que atuam
comunicativamente se vem diante da tarefa de encontrar, na sua perspectiva de ao, uma
definio comum, e de se entender, dentro deste marco de interpretao, sobre temas e sobre planos
de ao, fazendo uso, neste processo, do acervo de saber recebido. Pontua Habermas que os
padres culturais de interpretao, de valorao e de expresso cumprem aqui uma dupla funo. No
original: Communicatively acting subjects face the task of finding a common definition of their action
situations and of coming to some understanding about topics and plans within this interpretive
framework. In their interpretive work they make use of a transmitted stock of knowledge. As we have
seen, cultural patterns of interpretation, evaluation, and expression have a twofold function in this
process. (HABERMAS, 1987, p. 220)
68
consenso emprio e consenso verdadeiro, pode-se, pelo menos, impugnar a
legitimidade de um consenso aparente pela violao desses pressupostos
fundamentais.
Na continuao desta tese, examinar-se-o os conceitos jurdicos que interessam
caracterizao da pena, tanto do ponto de vista da sua proposta original de
legitimao quanto mediante a crtica decorrente do reconhecimento do carter
comunicativo da razo.
2.4 A NATUREZA COMUNICACIONAL DO DIREITO E AS CATEGORIAS
HABERMASIANAS
No mito grego, Themis - o ideal de justia ou a ordem justa representada com a
balana da ponderao e a cornucpia da prosperidade. Ela se casa com Zeus, o
soberano dos deuses e smbolo maior do poder, e dele concebe Dik a justia
corretiva representada com a balana da ponderao e a espada da coero.
O significado do mito claro. atravs da justia corretiva, aquela que altera as
relaes no mundo objetivo, canalizando as aes do poder, que se estabelece a
ordem justa, a qual, se implantada sem violaes, acarreta a prosperidade de todos.
Themis a justia in abstracto s pode distribuir suas benesses ao mundo porque
os desvios humanos so corrigidos por Dik.
O que os
poetas
gregos
proclamavam reconhecido pelos
estudiosos
contemporneos do Direito.
As relaes humanas podem ter ou no um sentido jurdico. Tero esse sentido se
aos seus participantes forem atribudas qualificaes jurdicas especficas. Isto
ocorrendo, torna-se possvel que uma norma jurdica determine proibies,
obrigaes ou permisses aos envolvidos nesse tipo de relao.
Aos operadores do Direito pode parecer que lidam permanentemente com matria
exclusivamente jurdica. Para alguns, essa afirmativa seria contestada invocando-se
a relao do Direito com as cincias zetticas sociologia, histria, filosofia, etc...
Entretanto, o que se afirma aqui refere-se a um grau ulterior de abstrao. O Direito,
como todos os saberes, abriga e d forma especfica a estruturas cuja natureza
independe do saber a que so aplicadas. A prpria noo de relao um exemplo
69
disso.
Lourival Vilanova (1989, p. 69-70) afirma:
As relaes jurdicas so jurdicas pelo contedo social da conduta e dos
fatos naturais relevantes para a conduta juridicamente conformada. Mas so
relaes, independentemente dos termos concretos que nela figuram [...] as
relaes, abstratamente consideradas, mas vistas do prisma do Direito [...]
so tpicas do mundo Jurdico. Mas, num grau maior de abstrao, so
relaes. Quer dizer: so estruturas formais, compondo-se de um termo
antecedente (ou termo referente e de outro termo conseqente [ou termo
relato] e, ainda, de uma espcie de operador: o operador relacionante.
As estruturas formais a que se refere Vilanova tm caractersticas intrnsecas
estudadas, no caso, pela lgica e pela matemtica. Nenhum saber que utilize a idia
de relao pode ignorar estas caractersticas ou desobedecer a elas. O que esse
saber especfico far apropriar-se dessas caractersticas preexistentes e renomelas em termos de categorias com que esse mesmo saber opere.
Definem-se, ento, diferentes nveis de abstrao. Em um nvel, as relaes
jurdicas, por exemplo, so puramente relaes. Em um nvel mais concreto, mas
ainda abstrato, quando os participantes da relao puderem ser juridicamente
qualificados, passam elas a ser no mais puras relaes, mas relaes jurdicas.
Essas relaes jurdicas, embora qualificados os seus elementos como sujeitos de
direitos, ainda so abstratas, ou seja, meras possibilidades. So relaes jurdicas,
mas em sentido amplo.
isto que Vilanova (1989, p. 71) refere quando diz:
[...] A um certo nvel de abstrao [...] alcanamos as relaes como
relaes em si mesmas [...] A concrescncia com que os fatos do mundo,
juridicamente relevantes, lhes especifica, ocorre numa rbita de
possibilidades demarcadas pelas estruturas formais.
sobre essas relaes jurdicas, ainda abstratas, que incide a norma. Neste sentido,
a norma uma proposio dentica (um dever-ser) abstrata que estabelece
obrigaes, permisses ou proibies no contexto de uma relao jurdica possvel.
Um nvel adicional de concretude ser alcanado quando forem identificadas, na
ordem factual, condutas que realizem as possibilidades previstas pela norma, por
parte de entes individuais ou coletivos aos quais se apliquem as qualificaes
caracterizadoras da relao jurdica abstratamente postulada.
70
o que adverte Lourival Vilanova (1989, p. 72) quando diz:
Em sentido estrito, relao jurdica no se estabelece quando a norma [...]
atribui subjetividade [...] os entes individuais ou coletivos adquirem a
possibilidade normativa de figurarem nas posies de sujeitos ativos e de
sujeitos passivos [...] Mas, como somente receberem a qualificao de
sujeitos-de-direitos, ainda no se encontram em relaes jurdicas. Em
sentido estrito, bem se v.
[...] As relaes jurdicas [em sentido estrito] pertencem ao domnio do
concreto. Provem de fatos, que so, no tempo-espao, localizados. [...] A
norma ou o ato-regra genrico destina-se a se concretizar [...] a
concretizao importa no substituir o sujeito genrico, o objeto
indeterminado, o fato jurdico tpico, os poderes e os deveres
inespecificados de um ato ou negcio jurdico tpico, por sujeitos
individualizados, prestaes especificadas, fato jurdico concreto.
(VILANOVA, 1989, p. 85-86)
Percebem-se, assim, diferentes nveis de abstrao. No nvel mais abstrato, o das
relaes, a questo situa-se em um contexto cognitivo, ou seja, o que se declare a
respeito das relaes e dos seus participantes formula-se por enunciados com
pretenso de verdade.
No nvel das relaes jurdicas em sentido amplo, o que ocorre , meramente, a
definio das relaes e seus participantes em termos jurdicos. Trata-se, portanto,
de algo que se d em um contexto semntico. Neste contexto, o que se problematiza
ainda so as pretenses de verdade lastreadas nas regras de uso da linguagem.
uma questo normativa a ser, ainda, determinada pela sustentao de pretenses
de validade.
Quando se chega ao domnio da norma, podem-se conceber duas situaes. Ou a
norma o resultado de um ato de autoridade de um todo-poderoso humano ou
divino que, por meio dela, pretende realizar seus prprios fins, ou a norma emana de
um consenso democraticamente estabelecido que, pelo menos idealmente, atende a
interesses universalizveis.
Observe-se que o que se est dizendo aqui vai alm do mero modo formal de
adoo da norma. Um corpo legislativo democraticamente eleito pode adotar normas
corporativas, beneficiadoras dos interesses privados de seus membros ou de
terceiros. Uma norma assim editada enquadra-se na primeira situao, no na
segunda. Do ponto de vista jurdico, a tentativa de valorizar a segunda situao
manifesta-se na doutrina de prevalncia do interesse pblico.
A primeira situao caracterizar a edio da norma como ao estratgica. A
71
segunda, como ao comunicativa.
Quando Lourival Vilanova (1989, p. 86-88) diz que:
Da norma geral no se passa imediatamente para a relao ou situao
jurdica sem interposio de um fato (fato natural ou conduta). Se fato no
ocorreu, a norma geral (ou individual) permanece em seu status
proposicional, lgico, sinttico sem os correspondentes semnticos ou
fcticos. O direito-norma no se realiza, no realidade scio-cultural [...].
As normas no so postas para permanecer como estruturas de linguagem
[...], mas reingressam nos fatos, de onde provieram, passando do nvel
conceptual ou abstrato para a concrescncia das relaes sociais, onde as
condutas so como os pontos e pespontos do tecido social.
est chamando a ateno para a diferena entre os nveis abstratos e cognitivos que
envolvem a norma jurdica e os nveis concretos, fticos, que englobam sua
aplicao.
Nestes ltimos, torna-se necessria uma deciso (ou mltiplas decises) a respeito
da admissibilidade de que entes concretos, no decorrer de uma conduta concreta,
sejam ou no sejam suscetveis de representar uma realizao das qualificaes
necessrias caracterizao de uma relao jurdica determinada, e condutas
proibidas, permitidas e obrigadas pela norma.
Essa deciso, que a essncia da jurisdio, manifesta, certamente, uma ao
estratgica e, possivelmente, uma ao comunicativa.
A deciso uma ao estratgica porque um mandamento ao qual imperioso
obedecer, se no livremente, pela fora coercitiva do Estado. Deste modo,
promover a realizao de interesses cuja universalidade discutvel. Se se puder
comprovar que os interesses impostos pela ao estratgica so universalizveis
como se desejaria que fossem os interesses protegidos pela norma a reivindicao
da validade da deciso far-se-ia, tambm, em termos comunicativos.
Desse modo, contempla-se, na discusso subsequente, o objetivo deste captulo e
dos subseqentes: examinar em que medida aspectos do Direito correspondem a
aes comunicativas e em que medida correspondem a aes estratgicas.
O carter estratgico do Direito visivelmente notado na teoria da deciso jurdica78.
78
Sobre a deciso no plano jurdico, afirma Ferraz Jnior: Na mais antiga tradio, o termo deciso
est ligado aos processos deliberativos. Assumindo-se que estes, do ngulo do indivduo, constituem
estados psicolgicos de suspenso do juzo diante de opes possveis, a deciso aparece como um
ato final, em que uma possibilidade escolhida, abandonando-se as demais. Modernamente, o
72
Como sistema de controle de comportamento, a teoria da deciso jurdica remete
prpria dogmtica do Direito. Segundo Ferraz Jnior (2008, p. 285), esta estrutura
dogmtica, como um saber tecnolgico, no cuida da deciso em termos de
realidade social, mas apenas de regras para a tomada de deciso. Preocupa-se,
nesta lgica, com os requisitos tcnicos (aqui, os instrumentos de que se serve o
decididor), no propriamente para adaptar a sua ao natureza dos conflitos, mas
para encontrar a deciso que prevalecentemente se imponha e os conforme
juridicamente.
A deciso, segundo Ferraz Jnior (2008, p. 287), um procedimento cujo momento
culminante a resposta, sendo que a justificao desta resposta constitui a sua
legitimidade. No processo de deciso, so levadas em considerao expectativas
grupais (relativas s condies de possibilidade dos conflitos); sociais, polticas e
econmicas (relativas s condies de garantias dos objetivos grupais); e jurdicas
(relativas s condies de determinao dos objetivos sociais, polticos e
econmicos).
A dogmtica jurdica fundamenta o Direito como um sistema de controle de
comportamento79, em que a deciso e o conflito centralizam-se na ao do controle,
correspondente ao poder de deciso de conflitos institucionalizados. (FERRAZ
JNIOR, 2008, p. 289-290)
conceito de deciso tem sido visto como um processo mais complexo que, em sentido amplo, pode
ser chamado de aprendizagem. Sem levar em considerao as divergncias tericas especficas,
poderamos postular que pertencem ao processo de aprendizagem impulso, motivao, reao e
recompensa (cf. Deutsch, 1969:145; cf. tambm Simon e March, 1970; e Easton, 1968). Impulso pode
ser entendido como questo conflitiva, isto , conjunto de proposies analiticamente incompatveis
em face de proposio emprica que descreve uma situao. Por exemplo, deve-se dizer a verdade
e deve-se ser misericordioso aparecem como preceitos contrrios diante da situao do mdico em
face do enfermo morte, ao qual reluta em esclarecer sobre seu estado de sade. A motivao
corresponde ao conjunto de expectativas que nos foram a encarar as incompatibilidades como
conflito, isto , como exigindo uma resposta comportamental. A reao , propositadamente, a
resposta. A recompensa o objetivo, a situao final na qual se alcana uma relao definitiva em
confronto com o ponto de partida. (FERRAZ JNIOR, 2008, p. 286)
79
Nessa dicotomia aflora uma concepo limitada do prprio poder que oculta a noo de controledisciplina (controle-regulao), ao encarar o poder-dominao (controle-dominao) como algo que
se tem, se ganha, se perde, se divide, se usa, se transmite. Isso pode ser sentido na utilizao, pela
doutrina, de conceitos como o de vontade (do povo, da lei, do legislador, do governo, da parte
contratante), entendida como algo cuja conceituao, na verdade, tem uma operacionalidade limitada
s aes individuais e que s cabe metaforicamente s situaes mais complexas (qual a vontade
que estabelece a norma costumeira?). No obstante, essa acepo de poder como algo, como
substncia (vontade de poder, poder de vontade) mantm-se no discurso oficial da cincia jurdica,
favorecida, talvez, pela ambigidade da palavra Estado que, para o jurista, designa, de um lado, uma
sociedade organizada juridicamente, da qual todos so membros (poder como regulao), e, de
outro, um aparelho que governa essa mesma sociedade (poder como dominao). (FERRAZ
JNIOR, 2008, p. 289-290)
73
A dogmtica da deciso abrange tanto o poder de fato quanto o poder de direito, e
relaciona-se a dois aspectos: o interno (referente deciso jurdica como controle
com base nos instrumentos que o sistema oferece - controle-disciplina); e externo
(relativo aos instrumentos que a retrica jurdica traz para o sistema controledominao). O controle-disciplina relaciona-se ao poder de direito (teoria dogmtica
da aplicao do direito), enquanto que o controle-dominao relaciona-se ao poder
de fato (teoria dogmtica da argumentao jurdica). (FERRAZ JNIOR, 2008, p.
290)
Em outras palavras, o que apregoa Ferraz Jnior a existncia de duas realidades
distintas, mas complementares na dogmtica da deciso jurdica. A primeira
relaciona-se estrutura interna da deciso jurdica (conformidade instrumental da lei
ao ordenamento jurdico). J a segunda se relaciona ao aspecto externo da deciso
(justificao da lei frente aos destinatrios por via da argumentao jurdica).
Por um lado, a adequao da norma (deciso jurdica) ao sistema jurdico vigente
refora o seu grau de racionalidade, logicidade e coerncia interna. De outro lado, a
teoria da argumentao jurdica, por visar a justificao desta norma, acaba por
conferir-lhe legitimidade frente aos seus destinatrios, correlacionando, na deciso
jurdica, tanto o poder de direito quanto o poder de fato.
De acordo com Ferraz Jnior (2008, p. 297):
De certo modo, o controle da deciso por meio de procedimentos
institucionalizados (a burocratizao das decises nas sociedades
modernas um exemplo tpico do que estamos falando) neutraliza [...] a
presso dos fenmenos sociais sobre o sistema jurdico. [...] Os papis
sociais garantem a interao contnua, pois, configurados socialmente de
antemo, por meio deles nos identificamos sem a necessidade de nos
conhecermos, primeiramente, como pessoas [...] [O] que conta, em ltima
instncia, o papel assumido, e todo o resto pode aparecer como forma
velada de corrupo. Segue-se tambm a exigncia de que as decises
ocorram conforme uma linguagem tcnica, que mesmo as declaraes na
lngua natural sejam protocoladas, para que a distncia entre o
procedimento e a relao social fique marcada e a deciso possa acontecer
conforme o direito. O que se decide o conflito institucionalizado, o qual
no admite escaladas e deve ser tratado dentro do sistema.
Destaca Ferraz Jnior o carter de estabilizao social dos conflitos por meio da
instrumentalizao da deciso jurdica, mediante mecanismos procedimentais, de
forma a instar os destinatrios da norma a atuar de acordo com papis prdeterminados, na observncia de uma linguagem tcnica que, por sua prpria
74
natureza, condiciona o carter comunicacional das partes a uma esquema prmoldado de acordo com o especificado pelo sistema.
A propsito deste carter comunicacional, assevera Ferraz Jnior (2008, p. 299)
que, como produto da ao humana, a deciso ocorre no contexto de uma situao
comunicacional80:
A deciso, portanto, ato de comunicao. ao de algum para algum.
Na deciso jurdica temos um discurso racional. Quem decide ou quem
colabora para a tomada de deciso apela ao entendimento de outrem. O
fato de decidir juridicamente um discurso racional, pois dele se exige
fundamentao. No deve apenas ser provado, mas com-provado. Essa
comprovao no significa necessariamente consenso, acordo, mas sim
que so obedecidas regras sobre a obteno do consenso, acordo, que
alis nem precisa ocorrer. Por isso, uma deciso que no conquiste a
adeso dos destinatrios pode ser, apesar do desacordo, um discurso
fundamentante (racional).
O que este comentrio mostra precisamente o aspecto ressaltado, no comeo
deste capitulo, de que o Direito partilha, na sua prtica, aspectos comunicativos com
aspectos estratgicos. A deciso que no conquiste a adeso dos destinatrios ,
claramente, uma ao estratgica, de vez que obrigar algum que, sem ela, no
procederia como ser, por causa dela, obrigado a proceder. Por outro lado, a
possibilidade de justificar-se essa deciso at mesmo perante o destinatrio que
dela discorda evoca o carter comunicativo da norma racionalmente justificada.
interessante destacar, na citao de Ferraz Jnior, a frase essa comprovao no
significa necessariamente consenso, acordo, mas sim que so obedecidas regras
sobre a obteno do consenso, acordo, que, alis, nem precisa ocorrer. (grifo
acrescentado). Sublinha-se, aqui, a possibilidade da justificao pela obedincia a
aspectos formais, engendrados como garantia da legitimidade comunicativa do
resultado, independentemente de haver, sobre ele, um consenso emprico.
Destaca Ferraz Jnior (2008, p. 299), no tocante realidade interativa dos sujeitos,
um nsito carter comunicacional presente em toda deciso jurdica, na qual a fora
80
Falar, sorrir, chorar, correr so comportamentos que, quer queiram quer no, dizem algo a outrem.
Constitui um axioma conjectural da teoria da comunicao o pressuposto de que o comportamento
comunicao, troca de mensagens e que a comunicao no tem contrrio: impossvel no se
comunicar. Quem, por algum modo, no se comunica comunica que no se comunica. (FERRAZ
JNIOR, 2008, p. 299)
75
argumentativa81, moldada com vistas a uma justificao, acaba por conferir
racionalidade ao discurso, tanto em relao ao decididor quanto aos destinatrios da
deciso.
Nesta realidade comunicacional, propiciam-se s partes, dentro do processo,
mltiplos questionamentos, que podem versar sobre a existncia do conflito, sua
pertinncia ao mundo jurdico, a pertinncia das alegaes, a no-incidncia da
norma em apreo hiptese ftica, a incidncia da hiptese ftica a outra norma em
apreo (mais branda), a no-incriminao do fato imputado ao autor, dentre outros.
(FERRAZ JNIOR, 2008, p. 307)
Destaca Ferraz Jnior (2008, p. 309) o carter peculiar da dogmtica jurdica, qual
seja, o de permitir a discusso dos dogmas82 presentes na deciso jurdica, sem, no
entanto, permitir que estes sejam negados (dada a sua pr-determinao), o que, na
81
Sobre a estrutura (fases) do procedimento argumentativo, explicita Ferraz Jnior: Admitindo-se
que todo problema trazido deliberao jurdica tem o carter de um conflito, isto , alternativas
incompatveis que pedem deciso, o procedimento argumentativo comea, em geral, por questionar a
consistncia do conflito enquanto jurdico. Trata-se de um questionamento prvio, condicionante
mesmo da argumentao subsequente, que lhe determina o carter. Tem a finalidade de verificar se
h mesmo um conflito e, sobretudo, se ele jurdico. A retrica antiga chamava essa primeira etapa
de translatio, pois ela permite s partes litigantes uma transferncia do objeto da discusso para outro
que mantm com o primeiro uma relao condicionante de que um no possa ser discutido sem que
antes se discuta o outro (lembre-se, por exemplo, da possibilidade de se discutir a validade de um
documento numa ao declaratria que serve de base a uma ao executiva). Aps a translatio,
segue-se um procedimento denominado conjectural, que se refere s consistncias fticas das
alegaes. Articula-se um fato que se liga a um autor. O ato de argumentar procede, ento, pelo
questionamento: h o fato? Quem o autor? Esta ltima interrogao, por sua vez, sugere uma
conjectura do nimo do autor (vontade livre, coagida, intencional etc.), de suas condies de
possibilidade, de seu relacionamento com o fato. O questionamento estrutura as posies de ataque
e defesa. O ataque mais forte afirma o fato e relaciona-o ao autor. A defesa mais forte nega ambos. A
defesa mais fraca admite o fato, mas nega a autoria, objetando o nimo, ou as condies de
possibilidade, ou o relacionamento causal. Ela introduz, em seu argumentar, uma limitao: admitese, mas..., que nos conduz a um terceiro momento. O novo lance do procedimento argumentativo
consiste na proposio de outro objeto direto que modifica o contedo do fato: admite-se, mas outra
coisa. Essa fase chama-se definitio, discutindo-se aqui a relao entre o fato e seu sentido tipificado
pela norma. Nessa etapa, o ataque mais forte afirma a relao, a defesa forte nega-a, ou, ento,
medida que uma designao legal muito desfavorvel, a substitui por outra. Por exemplo, substituise a designao roubo por furto, procurando-se mostrar que se trata de furto, cuja gravidade menor.
A pura negao constitui uma defesa mais forte, pois isenta o acusado; a substituio defesa mais
fraca, pois apenas diminui a intensidade do alegado. A definitio, no questionamento argumentativo
sempre partidria, isto , ela usada no interesse das partes. Ela estabelece uma relao entre a
questo onomasiolgica (designao do fato) e a questo semasiolgica da palavra normativa
(significao do texto normativo), em funo da produo de convico. (FERRAZ JNIOR, 2008, p.
307)
82
Os dogmas carregam em si a caracterstica da inquestionabilidade. De acordo com Perelman, O
que caracteriza geralmente as presunes legais a dificuldade que h em derrub-las: elas so
amide irrefragveis ou s podem ser recusadas segundo regras muito precisas. Por vezes
concernem apenas ao nus da prova. Esta quase sempre, perante qualquer auditrio, funo de
presunes aceitas. Mas a escolha destas no imposta como o em certas matrias jurdicas.
(PERELMAN, 1996, p. 116)
76
viso dele, corresponde a uma astcia da razo dogmtica para extrair de sua
vinculao ao dogma sua prpria liberdade83.
Para referendar estrategicamente os dogmas e garantir a sua inquestionabilidade, o
Direito se utiliza de diversos mecanismos84. Um deles, como reporta Perelman
(1996, p. 119), a tcnica da coisa julgada, capaz de cristalizar certos julgamentos,
vedando, desta forma, o questionamento da deciso correspondente. Outro
mecanismo de que se serve a tcnica dogmtica do Direito a prpria seleo
prvia dos elementos que serviro de ponto de partida para a argumentao.
(PERELMAN, 1996, p. 131)
O trao fundamental da deciso jurdica relaciona-se estrategicamente com o efeito
comportamental produzido sobre os destinatrios da norma. Sobre este efeito,
comenta Ferraz Jnior (2008, p. 321):
Tanto a teoria dogmtica da aplicao do direito quanto a teoria da
argumentao jurdica mostram um quadro em que a deciso aparece como
um sistema de procedimentos regulados em que cada agente age de certo
modo, porque os demais agentes esto seguros de poder esperar dele certo
comportamento. No se trata de regularidades lgico-formais, mas, por
assim dizer, ideolgicas. O discurso dogmtico sobre a deciso no s um
83
Nesta linha de pensamento, uma ordem judicial justa na medida em que consegue delimitar os
contedos normativos, conforme um princpio material abrangente de incluso ou excluso. Aqui, a
eleio de um princpio gera, conhecidamente, diversos posicionamentos, ora falando-se em bem
comum, ora em necessidades vitais, ora em respeito dignidade do homem, ou como cidadania, ou
como desgnio divino etc. A justia desta ordem est na razo da delimitao dos contedos
normativos a partir de um critrio de supremacia, no importa a competncia da autoridade ou o grau
da autonomia de ao de um sujeito em face de outro. Donde o reconhecimento como justo de uma
ordem que se organiza mediante um elenco de direitos e valores fundamentais materiais (vida,
propriedade, liberdade, segurana, igualdade) e nele se baseia. Nesse caso, predominam
argumentos como o argumento ab absurdo, a contrario senso, ad rem, a pari, a posteriori, entimema
ou silogstico. (FERRAZ JNIOR, 2008, p. 319)
84
Perelman cita, como exemplo de mecanismo legitimador da tcnica dogmtica do Direito, a prpria
forma de conduo do discurso. Segundo ele: O acordo preliminar discusso pode basear-se, no
no objeto do debate ou nas provas, mas na forma de conduzir a discusso. Esse acordo pode ser
quase ritual, como nas discusses judicirias, parlamentares ou acadmicas; mas pode resultar, ao
menos parcialmente, da discusso particular em andamento e de uma iniciativa tomada por uma das
partes. Assim que Demstenes apresenta a squines as modalidades de sua defesa: a defesa
justa e sincera a de provar ou que os fatos incriminados no ocorreram, ou que, tendo ocorrido, so
teis ao Estado. Receando que o acusado desvie a ateno da assemblia para pontos secundrios,
Demstenes prescreve-lhe, por assim dizer, a tcnica de sua defesa, cujo valor, por isso mesmo, se
compromete a reconhecer. Assim que o interlocutor que, numa controvrsia, repete, ponto por
ponto, as alegaes de seu predecessor prova sua lealdade no debate, ao aceitar a ordem do
discurso. Assegurar para si certos acordos ou certas rejeies , portanto, um dos objetivos que
determinam a ordem na argumentao. Com efeito, a construo de um discurso no unicamente o
desenvolvimento de premissas dadas no incio; tambm estabelecimento de premissas, explicitao
e estabilizao de acordos. Assim que cada discusso apresenta etapas, balizadas pelos acordos
que se devem estabelecer, resultantes s vezes da atitude das partes, e que s vezes so
institucionalizadas graas a hbitos assumidos ou a regras explcitas de procedimento. (PERELMAN,
1996, p. 124)
77
discurso informativo sobre como a deciso deve ocorrer, mas tambm um
discurso persuasivo sobre como se faz para que a deciso seja acreditada
pelos destinatrios. Visa despertar uma atitude de crena. Intenta motivar
condutas, embora no se confunda com a eficcia das prprias normas. Por
isso, a verdade decisria acaba reduzindo-se, muitas vezes, deciso
prevalecente, com base na motivao que lhe d suporte.
Assim, em virtude da pr-determinao, no sistema, dos signos e smbolos que
constituem a realidade dogmtica da deciso jurdica, os sujeitos passam a atuar de
acordo com as expectativas de comportamento dos demais.
Nota-se, neste contexto, a presena de uma ao estratgica por parte do julgador,
em virtude do carter persuasivo por ele empreendido no sentido de fazer acreditar
aos destinatrios da norma que a deciso por ele proferida atende aos critrios da
legalidade e justia. Esta deciso jurdica elevada prpria verdade (verso da
verdade)85 por meio da dogmtica da aplicao do direito e da teoria da
argumentao jurdica, utilizando-se, para isso, de diversas tcnicas argumentativas
(como a retrica), no intuito de se atingir o xito (aqui, o convencimento dos
destinatrios da norma).
Assim, a dogmtica da deciso acaba por construir um sistema conceitual que
conforma a deciso a um exerccio controlado do poder, domesticando as relaes
sociais, e, por via de consequncia, suprimindo o uso privado da violncia (malgrado
poder-se falar, segundo Ferraz Jnior (2008, p. 322-323), em uma violncia em
85
a dogmtica da deciso preocupa-se no propriamente com a verdade, mas com a
verossimilhana. No exclui a verdade de suas preocupaes, mas ressalta como fundamental a
verso da verdade. (...) Na deciso, pode-se dizer, a verdade factual est sempre submetida a
valorao. Valores so smbolos integradores e sintticos de preferncias sociais permanentes.
Ningum contra a justia, a utilidade, a bondade. Todavia, na argumentao, os valores s vezes
so usados como prisma, critrio posto como invariante que permite demarcar e selecionar o objeto.
(...) O uso dos valores admite as duas funes. Podemos, a saber, encarar a igualdade como valorprisma, que provoque avaliaes demarcadoras do sentido da distribuio de renda, do acesso
equitativo educao, mas podemos us-la como valor justificador -, que confirme as
desigualdades sociais (igualdade tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais). Para
controlar esse duplo uso que entra a ideologia, como uma avaliao dos prprios valores. A
ideologia torna rgida a valorao. Assim, igualdade pode ser um critrio de justia, a justia pode ter
sentido liberal, comunista, fascista etc. A ideologia, assim, organiza os valores, hierarquizando-os,
constituindo uma pauta de segundo grau que lhes confere um uso estabilizado. A ideologia , ento,
uma espcie de valorao ltima e total, que sistematiza os valores. Por ser ltima e total, uma
ideologia sempre impermevel a outra ideologia. Ideologias no dialogam, mas polemizam. A
possibilidade de um dilogo entre ideologias pressupe, portanto, a convenincia de uma
superideologia, dentro da qual as ideologias tornam-se valores. Por exemplo, a convenincia de
comunistas e capitalistas num organismo como a ONU pressupe a superideologia da universalidade
dos direitos fundamentais, dentro da qual as valoraes ideolgicas sobre a justia, a ordem, a sade
tornam-se possveis. (FERRAZ JNIOR, 2008, p. 321-322)
78
sentido simblico)86.
O carter comunicativo da deciso87 jurdica revela-se no processo de interao
entre os sujeitos envolvidos, o que implica, necessariamente, na existncia de atos
de comportamentos ordenados por regras e determinados pela estrutura formal da
norma88, em seu carter imperativo condicional. (FERRAZ JNIOR, 1980, p. 93-95).
Na verdade, esse carter comunicativo pressupe que a norma protege interesses
universalizveis (o que nem sempre factual) e que o simples cumprimento das
regras do devido processo legal garante o entendimento das pretenses de verdade
reivindicadas pela verso dos fatos consagrados na sentena, bem como pela
validade da hermenutica envolvida.
O carter estratgico da norma jurdica se verifica igualmente na relao entre o
legislador e o aplicador da norma:
como se o legislador, cnscio da generalidade dos termos que tem de
usar e da impossibilidade de particulariz-los ele prprio sob risco de uma
casustica sem fim, convocasse o aplicador para participar da configurao
do sentido adequado. So conceitos indeterminados, por exemplo,
expresses da linguagem comum como repouso noturno, rudo
excessivo, perigo iminente etc., mas tambm alguns estritamente jurdicos
como antijuridicidade, ato administrativo etc. Os conceitos normativos
tambm pedem do decididor uma co-participao na determinao do seu
sentido, porque so indeterminados como os anteriores e, alm disso,
86
Da a possibilidade de a fora (vis) libertar-se do direito. A violncia , assim, ambgua: constri e
destri a ordem. Tomada isoladamente, ela aparece neutra, pois tanto produz um como outro efeito.
Alm disso, como violncia gera violncia, sua elaborao da noo de abuso de violncia e de
violncia razovel. A teoria da deciso jurdica aponta, assim, para uma procedimentalizao do
poder decisrio, donde a idia do monoplio da fora pelo Estado, mas tambm da separao entre a
quaestio juris e a quaestio facti, isto , a separao entre as respectivas fontes de informao, o que
confere busca da deciso um equilbrio compensado: o direito no se determina nem s por normas
nem s por fatos, e ningum tem o monoplio de ambos. Destarte, a dogmtica da deciso, se no
elimina o papel da fora, enfraquece o papel da violncia concreta. Pode-se falar em uso legtimo da
fora, legtima defesa, distinguindo-se entre abuso de violncia e violncia razovel. A dogmtica
decisria constitui-se, em suma, num veculo para as ideologias da no-violncia. (FERRAZ
JNIOR, 2008, p. 323)
87
O ato decisrio visto aqui como um componente de uma situao de comunicao entendida
como um sistema interativo, pois decidir ato de comportamento que, como tal, sempre referido a
outrem, em diferentes nveis recorrentes. Deciso termo correlato de conflito, que entendido como
conjunto de alternativas que surgem da diversidade de interesses, da diversidade no enfoque dos
interesses, da diversidade das condies de avaliao etc., que no prevem, em princpio,
parmetros qualificados de soluo, exigindo, por isso mesmo, deciso. A deciso no ,
necessariamente, estabelecimento de uma repartio equitativa entre as alternativas de melhores
chances, pois isso pressupe a situao ideal de um sujeito que delibera apenas depois de ter todos
os dados relevantes, podendo enumerar e avaliar as alternativas de antemo. (FERRAZ JNIOR,
1980, p. 89-90)
88
A norma no necessariamente a lei ou sentena, mas toda e qualquer interveno comunicativa
de um terceiro elemento, numa relao didica, capaz de definir vinculativamente o cometimento
entre as partes. (FERRAZ JNIOR, 1980, p. 101)
79
constituem, de per si, valorao de comportamento cujos limites sero
especificados na deciso. Assim o so, por exemplo, o conceito de mulher
honesta, dignidade, honra etc. So normativos, portanto, conceitos que
encerram uma valorao genrica que exige, na deciso do conflito, uma
concretizao. (FERRAZ JNIOR, 1980, p. 96)
Percebe-se, nesse comentrio, que o carter estratgico da deciso pressupe, a
legitim-lo, o aspecto comunicativo que teria presidido edio da norma e as
pretenses de validade das regras de uso dos diversos termos (jurdicos ou no)
envolvidos na construo do fato. Esses aspectos comunicativos, necessariamente
pressupostos, podem no se verificar. Neste caso, a deciso, alm de estratgica,
seria arbitrria, o que no possvel privar-se a deciso do seu aspecto
estratgico.
Esta a razo pela qual o sistema jurdico visto no como um conjunto de normas
ou conjunto de instituies, mas como um fenmeno de partes em comunicao, no
qual os sujeitos, na qualidade de seres humanos, trocam mensagens, induzindo o
receptor a comportar-se de certa maneira89.
Vale enfatizar, mais uma vez, que o carter comunicacional ressaltado por Ferraz
Jnior de natureza estratgica, no de natureza comunicativa. Com efeito, o ato de
comunicar-se, na medida em que a mensagem produzida pelo emissor altera o
comportamento ou as idias do receptor, sempre e intrinsecamente estratgico, no
sentido de Habermas.
A teoria jurdica do controle de comportamento cuida no somente da organizao
jurdica do exerccio do poder, mas principalmente dos mecanismos polticos que lhe
conferem o carter de efetividade, no sentido da capacidade de suscitar a
obedincia por seus destinatrios, substituindo o conhecimento do direito como mera
exegese para conceb-lo como uma verdadeira tcnica de inveno. (FERRAZ
JNIOR, 1980, p. 101)
Sendo a norma jurdica, do ponto de vista do discurso90, uma ao lingstica
89
Por exemplo, quem diz: por este documento o sujeito A obriga-se a pagar a B a quantia X pela
prestao do servio Y, alm da informao sobre a obrigao de pagar e da contrapartida do
servio, diz tambm como as partes devem encarar-se mutuamente (elas se encaram como
subordinadas, correspondendo ao servio o pagamento, a prestao do servio, subordinando uma
outra). (FERRAZ JNIOR, 1980, p. 100)
90
Sendo o discurso uma expresso carregada da personalidade das partes, estas atuam e se
obrigam na medida da sua personalidade. Neste sentido, elas gozam da liberdade de trazer
discusso temas e informaes que julgam necessrios quela manifestao. Esta liberdade
80
racional (FERRAZ JNIOR, 1973, p. 73), permite s partes envolvidas midiatizarem
e confrontarem as suas pretenses de verdade91 na busca dos fins a que se
propem. Destarte, apresentam-se a, no contexto da discusso que compe o
devido processo legal, aspectos comunicativos e aspectos estratgicos. Os aspectos
comunicativos esto associados s pretenses de verdade reivindicadas, em boa-f,
pelas partes conflitantes e, at, pelo julgador. Os aspectos estratgicos so
caracterizados pela possvel manipulao da comunicao pelas partes interessadas
em benefcio de seus interesses especficos e pela reserva, ao julgador, do
importante ato e fala de comando.
O carter estratgico da dogmtica jurdica pode evidenciar, inclusive, a
exteriorizao de mecanismos de poder na salvaguarda de determinados fins por
parte de certos grupos, que, utilizando de mecanismos de manipulao da norma,
atuam na salvaguarda de seus prprios interesses.
Tal se revela no plano da aplicao do direito. Baseados na subjetividade dos
dispositivos de significao legais, erigem-se possibilidades interpretativas que
revelam um desvirtuamento das pautas do ordenamento jurdico para a salvaguarda
de determinadas ideologias ou interesses especficos.
O prprio processo de interpretao pode evidenciar mecanismos estratgicos por
parte dos aplicadores do Direito. Neste mister, adverte Larenz92 que a pr-
sugerida como um privilgio das partes, mas ela funciona tambm como um fator de engajamento. Se
ela pressupe que as partes, ao discutirem, tenham a inteno de convencer e, pois, de dizer e
buscar a verdade, ela pressupe tambm que as partes possam mentir. (FERRAZ JNIOR, 1973,
p. 66)
91
A primeira regra, consoante a noo de racionalidade exposta, que assegura ao ouvinte o seu
papel crtico, afirma que todo ato de falar pode ser posto em dvida. O exerccio limitado da crtica
exige, entretanto, que, a partir desta regra, se estabeleam entre orador e ouvinte dilogos parciais
com o intuito de se fixarem aes lingsticas primrias, sob forma de presuno, postulado, axioma,
pressuposto, etc. Isto posto, uma segunda regra afirma que uma ao lingstica primria do orador
(por exemplo, numa discusso jurdica, o ponto de partida de qualquer argumentao deve ser a lei)
no pode mais ser atacada pelo ouvinte, pois o orador pode defend-la. Em compensao, terceira
regra, o orador no mais poder modificar suas aes lingsticas primrias. Vamos denominar o
discurso fundamentante que tenha esta estrutura de discurso dialgico. A dialogicidade, como se v,
no pressupe o princpio do terceiro excludo que exigiria, no caso, que todo ato de falar fosse ou
atacvel ou inatacvel, o que feriria a primeira regra. (FERRAZ JNIOR, 2000, p. 20-21)
92
Para Karl Larenz, a interpretao compreende um ato de mediao atravs do qual o intrprete
compreende o sentido de um texto, tendo este se lhe deparado como problemtico. Nesta lgica, o
intrprete, de posse de diferentes significados possveis para um termo ou para uma sequncia de
palavras, indaga-se sobre o seu correto significado, interrogando o contexto textual e o seu prprio
conhecimento do objeto de que no texto se trata. Deve, assim, o intrprete, examinar a situao que
deu origem ao texto, bem como as circunstncias hermeneuticamente relevantes, a fim de chegar a
uma opo devidamente fundamentada entre diferentes possibilidades de interpretao, no sentido
da busca de uma interpretao correta. (LARENZ, 1997, p. 282-283)
81
compreenso no pode sobrepor-se vinculao lei e ao Direito, devendo haver
uma vinculao do juiz s pautas do ordenamento jurdico, sendo que este oferece,
para uma generalidade de casos, sempre uma resposta plausvel. Larenz (1997, p.
292) se coloca, ento, contra a arrogncia judicial de certos juzes, ao afirmar que:
o juiz que assim proceda considera-se a si prprio, graas sua prcompreenso, como mais perspicaz que a lei e que os resultados por ela
coenvolvidos mediante a interpretao jurisprudencial. O que no
compatvel com a, se tomada a srio, vinculao lei e ao Direito, que a
nossa organizao judiciria impe ao juiz, pois que esta exige que o juiz
oriente a sua soluo em primeiro lugar s pautas do ordenamento jurdico
e isto do mesmo modo, e precisamente tambm, quando valora.
O alerta de Larenz (1997, p. 494) se justifica na medida em que esta atitude pode vir
a engendrar processos estratgicos de manipulao da lei, indesejveis ao Direito.
Admite-se, nesta tica, que o juiz tenha uma opinio preliminar, mas ele deve, em
qualquer caso, estar disposto a que esta opinio preliminar seja confrontada com a
lei, a fim de auferir o sentido visado pelo legislador, evitando-se, destarte, que o seu
pensamento pessoal venha a sobrepor-se lei. A aspirao a uma justia do caso ,
assim, um fator legtimo no processo de deciso judicial, conquanto que no induza
o juiz a manipular a lei de acordo com as suas convices.
A advertncia de Larenz aponta para um percurso ideal, lembrando o dever de cada
magistrado no exerccio de seu ministrio de julgar, para tanto fazendo valer a
vontade do legislador no caso concreto. Entretanto, entende-se que esta concepo
deixa de lado o carter realstico da prtica do intrprete (aqui, o julgador).
Seria foroso ou mesmo ingnuo supor que o magistrado deixasse efetivamente de
lado, no exame de cada caso concreto, as suas concepes pessoais e valorativas
no ato de escolha do sentido da norma aplicvel. Como aqui se depreende, neste
ato de deciso a vontade da lei difere, por vezes, voluntria ou involuntariamente, da
vontade do julgador no caso concreto, realidade inevitvel em todo processo
interpretativo, porque indissocivel da pr-compreenso e do universo de influncias
internas e externas que atuam sobre o intrprete.
Na medida em que este desvio entra em cena, a interpretao passa a tomar uma
nova direo. Nesta anlise, interpreta-se no de acordo com a mensagem
direcionada pela norma, mas em consonncia deciso mais adequada ao juzo
valorativo do intrprete, ainda que contrria ao sentido e direo pela norma
82
sugeridos. Em outras palavras, a deciso jurdica, neste contexto, pode atuar como
instrumento estratgico legitimador da vontade e do interesse do prprio intrprete.
No plano de uma ao estratgica (ao voltada a fins), todo aplicador do Direito
dispe de poderosos instrumentos de manipulao, invocando o Direito a seu favor
para materializar e satisfazer os seus interesses.
Isto produz uma indissociabilidade entre Direito e moral93, Direito e ideologia94,
Direito e poder, j que, em sua construo, o intrprete dimensiona invariavelmente
a carga axiolgica que j lhe presente.
Este o fundamento de toda anlise moderna e crtica sobre o Direito.
Santos (1988, p. 7)95 menciona, neste contexto, a superao da dogmtica-jurdica
pela construo jurdico-retrica, pondo em cheque a validade da construo
jurdico-formal da realidade normativa. Nesta perspectiva, a anlise jurdica passa a
levar em conta a complexidade de influncias externas e de mecanismos de prcompreenso inerentes ao universo do julgador.
Ross (2003, p. 190) afirma que Os enunciados aparentemente tericos da lei foram,
na realidade, formulados com o propsito de servir como diretivas para influir na
conduta dos seres humanos: dos cidados e juzes igualmente. Reconhece, assim,
o carter teleolgico-estratgico da lei, qual seja, o de produzir uma modificao
psicolgico-comportamental nos seus destinatrios.
Nesta medida, a linguagem jurdica carrega, em sua prpria estrutura, elementos
que viabilizam um uso estratgico voltado a garantir a sua prpria legitimao. Esta
93
De esto se deduce que el derecho deve ser descrito en trminos puramente fcticos, es decir,
basndose en caractersticas observables. Para otras posiciones iuspositivistas esta conclusin se
impone aun sin tener en cuenta las argumentaciones anteriores, fundamentndose en la
conveniencia de mantener metdicamente separados el derecho y la moral y en la dificultad para
obtener un acuerdo axiolgico. En base a esto el positivismo jurdico prescribir al jurista que, si
desea descobrir cientificamente el derecho, deber dejar de lado toda estimacin valorativa del
sistema normativo. Su objeto deber acotarlo teniendo en cuenta exclusivamente critrios basados en
propriedades empricas. (NINO, 1974, p. 20)
94
A ideologia a marca, o estigma destas condies polticas ou econmicas de existncia sobre
um sujeito que, de direito, deveria estar aberto verdade. (FOUCAULT, 1996, p. 26-27)
95
A concepo tpico-retrica tem por objetivo uma crtica, que pretende ser radical, s concepes
jus-filosficas at ento dominantes, que procuraram por vrios modos converter a cincia jurdica
numa dogmtica ou axiomtica, da qual seria possvel deduzir solues concretas no quadro de um
sistema fechado de racionalidade tecno-jurdica. Um leque de concepes que, explicitando a lgica
implcita no movimento de codificao e, mais remotamente, no projeto constitucional do estado
liberal, levava ao extremo o princpio da legitimao assente na racionalidade jurdico-formal.
83
linguagem jurdica96 cumpre uma funo peculiar, na medida em que representa um
instrumento da retrica institucional que serve de suporte retrica causdica do
discurso jurdico. Nesta lgica, a linguagem tcnica acaba servindo como elemento
distanciador utilizado como expediente de recuo retrico sempre que, em um dado
momento do discurso, tal recuo seja um acelerador da implantao persuasiva da
normatividade e da deciso que dela decorre. (SANTOS, 1988, p. 34-35)
Esta passagem de Santos (1988, p. 40) revela um exerccio de manipulao
estratgica do poder no mbito judicial:
O controle da fala passa para o presidente e o seu discurso entrecortado
por silncios especficos e curtos e sobretudo de ndole processual. Uma
vez que decidir especificar e especificar intensificar simultaneamente o
conhecimento e a ignorncia, esta estrutura adequa-se particularmente
fase decisria do processo, j que ela permite terceira parte conhecer
mais da matria que quer conhecer e ignorar mais da matria que quer
ignorar, comunicando s partes a sua estratgia e convidando-as a reagir.
Nesta sub-estrutura a fala e o silncio so normativos, ainda que, na
aparncia, se relacionem factualmente com o conhecimento e a ignorncia.
Designam o que deve ser conhecido e o que deve ser ignorado. Acima de
tudo assinalam que, nesta fase, a terceira parte procura sublinhar
retoricamente o seu controle sobre o discurso jurdico. [...] A articulao
fala/silncio permite captar os diferentes ritmos temporais a que
submetido, em diferentes momentos, o processamento do litgio. Tais ritmos
so fundamentalmente os ritmos do discurso jurdico e neles se condensam
as mltiplas negociaes em que os participantes intervm ao longo do
desenrolar do processo. O tempo dos actos discursivos a chave da
inteligibilidade do discurso no seu todo, pois, como se sabe, o tempo o
irmo da retrica, tal como o espao irmo da lgica apodtica. Apesar
disto, a questo do tempo e do ritmo do discurso tem sido to negligenciada
como a questo do silncio.
No se sustenta, do ponto de vista realstico, a crena na imparcialidade do juiz,
nem numa suposta neutralidade axiolgica. Em outra medida, tampouco se concebe
como realstico o papel indeclinvel do advogado em busca da verdade e da
justia, sem importar em que solues jurdicas esta busca desembocar na
perspectiva do seu cliente.
A natureza da ao racional empreendida pelo advogado tem ntida feio
estratgica. Buscando influenciar o interlocutor, ao mesmo tempo em que busca
desqualificar as pretenses de verdade trazidas aos autos pela parte adversa,
96
o estudo do direito como linguagem, para chegar a bom termo, necessita da contribuio de
diversas cincias, quer sejam daquelas formadoras das expresses lingsticas (sintaxe, estilstica),
quer daquelas que montam o arcabouo das significaes (psicologia, sociologia, semiologia), quer
finalmente daquelas que aperfeioam as tcnicas de comunicao (retrica, teoria dos sistemas,
teoria dos papis, lugar da fala, etc.). (MENDES, 1996, p. 35)
84
reivindica as suas prprias de maneira seletiva, na busca do xito (aqui
compreendido como o sucesso da causa), e no, propriamente, o entendimento
(verdade)97, entre os sujeitos envolvidos (partes), como proposto na ao
comunicativa. Contrariamente a esta, na perspectiva da ao estratgica, o que
busca o advogado a satisfao dos interesses do seu cliente98.
A este propsito, entende Perelman que o papel do advogado o de utilizar, nos
limites da lei, todos os meios lcitos ao seu alcance no objetivo de fazer triunfar a
tese que aceitou defender frente a um tribunal ou um jri, adaptando a sua
argumentao diante de um auditrio, no intuito precpuo de conseguir seu intento
(ou seja, a vitria xito, e no o entendimento - verdade). (PERELMAN, 2004, p.
216-217). Assim, as partes invocam as regras e os procedimentos que lhes so
favorveis, ao mesmo tempo em que procuram desacreditar os procedimentos da
outra parte. (PERELMAN, 2004, p. 218-219)
A ao do advogado no est voltada para verdade (tomada em seu sentido usual),
mas somente enquanto esta atender e respaldar os interesses de seu cliente.
Existiria, a propsito, algum advogado pleiteando, no patrocnio da causa de seu
cliente, a defesa de soluo a ele mais grave ou penosa, considerando-se que esta
se coadune a suas pessoais convices de justia para o caso concreto? Se ele
assim procedesse, estaria violando a tica profissional, no que se refere a suas
obrigaes para com a parte que patrocina.
O carter estratgico da ao do advogado est voltado para a busca da soluo
mais favorvel para o seu constituinte. Por isso, para os que assumem o patrocnio
da causa, deixam-se de lado, muitas vezes, juzes de valor e convices prprias
para a defesa dos interesses mencionados.
97
Utiliza-se aqui verdade no no sentido usual da palavra, mas, de acordo com a viso habermasiana
de ao, no de acordo racionalmente motivado entre os sujeitos.
98
Uma razo intrnseca que este ideal de virtude e retido, ou pelo menos a imagem do advogado
virtuoso e reto, corresponde apenas superficialmente a boa parte do trabalho desempenhado pelos
advogados. Uma parte central do trabalho do advogado representar as pessoas e defender causas
que escapam corrente central da moralidade, sendo frequentemente vistas como grosseiramente
imorais. Essa parte do trabalho do advogado fundamental para o seu papel na sociedade. E a partir
da era dos direitos civis, em que os advogados no s lutaram por causas justas e impopulares, mas
tambm protegeram os direitos dos indivduos e grupos acusados de cometerem delitos
injustificveis, como o Partido Nazista Americano e a Ku Klux Klan, esse aspecto do trabalho do
advogado tem sido relativamente esperado. Portanto, o fato de um advogado defender um caso
impopular geralmente no compreendido como um ato de coragem moral ou um exerccio de
virtude moral. Em outros casos em que o advogado funciona como barreira moral para os objetivos
imorais de seu cliente, isso feito geralmente na privacidade da relao entre advogado e cliente,
sendo, portanto, desconhecido do pblico. (BENNETT, 2005, p. 74)
85
A atribuio aos juzes de uma ao estratgica (a sentena) orientada
exclusivamente por interesses universalizveis protegidos pela norma e, por outro
lado, de aes estratgicas desvinculadas de interesses universalizveis por parte
dos advogados constituir-se-ia, no obstante, grave engano. Ambas as aes,
frequentemente midiatizadas no campo jurdico, podem ser levadas a efeito por
qualquer sujeito, a depender do fundo condutor da motivao (entendimento, nas
aes comunicativas; ou xito, nas aes estratgicas)99.
No se poderia negar a veiculao de aes estratgicas por parte do juiz. Com
efeito, conforme elucida Perelman (2004, p. 223): a motivao da sentena jamais
pode limitar-se explicitao dos intuitos, por mais generosos que sejam: sua
funo tornar a deciso aceitvel por juristas e, principalmente, pelas instncias
superiores que teriam de conhec-la. Assim, por ser passvel de contestao100
pelas partes e reviso pelos Tribunais superiores, o raciocnio do juiz dever seguir
critrios racionais, de forma a adequar-se s regras e aos princpios vigentes no
sistema.
Assim, a ao estratgica do juiz busca, adicionalmente, um xito constitudo na
valorizao de suas decises, convencendo as partes e os tribunais superiores de
que esta no apenas se adequou aos critrios formais e materiais de justia, mas
que representa a mais adequada soluo possvel dentre as existentes, de forma a
legitimar-se frente aos seus destinatrios, com inequvoca consequncia para seu
prestgio profissional e social.
O carter estratgico da deciso jurdica existente, por si s, pela peculiar funo
do magistrado no processo - compreende em seu contexto mecanismos de
manipulao da linguagem jurdica. A compreenso de ditos mecanismos envolve a
superao de velhas concepes irrealsticas correspondentes ao universo de
compreenso e ao do intrprete. No se fala aqui em anlises semnticas e
lingusticas, em verificaes meramente literais dos signos lingusticos, baseados na
busca do sentido que a norma quer revelar. Rejeita-se a ideia do intrprete como um
sujeito passivo, imvel, objeto de uma perfeita e acabada transmisso de
99
Mais do que isso: todos ns podemos, em um plano geral, atuar comunicativamente ou
estrategicamente, a depender da natureza da racionalidade a que nos propomos verdade ou xito.
100
A possibilidade de contestao das decises judiciais, pelas partes, ainda maior se
visualizarmos, segundo Perelman, a natureza de algumas decises, em que se requer um juzo
valorativo por parte do juiz (relativo, por exemplo, noo de bons costumes). (PERELMAN, 2004, p.
227-229)
86
conhecimentos (verdades) provenientes do texto.
Este o pensamento de Landim e Almeida (1980, p. 10), para quem o discurso
deriva sua fora expressiva no das unidades lingsticas em que ele pode ser
decomposto (tais como a palavra, a sentena), mas da pessoa que discorre no
discurso, mais precisamente, do modo como ela o entende.
A prpria lgica jurdica depende do modo como os legisladores e juzes concebem
o direito e o seu funcionamento na sociedade, sendo as suas decises susceptveis
de contestao e carecendo, portanto, de aceitao e legitimidade por seus
destinatrios, isso porque, para funcionar eficazmente em um estado democrtico de
direito, uma norma precisa ser aceita, e no simplesmente imposta coativamente.
(PERELMAN, 2004, p. 241-243)
O Direito encontra fundamento na realidade da convivncia social, razo pela qual
Reale (1998, p. 312-315) distingue a vigncia (validade tcnico-jurdica) da eficcia
(validade social) de uma norma. esta ordem de idias que autoriza o autor a
conceber a perfeio de uma regra de Direito positivo: quando, promulgada por uma
autoridade legtima tendo em vista o bem comum, encontra, em virtude de seu valor
tico e de sua racionalidade, adeso ou o assentimento dos membros de uma
convivncia, de forma a harmonizar a validade tica, a validade sociolgica e a
validade formal ou tcnico-jurdica.
As normas jurdicas gozam, desde o seu nascimento, de potencial legitimidade, no
obstante podendo perder eficcia em virtude das transformaes de carter
valorativo na sociedade. No contexto da aplicao das normas, utilizam-se tcnicas
argumentativas cujo objetivo (estratgico) o de conferir justificao e aceitao por
parte dos sujeitos destinatrios, convencendo-os101 da adequao e justia da
deciso no caso concreto, evidenciando-se, pois, o manifesto uso de aes
estratgicas.
101
Para Perelman, cumpre no obstante reconhecer que nossa linguagem utiliza duas noes
convencer e persuadir entre as quais considera-se geralmente exista um matiz apreensvel.
Propomo-nos chamar persuasiva a uma argumentao que pretende valer s para um auditrio
particular e chamar convincente quela que deveria obter a adeso de todo ser racional. O matiz
bastante delicado e depende, essencialmente, da idia que o orador faz da encarnao da razo.
Cada homem cr num conjunto de fatos, de verdades, que todo homem normal deve, segundo ele,
aceitar, porque so vlidos para todo ser racional. Mas ser realmente assim? Essa pretenso a uma
validade absoluta para qualquer auditrio composto de seres racionais no ser exorbitante? Mesmo
o autor mais consciencioso tem, nesse ponto, de submeter-se prova dos fatos, ao juzo de seus
leitores. Em todo caso, ele ter feito o que depende dele para convencer, se acredita dirigir-se
validamente a semelhante auditrio. (PERELMAN, 1996, p. 31)
87
Ademais da influncia valorativa (sempre presente ao intrprete), h de se analisar,
no mbito da deciso jurdica, as influncias externas manifestadas pelo poder sobre
o discurso jurdico.
O poder , inegavelmente, varivel definidora da verdade nos discursos. neste
contexto que se fala em Semitica (ou Semiologia) do Poder102. Este termo
caracterizado por Warat (1995, p. 15) a partir da anlise do poder nos discursos
como fato co-determinante das condies materiais da vida social. Nesta anlise,
procura-se desmistificar as distintas prticas discursivas do Direito, destruindo vrios
de seus mitos organizadores.
Segundo Warat (1995, p. 110):
o poder o produto das foras em jogo na sociedade, consolidando suas
condies reprodutivas atravs de dispositivos de significao, que
organizam a sociedade e suas instituies e asseguram a presena do
poder quando a fora falta (gripo acrescentado).
Para Wolkmer (2006, p. 125), a Semiologia do Poder prope uma articulao das
diversas formas discursivas do Direito com a perspectiva desmistificadora da filosofia
da linguagem, substituindo-se a validade do paradigma dogmtico pela anlise das
funes ideolgicas do poder institudo sobre os discursos jurdicos. Esta posio
aponta para a intromisso da ao estratgica, no plano da realidade, no prprio
cerne do que deveria ser reservado ao comunicativa, no plano da teoria.
O estudo dos complexos e intrincados mecanismos de poder encontra forte
referncia em Foucault (1979). Este observa a existncia de mltiplas relaes de
poder que constituem e caracterizam o corpo social, relaes essas que no podem
se dissociar nem se estabelecer sem uma produo, acumulao, circulao e
102
Sobre a Semitica no Direito, leciona Brito: A Semitica uma das cincias da linguagem que
explica, sobretudo, a relao que os signos produzem como instrumento da comunicao humana.
Ela ancilar da Cincia do Direito, porque, j foi dito supra, o Direito um produto cultural; assim, ele
se manifesta como linguagem em todos os aspectos. Logo, impem-se: 1) lembrar que toda
afirmao um signo ou um conjunto de signos, a qual se transforma em mensagem, cujo objetivo
fazer com que o seu emissor comunique-se, satisfatoriamente, com o receptor dessa mensagem; 2)
identificar as funes semiticas que as expresses de toda linguagem possuem. So elas: a
semntica (relao do signo com o objeto que designa), a sinttica (relao dos signos entre si) e a
pragmtica (relao do signo com o sujeito que o utiliza). Estas propriedades semiticas completamse, entre si, porque um mesmo signo (ex. mandato), mesmo na linguagem tcnica (aquela linguagem
que restringe o contedo semntico dos signos s designaes exclusivas de objetos do seu campo
do conhecimento), pode ter contedo semntico designativo de mais de um objeto e, ento, gerar
ambigidades. (BRITO, 1996, p.122)
88
funcionamento do discurso.103
Para Foucault (1979, p. 27), s pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento,
certas ordens de verdade, certos domnios de saber a partir de condies polticas
que so o solo em que se forma o sujeito, os domnios de saber e as relaes com a
verdade.
A manipulao do discurso jurdico encontra seu nascedouro nas presses dos
grupos de poder institudos em uma sociedade, e que atuam na salvaguarda de
seus interesses, em geral de ordem econmica104. Assim, delimitam os dispositivos
de significao presentes na legislao, fazendo legitimar e preservar os valores e
interesses por eles visados.
Para garantir a observncia de seu cumprimento, o poder dispe de diversos
mecanismos 105 que visam, estrategicamente, incutir
na
mente coletiva a
aceitabilidade e a legitimao dos valores contidos na norma.
No plano legislativo, Coelho (1992, p. 103-104) cita como um dos instrumentos
utilizados pelo poder a chamada tecnologia jurdica. Segundo ele, os tecnlogos
do Direito (responsveis pela formulao e construo da norma) so recrutados
pelo poder para a incluso, nos dispositivos legais, de determinados valores e
interesses, fazendo uso, quando assim o desejam, de uma flexibilizao da
legalidade, a fim de conferir terreno frtil para a manipulao da linguagem jurdica,
103
Ewald assim explica a teoria sobre o poder em Foucault: A hiptese geral do seu trabalho seria a
de que as relaes, as estratgias e as tecnologias de poder que nos constituem, nos atravessam e
nos fazem, so acompanhadas, permitem e produzem formaes de saber e de verdade que lhe so
necessrias para se consolidarem como evidentes, naturais e se tornarem, dessa maneira, invisveis.
Inversamente, a anlise do saber, das formaes discursivas e dos seus enunciados deve ser feita
em funo das estratgias de poder que, numa dada sociedade, investem os corpos e as vontades.
(EWALD, 2000, p. 11)
104
Regra, norma, interesse social superior que visa coletividade, princpio que procura igualar os
desiguais ou princpio que procura alcanar os limites do justo ou do eqitativo, e tudo o mais que se
possa dirigir no sentido de propiciar a paz social ou a ordem coletiva; traduzem a ao ou os objetivos
com que os homens procuram explicar a conjuntura do momento histrico na sociedade em que
vivem. Mas todas essas formas, por mais perfeitas e arquitetadas que sejam, jamais mostram o
Direito na crueza autntica que ele traduz, ou seja, a projeo completa e nica de sua realidade o
processo que impe a fora do poder econmico da classe que, pela sua dominao, determina o
que , socialmente, verdadeiro e bom. Se todos os demais processos de explicao revelam a
superioridade mental do homem que pensa estruturar a verdade, isso o mundo das categorias
econmicas ensinadas como categorias jurdicas. a inverso da verdade que um dia a humanidade
colocar no seu verdadeiro sentido e lugar. (NOGUEIRA, 1999, p. 200)
105
Apoiado neste forte e diversificado dispositivo de coero, o direito do estado capitalista procede
consolidao (contraditria) das relaes de classe na sociedade, gerindo os conflitos sociais de
modo a mant-los dentro de nveis tensionais tolerveis do ponto de vista da dominao poltica de
classe que ele contraditorialmente reproduz. (SANTOS, 1988, p. 55).
89
justamente por possibilitar a alterao dos fins visados pela norma, quando esta no
mais respaldar e refletir estes mesmos interesses. Exemplo disto falar-se de aborto
ou de antecipao teraputica do parto ou, ainda, de pr-embrio, conforme se
deseje combater ou defender a interrupo da vida em certas circunstncias.
No processo interpretativo entram em cena influncias internas e externas
realidade do intrprete. As primeiras correspondem aos valores prprios que j lhe
so presentes ao esprito. Quanto s influncias externas, predominam interesses
de
ordem
diversa
manifestados
por
grupos
de
poder,
que
procuram,
estrategicamente, obter decises jurdicas que lhes sejam favorveis.
A manipulao do discurso jurdico opera os seus efeitos na construo e na
elaborao dos valores contidos nas normas jurdicas, fazendo valer o conjunto de
interesses dos segmentos de poder institudos na sociedade.
Superam-se as concepes dogmtico-lingusticas, que nada revelam sobre a
manipulao na construo dos dispositivos de significao legais, e passa-se ao
estudo de uma concepo mais realstica do Direito, abrangendo, neste fim, os
diversos mecanismos utilizados pelo poder para a garantia de seus interesses.
Coexistem em uma sociedade relaes mltiplas de poder que, estruturadas na
salvaguarda de interesses, acabam por incutir, nas normas jurdicas, os valores por
ele visados, revelando-se a ideologia e o direito realidades inseparveis no processo
de construo e interpretao das normas jurdicas. Fazendo incutir, nas normas
jurdicas, os valores visados pelo poder institudo, o direito revela, em sua estrutura,
preenchimentos estratgicos que atuam de forma a assegurar, frente aos
destinatrios da norma, a observncia dos interesses visados pelos grupos de
poder, garantindo a preservao do status quo juridicamente institudo.
Resta evidenciado que a dogmtica jurdica compreende em seu espectro
mecanismos estratgicos no plano da realidade comunicacional entre os sujeitos.
Ocorre que, paralelamente a esta realidade, coexiste uma outra realidade
comunicacional: a realidade comunicativa. Esta envolve, no plano da interao entre
os sujeitos, o sentido comunicativo de norma jurdica socialmente compartilhado
pelos sujeitos. Dito carter comunicativo da norma jurdica pode coadunar-se ou no
ao sentido estratgico manifestado pelo sujeito, de tal sorte a recepcionar ou rejeitar
a pretenso de verdade presente norma jurdica.
90
Com vistas a garantir a sua legitimidade frente aos sujeitos sociais, as normas
jurdicas intentam obter guarida no acordo comunicativo presente no consenso
racional entre os sujeitos. Em outras palavras, o sentido estratgico presente
norma jurdica s obter legitimao frente aos sujeitos sociais se encontrar guarida
no acordo racionalmente obtido no plano comunicativo.
Infere-se, neste contexto, que a ao empreendida pelo sujeito estratgico precisa
compatibilizar-se com a ao comunicativa, como condio para a legitimao da
norma frente aos sujeitos sociais. Quando os fins teleolgico-estratgicos presentes
na norma se adequarem aos argumentos substanciais presentes no consenso
racional entre os sujeitos, a norma jurdica revelar-se- como justa diante dos seus
destinatrios. Do contrrio, quando os fins teleolgico-estratgicos da norma jurdica
no encontrarem guarida no consenso racionalmente obtido pelos sujeitos, a norma
revelar-se- como injusta, repercutindo o sentido comunicacional de descrdito por
parte dos seus destinatrios sociais.
Em outras palavras, a norma jurdica, enquanto pretenso de verdade manifestada
no plano do discurso racional, procura a sua justificao no acordo que orientar as
aes individuais dos participantes. Assim, na medida em que a norma jurdica no
mais corresponder tese do melhor argumento racional presente ao discurso,
perder a sua legitimidade, engendrando a sua alterao de forma a restaurar o
conjunto de expectativas sociais dos participantes do discurso.
Pode-se ento concluir que em toda deciso judicial h sempre um mandamento
estratgico. Ocorre que este mandamento estratgico necessita coadunar-se com o
mandamento comunicativo. Quando isto ocorre, passa a repousar frente norma
jurdica um sentido de justia, repercutindo no sentido comunicacional de sua
obedincia pelos sujeitos sociais. Do contrrio, quando o mandamento estratgico
no encontrar guarida no mandamento comunicativo, o que se evidenciar ser a
perda de legitimidade da norma jurdica frente aos seus destinatrios sociais,
induzindo, por parte do sujeito estratgico, que seu cumprimento se d por
mecanismos coercitivos, de tal sorte a induzir, pela coero, a sua observncia pelos
sujeitos sociais.
91
3 A PENA NA TRADIO JURDICA
O estudo histrico das penas revela que a sua racionalidade legitimadora construiuse sobre bases instrumentais, repousando na autoridade do sujeito que a
proclamava, a exemplo do lder religioso, chefe da tribo, tribunal eclesistico ou
monarca. A sua aceitao social procedeu, nesta medida, em eventual
reconhecimento a dita autoridade.
Na tradio jurdica, a sano penal confere cogncia s normas desde tempos
imemoriais.
Tome-se o exemplo histrico do Cdigo de Hamurabi. Este magistral texto da
Antiguidade, constitudo, segundo Fuhrer (2005, p. 29), por 282 artigos e gravado
em uma coluna de diorito negro em caracteres cuneiformes, era exposto no templo a
fim de que todos pudessem consult-lo.
Mais do que um conjunto de disposies (sobretudo de ordem penal) que regulavam
a vida dos indivduos, o Cdigo de Hamurabi106 cumpria inmeras funes
comunicacionais, representadas, sobretudo, pela conscincia, provocada nos
destinatrios de suas normas, de que as respostas do Estado punitivo passariam
agora a ser atribudas com base em critrios explicitados, no mais sobre a
arbitrariedade das manifestaes de vingana, a juzo exclusivo dos que se sentisem
prejudicados.
Representava, em ltima instncia, a grandiosidade da sabedoria dos deuses 107
frente aos destinatrios sociais das normas, pela mediao do rei, revelada na
imposio incontestvel das medidas que assim se consideravam em decorrncia do
carter sagrado de seus mandamentos.
No Antigo Egito, ao lado de inscries hieroglficas, encontram-se diversas
representaes do castigo imposto aos escravos, cuja explorao era considerada
vital no reino dos faras (GRIMBERG, 1989, p. 29). Elas revelam um uso estratgico
da pena na transmisso comunicacional de mensagens sociedade escravagista
106
Sobre o Cdigo de Hamurabi, ensina Fuhrer que este trata preponderantemente de Direito
Criminal, embora regule muitas questes civis, como o dote, a propriedade, a prestao de servios e
a locao de coisas, animais e escravos. (FUHRER, 2005, p. 29)
107
Como indica o Prembulo, o rei Hamurabi foi chamado pelos deuses para plantar justia na
Terra, destruir os maus e o mal, prevenir a opresso do fraco pelo forte e iluminar o mundo,
proporcionando o bem-estar do povo. (FUHRER, 2005, p. 29)
92
egpcia, como demonstra a gravura:
Fonte: GRIMBERG, Carl. Histria Universal, vol 1, p.29.
Outro exemplo de utilizao da pena para o cumprimento de fins estratgicos
encontra-se na Inglaterra, com o enforcamento dos piratas em praa pblica. A
preocupao em se punir a pirataria era tamanha que j em 1360 criado o Alto
Tribunal do Almirantado, para julgar e punir os crimes relacionados a esta prtica,
sendo acorrentados e enforcados ao longo do Rio Tmisa famosos piratas, como
John Oxenham, William Kidd, Charles Vane, John Rackham, Edward Law, Edward
Teach (o famoso Barba Negra) e Bartholomew Roberts (o ltimo dos piratas), a fim
de servir como exemplo intimidatrio a todos os indivduos. (MORETTI, 2010, p. 15)
Todos estamos sujeitos s normas institudas pelo grupo social, que representam,
para ns, supostamente, um complexo de verdades comunicativamente partilhadas.
Atravs das normas, passamos a atuar de acordo com as expectativas geradas por
nossos semelhantes. Sejam estas normas de cunho social, religioso ou jurdico, o
fato que no se poderia conceber a vida em sociedade sem a existncia delas.
No que se refere s leis (espcies de normas dotadas de cogncia e sano),
representam estas, para Montesquieu (1995, p. 87)108, as relaes necessrias
derivadas da prpria natureza das coisas. Nesta ordem, todos os seres vivos, as
divindades, o mundo material e o homem tm as suas prprias leis. neste contexto
que se tem indagado, desde que o Direito se viu como um saber sistematizado
acerca da legitimidade da pena. Sendo perceptvel que, ao contrrio do que
pensaram os gregos antigos, a mera existncia da lei legitima a sua aplicao, foi
108
No original: Les lois, dans la signification la plus tendue, sont les rapports necessaires qui
drivent de la nature des choses; et, dans ce sens, tout les tres ont leurs lois, la divinit a ses lois, le
monde matriel a ses lois, les intelligences suprieures lhomme ont leurs lois, les btes ont leurs
lois, lhomme a ses lois.
93
preciso recorrer-se a uma fonte externa de legitimao para a prpria norma que
inclusse a sano como instrumento de sua cogncia.
Destarte, existe uma longa tradio de justificao da pena que, a bem dizer,
estrutura o prprio cerne do Direito Penal. Este captulo destina-se a apresentar esta
tradio.
3.1 A PENA COMO SANO TICO-MORAL-RELIGIOSA
A compreenso de que a justificativa da pena pode encontrar-se em um contexto
comunicativo que leve promoo dos interesses universalizveis e pode, tambm,
fazer parte do projeto estratgico de imposio de uma ordem presidida por
interesses
especficos,
no
necessariamente
universalizveis,
fenmeno
contemporneo. No passado, a busca de uma justificativa racional da pena situavase na explicitao da razo instrumental, de molde tipicamente estratgico
(determinao de meios adequados ao fim).
Exemplo dessa racionalidade encontra-se na idia de sano religiosa aplicada
como reprimenda ao pecado cometido, repercutindo quando da violao a preceitos
e mandamentos considerados sagrados por um grupo social.
A pena como sano religiosa est presente em todo o contexto das inmeras
compilaes de mandamentos sagrados, a exemplo da bblia, do alcoro, tor,
dentre outros. Consoante observa Sampaio (1942, p. 9-10), a prpria tradio
religiosa de diversos povos comea com a imposio de uma pena, aplicada como
punio pela desobedincia autoridade do criador109.
O Direito Penal, como direito de punio, espelhava uma realidade sempre presente
ao homem no plano de sua existncia: a recompensa ou o castigo diante dos seus
feitos em vida. De fato, em todo contexto social existem aes acolhidas e
estimuladas pelo grupo, enquanto outras, por sua natureza, so merecedoras de
109
Para a Bblia mesma, a imposio daquelas sentenas: parirs com dres, ganhars o po com
o suor do teu rosto, ditadas respectivamente mulher e ao homem, pelo Deus do Gnesis, transforma toda a Terra num reformatrio penal, com trabalho obrigatrio, e a vida do homem, na de
um presidirio, com pena indeterminada, que expia a sua culpa original. Na concepo catlica, os
crimes individuais, aqueles cometidos pelo indivduo depois de atingida a idade da razo (os
penalistas diriam a capacidade penal) seriam objeto de novo julgamento, o juizo final, colocado
entre ste mundo e o mundo sobrenatural. O prprio destino post-mortem, pois, como o nosso
destino terreno, resultaria de uma sentena penal, que nos absolveria ou nos condenaria quer pena
temporria do purgatrio, quer pena perptua, ou, melhor, eterna, do inferno. (SAMPAIO, 1942, p.
9-10)
94
reprimenda e sano. Nesse contexto, todo agrupamento social, por mais rudimentar
ou mais aperfeioado e evoludo que seja, reage com um corpo de sanes
atribudas como resposta violao dos valores que lhe so mais caros. Ditas
premissas (morais, religiosas ou de qualquer natureza) so variveis de uma
sociedade para outra, mas espelham, ainda que em diferentes graus, a mesma
realidade: adequar os indivduos aos valores aceitos pelo grupo social.
As sanes religiosas, cuja legitimao repousava no dever de obedincia coletiva
aos preceitos sagrados revelados a um grupo, na pessoa de seu chefe ou lder
religioso, eram aplicadas como forma de expiao do pecado, de tal sorte a
regenerar e extirpar o mal110, tornando a alma mais prpria para Deus. A finalidade
deste procedimento era a purificao geral do grupo, evitando que sobre ele
recasse a clera dos deuses que a todos afetaria.
Trata-se, portanto, de um procedimento estratgico de elevada importncia social,
lastreada em uma convico acerca da realidade de bases mticas. O apego do
homem religio representa uma dos traos marcantes de seu registro histrico
sobre a Terra. Para Turner (1987, p. 3), em todos os povos da raa humana o
homem um ser religioso, fato que se revela mesmo nas sociedades tribais111.
A religio passou a enraizar-se na cultura dos povos, na medida em que os
fenmenos da vida podiam ser explicados de forma a lhes fazerem sentido. Os
valores sagrados trazidos pelas religies e seguidos pelos povos no plano da
convivncia coletiva contribuam para a pacificao e o equilbrio social, de tal sorte
que a eventual ofensa a princpios sagrados exigia um castigo ainda maior que
110
Para Nietzsche, no campo da convivncia humana, os valores opostos bom e mau travam, h
sculos, uma milenar batalha espiritual: Les deux valeurs opposes bon et mauvais, bon et
mchant se sont livr dans le monde un combat effrayant des millnaires durant; et bien que depuis
longtemps la deuxime valeur ait eu le dessus sur la premire, il ne manque cependant pas dendroits
aujourdhui o se poursuit une lutte dont lissue est incertaine. On apourrait mme dire que depuis tout
ce temps elle na cess de slever, et par l de sapprofondir et de se spiritualiser: de sorte quil
nexiste peut-tre pas aujourdhui de signe plus dcisif dune nature suprieure, dune nature
hautement spirituelle que le fait dtre ainsi dchir, dtre un rel champ de bataille pour ces
opposs. (NIETZSCHE, 1971, p. 52-53).
111
Dizer que a religio uma criao de sacerdotes mal intencionados, no oferece qualquer
explicao a tal fenmeno. As evidncias contrariam tal afirmao, mas, ainda que fosse verdadeira,
to somente comprovaria que os homens precisam e buscam ter religio, pois sua aceitao
universal apoiaria o fato. O olho implica na existncia da luz; o ouvido, do som; a fome, dos alimentos;
as afeies naturais, dos objetos das mesmas; e o desejo de adquirir conhecimentos implica na
existncia de um universo em que tal anelo pode ser satisfeito. Segundo o mesmo princpio, temos o
apoio da razo quando esperamos que a capacidade religiosa do homem encontre uma religio que
se enquadre com essa capacidade e a satisfaa. E essa capacidade s pode ser satisfeita com uma
religio revelada, e nunca com uma religio humana.
95
qualquer outra sano estabelecida pela sociedade, pois afastava o homem do seu
prprio deus, aprisionando no apenas o seu corpo, mas a sua prpria alma, para
nada dizer dos efeitos nocivos da clera divina sobre o grupo social.
Os valores religiosos se aderem ao esprito humano na medida em que o homem
reconhece inevitavelmente112 e imperiosamente113 a sua prpria incapacidade114 de
lidar com o desconhecido, repousando as sanes religiosas no mbito da correo
da prpria alma, plano aceito legitimamente pelos fiis como o caminho inexorvel
prpria existncia. De fato, no se pode olvidar o carter espiritual115 do homem,
sendo as manifestaes de sua religiosidade compartilhadas com seus semelhantes
e com o prprio Deus. A busca do homem por Deus aperfeioa a sua f, apazigua as
suas angstias e d sentido sua existncia116.
112
To universal era e ainda hoje a crena na existncia de Deus que muitos telogos tm
concludo deste fato que a idia de Deus inata, isto , que existe naturalmente na inteligncia do ser
humano uma idia de Deus, no por causa de qualquer instruo de outro ente humano, mas porque
o prprio Deus que criou o ser humano depositou dentro dele a idia de Sua existncia. Por isso, se
um recm-nascido for colocado em um lugar onde nunca poder receber qualquer instruo de outro
ser humano, crescer com a idia, embora imperfeita, da existncia de Deus. (JOINER, 2004, p. 2425)
113
O atesmo uma enfermidade que afeta a sociedade e o homem, pois destri o nico fundamento
da moral e da justia um soberano moral, um Deus pessoal que coloca sobre o homem a
responsabilidade de guardar suas leis. Se no h Deus, ento no pode haver lei divina nem moral e
todas as leis passaro a ser feitas e imperfeitas pelo homem, que procura arrancar de seu
corao o anelo pelas coisas do esprito, sua fome e sede de justia e do eterno. (MARINO JNIOR,
2005, p. 139-140)
114
A crescente interiorizao do homem, que busca e se curva na direo da luz de Deus,
dificilmente poder ser transplantada na superficialidade da mera reflexo. Arrancada do seu
ambiente na vida humana, ela murcharia como uma rosa comprimida entre as pginas de um livro.
Na verdade, a religio pouco mias do que um remanescente dissecado da realidade vvida, quando
reduzida a termos e definies, a cdigos e ceticismos. Ela s poder ser estudada no seu ambiente
natural de f e de piedade, na alma, onde o divino est ao alcance de todos os pensamentos.
Somente podero compreender a religio os que a entenderem na sua profundidade, aqueles que
puderem combinar a intuio e o amor com o rigor do mtodo, os que foram capazes de encontrar
categorias que amalgamem com metais puros e consigam forjar o impondervel, numa manifestao
incomparvel, singular. No basta descrever o contedo natural da conscincia religiosa. Temos de
pressionar a conscincia religiosa com indagaes, obrigando o homem a entender e a
desembaralhar o significado do que est acontecendo em sua vida enquanto est inserida no
horizonte divino. (HESCHEL, 2006, p. 25)
115
A prtica espiritual e religiosa se constitui tambm num lugar privilegiado de encontro com o
Infinito. As religies se dirigem diretamente a Ele. Reconhecem seu carter inefvel, pois transcende
cada palavra e ultrapassa toda representao. A orao uma forma como o ser humano se dirige ao
Ser infinito: suplica e agradece, se lamuria por causa das contradies da realidade e tambm
encontra consolo nas tribulaes. (BOFF, 2008, p. 180)
116
ainda o Deus gestor, que permanece vivo no psiquismo das criaturas humanas, pela prpria
incapacidade do homem em autogerir-se e em conduzir o seu destino, querendo, dessa forma, deixar
nas mos Dele a conduo do seu processo existencial, dizendo, inclusive, que Ele sabe o que
melhor para cada um dos seus filhos (o que em momento algum se coloca em dvida), e, por isso
mesmo, teimam em no assumir o que realmente deveram, que a conduo das suas vidas.
Adotando essa postura existencial, os seres humanos colocam Deus sua disposio, como se o
96
O advento do teocentrismo117, tpico da Idade Mdia, engendrou a prpria viso do
crime como uma ofensa a Deus, em razo do qual o criminoso deveria ser punido,
de forma a expurgar os seus pecados e corrigir a sua alma. Neste contexto que
surge, a propsito, a pena de priso celular, inveno do Direito Cannico,
mecanismo que a humanidade, em pleno sculo XXI, ainda no foi capaz de abolir
ou superar.
A prpria tortura maior - a morte na fogueira, reservada aos hereges - abrigava a
esperana de que o diabo, em possesso daquela alma decada, incomodado pelo
fogo, abrisse mo, momentaneamente, de sua presa, que, desse modo, em um
ltimo momento, poderia apelar para a misericrdia de Deus e salvar a sua alma.
A religio desempenha, inegavelmente, um papel de controle social118, na medida
em que freia eventuais impulsos criminosos na certeza de que estes repercutem em
uma sano muito mais grave do que a perda da liberdade, vale dizer, na
possibilidade de perda da prpria alma, sano esta que, ao contrrio da pena
aplicada em vida, sobrevive morte.
Como se afirmou, malgrado o reconhecimento da religio como mecanismo de
controle social, na medida em que a observncia, por seus fiis, dos preceitos nela
contidos permite o desvio do crime, no se pode olvidar que a religio tem servido
homem no necessitasse fazer a sua parte e Ele tivesse de tudo prover, como se o esforo prprio
nada importasse nesse processo de evoluo da criatura. (NEVES, 2001, p. 93)
117
Um dos atributos do Iluminismo foi a superao do Teocentrismo e da intolerncia religiosa. Sobre
este momento histrico, pontua Silva Neto: certo afirmar que o Racionalismo pode ser evidenciado
na filosofia socrtico-platnica; todavia, foi ao final da Idade Mdia, com o aparecimento do
Iluminismo, que mais se observou a tentativa de explicao dos fatos da vida por meio da cincia, o
que se deu notadamente atravs do pensamento de Descartes, Spinoza e Leibniz. Logo, sendo o
Racionalismo correspondente a uma doutrina filosfica que persegue a busca do conhecimento por
meio da razo e no dos sentidos, parece bvio que surgiria, em algum momento, incompatibilidade
entre os pressupostos que amparavam os segmentos religiosos porque movidos pelo dogma e os
princpios racionalistas. (SILVA NETO, 2008, p. 24-25)
118
A religio, no obstante revelar-se utilitariamente positiva como mecanismo de controle social, tem
servido, historicamente, como mola propulsora para crimes, tragdias e injustias. Conforme lembra
Sranam (2008, p. 84): A raa humana experimentou uma longa histria de matana por causa dos
interesses polticos e econmicos de religies organizadas. O uso de Deus para santificar conflitos
sobre a terra e a soberania, que comearam em tempos bblicos, continuou com a conquista da
Arbia por Maom, a invaso de Genghis Khan da Monglia, as Cruzadas, a Inquisio, as Guerras
Francesas de Religio e a fixao da Amrica colonial. Desde ento, os monarcas, os generais e os
papas perdoaram a brutalidade por meio de decreto divino, se servisse aos seus interesses.
Tambm, lderes religiosos rezavam pela vitria militar e raramente defenderam a nocividade social
da guerra interrogativa, enquanto casas de adorao, antecipando recompensas financeiras do
conflito armado, falharam repetidamente em promover benevolncia e paz na Terra. Orientada por
ambies polticas e econmicas, as religies organizadas continuam subvertendo os princpios
ticos e defendendo a violncia em nome de Deus uma contradio bvia.
97
historicamente tambm de mola propulsora para prticas criminosas119.
Isto acontece porque, sendo religio uma instituio, no sentido sociolgico do
termo, ela uma idia que s ganha materialidade a partir das igrejas, organizaes
humanas constitudas por pessoas que tm individual e coletivamente interesses
especficos a defender. Desse modo, a vontade de deus apresentada aos fiis
pelos intrpretes da sabedoria divina de uma forma voluntria ou involuntria,
consciente ou inconsciente, afeioada aos interesses especficos da igreja
considerada ou dos ministros que nela intervm.
Na medida em que molda o comportamento social a padres de uma tica baseada
em princpios de bondade, amor e justia, a religio favorece a que se refreie a
exteriorizao de condutas humanas ofensivas coletividade, j que a prtica
destas pode significar no apenas uma leso a bens e interesses sociais de um
grupo, mas, sobretudo (e anteriormente), uma ruptura entre o indivduo e o seu
prprio deus, em virtude da prtica de um pecado120.
Esta realidade socialmente vivida e sentida pelo homem compartilhada por uma
mdia de indivduos que seguem um mesmo denominador tico-religioso121, que
119
A prpria natureza da linguagem bblica engendra a possibilidade de mltiplas interpretaes
divergentes, algumas das quais, intencionalmente deturpadas, servem de estmulo e encorajamento a
extremistas religiosos no cometimento de crimes contra determinados grupos. Sobre a linguagem
bblica, pronuncia-se Silva: Os homens, por no entenderem o real significado de sua mensagem,
tentam interpretar, no presente, mensagens e orientaes que foram utilizadas em determinada
poca e situao especficas, no passado, dando margem assim, no presente, a interpretaes
pessoais que dificultam o seu verdadeiro significado. (SILVA, 2000, p. 133)
120
Note-se que muitas condutas incriminadas pela norma penal (crimes) correspondem, em igual
medida, a condutas censuradas pela religio (pecados), passveis, em igual medida, de reprimenda,
seja ela religiosa ou jurdica.
121
inegvel, no entanto, que apesar da existncia da um radical comum maioria das religies,
baseadas numa polaridade bem e mal, os valores religiosos no foram uniformemente vivenciados
pelos homens ao longo da histria, evidenciando-se dissonncias entre seus seguidores,
repercutindo, at mesmo, sobre o exerccio dirio da religiosidade. Braudel cita, a esse respeito, o
curioso exemplo da Crsega do sculo XVI, e os hbitos dissonantes dos padres franciscanos locais
em relao aos seus colegas europeus: Cest aussi un chapitre dhistoire missionnaire que laisse
entrevoir la vie religieuse de la Corse du XVI sicle. Exemple dautant plus significatif que le peuple
corse, quelques sicles plus tt, avait t catchis par les Franciscains. Quelles traces avait laisses
cette premire reconqute catholique? De multiples documents montrent, au moment o la Socit de
Jsus aborde lle pour lui imposer sa loi et lordre romain, ltonnante chose quest devenue la vie
spirituelle de ses populations. Les prtres, quand ils savent lire, ny connaissent ni le latin, ni la
gramaire et, ce qui est plus grave, ignorent la forme du sacrement de lautel. Vtus trs souvent
comme des laics, ce sont des paysans qui travaillent aux champs ou dans les bois et lvent leurs
enfants au vu et au su de tout le monde. Le Christianisme de leurs fidles ne peut tre que singulier:
ils ignorent Credo et Pater; certains ne savent pas faire le signe de croix. Les superstitions ont devant
elles une admirable carrire. Lle est idoltre, barbare, demi hors de la Chrtient et de la
civilization. (BRAUDEL, 1976, p. 32)
98
premia o bem oferecido e castiga o mal praticado.122
No obstante, diante da subjetividade de compreenso dos mandamentos religiosos,
vislumbra-se a possibilidade de que, manipulando suas mensagens, determinados
grupos pretendam influenciar outros indivduos, arregimentando-os para a prtica de
crimes, de modo a atingir os seus prprios fins extremistas. Sobre esta prtica,
discorre De Souza (2008, p. 159):
Porque a Histria tem sido dependente de grupos religiosos literalmente
anti-democrticos, aliados a governos ou movimentos polticos (incluindo o
terrorismo, movimento poltico que diz basear-se em idias religiosas) temse imposto pela fora de absolvies ou castigos terrenos e eternos, de uma
forma apenas dirigida s massas no tendo em conta o indivduo. Dessa
maneira, cada ser perde a sua individualidade, assumindo o papel de uma
organizada dependncia psquica, o que permite s instituies que o
dominam de us-lo em massa, perdendo todo o senso comum.
Neste ponto, a prpria dualidade entre o bem e o mal, noo mais ou menos comum
maioria das religies123, pode ser estrategicamente manipulada de forma a
estimular indivduos ao cometimento de crimes. De um lado, a possibilidade do
inferno124 pode ser evitada com o sacrifcio da prpria vida na conduta santa de
morte ao inimigo infiel. De outro, a recompensa do paraso, presenteado em suas
122
Ressalte-se, consoante revela Sranan, que o condicionamento de aes sociais consoante
padres esperados no , como j visto, um produto exclusivo da religio: Os ambientes
sociomagnticos obstruem o corpo com um fluxo constante de informaes sobre como se ajustar
como manter pensamentos, sentimentos e comportamentos alinhados com as expectativas
necessrias, e, portanto, em apoio ao status quo. Esses tipos de ambientes, sejam eles educacionais,
mdicos, corporativos, polticos, econmicos ou religiosos, so todos centralizados, seu poder e
autoridade surgem de padres fisiolgicos abrigados por milhes de indivduos. A entrada de
qualquer um, invariavelmente, repleta de dificuldades de ajuste e contribui para o desenvolvimento
de um sentido social do eu, em estreitamento perverso da identidade pessoal. (SRANAN, 2008, p.
192)
123
Os persas adoravam vrios deuses, no incio, mas as pregaes do profeta Zoroastro, ou
Zaratustra, provocaram uma revoluo. Sua doutrina, exposta no livro Avesta, ou Zend-Avesta,
baseava-se no dualismo entre o bem e o mal. Aura-Mazda era o deus do bem; e Ahriman, o deus do
mal. Princpios de tudo, bem e mal lutavam entre si. Quem seguisse Aura-Mazda, seria
recompensado; quem seguisse Ahriman, seria castigado para sempre. Essa religio tinha uma
preocupao escatolgica, isto , com o fim do mundo, quando os mortos ressuscitariam e haveria o
juzo final, com o julgamento de todos e a vitria de Aura-Mazda sobre Ahriman. (ARRUDA; PILETTI,
1994, p. 26-27)
124
A palavra inferno, que se utiliza no Antigo Testamento, foi traduzida do vocbulo hebraico
SHEOL, que significa literalmente sepulcro, sepultura, cova, abismo, fossa. ste vocbulo
hebrico foi traduzido em dezenas de passagens do Antigo Testamento como sepulcro, e umas
poucas vezes como inferno. Porm nestes casos, assim como nos anteriores, no significa seno
sepulcro, ou sepultura. No Nvo Testamento, inferno corresponde a dois vocbulos gregos. O
primeiro HADES, que significa literalmente sepulcro, ou morte. O segundo GEENA, nome dado
primariamente ao vale de Hinon, ao sul de Jerusalm, onde se deitavam os resduos, os cadveres
dos animais, e, tambm, dos malfeitores, que eram queimados nesse lugar. (CHAIJ, 1969, p. 93)
99
mais belas nuances como a recompensa pelo grande feito, estimula indivduos sem
perspectiva social a uma aventura cujo prmio supera todas as vantagens de uma
vida terrena.
De fato, o verdadeiro temor125 para muitas pessoas no a pena (como reprimenda
jurdico-penal), mas o castigo eterno que no poderiam suportar, no s pela
natureza do sofrimento infligido, mas pela eternidade de sua durao.
O apego de muitos fiis aos valores religiosos126 permite coloc-los numa posio de
125
Da obra clssica do sculo XVI Castelo Interior ou Moradas, escrita pela monja Teresa de Jesus
(da Ordem das Carmelitas), extraem-se alguns elementos sobre o sofrimento causado pelo pecado e
sua relao com o temor do inferno: Desaparece aqui totalmente tudo o que se refere ao medo do
inferno. s vezes essas almas se sentem muito aflitas com o temor de perder a Deus. Acontece-lhes
poucas vezes. Todo seu receio que Deus retire sua mo, consentindo em que o ofendam e voltem
ao estado miservel em que se viram em outros tempos. No se preocupam com a pena ou com a
glria futura. Se desejam no permanecer, muito tempo no purgatrio, mais para no ficarem
ausentes de Deus, enquanto a estiverem, do que pelos sofrimentos que tero de passar. (DE
JESUS, 1981, p. 185)
126
Salzmann Bertram, em seu livro Histria de crimes na Bblia, relata o episdio ocorrido no
reinado de Nabucodonosor, um caso emblemtico de descumprimento da ordem estatal imposta em
funo de imperativos de ordem religiosa: O rei Nabucodonosor mandou fazer uma esttua que
media vinte e sete metros de altura por dois metros e setenta de largura e ordenou que a pusessem
na plancie de Dur, na provncia da Babilnia. Depois, ordenou que todos os governadores
regionais, os prefeitos, os governadores das provncias, os juzes, os tesoureiros, os magistrados, os
conselheiros e todas as outras autoridades viessem cerimnia de inaugurao da esttua. Todos
eles vieram e ficaram de p em frente da esttua para a cerimnia de inaugurao. A o encarregado
de anunciar o comeo da cerimnia disse em voz alta: _ Povos de todas as naes, raas e lnguas!
Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das ctaras, das liras, das harpas e dos outros
instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a esttua de ouro que o rei Nabucodonosor
mandou fazer. Quem no se ajoelhar e no adorar a esttua ser jogado na mesma hora numa
fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos comearam a tocar, todas as pessoas que estavam
ali se ajoelharam e adoraram a esttua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrlogos aproveitaram a
ocasio para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: _ Que o rei viva para sempre! O
senhor deu a seguinte ordem: Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se
ajoelharo a adoraro a esttua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem ser jogado numa
fornalha acesa. Ora, o senhor ps como administradores da provncia da Babilnia alguns judeus.
Esses judeus Sadraque, Mesaque e Abede-Nego no respeitam o senhor, no prestam culto ao
deus do senhor, nem adoram a esttua de ouro que o senhor mandou fazer. Ao ouvir isso,
Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Eles foram
levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: _ verdade que vocs no prestam culto ao
meu deus, nem adoram a esttua de outro que eu mandei fazer? Pois bem! Ser que agora vocs
esto dispostos a se ajoelhar e a adorar a esttua, logo que os instrumentos musicais comearem a
tocar? Se no, vocs sero jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem o deus que os
poder salvar? Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam assim: _ rei, ns no vamos nos
defender. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poder nos salvar da fornalha e nos
livrar do seu poder, rei. E mesmo que o nosso Deus no nos salve, o senhor pode ficar sabendo
que no prestaremos culto ao seu deus, nem adoraremos a esttua de ouro que o senhor mandou
fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os trs jovens e, vermelho de raiva, mandou
que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus
soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abede-Nego e os jogassem na fornalha. Os
trs jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapus e todas as outras roupas,
foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais
quente do que nunca; por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os trs jovens l
dentro. E, amarrados, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego caram na fornalha. De repente,
Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: _ No foram trs
100
superioridade em relao aos valores presentes nas normas legais. Na medida em
que estes revelarem-se contrrios queles, a previsibilidade de comportamento
social poder sofrer modificaes, o que revela um carter salutar no estudo social
da norma jurdica: o de que a sua observncia no auferida exclusivamente por
meio da sano penal, mas, do contrrio, de um complexo mecanismo de controle
social, que conta ainda com a moral, a religio e outras instncias de controle,
repercutindo no termmetro social da incidncia da criminalidade, na medida da
observncia ou inobservncia da ordem jurdica imposta.
3.2 FUNDAMENTOS TICO-POLTICOS DO DIREITO PENAL
O processo de legitimao do Direito Penal passa pelo exame dos seus
fundamentos tico-polticos. Dada a natureza e especificidade desta rea do Direito
(considerada a essencialidade e relevncia dos bens jurdicos tutelados e a
severidade da sano por ela atribuda), ocupam-se juristas, socilogos e filsofos, a
precisar uma das questes mais relevantes das cincias sociais: o fundamento do
direito de punir.
Embora no se devendo resumir o Direito Penal pena, dada a autonomia desta
rea do Direito (revelada por suas regras e princpios, a incluir, em sua anlise,
institutos como o crime, o delinquente, as medidas de segurana, dentre outros), no
se pode negar que a razo mxima do Direito Penal repousa na medida, intensidade
e convenincia da aplicao da pena.
Se o Direito, como sistema de regulao social de conflitos, engendra, de acordo
com Bruno (1967, p. 11), a estabilidade e a garantia das condies de existncia
os homens que amarramos e jogamos na fornalha? _ Sim, senhor! responderam eles. _ Como ,
ento, que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? perguntou o rei. _ Eles esto
passando l dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. A o rei chegou perto da
porta da fornalha e gritou: _ Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus Altssimo, saiam da
e venham c! Os trs saram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto
deles e viram que o fogo no havia feito nenhum mal a eles. As labaredas no tinham chamuscado
nem um cabelo da sua cabea, as suas roupas no estavam queimadas, e eles no estavam com
cheiro de fumaa. O rei gritou: _ Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego seja louvado! Ele
enviou o seu Anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles no cumpriram a minha ordem;
pelo contrrio, escolheram morrer em vez de ajoelhar e adorar um deus que no era o deles. Por
isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raa, nao ou lngua, que insultar o nome do
Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego seja cortada em pedaos e que a sua casa seja
completamente arrasada. Pois no h outro Deus que possa salvar como este. Ento o rei
Nabucodonosor colocou os trs jovens em cargos ainda mais importantes na provncia da Babilnia.
(BERTRAM, 2000, p. 125-128, p. 125-128)
101
social, definidas e asseguradas pelas normas jurdicas, o Direito Penal atua de forma
a garantir a defesa da sociedade por meio da proteo dos bens jurdicos 127
fundamentais, a exemplo da vida, integridade fsica e patrimnio, assim entendidos,
pelos valores comuns da sociedade, como merecedores da tutela penal128.
Semelhante preocupao demonstra Costa (1982, p. 11), ao acentuar a natureza
tico-social e o carter poltico do Direito Penal, devendo-se garantir os valores
sociais elementares na proteo dos bens jurdicos.
Para cumprir tal tarefa, este Direito Penal, de carter dogmtico129, lana mo de
uma poltica criminal, a fim de definir os fins do Estado diante do problema do
crime, formulando os meios necessrios para realizar esses fins, e inspirando, de
forma crtica, as futuras alteraes das normas penais. (BRUNO, 1967, p. 33-34).
Note-se que a forma de atuao do Direito Penal tem como base a Constituio, que
condiciona a atividade repressiva estatal, fixando-lhe limites, de modo a delimitar a
atividade punitiva e o prprio exerccio do ius puniendi, em consonncia com os
princpios constitucionalmente previstos. (ROCHA, 2009, p. 55)
Para Bemfica (1990, p. 4), a simples ameaa de sano j cumpriria a funo130
deste Direito Penal, qual seja, o de servir de instrumento de defesa social. Nesta
linha de raciocnio, Ferri (1998, p. 123)131 argumenta que no apenas o Direito
127
Afirma Toledo que a proteo dos bens jurdicos como tarefa imediata do Direito Penal acaba por
realar o seu carter subsidirio, de tal sorte que: onde a proteo de outros ramos do direito possa
estar ausente, falhar ou revelar-se insuficiente, se a leso ou exposio a perigo do bem jurdico
tutelado apresentar certa gravidade, at a deve entender-se o manto da proteo penal, como ultima
ratio regum. (TOLEDO, 1994, p. 13-14)
128
Atravs da proteo de bens jurdicos, o fim de Direito Penal transcende da defesa de condies
puramente materiais proteo de valores, pois o que chamamos, em linguagem tcnica, bens
jurdicos, so valores, valores da vida individual ou coletiva, valores da cultura, que, na maioria dos
casos, fazem objeto de preceitos tanto jurdicos quanto morais. (BRUNO, 1967, p. 14-17)
129
O Direito Penal tem carter dogmtico, como toda cincia jurdica, o que significa que suas
indagaes e pesquisas, demonstraes e contedo, tm por fim fulcro o direito positivo o jus
positum, o preceito regulamente instrudo para se impor obedincia de todos, obrigatria e
autarquicamente. Das normas reveladas pelas fontes formais do Direito Penal, saem os dados
cientfico-jurdicos com que se constri e se sistematiza o conjunto de seus preceitos. Delas extrai o
jurista as regras aplicveis a uma situao concreta, no s lhes descobrindo o sentido latente e
oculto, como tambm lhes desenvolvendo os corolrios e conseqncias. (MARQUES, 1997, p. 42).
130
Asa indica como ndole especfica do Direito Penal a sua funo de direito de garantia. (ASA,
1956, p. 32)
131
E porque a sociedade humana (nao) pode ser ameaada e prejudicada no exterior ou
internamente, o Estado tem duas funes supremas de defesa social, que so: a defesa militar
(contra as agresses externas) e a justia penal (contra as agresses internas, quando estas j se
verificaram, e a polcia de segurana, antes que se venham a cometer). As outras funes essenciais
do Estado tm razes e fins diversos: ou de regulamento jurdico das relaes normais entre
cidados e Estado ou poderes pblicos (direito constitucional), das relaes normais entre Estado e
Estado e seus cidados (direito internacional, pblico e privado), das normais atividades humanas
102
Penal, mas o Direito em si mesmo, tem como funo precpua a defesa social, o que
no exclui, entretanto, a existncia de outros fins, considerados por ele como
acessrios.
No obstante dita preocupao, Toledo (1994, p. 12) amplia os fins do Direito Penal
para a prpria busca de seu sentido tico132, no se podendo desvincular, segundo
ele, a realidade do direito da realidade da moral133.
Na busca de uma adequada e coerente poltica criminal, o Estado v-se, atualmente,
numa flagrante contradio, sendo instado, segundo Rodrigues (2001, p. 145), a
desenvolver um sistema de protees jurdicas garantidoras do exerccio de direitos
e, ao mesmo tempo, a anular-se pelas mesmas razes, numa demanda circular de
proteo do Estado e de exigncia de autonomia do indivduo.
O estgio em que se encontra a poltica criminal marcado por este paradoxo, cujas
manifestaes repressivas e libertrias se alternam no campo jurdico, tendo como
termmetro legislativo as presses sociais criminalizadoras, ao mesmo tempo em
que procura se moldar aos princpios constitucionais penais, limitadores de uma
alegada violncia punitiva estatal.
Neste mister, o discurso jurdico-penal atua de forma a legitimar a racionalidade da
atuao do Estado repressivo, buscando, consoante Rodrigues (2001, p. 16), tanto
uma coerncia interna quanto um valor de verdade capazes de promover a sua
justificao, o que no realisticamente alcanado, atuando o poder estatal de
forma arbitrria e margem da lei. (RODRIGUES, 2001, p. 25)
Fala-se, neste contexto, de uma violncia punitiva estatal, no uso estratgico do
Direito Penal para fins que no lhe so devidos. Dito de outro modo, o Direito Penal
utilizado estrategicamente como o co de guarda do cumprimento dos objetivos
institudos pelo Estado, sem se ater aos objetivos de poltica criminal.
Contrariamente a esta realidade, prope Roxin (2002, p. 51-52) a busca da
econmicas e espirituais (direito civil, comercial, martimo, eclesistico, industrial, etc.), ou de
administrao pblica ou econmica ou educativa (direito administrativo), ou de ao poltica, em
geral, e poltica de assistncia, em particular. Todas essas funes estaduais tendem no s
conservao da sociedade humana (nao), mas tambm a tornar possvel e a favorecer-lhe o
desenvolvimento progressivo, alm de a defender das agresses.
132
Os conceitos de culpabilidade, de ao injusta, de punio (...) so indubitavelmente de fundo e
de origem tica. (TOLEDO, 1994, p. 10)
133
embora no se possa afirmar a existncia de perfeita coincidncia entre o contedo da norma
moral e o da norma penal, fora de dvida que um ordenamento penal em contradio com a ordem
moral que lhe coetnia no teria eficcia ou seria verdadeira monstruosidade.
103
harmonizao entre a liberdade individual e a necessidade social, a promover
adequadas alteraes na ordem jurdico-penal e civil, seja por meio de modificaes
na lei positiva, seja pela criao do direito costumeiro e jurisprudencial134.
No mesmo diapaso, entende Japiass (2007, p. 95)135 que o grande desafio do
direito brasileiro nos ltimos anos tem sido o de conciliar um conjunto de normas
penais cada vez mais severas (a exemplo do regime disciplinar diferenciado) com o
respeito aos direitos fundamentais, encontrando-se estes presentes em diversos
acordos internacionais dos quais o Brasil signatrio.
No plano da luta por um modelo de poltica criminal adequado s exigncias sociais
e consoante com os princpios constitucionais que Ferrajoli erige o seu modelo
penal garantista. Como revela Pinho (2006, p. 29-30), Ferrajoli prope que ao
mximo bem-estar possvel dos no desviados corresponda o mnimo mal-estar
necessrio aos desviados, de forma que o outro fim do Direito Penal (alm de
prevenir delitos) evitar a maior reao informal que a falta da pena poderia
provocar na parte ofendida ou em foras sociais ou institucionais solidrias com ela.
Da se revela, segundo Pinho, o ntido carter utilitarista desta formulao. Observese que a posio revelada por Pinho de carter claramente estratgico.
No estudo dos seus fundamentos ticos e polticos, impossvel dissociar-se a
ntima relao entre o Direito Penal e a moral. O Cdigo Penal j foi considerado o
cdigo moral de um povo, de tal sorte que, enquanto em outras reas do Direito a
moral considerada, em regra, um critrio de valorao, no Direito Penal o seu
contedo material formado especialmente por normas morais (dotadas de um
caracterstico substrato moral). (BATTAGLINI, 1973, p. 6-7)
Afirmando o carter tico do Direito Penal, pontuava Hungria (1958, p. 456-457) que
a cincia penal no deveria se ocupar somente do sistema sseo do direito
134
a partir desta funo poltico-criminal que deve ser levada a cabo a sistematizao da
antijuridicidade. Sabe-se que a maioria das tentativas at agora feitas no passaram de abstraes
excessivamente formais ou classificaes aleatrias. Se analisarmos os meios atravs dos quais o
legislador enfrenta o problema da soluo social de conflitos, veremos que existe um nmero limitado
de princpios ordenadores materiais, que determina, nas mais diversas variaes, o contedo das
causas de justificao. o seu interagir no caso concreto que fixa o juzo sobre a utilidade ou
lesividade, a licitude ou ilicitude de um comportamento. (ROXIN, 2002, p. 52-53)
135
No original: Il est possible de dire que le grand dfi du droit brsilien ces denires annes a t de
concilier un ensemble de normes pnales de plus en plus rpressives et lexemple du rgime
disciplinaire diffrenci est loquent dans ce sens avec le respect des droits fondamentaux,
conforme aux divers documents internationaux dont le Brsil est signataire. Ainsi, le dbat sur le
systme pnitentiaire est absolument dactualit dans le pays et la recherche dalternatives pour un
modle qui souffre de critiques svres, est primordiale au Brsil.
104
repressivo, a fazer do Cdigo Penal uma teoria hermtica. Do contrrio, dever-se-ia
buscar a revelao do seu esprito e escopo, ajustando-os aos episdios do
espetculo dramtico da vida.
Mesma preocupao nutria Brito (1938, p. 12), veiculando a crise do Direito Penal
ausncia de frmulas jurdicas capazes de ajustar a conduta do indivduo ao ideal
poltico-social de sua poca, de forma a legitimar o direito de punio, em respeito
s liberdades individuais. Neste diapaso, de acordo com Marques (1997, p. 111), o
Direito Penal no mais se estrutura em um tecnicismo puro, visto haver incorporado,
sua prpria dogmtica, uma poltica criminal que a liberta do estrito campo da
legalidade escrita136.
Razo assiste a Sampaio (1942, p. 3-4) ao afirmar que a evoluo do Direito Penal
contemporneo correspondeu ao contnuo processo de evoluo dos valores137 da
sociedade, sofrendo o choque com a realidade na formao de novos juzos de
existncia.
Assim pontua Sampaio (1942, p. 12):
o Direito Penal o termmetro mais sensvel s variaes do esprito social.
O motivo dessa sensibilidade a todos os fatores da evoluo humana
duplo: de um lado, a influncia das condies polticas, que j ficou
explicada; e do outro, ser le a disciplina jurdica que mantem maiores
contactos com as cincias positivas. Dessa maneira, est sendo ela
constantemente fecundada pelos subsdios das cincias biolgicas,
psquicas e sociais, repercutindo no seu seio, com ardor, as discusses
polticas, filosficas, e cientficas, muitas vezes erguendo vozes
apaixonadas e discordantes. Por isso, , a, mais vivo o choque entre os
velhos valores, e as novas aquisies experimentais. De um lado,
preconceitos e interesses, e, de outro, postulados cientficos. Um dos
grandes duelos travados, aos nossos olhos, na sua ante-sala, entre os
que se empenham em manter o seu pleno significativo tico e por
136
Em flagrante contradio a este pensamento, contrape-se a seguinte afirmao de Bastos, a
qual, talvez pelas amarras dogmticas do Direito Penal da poca, encontra-se em evidente
descompasso a uma realidade mais coerente, justificando-se aqui a sua meno apenas na
visualizao da mudana de pensamento que se processou entre os penalistas em diferentes
momentos do nosso sculo: No ser com theorias que justifiquem os desvios da moralidade social,
amparando as aces prejudiciaes de indivduos fceis em armar o brao para matar por piedade, ou
dispostos por compaixo ou amor a concorrer para o suicdio de infelizes tresloucados ou grandes
viciosos, que se poder estabelecer um bom cdigo penal. Se algumas doutrinas modernas trazem
luz humanidade, esta no poude ainda perceber o bem; talvez...por no poder ter os olhos fitos
no sol. O direito penal, como todas as sciencias, h de receber o influxo dos novos ensinamentos;
muitos de seus institutos sero modificados: mas, o que essencial s suas theorias bsicas, ao seu
organismos, isto j foi ensinado pela escola clssica. (BASTOS, 1911, p. 85).
137
A Histria uma reviso contnua de valores. Reviso, a um tempo, criadora e dolorosa, que a
vaidade humana imagina obedecer voz de mando dos seus caprichos, enquanto a inteligncia, por
vezes, nos adverte, cepticamente, que, talvz, s seja dirigida por fatores insubmissos ao nosso
arbtrio, e dominada por uma necessidade inelutvel. (SAMPAIO, 1942, p. 3)
105
excelncia jurdico e os que trabalham em implantar o completo imprio
do positivismo naturalstico penal.
Neste processo de constante transformao, o Direito Penal evolua de forma a
coadunar-se realidade social de seu tempo, incorporando em sua dogmtica o
conjunto de valores historicamente compartilhados pela sociedade em cada
momento histrico.
Note-se que o componente moral j era fortemente contemplado pela dogmtica
penal do sculo XIX, cujos grandes expoentes, aqui citados de forma sucinta,
contriburam para a sistematizao de um Direito Penal crtico no plano das cincias
sociais.
Assim que, para Rossi (1855, p. 101)138, a determinao da justa medida do punir
repousava no conhecimento, pelo homem, de sua origem moral, cujos limites
determinavam a justia na sua interpretao e na aplicao das leis positivas. De
acordo com ele139, o direito de punir residia, ento, na existncia de um dever por
parte da sociedade140, a lhe conferir a superioridade moral necessria para legitimar
o seu direito de punio.
Ortolan (1876, p. 2)141, em sua clssica obra A explicao histrica dos institutos
138
No original: Cest par la connaissance de son origine morale quon dtermine la juste tendue du
droit de punir. Cest par la connaissance de ses bornes quon peut juger de la justice de son
application dans les lois positives, et, en nombre de cas, avoir un guide sr pour linterprtation de ces
lois.
139
No original: En dernire analyse, toute la question rentre donc dans la question de la socit. Si la
socit est un devoir pour lhomme, le droit de punir existe, mais par cela mme il nappartient quau
pouvoir conservateur de la socit. Lindividu ne saurait se larroger, ni dans ltat de socit, car ce
nest pas en lui que rside la supriorit morale qui doit lexercer, ni dans ltat hypothtique
extrasocial, car il ny a pas l un orde politique pour la conservation duquel la justice humaine soit um
devoir. Quant la morale absolue, ce nest pas lindividu que Dieu en a confi la garde en ce
monde. (ROSSI, 1855, p. 188-189)
140
Nesta tica, o direito de defesa pela sociedade s seria legtimo como uma reao imediata e
indispensvel: Le droit de dfense nest lgitime que comme raction immdiate est indipensable.
(ROSSI, 1855, p. 148)
141
No original: Il est impossible quun homme se trouve en prsence dun autre homme sans quil y
ait linstant, de lun lautre, des ncessits morales daction ou dinaction, cest--dire dactes
faire ou ne pas faire, dont ils peuvent exiger mutuellement lobservation; et comme la destine de
lhomme est la vie en socit, ces ncessits, suivant chaque situation et dans tous le cours de la vie,
se produisent de tous cts. Que la raison seule nous les indiques, ou quelles nous soient imposes
par une autorit qui a la force de se faire obir, elles nen existent pas moins: rationnelles et avec une
contrainte purement intellectuelle dand le premier cas, positives et revtues de moyens de contrainte
matrielle dans le second. Ces ncessits morales daction ou dinaction sont ce quon appelle des
lois.
106
do imperador Justiniano142, aponta que as relaes sociais entre os indivduos tm
como caracterstica a exigncia mtua de comportamentos morais esperados. Ditas
necessidades morais de ao ou de omisso so denominadas de leis, impostas por
uma autoridade capaz de se fazer obedecer.
Para Tissot (1879, p. 285-286)143, este quadro de expectativas mtuas de
comportamento revela-se, do ponto de vista do Estado, em seu direito/dever de
punir. Para ele, perguntar ao homem se este tem o direito de punir equivale a
perguntar-lhe se ele tem o direito de se defender na medida da justia ou de exercla quando necessrio. Para Tissot, se sustentssemos que o direito de punir repousa
no mandato divino conferido ao soberano no exerccio dos direitos supremos do
Estado, a sociedade no teria, ento, o direito de punir o culpado. Igualmente, se
considerssemos a pena um mal fsico infligido sem objetivo prprio ou
simplesmente em virtude da ocorrncia de um mal moral, restaria tambm a pena
ausente de racionalidade, no somente frente aos homens, mas tambm frente ao
prprio Deus, dada a sua infinita sabedoria.
Tissot (1879, p. 293-294) critica a atitude humana de punir por punir, e o
fundamento do direito de punir baseado na expiao e numa pretensa necessidade
de reparao do mal moral pelo mal fsico, os quais se baseiam, segundo ele, num
princpio mstico, falso, absurdo e fantico, sem regra ou medida. Para Tissot,
142
Reconhece-se em Justiniano uma preocupao moral em que no se cometam injustias, como se
observa na seguinte passagem presente no livro 47, ttulo II de sua monumental obra, estabelecendo
que a simples inteno de cometer um roubo no faz do acusado um ladro, de forma que quele
que nega um roubo no se pode de imediato imputar a sua prtica, mas somente se o acusado
escondeu o objeto do crime para tirar proveito prprio: Del la seule intention de commettre um vol
ne fait pas un voleur. 2. Ainsi celui qui nie um dpt nest pas cela mme soumis laction de vol,
mais seulement sil la cach pour le prendre son profit. 1. Inde sola cogitatio furti faciendi non
facit furem. 2. Sic is qui depositum abnegat, non statim etiam furti tenetur, sed ita si intercipiendi
causa occultaverit. (METZ, 1805, p. 191)
143
No original: En effet, demander si lhomme a le droit de punir, cest demander sil a le droit de se
dfendre dans la mesure de la justice, ou bien encore sil a le droit dexercer la justice pnale quand il
y est intress. La question ainsi pose nest pas susceptible de deux solutions. Cependant les
auteurs ont soutenu que le droit de punir nappartient pas lhomme; pas plus lhomme collectif, la
socit, qu lhomme individuel. Ainsi, Jarke soutient que ce nest quen vertu dun mandat du ciel
que le souverain punit, quil exerce en gnral tous les droits suprmes de ltat. Suivant cette thorie,
dj dfendue par plusieurs philosophes franais du XVIII sicle, du moins dans la partie ngative, et
combattue par Portalis comme lun des abus de cette philosophie, la socit naurait pas le droit de
frapper le coupable. Si lon entend par peine un mal physique inflig sans but ou par la seule
considration quil y a eu mal moral, sans doute la peine manquerait de raison suffisante. Elle en
manquerait son-seulement pour lhomme, mais encore, mais surtout pour Dieu, tre absolument sage,
et dont les actes doivent tre parfaitement raisonnables. La peine manquerait encore de raison pour
Dieu et nen aurait quune condamnable pour lhomme si elle ne devait aboutir qu la satisfaction du
besoin de se dlecter dans les souffrances dautrui, par suite du mal quon en a reu; ce qui est
proprement de la vengeance.
107
considerando-se a impossibilidade de se estabelecer uma justia absoluta e perfeita
(dado o desconhecimento, pelo homem, das caractersticas morais de delito, da
natureza e grau de sofrimento da vtima e dos meios mais adequados para mensurar
a adequao da medida da pena), o direito de punir que lhe resta deve basear-se na
diminuio do sofrimento provocado pelo crime, no restabelecimento da ordem
perturbada e na busca de uma segurana para o futuro144.
Igualmente no tocante s leis, Frassati (1892, p. 111)145 ressalta a necessidade de
sua preservao como condio de progresso da prpria sociedade. De acordo com
ele, a vida de cada indivduo regulada por normas de conduta, e a sua violao
seguida de sanes por parte do Estado. Assim, o homem vicioso ou que abusa da
sua fora e vitalidade sentir, cedo ou tarde, as conseqncias de sua ao,
fazendo revelar a unidade e universalidade da lei. Nesse sentido, em virtude da
desobedincia lei146, o indivduo deve merecer, de acordo com Garofolo (1890, p.
144
No original: En rsum: lhomme na pas mission de punir pour punir, cest--dire pour rtablir
lordre moral troubl par le dlit, pour faire rgner la justice absolue en appliquant au dlinquant la loi
quil fait aux autres son gard par action dont il se rend coupable. Non; et quoiquil y ait l une
justice en soi, absolue, objective rtablir, quoique le droit de punir proprement dit ne soit que l et
pas ailleurs; quoique le principe dexpiation ou de la prtendue rparation du mal moral par le mal
physique ne soit, en comparaison de celui de la rciprocit, quun principe mystique, faux, absurde et
fanatique, sans rgle comme sans mesure; quoiquil semble que lhomme ait non-seulement le droit,
mais encore le devoir de faire rgner la justice, et toute espce de justice, par respect pour la justice
mme, nanmoins, comme la justice envisage de la sorte appartient lordre absolu des choses, au
bien ou lordre moral en soi, et que lhomme na mission de faire rgner cet ordre que dans sa
personne individuelle et non dans la socit; comme il lui est dailleurs impossible dtablir ce rgne
de la justice absolue dune manire parfaite, attendu quil ne connat pas assez les caractres moraux
du dlit, la nature et le degr de souffrance de celui qui en est ls, quil ne possde pas les moyens
les plus propres oprer parfaitement la rciprocit par le choix parfait de la nature et de la mesure
de la peine; le droit de punir qui lui reste nest, proprement parler, que le droit dadoucir jusqu un
certain point la souffrance quil endure par le dlit, de rentrer dans le calme dune scurit un instant
trouble, et davoir pour lavenir une certaine sret.
145
No original: Lesperienzia, la vera e la grande maestra della vita, ha mostrato que, per progredire,
la societ ha bisogno di convervare inviolate certe leggi necessarie al suo progresso avenire; essa ha
notato certe condizioni di esistenza, tolte le quali non pi possibile unaggregazione di uomini civili
con uno scopo sociale ed umano. La vitta dellindividuo regolata de alcune leggi di condotta: se
lindividuo viola queste condizioni della sua esistenza, la natura stessa ha una potente sanzione che
colpisce inesorabilmente chi ha violato la sua legge. Luomo vizioso, luomo che abusa della sue forze
e della sua vitalit, sicuro che tosto o tardi sentir la sanzione della natura; se cosi non fosse, la
natura non sarebbe come realmente, non vi sarebbe unit; verrebbe meno una grande condizione
della natura, lunit e luniversalit della legge.
146
Maudsley pondera, entretanto, que a incidncia da pena deve levar em conta certos fatores de
ordem psicolgica, apontando, em sua clssica obra O crime e a loucura, a dificuldade em se
estabelecer uma linha divisria que separa a loucura parcial da loucura total, incumbindo ao juiz (e
aos jurados) sopesar todas as circunstncias de forma a evitar tanto a desumanidade como a
benevolncia no julgamento do caso concreto: Il est fort difficile de marquer la ligne invisible qui
spare la folie partielle de la folie totale; cest au juge et aux jurs bien peser toutes les
circonstances et viter, dune part, de montrer une sorte dinhumanit pour les imperfections de
lhumaine nature, et, dautre part, daccorder une trop grande indulgence des crimes affreux.
(MAUDSLEY, 1880, p. 85-86)
108
433-434)147, a devida penalidade, que, ao invs de ser determinada pelo critrio da
idoneidade da vida social, deve ter por objetivo fazer assegurar o respeito lei.
O amadurecimento da cincia penal resultou de um longo processo histrico que
no fez apagar, vale dizer, as contribuies anteriores, na medida em que elas
espelhavam o esprito da poca. No outro o entendimento de Ferri (1893, p. 593),
que, admitindo a inevitabilidade do progresso social, reconhece, no obstante, a
sobrevivncia das idias, instituies e hbitos preexistentes, concebendo a cincia
(assim como a prpria vida), como uma evoluo progressiva de partes novas sobre
o velho tronco das verdades primordiais para uma renovao contnua, mas
gradual148.
importante visitarem-se estes autores do sculo XIX porque sua poca espelha
exatamente a transio entre o momento histrico da ruptura com a tradio
teocrtica (medieval) e a poca contempornea, representando, a bem dizer, o
apogeu da modernidade. Tratando-se da investigao de fundamentos, os autores
mais remotos trazem maior elucidao s discusses e perplexidades que surgem
em decorrncia do despontar da uma nova era.
Correlacionada busca de um fim ideal de pena, um dos grandes questionamentos
enfrentados pelo Direito Penal moderno refere-se ao dilema Direito Penal mnimo e
Direito Penal mximo. De um lado, sustenta-se, com grande veemncia, a busca de
um Direito Penal fragmentrio, subsidirio a outros Direitos, devendo-se, por essa
razo, procurar aplic-lo em situaes absolutamente necessrias, apenas quando
se tratar de leses a bens jurdicos de grande relevncia.
Esta orientao tem levado inmeros juristas a repensar o Direito Penal sob uma
perspectiva mais limitadora de seu sentido e alcance, engendrando alternativas de
147
No original: Limmoralit de ces actions consiste principalement dans une rvolte contre lautorit
ou dans une dsobissance la loi. Si cet lment politique est prdominant, il faut que la pnalit,
au lieu dtre dtermine par le criterium de lidonit la vie sociale, ait la nature dun chtiment
capable dassurer le respect la loi.
148
No original: Le progrs est invitable car la vie est mouvement et surtout le progrs social, qui est
un mouvement plus ou moins uniformment accler. On fait maintenant dans dix ans, pour les ides
et les rformes sociales, le chemin, qui au moyen-ge exigeait un sicle de propagande et de martyre.
Mais jai vu aussi que le triomphe de toute innovation, thorique ou pratique, na jamais compltement
effac les ides ou les institutions et les habitudes prexistentes. chaque distinction sucessive, dit
mon matre Ardig, reste lindistinct prcdent. La science comme la vie ne peut pas tre une
alternance strile et artificielle de ngations totales et daffirmations absolues, ce qui arrivait et arrive
la mtaphysique philosophique ou politique. La science comme la vie ne peut tre quune volution
progressive de parties nouvelles sur le vieux tronc des vrits primordiales par un renouvellement
continuel, mais gradual.
109
no-aplicao da lei penal em casos em que se verifique a desnecessidade de
incidncia da norma. Com base no princpio da interveno mnima e no princpio da
insignificncia, inmeras condutas, antes consideradas tpicas, passaram a
enquadrar-se em situaes de atipicidade.
Prega-se, no caminho de um Direito Penal mnimo, a desnecessidade de punio de
certas condutas consideradas irrelevantes, apontando para a salvaguarda nica e
exclusiva dos bens jurdicos considerados mais relevantes, todos com respaldo
constitucional, cuja preservao absolutamente necessria garantia dos direitos
e liberdades individuais.
Nesta lgica, questiona-se a prpria legitimidade do sistema, buscando-se impor
limites a uma alegada violncia punitiva, instituindo-se, neste mister, novos valores a
serem perseguidos pelo Direito Penal, a verificar-se sua inadequao e dissonncia
com as exigncias de um Direito humanista e libertrio.
A evoluo histrica das penas, malgrado acompanhar a incluso de valores
libertrios e humanistas, no caminha, ao contrrio do que se possa imaginar, numa
inexorvel marcha rumo a um inevitvel abrandamento. A este propsito, a lio de
Ortega y Gasset (1973, p. 65)149 serve de alerta para uma contnua reflexo sobre os
caminhos a serem trilhados pelo Direito Penal do futuro, sobre o qual as sombras de
um Direito Penal mximo pairam constantemente:
No existe aquisio humana que seja firme. Mesmo aquilo que nos parece
mais conseguido e consolidado pode desaparecer em poucas geraes.
Isso que chamamos civilizao, - todas essas comodidades fsicas e
morais, todos esses descansos, todos esses abrigos, todas essas virtudes e
disciplinas j habitualizadas com que costumamos contar e que com efeito
constituem um repertrio ou sistema de garantias que o homem fabricou
para si como uma balsa, no naufrgio inicial que sempre o viver, - todas
essas garantias so garantias inseguras que, a qualquer cochilo, ao menor
descuido, escapam de entre as mos dos homens e se desvanecem como
fantasmas. A histria nos conta inumerveis retrocessos, decadncias e
degeneraes. Mas no foi dito que no sejam possveis retrocessos muito
149
A idia progressista consiste em afirmar no somente que a humanidade um ente abstrato,
irresponsvel, inexistente que ento se inventou, - progride, o que certo, mas tambm progride
necessariamente. Tal idia cloroformizou o europeu e o americano para essa sensao radical de
risco que substncia do homem. Porque se a humanidade progride inevitavelmente, quer dizer que
podemos abandonar toda alerta, despreocupar-nos, irresponsabilizar-nos, ou, como dizemos na
Espanha, tumbarmos a la bartola e deixar que ela, a humanidade, nos leve inevitavelmente
perfeio e delcia. A histria humana fica, deste modo, desossada de todo dramatismo e reduzida
a uma tranqila viagem turstica organizada por qualquer agncia Cook de categoria transcendente.
Caminhando assim, segura, para a sua plenitude, a civilizao em que embarcamos seria como a nau
dos fecios de que fala Homero, a qual, sem piloto, navegava direito ao porto. (ORTEGA Y GASSET,
1973, p. 66)
110
mais radicais do que todos os conhecidos, inclusive o mais radical de todos:
a total volatizao do homem como homem e seu taciturno reingresso na
escala animal, pela definitiva alterao. A sorte da cultura, o destino do
homem, depende de que no fundo de nosso ser mantenhamos sempre
vivaz esta dramtica conscincia e, como um contraponto murmurante em
nossas entranhas, sintamos bem que para ns s segura a insegurana.
Deve-se observar a natureza dos contedos valorativos legitimadores do sistema
penal. Em plena Idade Moderna, a contribuio de Beccaria foi fundamental no
sentido de questionar a moral poltica150 no direito de punir151 do Estado.
Note-se que as normas jurdicas e as normas morais tm a mesma origem social,
diversificando-se nos seus processos de formalizao e aplicao, mas gerando
uma pluralidade de ordenamentos que disputam a hegemonia. (LYRA FILHO, 1997,
p. 121-122)
Uma corrente comprovadamente minoritria defende o aumento da incidncia do
Direito Penal no campo da vida em sociedade, atuando de forma mais rigorosa na
criminalizao de novas condutas, bem como no aumento das penas dos crimes j
existentes no ordenamento jurdico. Esta corrente de pensamento encontrou,
conforme lio de Fuhrer (2005, p. 101-102)152, grande aceitao nos Estados
Unidos, atravs da poltica do Law and Order.
150
A moral poltica no pode oferecer sociedade qualquer vantagem perdurvel, se no estiver
baseada em sentimentos indelveis do corao do homem. Qualquer lei que no estiver fundada
nessa base achar sempre uma resistncia que a constranger a ceder. Desse modo, a menor fora,
aplicada continuamente, destri um corpo de aparncia slida, pois lhe imprime um movimento
violento. Faamos uma consulta, portanto, ao corao humano; encontraremos nele os preceitos
essenciais do direito de punir. Ningum faz graciosamente o sacrifcio de uma parte de sua liberdade
apenas visando ao bem pblico. Tais fantasias apenas existem nos romances. Cada homem somente
por interesses pessoais est ligado s diversas combinaes polticas deste globo; e cada qual
desejaria, se possvel, no estar preso pelas convenes que obrigam os demais homens.
(BECCARIA, 2000, p. 14)
151
A reunio de todas essas pequenas parcelas de liberdade constitui o fundamento do direito de
punir. Todo exerccio do poder que deste fundamento se afaste constitui abuso e no justia; um
poder de fato e no de direito; constitui usurpao e jamais um poder legtimo. As penas que vo
alm da necessidade de manter o depsito da salvao pblica so injustas por sua natureza; e tanto
mais justas sero quo sagrada e inviolvel for a segurana e maior a liberdade que o soberano
propiciar aos sditos. (BECCARIA, 2000, p. 15)
152
parece que o fundamento dos atuais movimentos Law and Order bem outro. Eles tm por
espelho a poltica criminal norte-americana, conhecida entre ns como Tolerncia Zero. O neoretribucionismo abandonou a crena de que o simples castigo abstrato da pena poderia funcionar
como instrumento eficaz de preveno geral negativa, para adotar o credo do funcionalismo do
sistema. Em outras palavras, passou-se a apostar na aplicao pertinaz da lei, em todos os casos e
rigorosamente, para transmitir a mensagem de inevitabilidade da resposta penal e gerar a crena na
eficcia do sistema (preveno geral positiva). Como se v, esta doutrina coloca em terceiro plano a
exasperao da reprimenda, para dedicar-se a aplicar a lei ao maior nmero de casos possvel,
deixando claro que existe um preo para o crime, e que ele ser inevitavelmente cobrado.
111
Souto (2006, p. 57-58)153 comenta a proposio trazida por Hassemer e Muoz
Conde de um direito de interveno, visto como um ponto de equilbrio entre um
Direito livre das exigncias modernas, mas alheio realidade e aos perigos
inerentes modernizao punitiva. Este direito de interveno, segundo ele,
encontra-se entre o Direito Penal e o Direito Administrativo sancionador, com menos
garantias e formalidades processuais que o Direito Penal, mas com sanes mais
intensas.
Comentando a posio trazida por Jakobs do direito penal do inimigo154, Souto
(2006, p. 57-58) lembra que este aparece em contraposio ao direito penal do
cidado. Para Souto, deve-se pr um freio no defensivismo antigarantista da
moderna poltica criminal, e, em conseqncia, deve-se optar pela liberdade, o
respeito aos valores e aos princpios do Direito Penal garantista por contraposio
defesa do Direito Penal do risco, sendo o primeiro mais compatvel e harmnico com
o marco constitucional.
A nsia de criminalizao do presente Direito Penal encontra ressonncia na prpria
mdia, que hodiernamente veicula notcias sobre o aumento da criminalidade e a
escalada da violncia. Para Garcia (2007, p. 69-70), os meios de comunicao de
massa veiculam imagens que refletem a insegurana da sociedade frente ao crime,
reforando os perigos a que ela est submetida, dando preferncia, nos noticirios,
153
No original: Como punto de equilibrio entre un Derecho libre de las exigencias modernas pero
alejado de la realidad y los peligros inherentes a la modernizacin punitiva se ha propuesto, por
HASSEMER y MUOZ CONDE, un Derecho de intervencin, ubicado entre el Derecho penal y el
Derecho administrativo sancionador, com menos garantias y formalidades procesales que el Derecho
penal, pero con sanciones no tan intensas. De manera semejante SILVA SNCHEZ habla de un
Derecho penal de dos velocidades y JAKOBS contrapone el Feindstrafrecht o Derecho penal del
inimigo al Burgerstrafrecht o Derecho penal del ciudadano. Sin embargo, todo hace pensar que el
proceso neocriminalizador acabar contaminando el ncleo duro del Sistema punitivo
convencional. Para tanto, debe ponerse freno al defensismo antigarantista de la moderna poltica
criminal y, en consecuencia, optamos por la libertad, el respeto a los valores y los principios del
Derecho penal garantista frente a la defensa o seguridad del Derecho penal del riesgo, pues el primer
sistema resulta ms compatible y armnico con el marco constitucional.
154
O conceito mesmo de inimigo introduz de contrabando a dinmica da guerra no Estado de direito,
como uma exceo sua regra ou princpio, sabendo ou no sabendo (a inteno pertence ao
campo tico) que isso leva necessariamente ao Estado absoluto, porque o nico critrio objetivo para
medir a periculosidade e o dano do infrator s pode ser o da periculosidade e do dano (real e
concreto) de seus prprios atos, isto , de seus delitos, pelos quais deve ser julgado e, se for o caso,
condenado conforme o direito. Na medida em que esse critrio objetivo abandonado, entra-se no
campo da subjetividade arbitrria do individualizador do inimigo, que sempre invoca uma necessidade
que nunca tem limites, uma Not que no conhece Gebot. (ZAFFARONI, 2007, p. 25).
112
aos fenmenos criminais, sendo estes objeto de exageros e dramatizao155.
Sobre o papel do Estado neste processo, ressalta Bitencourt (2008, p. 101) que a
onipotncia jurdico-penal do Estado deve contar, necessariamente, com freios ou
limites que resguardem os inviolveis direitos fundamentais do cidado. Destaca
que este o marco de um Direito Penal pluralista e democrtico, a garantir as suas
finalidades de preveno geral e especial.
O desafio apresentado compreende a adoo de polticas criminais capazes de
coibir uma criminalidade em franca expanso. Herrero (2007, p. 181)156 lembra que a
globalizao da criminalidade organizada acompanha a globalizao financeira e
econmica, assemelhando-se o seu comportamento s atividades empresariais
legais, a partir do momento em que procura criar novos mercados, burlar as
legislaes contrrias e explorar as vulnerabilidades presentes nos controles
estatais, sendo que tais organizaes criminosas transnacionais, atravs de alianas
estratgicas, acabam por diversificar suas atividades ilcitas.
Por outro lado, como expresso da busca de um Direito Penal libertrio157 veicula-se
a convenincia158 de abolio do atual sistema penal punitivo, promovendo-se a
155
No original: Los medios de comunicacin masiva han ido conformando una determinada
gramtica de produccin de imgenes de la inseguridad y, singularmente, de la inseguridad ante el
delito; puede afirmarse, sin temor a incurrir en hiprboles, que esta gramtica ha contribuido
sobremanera a priorizar la inseguridad ciudadana en la percepcin subjetiva de los riesgos
contemporneos, as como a generar la desproporcin entidad objetiva-sensacin subjetiva de los
peligros. La atencin de los medios al delito se relaciona con la facilidad del mismo para ser objeto de
presentacin espectacular, y con los consiguientes beneficios en un mercado de la comunicacin con
uma notable tensin competitiva. En efecto, tal dependencia mercantil contribuye a enfatizar los
elementos emocionales de las informaciones, lo que redunda en una mayor atencin a los fenmenos
criminales, objeto de sencilla dramatizacin y, en apariencia, polticamente neutrales.
156
No original: De esta manera la globalizacin de la criminalidad organizada acompaa a la
globalizacin financiera y econmica. El comportamiento se asemeja a las actividades empresariales
legales, desde el momento que procuran conquistar o crear nuevos mercados, eludir las legislaciones
desfavorables y explotar las vulnerabilidades que presentan los controles estatales, en cualquier parte
del mundo. Las organizaciones criminales transnacionales estn estableciendo alianzas estratgicas,
para cceder a mercados, diversificar sus actividades ilcitas, neutralizar a competidores y compartir o
reducir riesgos.
157
Sobre o desejo de liberdade, Rosa comenta que a nsia de liberdade, meta perseguida
incansavelmente pelo homem em sua caminhada para o infinito, no pra um s instante de conduzir
o Direito Penal para um clima de segurana e de respeito, onde possa existir a paz social, que ,
afinal, o supremo objetivo da ordem jurdica. (ROSA, 1995, p. 34)
158
Em seu Informe e Recomendaes ao Conselho da Europa reunido em Estrasburgo (1980), o
Comit Europeu sobre problemas da Criminalidade sustentou que, para abordar racionalmente o
problema sobre se um determinado comportamento deve ser punido penalmente ou descriminalizado,
preciso fazer uma avaliao em trs nveis: Em primeiro lugar deve-se precisar quais so as
situaes que devem ser consideradas como ncleos problemticos dentro do conglomerado social
de que se trata e, simultaneamente, definir qual o grau de poder que se deseja que o Estado
possua em um determinado campo. Em segundo lugar, o benefcio e os custos sociais da
criminalizao ou descriminalizao de cada comportamento devem ser avaliados, incluindo-se nos
113
descriminalizao de condutas hoje consideradas tpicas.
Alegam os abolicionistas que o Direito Penal merece ser abolido, visto no mais
haver sentido em sua existncia. O Direito Penal, para eles, foi erigido ao longo dos
sculos como instrumento a favor da manuteno do status quo das classes
dominantes, e instrumentalizado de forma a excluir as classes menos favorecidas
das garantias penais, estas apenas aparentemente destinadas a todos. A crise de
legitimidade seria apenas mais um argumento sua abolio.
Como outra justificativa necessidade de abolio do sistema penal, aponta-se a
comprovao de sua ineficcia ao longo dos sculos. O Direito Penal, nesta linha de
raciocnio, falhou em todos os objetivos a que se props, constatando-se o seu
fracasso159 em cumprir o fim de preveno do crime, bem como do seu fim/objetivo
de ressocializao do criminoso.
Alguns abolicionistas, como Hulsman e Cellis (1993, p. 140), chegam a apontar o
surgimento de uma nova era, que jamais poder-se-ia sonhar com um sistema penal
repressivo com o atual, mas que se abriria como deciso dos membros de uma
sociedade de auto-compor os seus conflitos, o que no deixa de soar como, se no
romntico, ao menos irrealstico. Segue o pensamento dos citados autores:
Se afasto do meu jardim os obstculos que impedem o Sol e a gua de
fertilizar a terra, logo surgiro plantas de cuja existncia eu sequer
suspeitava. Da mesma forma, o desaparecimento do sistema punitivo
estatal abrir, num convvio mais sadio e mais dinmico, os caminhos de
uma nova justia.
custos o dano causado pelo sistema pessoa condenada e sua famlia, assim como o
deterioramento que a existncia da norma penal pode causar ao congelamento social em seu
conjunto. Por ltimo, deve-se prestar ateno capacidade total do sistema penal, levando em conta
seus recursos em um dado momento, e compreendendo que quando o sistema est sobrecarregado,
produz-se uma deteriorao contraproducente na qualidade de seus resultados que, longe de
resolver, agudiza os conflitos. (Informe do Comit Europeu sobre Problemas da Criminalidade,
1980). (CERVINI, 2002, p. 113-114)
159
Definindo o crime e impondo, como conseqncia, a pena, diz-se comumente que a tarefa do
Direito Penal a luta contra o crime, como se fosse esse seu objetivo. Enganam-se os que assim
pensam. O crime no pode ser combatido eficazmente pelo Direito Penal, que, alis, se volta para as
consequncias e no para suas causas. Qualquer fenmeno social indesejvel h de ser combatido
por meio de aes sociais que ataquem suas causas, e no com as que apenas se voltem contra
seus efeitos. lio de vida elementar, velha, a de que no se cura a doena com medicamentos que
alcancem apenas a dor, ou que faam to-somente ceder a febre, sem que se combata a causa da
molstia. Querer combater a criminalidade com o Direito Penal querer eliminar a infeco com
analgsico. O crime h de ser combatido com educao, sade, habitao, trabalho para todos, lazer,
transportes, enfim, com condies de vida digna para todos os cidados. , portanto, tarefa para toda
a sociedade, para o Estado, para os organismos vivos da sociedade civil, e no para o Direito Penal.
Alm disso, no o Direito Penal instrumento para a transformao dos homens em seres perfeitos.
(TELES, 1998, p. 33-34)
114
difcil conceber que a supresso do sistema punitivo estatal leve a um ambiente
harmonioso e sadio entre os cidados. De fato, a perspectiva abolicionista, por mais
sedutores que sejam os seus argumentos160, tem sofrido pesadas crticas. Como
reporta Queiroz (2008, p. 102), as maiores crticas ao Abolicionismo partem de
Ferrajoli:
Para ele, o abolicionismo penal, muito alm de suas intenes libertrias e
humanitrias, configura-se como uma utopia regressiva que, sob
pressupostos ilusrios de uma sociedade boa e de um Estado bom,
apresenta modelos em realidade desregulados ou autorregulados de
vigilncia e/ ou castigos em face dos quais o direito penal com seu
complexo, difcil e precrio sistema de garantias, que constitui, histrica e
axiologicamente, uma alternativa progressista. Assinala, ainda, o
menosprezo abolicionista por qualquer enfoque garantista, confundindo,
num rechao nico, modelos penais autoritrios e modelos penais liberais, e
no oferecendo contribuio alguma soluo dos graves problemas
relativos limitao e ao controle do poder punitivo. Finalmente, ressalta os
riscos, em especial, de uma provvel sociedade disciplinria que se
sucederia abolio do direito penal e seu cdigo de garantias.
Assim, a inexistncia de um cdigo de garantias representa o maior bice
concepo e visualizao de um abolicionismo penal, j que este implicaria na
ausncia de punio por parte do Estado, permitindo que particulares pudessem
auto-compor os seus conflitos.
As conseqncias de um abolicionismo penal tambm so lembradas por Roxin
(2006, p. 5):
Quem deveria compor e fiscalizar essas instncias de controle? Quem
garantiria a segurana jurdica e evitaria o arbtrio? E, principalmente: como
se pode evitar que no sejam pessoas justas e que pensem socialmente,
mas sim os poderosos a obter o controle, oprimindo e estigmatizando os
fracos? A discriminao social pode ser pior que a estatal. Liberar o controle
do crime de parmetros garantidos estatalmente e exercidos atravs do
rgo judicirio iria nublar as fronteiras entre o lcito e o ilcito, levar justia
pelas prprias mos, com isso destruindo-se a paz social. Por fim, no se
vislumbra como, sem um direito penal estatal, se poder reagir de modo
160
Na direo de uma utopia libertadora, sustenta Herkenhoff: Aquilo em que cremos na fora do
povo organizado. Na fortaleza dos fracos. Na unio dos oprimidos. Na profecia a iluminar a Histria.
No porvir que construiremos com nossa determinao. Na ruptura de todas as opresses. No
rompimento das balizas que marcam o espao de fome dos marginalizados, o espao de vida e morte
dos excludos. No desmantelamento dos mecanismos que geram e sustentam a dependncia
econmica de povos e classes. Na quebra dos grilhes que fazem de um homem um preso. No ocaso
da justia de classe e no advento da Justia do povo. Na demolio da lei que escraviza e no
alvorecer do Direito que iguala todos os homens. No desmascaramento das mentiras e dos engodos,
pela fora do tempo conjugada com as experincias do prprio povo. Na libertao do ser humano,
na ontolgica realizao do seu destino. (HERKENHOFF, 1998, p. 105)
115
eficiente a delitos contra a coletividade (contravenes ambientais ou
tributrias e demais fatos punveis econmicos). Minha primeira concluso
intermediria a seguinte: tambm no Estado Social de Direito, o
abolicionismo no conseguir acabar com o futuro do direito penal.
Roxin (2006, p. 5)161 faz severa advertncia falta de mecanismos efetivos de
controle na perspectiva do status quo proposto pelo abolicionismo. A ausncia
destes mecanismos resultaria, segundo ele, em uma dominao dos mais fortes
sobre os mais fracos, perpetuando-se as injustias e a discriminao social, fazendo
revelar um sistema punitivo mais penoso que o atualmente imposto pelo Estado,
sem a observncia das garantias e direitos hoje assegurados.
O modelo garantista, cujo grande expoente Luigi Ferrajoni162, traz em seu conceito
um conjunto de garantias ao acusado no processo penal, fazendo realar, com a
maior intensidade em todo o ordenamento, o carter protetivo das liberdades do
indivduo. Os dez axiomas163 garantistas lanaram um novo olhar sobre a poltica
161
Claus Roxin critica diretamente as concepes abolicionistas. Para ele: quem deveria compor e
fiscalizar essas instncias de controle? Quem garantiria a segurana jurdica e evitaria o arbtrio? E,
principalmente: como se pode evitar que no sejam pessoas justas e que pensem socialmente, mas
sim os poderosos a obter o controle, oprimindo e estigmatizando os fracos? A discriminao social
pode ser pior que a estatal. Liberar o controle do crime de parmetros garantidos estatalmente e
exercidos atravs do rgo judicirio iria nublar as fronteiras entre o lcito e o ilcito, levar justia
pelas prprias mos, com isso destruindo-se a paz social. Por fim, no se vislumbra como, sem um
direito penal estatal, se poder reagir de modo eficiente a delitos contra a coletividade (contravenes
ambientais ou tributrias e demais fatos punveis econmicos). Minha primeira concluso
intermediria a seguinte: tambm no Estado Social de Direito, o abolicionismo no conseguir
acabar com o futuro do direito penal.
162
Ferrajoli constri o seu modelo garantismo a partir de dez axiomas, a saber: nulla poena sine
crimine; nullum crimen sine lege; nulla lex (poenalis) sine necessitate; nulla necessitas sine injuria;
nulla injuria sine actione; nulla actio sine culpa; nulla culpa sine judicio; nullum judicium sine
accusatione; nulla accusatio sine probatione; nulla probatio sine defensione.
163
Denomino garantista, cognitivo ou de legalidade estrita o sistema penal SG, que inclui todos os
termos de nossa srie. Trata-se de um modelo-limite, apenas tendencialmente e jamais perfeitamente
satisfatvel. Sua axiomatizao resulta da adoo de dez axiomas ou princpios axiolgicos
fundamentais, no derivveis entre si, que expressarei, seguindo uma tradio escolstica, com
outras tantas mximas latinas: A1 Nulla poena sine crimine; A2 Nullum crimem sine lege; A3 Nulla lex
(poenalis) sine necessitate; A4 Nulla necessitas sine injuria; A5 Nulla injuria sine actione; A6 Nulla
actio sine culpa; A7 Nulla culpa sine judicio; A8 Nullum judicium sine accusatione; A9 Nulla accusatio
sine probatione; A10 Nulla probatio sine defensione. Denomino estes princpios, ademais das
garantias penais e processuais por elas expressas, respectivamente: 1) princpio da retributividade ou
da consequencialidade da pena em relao ao delito; 2) princpio da legalidade, no sentido lato ou no
sentido estrito; 3) princpio da necessidade ou da economia do direito penal; 4) princpio da lesividade
ou da ofensividade do evento; 5) princpio da materialidade ou da exterioridade da ao; 6) princpio
da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) princpio da jurisdicionariedade, tambm no
sentido lato ou no sentio estrito; 8) princpio acusatrio ou da separao entre juiz e acusao; 9)
princpio do nus da prova ou da verificao; 10) princpio do contraditrio ou da defesa, ou da
falseabilidade. (FERRAJOLI, 2006, p. 91)
116
criminal. O conjunto de liberdades e garantias do Direito Penal consagra princpios164
que cada vez mais se voltam imposio de barreiras denominada violncia
punitiva estatal.
O sistema punitivo165 atual marcado por uma flagrante crise de legitimidade.
Os fundamentos tico-polticos do Direito Penal compreendem, em igual medida, a
necessria anlise dos bens jurdicos tutelados pelo Estado. Com a evoluo prpria
do Direito Penal e a necessidade de criminalizao, em nvel mundial, de novas
condutas frente a uma sociedade de risco, introduziram-se no ordenamento jurdico
normas penais incriminadoras, cuja objetividade jurdica, em alguns casos ambgua
e imprecisa, acaba por colocar em xeque a credibilidade do prprio sistema penal
punitivo.
Trata-se, ento, de questionar a legitimidade na escolha dos bens jurdicos a serem
legalmente tutelados, bem como a investigao de eventuais incongruncias na
escolha, pelo legislador, das sanes correspondentes a cada tipo penal
incriminador (pena cominada), j que esta revela, em muitos casos, significativa
disparidade na comparao valorativa entre os bens jurdicos.
da natureza de qualquer rea do Direito a proteo de bens jurdicos. No que se
refere ao Direito Penal, esta proteo se faz ainda mais premente, j que, pela sua
prpria natureza (fragmentaridade e subsidiaridade), s deve tutelar os bens
jurdicos166 de maior monta. Pontua Brando (2008, p. 13) que a escolha dos bens
jurdicos discricionria, cabendo somente ao legislador a sua criao ou
manuteno167. Malgrado a sua escolha passar pela discricionariedade do
164
Como princpios do Direito Penal, citam-se a adequao social, a fragmentariedade, a interveno
mnima, a lesividade, a insignificncia, a proporcionalidade, a culpabilidade, dentre outros. Muitos dos
princpios de natureza penal ganharam, com o advento da Constituio, o status de princpios
constitucionais penais ou penais constitucionais.
165
O sistema punitivo constitudo pela polcia, justia e priso, como o mais importante aparelho de
controle social, garante os fundamentos e reproduz as condies de produo da fbrica, baseadas
na separao trabalhador/meios de produo enquanto a famlia, a escola, os meios de
comunicao e outras instituies complementares de controle social cuidam da formao da massa
de trabalhadores e de sua adequao s necessidades materiais e intelectuais dos processos
produtivos. (SANTOS, 2006, p. 130-131)
166
Bens jurdicos so valores tico-sociais que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz
social, e coloca sob sua proteo pata que no sejam expostos a perigo de ataque ou a leses
efetivas. (TOLEDO, 1994, p. 16)
167
Do ngulo penalstico, portanto, bem jurdico aquele que esteja a exigir uma proteo especial,
no mbito das normas de direito penal, por se revelarem insuficientes, em relao a ele, as garantias
oferecidas pelo ordenamento jurdico, em outras reas extrapenais. No se deve, entretanto e esta
uma nova conseqncia do j referido carter limitado do direito penal supor que essa proteo
penal deva ser abrangente de todos os tipos de leso possveis. Mesmo em relao aos bens
117
legislador168, estes bens representam o conjunto de direitos e liberdades mais caros
a uma sociedade, merecendo, destarte, que a sua violao seja tipificada em lei,
com a correspondente sano penal.
A prpria criao do tipo169 revela-se evoluo histrica que teve incio no
Iluminismo, como modo de frear a punio de condutas proibidas sem a necessria
previso anterior da lei, assim como impedindo a livre instituio de penas sem a
anterior disposio legal, consagrando, com isso, o princpio da legalidade.
Entretanto, alerta Brando (2008, p. 13) que:
A tutela de bens jurdicos no pode ser realizada de qualquer modo e a
qualquer preo. Em primeiro lugar, essa tutela somente poder ser realizada
e considerada como legtima se observados os requisitos impostos pelo
Estado de Direito (v.g., Legalidade, Culpabilidade, Interveno Mnima). Em
segundo lugar, porque a pena retira direitos constitucionais da pessoa
humana, somente haver proporcionalidade se o bem jurdico tutelado tiver
guarida constitucional, isto , se situar entre aqueles bens protegidos pela
Carta Magna, quer sejam de natureza individual (vida, patrimnio, etc.) ou
supra-individual (meio-ambiente, ordem econmica, etc.)
jurdico-penalmente protegidos, restringe o direito penal sua tutela a certas espcies e formas de
leso, real ou potencial. Viver um risco permanente, seja na selva, entre insetos e animais
agressivos, seja na cidade, por entre veculos, mquinas e toda sorte de inventos da tcnica, que nos
ameaam de todos os lados. No misso do direito penal afastar, de modo completo, todos esses
riscos o que seria de resto impossvel paralisando ou impedindo o desenvolvimento da vida
moderna, tal como o homem, bem ou mal, a concebeu e construiu. Protegem-se, em suam,
penalmente, certos bens jurdicos e, ainda assim, contra determinadas formas de agresso; no
todos os bens jurdicos contra todos os possveis modos de agresso. (TOLEDO, 1994, p. 17)
168
No se concebe a existncia de uma conduta tpica que no afete um bem jurdico, posto que os
tipos no passam de particulares manifestaes de tutela jurdica desses bens. Embora seja certo
que o delito algo mais ou muito mais que a leso a um bem jurdico, esta leso indispensvel
para configurar a tipicidade. por isto que o bem jurdico desempenha um papel central na teoria do
tipo, dando o verdadeiro sentido teleolgico (de telos, fim) lei penal. Sem o bem jurdico, no h um
para qu? do tipo e, portanto, no h possibilidade alguma de interpretao teleolgica da lei penal.
Sem o bem jurdico, camos num formalismo legal, numa pura jurisprudncia de conceitos.
(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2006, p. 396-397)
169
Sobre a origem histrica do tipo, ensina Camargo: Von Liszt e von Beling deram dogmtica o
primeiro impulso, [...] O delito comeou a ser tratado como ao antijurdica e culpvel. A dogmtica
penal tem seu suporte no aptema de Beling: no h delito sem tipicidade, o que determinou o
desenvolvimento da teoria do tipo, em todos os seus aspectos, dando incio ao que se determinou
chamar de etapa clssica. Assim, a pena de retribuio pelo delito passa a ser a sua conseqncia. A
teoria de Beling no ficou imune s crticas e foi reformulada em 1930, num trabalho em homenagem
a Frank. [...] A formulao de Beling deu ao Tatbestand, do artigo 59 do Cdigo do Reich, um sentido
tcnico relevante para o Direito Penal. O conceito de Tatbestand remonta ao Direito Processual
Penal, particularmente ao direito inquisitorial italiano, e est vinculado ao corpus delicti desenvolvido
pelos processualistas com carter predominantemente objetivo, no sendo certo que o tenha sido por
absoluta irrelevncia do aspecto subjetivo. [...] Poucos so os estudos em lngua portuguesa que
especificam a evoluo do conceito do tipo, encontrando-se alguns dados em Anbal Bruno, que
segue, em linhas gerais, a formulao de Jimnez de Asa, considerada por Folchi o melhor estudo
em lngua castelhana sobre a evoluo histrica da tipicidade. (CAMARGO, 1982, p. 6-8)
118
por meio da tutela dos bens jurdicos170 que o Direito Penal cumpre uma das suas
principais funes: a de administrar a Justia em cada caso concreto171.
Para Herrero (2007, p. 177)172, determinados bens jurdicos, por exemplo a vida,
devem sempre ser tutelados, enquanto que outros, em virtude de seu carter cultural
e circunstancial, podem ser ou no objeto de proteo estatal. Na considerao dos
bens jurdicos mais importantes, destacam-se, segundo ele, os relacionados aos
direitos humanos e dignidade da pessoa humana, merecendo sempre a tutela do
Estado.
Bouloc, Lavasseur e Stefani (1992, p. 17)173 lembram, no tocante salvaguarda de
bens jurdicos, o carter fragmentrio do Direito Penal, em sua necessidade de
intervir minimamente na regulao de condutas proibidas. Para eles, todas as regras
destinadas ao controle entre os cidados devem merecer a correspondente sano.
Entretanto, essas sanes no devem sempre ser destinadas ao Direito Penal,
devendo este somente intervir nos casos considerados mais graves. Assim, a
primeira tarefa que se impe aos poderes pblicos a de determinar quais so os
170
Com esta aspirao tica, o direito penal participa da aspirao tica geral de toda a ordem
jurdica e nos revela que o direito penal, conforme vai se aproximando de sua meta asseguradora,
cumpre tambm uma funo formadora do cidado, da qual nossa civilizao consciente desde a
Grcia antiga. A coero penal (basicamente a pena) deve procurar materializar esta aspirao tica,
mas a aspirao tica no um fim em si mesma, e sim que sua razo (seu porque e seu para
qu) sempre dever ser a preveno de futuras afetaes de bens jurdicos. O fim de prover
segurana tutelando bens jurdicos o que marca um limite racional aspirao tica do direito
penal. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2006, p. 88).
171
Assim, no s no interesse individual, como para garantia geral da collectividade, cumpria
precisar taxativamente as aces ou omisses, consideradas crimes ou contravenes, e limitar o
arbtrio da respectiva represso, isto , designar antecipadamente a pena a que ficaria sujeito o
infractor do preceito legal. (FARIA, 1913, p. 14)
172
No original: Las reflexiones precedentes son, para mi, asumibles casi por entero. Pero aadiendo
que parece, desde luego, que una concepcin sostenible de delito debe dejar a salvo: una dimensin
de valores perennes (vida humana, integridad fsica, libertad, derecho al menos a una mnima
propriedad de cosas...) afectados con todos los matices transitrios que se quiera y, a la vez, un rea
o mbito de valores que, en virtud de su entidad puramente cultural y circunstancial, han de ser
objeto, o no, de alta consideracin y proteccin si as lo estima la mayora da la comunidad. Los
ataques graves y intencionales contra la vida humana, por ejemplo, deben ser considerados siempre
como delito, sea cual fuere el estado de opinin de una sociedad. No as, verbi gratia, el adultrio.
Los derechos humanos, los inherentes a la dignidad de la persona en cuanto tal, han de ser siempre
defendidos penalmente contra ataques dolosos y graves, si no pueden protegerse por outra va
jurdica, an en contra de la opinin de la mayora social.
173
No original: Toutes les rgles en usage pour les rapports entre les hommes ne sont pas
galement importantes pour lordre public; il est bon quaucune de ces rgles ne reste sans sanction,
mais ces sanctins ne doivent pas toujours tre empruntes au droit pnal, ce dernier ne doit intervenir
que dans les cas les plus graves. La premire tche qui simpose aux pouvoirs publics est donc de
dterminer quelles sont les prescriptions dont limportance justifie ces sanctions exceptionnelles; cest
le problme de lincrimination; il commande tous les autres. Que ces incriminations soient tablies de
faon coutumire ou par un texte, la lutte contre la criminalit, sur quelque plan que ce soit, ne pourra
tre organise quensuite.
119
comandos legais cuja importncia justifica sanes excepcionais. Desse modo, o
problema central da luta contra a criminalidade consiste na incriminao.
Por seu turno, para Chavanne e Levasseur (1971, p. 3)174, a existncia do Direito
Penal responde a uma necessidade social, sendo uma constatao da experincia
que as regras impostas pelos poderes pblicos nunca so integralmente
respeitadas, j que no podem frear ou impedir a existncia de um fenmeno
criminal, objeto de investigao por parte da Criminologia. Nesta lgica, os poderes
pblicos procuram meios os mais eficazes para suprimir ou, ao menos, limitar a
criminalidade, objetivo buscado pela poltica criminal, esta correspondente a um
conjunto de medidas por meio das quais os poderes pblicos procuram obter
obedincia, fazendo-se cumprir as regras da vida social, cuja violao coloca em
perigo a sociedade.
Do ponto de vista da incriminao, Muoz Conde (2004, p. 26)175 lembra que o
comportamento humano s adquire relevncia jurdico-penal na medida em que
coincide com o correspondente tipo delitivo. Nesta lgica, tanto a ao como a
omisso tpicas so objeto de uma valorao que lhes do sentido e significado.
Nesta perspectiva, devem os
bens
jurdicos ter alguma
substancialidade
(materialidade), a fim de que a pena no seja imposta apenas como mera reao
desobedincia de deveres jurdicos estatais. A violncia punitiva estatal faz-se
presente na criao arbitrria de inmeros tipos penais, muitos dos quais
desprovidos de mnima fundamentao e materialidade, a criarem-se bens jurdicos
para a legitimao e garantia de qualquer norma que se deseje.
174
No original: Lexistance du droit pnal rpond une ncessit sociale. Cest une constatation
dexprience que les rgles poses par les pouvoirs publics ne sont jamais intgralement respectes.
Il existe um phnomne criminel dont une science spciale et nouvelle, la criminologie, sefforce de
rechercher lampleur, les causes et les remdes, ce qui peut aider sensiblement dans sa tche le
lgislateur rpressif. (...) Les pouvoirs publics recherchent les moyens les plus efficaces pour
supprimer ou tout au moins pour limiter autant que possible la criminalit; ils poursuivent dans ce but
une certaine politique criminelle (comme ils poursuivent en dautres domaines une politique trangre,
une politique conomique, une politique sociale, etc) La politique criminelle dun Etat est lensemble
des mesures laide desquelles les pouvoirs publics sefforcent dobtenir lobservation aussi complte
que possible des rgles de vie sociale dont la violation met en pril la socit.
175
No original: El comportamiento humano slo adquiere relevancia jurdico-penal en la medida en
que coincida con el correspondiente tipo delictivo. Pero tambin hay que tener en cuenta que slo
aquello que puede ser considerado como accin o, en su caso, omisin puede ser objeto de
tipificacin. El concepto de accin es, pues, el objeto de una valoracin, no la valoracin misma que
se hace posteriormente en las restantes categoras del delito, aunque, como veremos, tambin en la
determinacin de los conceptos de accin y omisin hay que recurrir a valoraciones que le dan
sentido o significado como tal.
120
Na construo das figuras tpicas, criam-se entes jurdicos abstratos, elevados, por
meio de uma construo conceitual dogmtica, condio de bens jurdicos, o que
corresponde, em ltima anlise, a exerccio de manipulao do Direito Penal na
consecuo de fins particulares.
Rushe e Kirchleimer (1999, p. 274) atribuem os fracassos do sistema penal no ao
sistema social, mas fraqueza inerente prpria natureza humana, de cujos
mecanismos de excluso e represso social no consegue dissociar-se, de tal sorte
que as imperfeies do sistema penal espelham as imperfeies da prpria
sociedade. A conseqncia, segundo eles, a existncia de uma iluso de
segurana que encobre uma doena social.
A proposio de Minahim e Colho (2007, p. 109) parte da necessria investigao
dos elementos ontolgicos valorados pelo ordenamento jurdico, compreendidos em
uma estrutura lgico-objetiva176, sem a qual o sistema penal resultaria inseguro.
Brando (2007, p. 129), por seu turno, prega a unio entre os elementos tcnicodogmticos do Direito Penal com o seu significado poltico177. Para ele, o Direito
Penal corresponde ao termmetro da feio poltica do Estado, de tal sorte que se a
violncia da pena for aplicada de forma ilimitada, sem resguardar a dignidade da
pessoa humana, estaremos diante de um Estado arbitrrio; de outro, se a violncia
da pena for aplicada dentro dos parmetros de proporcionalidade, estar-se- diante
de um Estado democrtico.
No se descura, entretanto, o carter discriminatrio e segregador do Direito Penal,
engendrando, de acordo com Giorgi (2006, p. 104), instrumentos de conteno de
massa tendo como dispositivo o crcere, utilizado como mecanismo de
176
O respeito lgica intrnseca permite que as prescries jurdicas sejam verificadas porque
possuem capacidade de constatao. Isso ocorre quando os signos esto correlacionados com a
realidade, quando ele expressa os atributos e propriedades do ser. Se tudo aquilo que dado a
conhecer tem uma essncia que permite distingui-lo de outro ser, tudo que tem uma mesma essncia
tem o mesmo sentido e o direito no pode desconhecer tais situaes. O decisionismo que ignora as
categorias do ser afeta, dessa forma, a funo da dogmtica como recurso necessrio segurana
do sempre buscado direito penal de garantia. (MINAHIM; COLHO, 2007, p. 109)
177
O fenmeno da alienao tcnica dos polticos somado alienao poltica dos tcnicos conduz
falta de norte do direito penal. Com esse fenmeno, o direito penal se assemelha a um traje de
arlequim, j que suas normas nunca guardam harmonia, ora existindo leis extremamente severas, ora
extremamente brandas, sem que se atinja um ponto de equilbrio. A sua aplicao concreta, por outra
parte, fica assemelhada a um lance de sorte, porque os julgamentos variaro sempre entre a tcnica
autista do silogismo nu, vinculada que est ideologia do sculo XVIII de que a lei pode encerrar
em si toda a complexidade humana na regulao de condutas -, ou estaro em conformidade com um
raciocnio mais elaborado e trabalhoso, que se utiliza da tpica e da hermenutica, tendo a
Constituio como baliza entre a lei e o caso. (BRANDO, 2007, p. 129)
121
fragmentao e separao hierrquica que reafirma a diferena entre includos e
excludos178.
A afirmao de que o aumento das penas propicia a diminuio dos crimes via
intimidao dos criminosos ainda se mostra a ferramenta poltica de atuao do
Estado no combate criminalidade, afetando o Direito Penal, seja com o aumento
dos tipos penais, seja com o incremento das penas ou das medidas de carter
processual, o que revela a utilizao estratgica do Direito Penal como instrumento
garantidor do estado de desigualdades na sociedade.
Esta atitude de punio impede o reconhecimento, segundo Garland (2008, p. 430),
de que o Estado encontra srias limitaes em sua tarefa de prover segurana
coletividade e um adequado controle social sobre a criminalidade, sobretudo
considerando a realidade do mundo ps-moderno179 e a necessidade de
descentralizao dessas funes.180
A necessidade de aproximao entre a dogmtica e a realidade social engendra, na
viso de Rocha (2000, p. 123), o controle da atuao repressiva do Estado na
realizao de objetivos socialmente construtivos, devendo a poltica criminal
atender aos anseios de preveno do crime e proteo da liberdade individual,
concomitantemente s premissas do Estado Democrtico de Direito. (ROCHA, 2000,
178
Denunciando a alienao do sistema penal aos interesses de uma lgica neoliberal, manifesta-se
Batista: Se estamos assistindo ao espetculo do crescimento dos dispositivos penais; se no
neoliberalismo o Estado Previdencirio se transforma no Estado Penal; se estamos assistindo ao
encarceramento do que se auto-intitulou mundo livre, ento estamos falando de uma trincheira
muito importante para os embates ps-modernos: o direito e seus intelectuais. no front da questo
criminal que est ocorrendo a principal luta poltica; a discusso da segurana pblica o grande
palco da construo do poder, porque a que o neoliberalismo faz gua, a que est a contradio
fundamental, como dizia o imprescindvel Karl Marx. Neste combate, os advogados, delegados,
juzes, promotores que emprestarem sua energia para conter a deslegitimar a mquina mortfera, o
sistema penal neoliberal, esses esto demolindo os sustentculos do Admirvel Mundo Novo. Nos
seus escombros, seus pores, vamos remexer nos velhos textos de Tobias Barreto, nos escritos de
Frei Caneca, o livrinho mal encontrado no pescoo do escravo negro sem nome, as defesas de
Heleno Fragoso, os Sertes de Euclides e de Rosa, a carta-testamento de Getlio. Vamos luta! O
melhor est por vir! (BATISTA, 2005, p. 55)
179
No complexo e diversificado mundo da ps-modernidade, o governo efetivo e legtimo deve
devolver poderes e compartilhar a tarefa de controle social com organizaes locais e comunidades.
Ele no pode mais confiar no saber do Estado, em burocrticas agncias estatais inertes e nas
solues universais impostas de cima. Tericos sociais e polticos h muito vm argumentando que o
governo efetivo em sociedades complexas no pode se esteiar em comando e coero centralizados.
Em lugar disto, deve incrimentar as capacidades governamentais com as organizaes e associaes
da sociedade civil, com o conhecimento e os poderes locais que estas contm. Ns estamos
descobrindo ainda em tempo que isto tambm verdadeiro para o controle do crime.
(GARLAND, 2008, p. 430)
180
Para Ferrajoli, no podemos, malgrado as suas imperfeies, desfazermo-nos do Direito Penal
como instrumento vlido de controle social, desde que observadas as indispensveis garantias
constitucionais. (FERRAJOLI, 1995, p. 223).
122
p. 127)
Por igual turno, prope Suxberger (2006, p. 173) uma interveno penal que no se
afaste de uma percepo axiolgica na construo das solues dogmticas181,
espelhada, assim, nos moldes de uma poltica criminal valorativa, a substituir o
direcionismo estatal por uma atuao cujos valores sejam extrados de uma poltica
criminal182 voltada aos fins do prprio Direito Penal. Esta atuao deve ter como
espelho as normas constitucionais, de forma a guiar o legislador na escolha dos
bens jurdicos merecedores da tutela penal, limitando, por conseqncia, o carter
de atuao repressiva do Estado punitivo.
3.3 TEORIAS DA PENA
Delimitar o fundamento da pena delimitar, em certa medida, como j se disse, o
fundamento do prprio Direito Penal, j que a pena o mecanismo elementar
utilizado por este domnio do Direito na consecuo dos seus fins. No outro o
entendimento de Zugalda Espinar (2004, p. 48), para quem as teorias da pena so
propostas legitimantes do Direito Penal, constituindo teorias sobre a sua funo e
legitimidade.
A necessidade de justificao racional da pena repousa na tentativa de legitimao,
frente coletividade, dos mecanismos coercitivos escolhidos pelo poder dominante.
Com efeito, a imposio de sanes por parte do sujeito (Estado, legislador, juiz,
etc...) carece de justificao a partir do momento em que os destinatrios sociais da
norma possam questionar a racionalidade das medidas coercitivas, no plano da
relao entre punidor e punido.
181
Uma interveno penal que se pretenda legtima no poder se afastar de uma percepo
axiolgica para a construo de solues dogmticas e da prpria definio substancial do delito. O
direito penal experimentou uma mudana de disciplina jurdica puramente tcnica e de negao
valorativa para uma orientao segundo uma poltica criminal valorativa. A ausncia dessa referncia
tem ensejado uma utilizao da interveno penal que no observa seu carter de ultima ratio,
convertendo-se em instrumento poltico de direo social, com evidente prejuzo ao seu papel de
proteo jurdica subsidiria a outros ramos do ordenamento e ao seu substrato legitimador. O modo
pelo qual a interveno penal se legitima informado por valores extrados de um programa de
Poltica Criminal, que segue orientado, por sua vez, pelas finalidades a serem buscadas pelo direito
penal. (SUXBERGER, 2006, p. 167)
182
radicando na concepo de que a interveno penal reflete o modelo de Estado a que se aspira,
consentnea com o sistema poltico-criminal vicejado pelo funcionalismo teleolgico, impe-se a
adoo de uma teoria constitucional do bem jurdico, que procure formular critrios aptos a orientar e
limitar o legislador penal quando da criao de tipos penais com lastro na Constituio vigente.
(SUXBERGER, 2006, p. 173)
123
Aborda-se, neste momento, a perspectiva jusfilosfica correspondente justificao
histrica da pena, cujas bases instrumentais resultaram nas teorias absoluta, relativa
e mista.
Embora no se possa condicionar o estudo da evoluo das penas existncia de
momentos histricos compartimentados e uniformes no tempo, a evoluo das
penas, por encontrar ntima relao com a prpria evoluo do Direito Penal, toma
como base os perodos da chamada vingana privada183, vingana divina e vingana
pblica.
O primeiro perodo marcado pela ausncia da figura do Estado como administrador
da justia, o que acabava por permitir aos indivduos o se faire justice, de modo a
fazer valer a sua justia como vingana pessoal.
A satisfao da justia pelas prprias mos criava inconvenientes que passaram a
ser censurados pelo prprio grupo social, fazendo com que a titularidade da
administrao da justia passasse a ser delegada a determinados membros do
grupo184 (chefe da tribo185, rei, sacerdote, etc...).
183
A primeira fase que se perde na noite dos tempos dominou entre as tribos primitivas, quando o
poder social, ainda incipiente e elementar, no se constitura, diferenciando-se nitidamente da
coletividade. A reao contra o mal representado pelo delito era exercida, pelo ofendido e por sua
famlia, no s contra o ofensor, mas ainda contra todas as pessoas que a ele se encontrassem
ligadas por laos familiais ou de sangue. A vingana era desmedida, inspirando-se na paixo e na
revolta que o delito naturalmente suscita, mxime quando se sente na prpria carne o seu malefcio.
Desencadeava sangrentas lutas entre as diversas tribos. O triste esplio desses conflitos era o
avultado nmero de mortos, feridos e mutilados. A pena de talio olho por olho, dente por dente
representou, na fase da vingana privada, um aprecivel progresso, pois inseriu, naquela concepo,
a idia de limite e proporo. O castigo a ser imposto ao delinqunte deveria ser igual, na sua espcie
e na sua intensidade, ao mal sofrido pela vtima. (MARTINS, 1974, p. 41)
184
A princpio, o exerccio do poder de punir encontrava-se exclusivamente nas mos do ofendido.
Mas, pouco a pouco, foi se afirmando o interesse da comunidade, de modo mais veemente e
preponderante. Vemos assim trs elementos que j prenunciam, rudimentarmente, a formao de um
Direito Penal: a medida da pena aproximando-se do dano do delito, a insero da culpa no conceito
da pena, o exerccio do jus puniendi no mais pelo ofendido, mas pelo grupo, atravs da autoridade
do sacerdote, do rei ou do magistrado. (MARTINS, 1974, p. 320)
185
o rapto, quando ocorria entre tribos diversas, constitua crime gravssimo, dando origem a
sangrentas guerras tribais, porque, em tal situao, a ofensa no era contra a famlia da donzela, mas
principalmente contra a tribo. O adultrio era considerado tambm crime gravssimo, pelo menos em
algumas tribos, quando cometido pela mulher, que devia ao marido uma constncia de amor
integral, e, se prevaricasse, era inexoravelmente morta pelo marido; o adultrio do marido, no
entanto, era considerado indiferente penal. O homicdio e as leses corporais eram severamente
punidos, pois o direito penal indgena protegia o ser humano na sua vida e na sua integridade
corprea. O homicdio era punido com a morte quando ocorria entre membros da mesma tribo, mas,
em se tratando de membros de tribos diversas, quase sempre levada guerra. Quanto s leses, as
penas eram executadas pelos familiares do ofendido, proporcionais ao mal causado e na mesma
regio do corpo atingido pelo acusado, sendo que o homicdio culposo no era punido, pois
reclamava um estgio de evoluo de que careciam os nossos silvcolas. O aborto parece ter sido
praticado livremente entre os povos indgenas, tendo o condo de vingana oposta pela mulher
124
O segundo perodo correspondeu vingana em nome dos deuses, que, ofendidos
pela prtica do crime, aspiravam compensao do mal causado pelo castigo a ser
infligido ao criminoso. Este perodo marcado na histria pela viso do crime como
um pecado, concepo que dominava o imaginrio de povos primitivos. Dita
racionalidade baseava-se nos mitos, em uma representao antropomrfica de que
os deuses, com os troves, raios e tempestades, manifestavam um furor somente
passvel de ser sanado com prticas ritualsticas, ensejando sacrifcios peridicos a
eles oferecidos. Na Idade Mdia, com o primado da Igreja Catlica e a criao da
Inquisio, a barbrie punitiva em nome de um Ser supremo assumiu uma de suas
expresses mais ntidas e perversas, na viso hodierna.
O terceiro perodo (vingana pblica) corresponde tomada da titularidade do poder
punitivo nas mos do Estado, de forma a exercer, com exclusividade, o jus puniendi
em seu papel de administrar a justia. Fala-se, a partir daqui, em uma vingana
pblica. Dita terminologia, revelando-se inadequada frente evoluo do Direito
Penal moderno, acabou substituda em meio mensurao de novos fins a serem
perseguidos pelo Estado com o mecanismo da pena, como a preveno do crime e
a ressocializao do criminoso.
Apesar de todo o esforo tendente a uma sistematizao prpria dos estgios
evolutivos do Direito Penal e dos estgios evolutivos da pena, estas realidades se
interpenetram inevitavelmente186, isso porque, em suas origens, o Direito Penal
correspondia a um Direito da pena (direito/dever de aplicar a pena), consistindo
simplesmente em uma compilao de normas incriminadoras das condutas proibidas
grvida ao marido que a maltratava. Tanto o aborto quanto o infanticdio eram considerados
indiferentes penais. Os crimes patrimoniais no assumiram grande importncia entre os nossos
ndios, em face da vida simples e em extremo frugal que levavam, mas nem por isso o furto deixava
de ser punido entre eles, castigado com a pena de aoites. J o roubo no era conhecido entre eles.
No conheciam o instituto da prescrio, j que a vingana entre os nossos indgenas no era
esquecida. Extremamente grave era o crime de desero, j que afrontava o status de guerreiro
dentro da comunidade. (PIERANGELI, 2001, p. 42-43)
186
A origem da pena muito remota, perdendo-se na noite dos tempos, sendo to antiga quanto a
Histria da Humanidade. Por isso mesmo muito difcil situ-la em suas origens. Quem quer que se
proponha a aprofundar-se na Histria da pena corre o risco de equivocar-se a cada passo. As
contradies que se apresentam so dificilmente evitadas, uma vez que o campo encontra-se cheio
de espinhos. Por tudo isso, no uma tarefa fcil. Surge uma ampla gama de situaes e variedade
de fatos, que se impem a consideraes, com magnficos ttulos para assumir a hierarquia de fatores
principais. Porm, so insuficientes. A carncia de continuidade quase total. H muitos exemplos.
Os retrocessos, a dificuldade de fixar indicadores e perseguir sua evoluo, a confrontao das
tendncias expiatrias e moralizadoras (estas ltimas nem sempre bem definidas) dificultam qualquer
pretenso narrativa de ordem cronolgica. Um bom exemplo dos retrocessos referidos a prpria
apario da priso-pena, que ocorre em fins do sculo XVI, para depois ficar sepultada nos dois
sculos seguintes. (BITENCOURT, 2008, p. 439)
125
por parte do poder institudo.
Este o pensamento de Martins (1974, p. 41), para quem a evoluo do Direito
Penal corresponde prpria evoluo do homem sobre a Terra, tendo ainda o
prprio Direito comeado a se manifestar atravs da pena187, de tal sorte que o
Direito Penal, tal como o conhecemos, s surgiria de forma recente no estgio
civilizatrio188. De fato, ao constatar-se esta verdade, depara-se com uma histria de
barbries sem precedentes189.
187
As primeiras leis foram leis penais. Nas sociedades primitivas, o direito era inteiramente penal. A
primeira lei que se imps aos legisladores e aos juzes, antes de fixar os direitos, foi a de aplicar
penas. (...) Nascendo com a sociedade e evoluindo sua imagem e semelhana, o crime
conceituado e punido de acrdo com os fundamentos de cada organizao social. Proveem da
sociedade, direta ou indiretamente, as suas causas e manifestaes. Finalmente, em nome da
sociedade, tal como foi constituda em tempo e espao determinados, para seu bem e sua ordem,
que se recorre pena. Comina-se, aplica-se, executa-se a pena em funo da sociedade, que cria os
choques de intersses, os exemplos de fraude e violncia, os motivos e os instrumentos do crime. A
prehistria refere-se idade da pedra polida, mas o admirvel surto dos acontecimentos humanos j
permite falar-se em ante-prehistria, na qual no podia haver lei escrita. As investigaes sbre os
mistrios egpcios conseguiram fixar, na idade neoltica, os indcios de uma civilizao indgena no
Egito. Admite-se, assim, a existncia de cls totmicos, em que o rei, descendente de totem, sua
encarnao e seu representante, exercia, regularmente, um direito de punir. (LYRA, 1942, p. 10-11)
188
Por milnios, o Direito Penal confundia-se com a prpria pena, cuja desumanidade e
desproporcionalidade, marcas da prpria histria do homem sobre a Terra, so reveladas nesta
passagem de Grimberg sobre o antigo Egito: Comparada com a da maior parte dos outros povos da
Antiguidade, a justia dos Egpcios era bastante branda. A alta traio era punida pela ablao da
lngua. O homem culpado de perjrio era, por vezes, condenado morte, outras vezes cortavam-lhe o
nariz e as orelhas e metiam-lhe depois a cabea numa golilha. Os juzes que haviam proferido uma
m sentena sofriam tambm a ablao do nariz e das orelhas. Alguns delinquntes polticos tinham o
privilgio de evitar a humilhao de um processo suicidando-se. Esse ato tanto podia ocorrer na
presena dos juzes como em casa do condenado. Aquele que no se tivesse disposto a ajudar um
homem em perigo era sovado e obrigado a jejuar durante trs dias. O mesmo castigo era aplicado a
quem no fazia tudo quanto podia para apanhar um ladro. Aquele que matasse o seu pai era
primeiro mutilado e depois queimado vivo. Aquele que cometesse adultrio, recebia mil bastonadas;
se uma mulher cometesse esse delito, cortava-se-lhe o nariz. Quem violasse uma mulher era
mutilado de tal forma que se tornaria impossvel rescindir. Aquele que fizesse moeda falsa,
falsificasse documentos ou falseasse o peso das mercadorias perdia a mo direita ou as duas mos.
Aquele que proferisse uma falsa acusao receberia o castigo que teria sido aplicado ao acusado se
a queixa tivesse sido fundada. O exlio era um castigo severo. No extremo nordeste do pas, na
fronteira da Palestina, erguia-se uma fortaleza para onde eram deportados, depois de se lhes ter
cortado o nariz, os funcionrios culpados de violncias para com os seus subordinados. No extremo
sul, na Etipia, encontra-se um outro campo de deportao. Os presos mutilados trabalhavam nas
minas de ouro. Esta Sibria egpcia inspirava um terror tal que o juramento prestado pelas
testemunhas perante o tribunal era assim formulado: Se eu mentir, que me mutilem e me enviem
para as minas da Etipia!. Outras frmulas de juramento eram: Se eu mentir, no quero mais comer
nem beber, mas morrer aqui; ou ainda: Se eu no mantiver o que digo, lanai-me ao crocodilo.
(GRIMBERG, 1989, p. 29-30)
189
A histria das penas aperece, numa primeira considerao, como um captulo horrendo e
infamante para a humanidade, e mais repugnante que a prpria histria dos delitos. Isso porque o
delito constitui-se, em regra, numa violncia ocasional e impulsiva, enquanto a pena no: trata-se de
um ato violento, premeditado e meticulosamente preparado. a violncia organizada por muitos
contra um. A Antiguidade desconhecia a privao de liberdade como sano penal. O
encarceramento existe desde muito tempo, mas no como a natureza de pena, seno para outros
fins. (LOPES JR., 2009, p. 1)
126
O Direito Penal deu um gigantesco salto histrico com o advento do Iluminismo,
fazendo desmoronar aos poucos as facetas sombrias do Direito Cannico no mbito
punitivo e as injustias da Inquisio. Neste particular, destacam-se decisivamente
as contribuies de Cesare Beccaria e John Howard190. A obra Dos Delitos e das
Penas, talvez a mais monumental obra jurdica j escrita, permitiu ao mundo
conceber uma nova realidade mais humana no mbito punitivo, dando forte impulso,
como relata Puglia (1890, p. 45)191, ao movimento reformador do Direito Penal,
combatendo o sistema punitivo de sua poca, inspirado nas idias de justia e
utilidade social.
No entanto, no que tange realidade luso-brasileira, ditas idias iluministas no
foram igualmente absorvidas entre ns como em outras naes. Neder (2007, p.
165) atribui este fato a um apego viso de mundo tomista, que seria caracterstica
da realidade poltica e ideolgica dos jesutas, marcada por uma rgida
hierarquizao social e permanncias culturais duradouras, contribuindo, para isso,
particularidades psicolgicas e comportamentais prprias ao povo lusitano.
Outro grande impulso ao Direito Penal moderno foi dado pela Escola Clssica192, em
cujas bases esto assentados os alicerces de um Direito Penal cientfico, e a quem
se atribui a criao dos principais institutos jurdicos que compem o atual sistema
punitivo193.
190
Sizudo e austero, o placido calvinista de Bedfordshire tinha renunciado ao goso da sua fortuna, do
seu bem estar, dos seus ocios, da sua quietude, para inspeccionar os carceres de quasi toda a
Inglaterra, em seguida as prises de quasi todos os paizes europeus. Antes desse voto de caridade e
assistencia, John Howard fra aprisionado em viagem pelos francezes, conhecera a desolao e os
rigores do captiveiro. Gerado assim pela m sorte, o philanthropo succedera ao burguez com a
mesma pontualidade e a mesma perseverana de um espirito anglo-saxonio, em que tudo era
methodo e minucia, atteno aos pequenos factos, sentimento expresso por algarismos. Dessas
viagens resultou a publicao de uma obra em 1777 O estado das prises (The state of prisons),
onze anos depois traduzida em francez. E a escripta do merceeiro de Bedforshire, diga-se a verdade,
abalou a alma europia do sculo XVIII, como os tercetos do Inferno poderiam ter commovido a alma
religiosa da poca medievel. (VIEIRA, 1920, p. 48)
191
Do original: Da che Cesare Beccaria diede forte impulso el movimento scientifico riformatore del
diritto penale, col combattere il sistema punititivo dei suoi tempi, inspirandosi alle idee di giustizia e di
utilit sociale, tutti i criminalisti fecero oggetto dei loro studi i caratteri e i requisiti che debbono avere le
pene per essere legittime.
192
Coube ao movimento de idias que se denominou escola clssica, com CARMIGNANI e
CARRARA frente, o mrito de ter lanado os verdadeiros alicerces da cincia jurdica do delito e da
pena. Com a obra admirvel dos clsssicos, o Direito Penal adquiriu a condio de autntica
disciplina jurdica, no conjunto sistemtico de seus princpios e normas e na unidade de seus
institutos mais importantes. (MARTINS, 1974, p. 320)
193
Com a escola positiva, surgiu no Brasil o interesse cientfico pela discusso dos problemas de
Direito Penal. Seu primeiro crtico, anti-carrariano, foi TOBIAS BARRETO; combateu a teoria
127
No Brasil, as contribuies iluministas, como j se revelou, no ecoaram de forma
to profunda como na Europa. Por aqui, em grande parte de nossa histria194, as
legislaes portuguesas195 (em especial as Ordenaes Manuelinas196), traaram
em nosso territrio um rastro de injustias197 e barbaridades198, operando-se, no
Direito ptrio199, um quadro de gigantesca desumanidade.
No atual estgio do Direito Penal brasileiro, em sintonia com o princpio
constitucional da limitao das penas (artigo 5, XLVII CF), as penas privativas de
liberdade, restritivas de direitos e de multa constituem as espcies admissveis.
No que tange pena privativa de liberdade, as crticas a ela atribudas no so
recentes. As primeiras manifestaes contrrias surgiram com o Programa de
romntica do crime-doena, que queria fazer da cadeia um simples apndice do hospital e, da pena,
remdio. Entendia que o conceito da pena no jurdico mas poltico. (SOARES, 1977, p. 31)
194
embora formalmente, as Ordenaes Manuelinas e as complicaes de Duarte Nunes de Leo
vigorassem poca das capitanias hereditrias e dos primeiros governos gerais, segundo o que se
tem afirmado, no Brasil vigoravam as determinaes rgias, aliadas s Cartas de Doao, com fora
semelhante dos forais, por elas regulando a justia local. O Direito empregado, no perodo das
capitanias hereditrias, na prtica, era quase o arbtrio dos donatrios. (PIERANGELI, 2001, p. 61)
195
A legislao lusitana , portanto, apenas um exemplo daquelas que vigeram no perodo do
absolutismo monrquico, contra a qual se levantaria, com toda a fora da sua ntima simpatia
humana,a voz de Beccaria. A nica coisa a estranhar-se foi a permanncia dessa legislao, entre
ns, at 1830, ou seja, bem distante do perodo histrico que lhe competia, pois, mesmo aps a
proclamao da nossa independncia, continuou a vigorar, ainda que com penas mitigadas, enquanto
a legislao civil s seria ab-rogada em 1916, com a promulgao do Cdigo Civil vigente.
(PIERANGELI, 2001, p. 60)
196
As Ordenaes Afonsinas nenhuma aplicao tiveram no Brasil, pois, quando em 1521 foram
revogadas pelas Ordenaes Manuelinas, nenhum ncleo colonizador havia se instalado no nosso
pas. S em 1532, Martin Afonso de Souza iniciou a colonizao, fundando a cidade de So Vicente.
Vigiam, portanto, as Ordenaes Manuelinas. (PIERANGELI, 2001, p. 61)
197
A histria da regulamentao carcerria no Brasil , sem dvida alguma, marcada pela infmia.
Os mtodos legais de controle e de punio disciplinar dos reclusos refletem os valores reinantes na
sociedade brasileira ao longo das diversas conjunturas histricas vividas pelo pas, constituindo
confivel parmetro de aferio da essncia antidemocrtica do sistema penitencirio brasileiro.
(ROIG, 2005, p. 27)
198
Este quadro de flagrante desumanidade manifestava-se no tratamento dos presos da poca,
consoante depreende-se na leitura do item 1, Ttulo XXXIII das Ordenaes do Reino de Portugal,
relativas s obrigaes dos carcereiros para com os detidos: 1. E no consentir, que se commettam
na priso alguns maleficios, assi como jogar dados, ou cartas (3), nem renegar (4), nem que os
presos, ou outros de fra durmam na priso com as mulheres presas. E dormindo o Carcereiro com
alguma dellas, ou consentindo que algum com ella durma, no sendo seu marido, mandamos que
morra per ello (5). E se se provar, que o Carcereiro teve com alguma presa algum acto desonesto por
vontade della, assi como abraar, ou beijar, ser degredado dez annos para o Brasil. E se tentar per
fora dormir com presa, postoque com ella no durma, por ella se defender, ou por lho tolherem,
morra per ello. E primeiro que se faa execuo de morte em cada hum dos ditos casos, nol-o faro
saber. (ALMEIDA, 1870, p. 77)
199
Vigorava no Brasil, at aquele momento, um sistema penal eminentemente privatstico e corporal,
marcado pelas punies pblicas de senhores sobre seus escravos (aoites) e pela subsistncia das
penas de morte na forca, gals, desterro, degredo e imposio de trabalhos pblicos forados. Neste
quadro punitivo de fins do perodo colonial e incio do Imprio, destaca-se tambm a utilizao, como
prises, de instalaes precariamente adaptadas, tais como fortalezas, ilhas, quartis e at mesmo
navios, subsistindo ainda as prises eclesisticas, estabelecidas especialmente em conventos.
(ROIG, 2005, p. 28-29)
128
Marburgo, de Von Liszt, em 1822. (BITENCOURT, 2006, p. XXIV). A busca de
alternativas priso celular (iniciadas com a aplicao da pena de multa) conduziu
concepo de penas alternativas, a exemplo da prestao de servios comunidade
(surgida na Rssia em 1926), a priso de fim de semana (originada na Inglaterra, em
1948), o arresto de fim de semana (surgido na Blgica, em 1963), dentre outras.
(BITENCOURT, (2006, p. XXIII-XXIV).
As crticas priso celular no constituem exclusivamente uma realidade brasileira,
mas mundial, no obstante o apego dos Estados sua utilizao macia,
mecanismo do qual parece no querer abrir mo200. Apesar do estmulo das
legislaes mundiais substituio da priso celular por outras espcies de pena,
como as restritivas de direitos ou a pena de multa, o fato que, ao menos no estgio
presente de sua evoluo, o Direito Penal manifesta contnuos sinais de ainda
querer fazer da pena privativa de liberdade o seu mecanismo punitivo por
excelncia.
A busca do fundamento do direito de punir constituiu-se historicamente numa das
mais importantes questes no apenas do Direito Penal, mas das cincias sociais
como um todo. Ditas finalidades201 variaram entre o castigo, punio, expiao,
eliminao, intimidao, educao, correo, regenerao, readaptao, proteo
ou defesa, adaptando-se conforme as correntes filosfico-jurdicas que se
debruaram sobre o tema, podendo ser divididas em trs teorias: absolutas (punitur
quia peccatum est), relativas (punitur ut ne peccetur) e mistas (punitur quia peccatum
est ne peccetur), conforme leciona Basileu Gracia (1972, p. 66).
Ditas penas estavam baseadas nas noes de vingana (a legitimidade do direito de
punir repousava no direito de vingana da vtima); aceitao (o cidado, por
conhecer a lei, aceita como legtima a sua imposio); conveno (baseada no
200
No original: Sea como fuere, la realidad es que la prisin en esta etapa, lejos de mostrar signos
de crisis, parece gozar de un vigor inusitado. Tan es as que puede constatarse que uno de los retos
de la Poltica Criminal en el prximo futuro va a ser no slo cmo gestionar una sociedad con
elevadas tasas de criminalidad de carcter permanente, sino tambin cmo construir la arquitectura
logstica que permita sostener un sistema penal con elevados y crescientes ndices de poblacin
penitenciaria. (GARCIA, 2007, p. 155).
201
O estudo do princpio fundamental da pena leva a encontrar o critrio essencial das aes
delituosas, isto , as condies que devam ser encontradas nas aes humanas, para que possam
ser proibidas sem que se caia em arbtrio. E o resultado de tal estudo, segundo a nossa frmula, se
resume nisto: devem ser aes lesivas do direito, cuja completa reparao no se obtenha com a
mera coao fsica, mas requeira uma sano. O estudo do fim da pena leva a encontrar os critrios
de medida dos delitos, no apenas do ponto de vista da sua imputao, mas sob o das penas que se
lhes devem opor. (CARRARA, 1957, p. 73)
129
contrato social, de Rousseau, tendo por fim proteger os contratantes); associao (o
direito de punir intrnseco sociedade, em virtude da associao que os une);
correo (o fim repousa no direito da sociedade em corrigir o culpado); intimidao
(o fim est em intimidar os indivduos a fim de que no pratiquem delitos),
constrangimento psicolgico (a ameaa da aplicao da pena atua sobre o homem
exercendo um constrangimento psicolgico que o dissuade prtica do crime),
defesa (qualquer um, incluindo o Estado, tem o direito inato de se defender),
ressarcimento (o fim de punir repousa no direito ao ressarcimento pelos danos
originados do crime), dentre outras... (FERREIRA, 2000a, p. 23-25)
Passa-se, agora, ao estudo de cada uma das citadas teorias, cujas contribuies,
estruturadas numa perspectiva instrumental, repousam latentes no esprito do
legislador ao promover a criao de novas figuras delituosas ou de modificar a
reprimenda penal dos crimes j existentes.
3.3.1 Teorias absolutas da pena
As teorias absolutas tinham em sua raiz a idia de vingana. O brocardo latino
punitur quia peccatum est (pune-se porque pecou) reforava a concepo de crime
como um mal (pecado), cuja sano (pena) permitiria a compensao devida, de
forma a promover o equilbrio perturbado pela prtica do delito.
As teorias absolutas acabam por negar pena qualquer fim, concebendo a sua
imposio como mera retribuio, ao autor do delito, do mal por ele causado, sendo
dita retribuio legitimada, na viso de Kant, pela necessria garantia dos valores
ticos da sociedade. (NOVAES; SANTORO, 2009, p. 73)
De fato, como reporta Basileu Garcia (1972, p. 73), Immanuel Kant, com a sua
doutrina da justia absoluta, exclui toda a idia utilitria da pena, repousando nesta,
como nica finalidade, o restabelecimento da ordem moral, perturbada pelo crime,
cabendo ao Estado, unicamente, assegurar essa compensao202.
Locke (2006, p. 25-26), por seu turno, busca na prpria natureza a razo retributiva
da pena, a qual confere ao homem o direito de revidar, de acordo com os ditames da
202
Reportando Basileu Garcia a viso de Kant: No h cogitar-se de vantagem para a pena, visto
que esta no representa mais do que a satisfao de um imperativo categrico gravado na
conscincia. A razo nos ensina que, sempre que se d um crime, preciso que o seu autor seja
castigado. (BASILEU GARCIA, 1972, p. 73)
130
razo ponderada e da conscincia, uma determinada agresso, assumindo a pena a
forma de um castigo203.
No de se admirar em que medida este direito de castigo estava enraizadamente
presente no imaginrio dos povos ao longo da histria, sobretudo com referncia
Antiguidade. A prpria justificativa filosfica204 ao direito de escravizar, naturalmente
e factualmente aceita em muitos povos antigos, contribua para a idia de
supremacia e consequente disponibilidade do mais forte sobre o mais fraco,
autorizando aquele, dentre outras prerrogativas naturais, a punir este em virtude de
suas transgresses.
Outro grande expoente da teoria absoluta foi Hegel. Para Habermas (1982, p. 7172), ao pregar a pena como retribuio ao mal causado, Hegel acaba por desdobrar
a dialtica da moralidade, com base no castigo que recai sobre quem aniquila uma
totalidade moral. Por ter o criminoso acionado o processo de um destino que
ricocheteia sobre ele mesmo, acaba por experimentar sua prpria culpa, sentindo,
na perspectiva da vida alheia, a experincia da alienao de si mesmo.
Partem, ento, Kant e Hegel de diferentes concepes, mas que desembocam num
mesmo carter fundamentador da pena, qual seja, a retribuio. A repousa, alis, a
maior crtica feita s teorias absolutas, qual seja, a de atriburem pena um fim em
si mesma. Segundo Costa (1972, p. 61), a noo de justia absoluta falsa, no
somente no que se refere ao prprio Deus (que faz da pena um meio e no um fim),
203
Transgredindo a lei da natureza, o ofensor subentende obedecer a outra regra que no a que
reza a razo e a equidade; pois legtimo o poder de matar um assassino, para impedir que a outros
mate, pois o ofensor torna-se perigoso Humanidade, quebrando o pacto destinado a garanti-lo
contra danos e agresses. Como tal transgresso crime contra a espcie toda, contra a paz e
segurana estabelecidas pela lei da natureza, em virtude do direito que tem de preservar a
humanidade como um todo, qualquer um pode, por isso, restringir ou, se necessrio, destruir tudo
aquilo que lhe seja prejudicial, fazendo recair sobre o transgressor da lei malefcio tal que o faa
arrepender-se de t-lo feito, e assim impedindo a outros, pelo exemplo deste, de cometer
transgresso semelhante. E neste caso e pelo mesmo motivo, todos tm o direito de castigar o
ofensor, tornando-se executores da lei da natureza. (LOCKE, 2006, p. 25-26)
204
Registre-se, a este respeito, a viso de Aristteles sobre a supremacia do homem (livre) sobre a
mulher e o escravo, a autorizar o exerccio de seus direitos enquanto senhor: a natureza dos animais
suscetveis de serem domesticados ou aprisionados superior a dos animais selvagens; para eles
vantajoso obedecer ao homem, como um meio de preservao. Alm disso, o macho tem sobre a
mulher uma superioridade natural, e um destinado por natureza ao comando, e o outro a ser
comandado. Esse princpio [observado em todas as espcies] necessariamente se estende tambm
espcie humana. Onde quer que se observe a diferena que h entre a alma e o corpo, entre o
homem e o animal, verificam-se as mesmas relaes: aqueles que no tm nada melhor a oferecer
que a sua fora corporal so destinados, por natureza, escravido, e para eles vantajoso estar
sob o comando de um senhor. Por natureza assim o escravo: pode pertencer a um senhor (e de
fato pertence), e no participa da razo mais que o grau necessrio para modificar sua sensibilidade,
mas no possui a razo em sua completude. (ARISTTELES, 2007, p. 61)
131
mas tambm por ser incompatvel com a imperfeio das obras humanas.
Registre-se que, apesar de Kant e Hegel terem sido alados condio de maiores
expoentes das teorias absolutas, podem-se entrever, ao longo da histria,205
diversas manifestaes filosfico-jurdicas que expunham, em igual sentido, o
carter da pena como ato de retribuio.
J na Antiguidade, Eurpedes e Pindaro afirmavam a idia da pena como ato de
retribuio, igualmente a So Toms de Aquino206 e Santo Agostinho, que, j na
Idade Mdia, por influncia das concepes germnicas do talio, do direito
cannico e romano e da Igreja Catlica, igualmente afirmavam a idia retributiva no
tocante s penas. (CORREIA, 1968, p. 42-43)
A teoria da justia absoluta sofreu algumas modificaes, assumindo, na lio de
Carrara, uma natureza mista. Propugnava o grande expoente da Escola Clssica
que o fundamento do direito de punir estaria baseado no apenas no princpio da
justia, mas nos limites da necessidade de defesa para a conservao dos direitos
da humanidade. (BASILEU GARCIA, 1972, p. 77)
Vale dizer que a Escola Clssica207, cujos adeptos208 concebiam a finalidade da
205
Os Romanos, prticos por excellencia, preferiram precisar o fim da pena, deixando de parte a
questo do fundamento do direito de punir. PAULUS v na pena um meio de corrigir os homens
(Poena constituitur in emendationem hominum). Na Edade Mdia, at a escola racionalista, dois
foram os princpios apresentados como constituindo a base do direito de punir: a) a razo de Estado,
a vindicta publica; b) o princpio moral da expiao. Foi, porm, HUGO DE GROOT (GROTIUS) quem
precisou a questo, declarando que o fundamento do direito de punir repousa no prprio mal
commettido, e, por isso, definia a pena malum passionis quod infligitur ob malum actionis. Para
GROTIUS, a formao da sociedade resulta de um contracto, expresso ou tacito, em virtude do qual o
crime deve ser punido, e, consequentemente, o mal do delicto a fonte e a medida da pena, que,
para elle, tem tres fins: 1) o beneficio do criminoso; 2) a utilidade do interessado na punio; 3) a
vantagem para a sociedade. (MONTE, 1923, p. 16-17)
206
Maus relata que a doutrina de Toms de Aquino no investiga a pena do ponto de vista social,
mas moral, sendo a culpa considerada do ponto de vista do pecado. A pena, nesse sentido, passa a
encontrar justificativa no cumprimento de um dever moral: Cest donc dans ses crits quils faut
naturellement chercher la pense autorise de lpoque religieuse sur le point qui nous intresse.
Voici, dune manire gnrale, quel a t le rsultat de nos investigations. Sa doctrine nenvisage pas
la question de la peine directement au point de vue social, mais au point de vue moral. La faute,
mme celle contre la socit, est considre au point de vue du pch. La peine, mme celle
applique par le pouvoir civil, est pour celui qui la reoit la punition dun pch; elle est tudie dans
sa corrlation avec ltat de conscience provoqu par la faute, et avec leffet que celle-ci produit dans
le domaine intime. Enfin, pour celui qui lapplique, elle est laccomplissement dun devoir moral.
(MAUS, 1891, p. 36)
207
Sobre as teorias biolgico-deterministas da Escola Clssica, comenta Cancelli: Estigmatizar
alguns grupos, nessa poca, vinha ao encontro da popularizao dessas novas teorias cientficas
sobre o crime, que tentavam definir e influenciar questes legais que tratavam dos criminosos e da
criminalidade. Essas teorias arquitetavam a definio de identidades sociais especficas que
justificassem, de certa forma, a teorizao e que servissem como pontos de suporte para sua ao
como agente de transformao social. Afora o preconceito racial que se utilizava de dados
132
pena como um ato de retribuio, sofreu pesadas crticas ao longo da histria. Uma
das mais ferrenhas crticas209 exposta por Arago (1977, p. 341), na sua obraprima As Trs Escolas Penais, obra sistematizadora das diversas correntes
punitivas do Direito Penal.
No obstante as crticas veiculadas s teorias absolutas, com a proposio, em seu
lugar, das teorias relativas e mistas, o fato que elas nunca perderam por completo
o seu lugar no plano das concepes jurdico-filosficas da pena. A obra A utopia,
de Thomas More (2009, p. 88)210, revela to somente que a indissociabilidade entre
pena e castigo realidade inerente prpria convivncia social. Em sua fico,
More descreve a vida e a organizao poltica de uma ilha imaginria, marcada por
um modelo legal, social e politicamente perfeito, do qual, no obstante, destacamse os mesmos mecanismos de dominao e castigo da sociedade usual.
Hungria (1945, p. 131), neste mister, considerava natural o carter retributivo da
pena, j que esta repousaria na prpria conscincia coletiva, razo pela qual no se
poderia argumentar de um resqucio ao talio primitivo. Para ele, apesar de a
antropomtricos para provar seu embasamento de verdade (da o alvo dos negros e dos
estrangeiros), vrios grupos que apresentassem caractersticas facilmente identificveis
exteriormente eram constantemente estudados e apontados como perigosos para a harmonizao
social. Os mais frequntes eram os epilpticos, as prostitutas, os tatuados e os alcolicos.
(CANCELLI, 2001, p. 150)
208
Dentre os seus adeptos, destaca-se a figura de Lombroso, cujos estudos dos aspectos biolgicos
do criminoso provocaram uma revoluo no campo do Direito Penal. Em uma de suas passagens,
explicando a razo do cometimento de crimes por indivduos de idade avanada, prope Lombroso:
On sait que chez les hommes la vieillesse dtermine lgoisme et la duret du coeur. Les animaux
aussi, avec lge, deviennent ombrageux, hargneux etc.; pour cela mme ils sont souvent chasss par
leurs compagnons, et alors, dans isolement, ils deviennet de plus en plus mchants. (LOMBROSO,
1895, p. 11)
209
Quanto escola clssica, dia a dia diminui prodigiosamente o nmero dos seus adeptos e, no
momento presente, ela no pode ser aceita seno por indivduos de ndole nimiamente conservadora,
espritos afetados de neofobia, inimigos intransigentes da evoluo e refratrios ao progresso. Viva
ainda nos cdigos, em doutrina ela j ultrapassou o perodo da sua maturidade; est em franco
declnio, definhando de marasmo senil, sepultada quase nas vetustas cinzas em que se atufam as
coisas do passado.
210
O Senado estabelece o castigo de acordo com a grandeza do crime. Os maridos castigam as
mulheres, e os pais, os filhos, a menos que o delito tenha sido to grave que se torne til o castigo
pblico, para exemplo e reparao dos costumes. Normalmente, as faltas mais graves so punidas
com a escravido, pois consideram-na castigo no menos temvel para os condenados que a morte e,
alm disso, bem mais til sociedade. Tiram mais proveito do seu trabalho que da sua morte e pelo
seu exemplo vivo inspiram durante mais tempo horror ao cometimento de crimes semelhantes. Se, no
entanto, os escravos condenados se revoltam e insurgem, condenam-nos morte como animais
ferozes e desesperados que nem as cadeias nem a priso podem domar ou conter. Aqueles, no
entanto, que suportam a escravido pacientemente, no os deixam perder completamente a
esperana. Se depois de terem sido dobrados e domados pelas longas misrias sofridas mostrarem
verdadeiro arrependimento, que demonstre que o crime lhes mais pesado que o castigo, por vezes,
por prerrogativa do prncipe, ou mesmo pelo consentimento do povo, -lhes mitigada a servido, ou
mesmo chegam a ser libertados e perdoados.
133
intensidade da punio haver sido historicamente abrandada, a idia de retorso do
mal pelo mal continua inscrita e viva na razo humana, tal como no tempo do olho
por olho, dente por dente, havendo de ser esta, de acordo com Hungria, a
pedagogia de todos os tempos211.
A despeito da afirmao de Hungria, mais aceitvel para o olhar de sua poca, o
fato que a prpria idia de punio sofreu transformaes ao longo do tempo,
permitindo, consoante lio de Gastaldi (2006, p. 85), a substituio da noo de
vingana pela de penalizao212.
De acordo com Carrara (1957, p. 78), a pena, ao invs de remediar o mal material
do delito, constitui-se em teraputica eficaz e nica para o mal de ordem moral, sem
a qual os cidados ver-se-iam impelidos a fazer justia com as prprias mos 213.
Bettiol (1976, p. 112-113) contraria a noo de pena como um mal a ser aplicado
diante de um mal214 praticado, j que a reafirmao de uma norma violada,
211
A pena, como sofrimento imposto aos que delinqum ou como contragolpe do crime (malum
passionis quod infligitur ob malum actionis), traduz, principalmente, um princpio humano por
excelncia, que o da justa recompensa: cada um deve ter o que merece. (HUNGRIA, 1945, p. 131)
212
a idia que se faz sobre a transformao histrica produzida a partir de um sistema de vingana
para um de penalizao central para determinadas anlises dos sistemas polticos do mundo
antigo. Nozick, citado por Allen, menciona as seguintes diferenas: 1. enquanto na penalizao existe
um limite interno, conforme a gravidade da ofensa, na vingana no existe limitao alguma; 2. a
vingana pessoal, enquanto o agente da penalidade no necessita estar unido por um lao pessoal
vtima de um dano pelo qual se deve uma exata retribuio; 3. a vingana envolve um tom particular
de emoo e prazer causados pelo sofrimento do outro, o que no acontece com a penalizao; 4. as
penalidades ajustam-se a princpios gerais prima facie que demandam punies idnticas em
circunstncias similares. Considerando estas diferenas, possvel afirmar que para estudar a
penalidade em oposio vingana, necessrio dar ateno aos modos com que as respostas a
um delito podem chegar a ser respeitveis em uma determinada sociedade.
213
A vingana privada, por isso que partida de homens rudes, agindo arbitrariamente, sob o impulso
de paixes, descambava para o excesso e novas violncias, acrescendo, assim, no dizer de
IHERING, injustia existente uma nova injustia. (...) De outro lado, os excessos vingativos, entre
indivduos da mesma tribo, acabam por enfraquecer o grupo social, quando carecia ser forte de
homens vlidos para a guerra agressiva ou defensiva contra vizinhos e inimigos (...), da a
necessidade de paz interna e consequnte limitao que se foi estabelecendo ao exerccio da vindicta.
A primeira limitao proveio do talio, fixando-se mais ou menos equipolentemente o mal que era
permitido infligir ao ofensor. No Levtico, um dos primeiros livros da Bblia, formando o Pentatutico,
cap. XXIV, vers. 19 e 20, define-se essa forma atenuada de punio, dizendo: fractura pro fractura,
oculum per oculo, dentem pro dente restituat, como muito antes j o firmava o cdigo de
HAMMURABI, nos 196, 197 e 230 (...). Em todos os povos primitivos vemos consagrado o talio,
quer no ramo chamado ariano (gregos, romanos, gauleses, slavos e germanos, especialmente
nestes, pela amplitude da represlia), quer nos selvagens da frica e da Amrica. (SIQUEIRA, 1947,
p. 40)
214
O jurisconsulto russo Lowestimm afirmava que grande parte dos crimes era atribuda s
supersties e ao lado obscuro da vida de um povo, sendo um dever dos adminstradores, juzes e
legisladores lutar contra este mal. (LOWENSTIMM, 1904, p. 218)
134
concernente a um imperativo de justia, s poderia assumir um valor positivo215.
Bettiol conclui, no obstante, que somente a idia retributiva capaz de satisfazer
as exigncias atinentes pena, de forma a reforar a autoridade do Estado com a
aplicao de penas justas e proporcionais aos transgressores da norma. Em sua
viso, somente a pena retributiva justa, sem a qual o Estado incorreria no risco de
cair no arbtrio. (BETTIOL, 1976, p. 121)
3.3.2 Teorias relativas da pena
As teorias relativas216 (tambm denominadas de utilitrias), definidas pelo brocardo
latino punitur ut ne peccetur (pune-se para que no peque), deixam de lado o fim da
pena como retribuio, passando a enxergar a preveno do delito como o
fundamento da reprimenda penal.
Afirma Costa (1972, p. 62) que as teorias relativas justificam a pena pelo bem que
visam atingir, sendo elas consideradas no como um fim, mas um meio para se
atingir os seus fins preventivos. Consoante lio de Correia (1968, p. 43), as teorias
relativas, tendo como impulso a Renascena e o Humanismo, promoveram um
retorno aos filsofos antigos, a exemplo de Plato (o qual j propunha idias
preventivas), rompendo, ao mesmo tempo, com as formulaes retributivas. Correia
cita como grandes propulsores deste movimento Hobbes, Puffendorf, Tomazius e
Wolf, concebendo a pena em sua funo preventiva, e nunca retributiva.
As teorias relativas podem ser concebidas tomando-se como base uma coletividade
215
desde que a pena um valor, lhe estranha toda possibilidade de jungi-la idia de privatio boni,
isto , de mal. Se tudo isso corresponde verdade, acreditamos que a fadiga sofrida na tentativa de
dar pena um escopo tenha sido, em grande parte, fadiga v. A pena, enquanto valor, acha
necessariamente em si mesma sua razo justificadora. E natural que assim seja, j que um valor
que devesse encontrar seu ponto de referncia fora de si mesmo no seria mais um valor, mas um
fato bruto, um meio que poder ser iluminado s pelo fim que se procura atingir. De outro lado, se a
pena fosse realmente um mal moral, ela no poderia ser infligida: o fim no santifica o meio. No
lcito realmente recorrer, mesmo para uma finalidade de bem, a um meio intrinsecamente mau. E em
nenhum caso se explica porque o mal fsico e psquico da pena no possa encontrar em si mesmo
sua razo justificadora, quando mal apenas no plano naturalstico, porquanto moral e
juridicamente falando, reafirmao de uma norma e portanto de um valor.
216
as teorias relativas, acerca das funes das penas, empreendem em sentido terico a limitao
do poder punitivo, tais teorias desenvolvem-se no sentido de legitimar o poder punitivo do Estado,
como explicam Zaffaroni e Nilo Batista, a partir das funes manifestas das penas, embora no se
possa esquecer de que a pena tambm apresenta funes latentes importantes ao estudo do tema.
As teorias relativas so desenvolvidas ora sobre os indivduos integrantes da sociedade como um
todo, ora sobre os indivduos delinquentes teorias da preveno geral e da preveno especial -,
sendo que ambas, incidem de forma positiva ou negativa. (NOVAES; SANTORO, 2009, p. 73)
135
de indivduos (preveno geral), bem como um determinado criminoso (preveno
especial).
3.3.2.1 Preveno geral
Na perspectiva da preveno geral, visa o Estado, com a aplicao da pena,
transmitir uma mensagem a toda a coletividade de que a ordem jurdica est em
vigor e que a sua violao implicar na sujeio a uma pena. Desta forma, dita pena
repercutir no s sobre o indivduo, mas sobre toda a coletividade, de forma a
comunicar-se psicologicamente a todos os potenciais destinatrios da norma,
provocando um efeito dissuasor de forma a impedir que os membros da sociedade
pratiquem crimes. (BEMFICA, 2001, p. 199)
Adverte Ferrajoli (2006, p. 340) que a idia de preveno no pode perder de vista o
princpio da retribuio, sob pena de legitimar posies subjetivistas voltadas a um
direito penal mximo, servindo de ingrediente a um autoritarismo penal. De fato, vse que o princpio da retribuio, por pregar uma adequao entre o ilcito praticado
e a pena infligida, acaba por assegurar critrios de proporcionalidade, que poderiam
se perder numa vinculao utilitarista da pena a critrios preventivos arbitrariamente
escolhidos pelo aplicador da norma.
A preveno geral217, define Aschaffenburg (1904, p. 241-242), atua em silncio,
produzindo os seus efeitos pela elevao do nvel mdio de moralidade, antes
educando do que intimidando diretamente. Aqui, o valor educativo traduzido na
noo de dever despertado na sociedade superior ao valor da ameaa penal.
A preveno geral divide-se em negativa e positiva. Passa-se ao exame de cada
uma das modalidades.
A preveno geral negativa refora o carter de intimidao da pena, de sorte a
desestimular os indivduos prtica de crimes. A sua principal crtica repousa em
que, ao focar exclusivamente o efeito intimidatrio da pena, independentemente da
aferio da culpabilidade do agente, a teoria da preveno geral negativa corre o
risco de transformar uma teoria relativa em uma teoria utilitarista de natureza
217
As teorias relativas da preveno geral devem receber crtica, seja nas verses de dissuaso seja
nas reforadoras, pois a cada delito cometido se estar negando sua eficcia. Se seu carter de
atuao sobre o todo social com a finalidade de impedir a prtica de comportamentos proibidos, sob a
ameaa da aplicao de pena ou sob a necessidade de confiana no pblico nos sistemas estatais e
no consenso social, tais teorias sero negadas e se apresentaro em crise a cada delito praticado.
(NOVAES; SANTORO, 2009, p. 74)
136
absoluta, a autorizar a imposio de penas desproporcionais (e, nesta medida,
lesivas dignidade da pessoa humana), sob a nica justificativa de se impedir a
ocorrncia de crimes. Neste mister, Beccaria (2000, p. 92)218 propunha, na
perspectiva de preveno da ocorrncia de delitos, a formulao, pelo legislador, de
leis simples e claras, reduzindo-se o nmero excessivo de crimes, sob pena de se
ver o seu sucessivo aumento.
Dois grandes expoentes desta corrente foram Bentham219 e Feuerbach220. Jeremy
Bentham (2002, p. 22-23), em sua obra Teoria das penas legais e tratado dos
sofismas polticos, expe a sua teoria preventiva, cujo foco a tomada de
posies pelo legislador e magistrado de forma a prevenir que o crime, tendo
acontecido, no volte a acontecer, devendo-se igualmente reparar o dano causado,
quando possvel.
De acordo com Bentham:
O perigo imediato vem do criminoso; este o primeiro objeto, a que se deve
acudir, mas ainda resta o perigo de que outro qualquer, com os mesmos
motivos e com a mesma facilidade, no venha a fazer o mesmo. Sendo isto
assim, h dois modos de atalhar o perigo: um particular que se aplica ao
ru; e outro geral que se aplica a todos os membros da sociedade sem
exceo. Todo homem se governa nas suas aes por um clculo bem ou
mal feito, sobre prazeres e penas, ainda mesmo o que no capaz de uma
reflexo apurada, lembra-se, por exemplo, de que a pena vai ser a
conseqncia de uma ao que lhe agrada, esta idia faz um certo abalo
em seu esprito para o retirar do prazer. Se o valor total da pena lhe parecer
maior, se pesa mais do que o valor total do prazer, natural que a fora que
o afasta do crime venha por fim vencer, e que no tenha lugar o desatino
que formava no seu pensamento. A respeito do ru podemos prevenir a
recada de trs modos: 1 Tirando-lhe o poder fsico de fazer o mal; 2
Fazendo-lhe esfriar o desejo; 3 Obrigando-o a ser menos afoito. No
218
prefervel prevenir os delitos do que precisar puni-los; e todo legislador sbio deve, antes de
mais nada, procurar impedir o mal do que repar-lo, pois uma boa legislao no mais do que a
arte de propiciar aos homens a maior soma de bem-pestar possvel e livr-los de todos os pesares
que se lhes possam causar, conforme o clculo dos bens e dos males desta existncia. Contudo, os
processos at hoje utilizados so geralmente insuficientes ou contrrios finalidade que se propem.
No se pode submeter a atividade tumultuosa de uma massa de cidados a uma ordem geomtrica,
que no mostre irregularidade nem confuso. Ainda que as leis da natureza sejam sempre simples e
constantes, no impedem que os planetas mudem vezes os movimentos rotineiros. Como
poderiam, portanto, as leis humanas, no entrechoque das paixes e dos sentimentos opostos da dor
e do prazer, obstar que haja alguma perturbao e certo desarranjo na sociedade? Esta , contudo, a
quimera dos homens limitados, quando possuem algum poder.
219
Bonn exalta as contribuies dos trabalhos de Bentham e Beccaria para o surgimento, no final do
sculo XVIII, da Escola Clssica, cujas reivindicaes gravitavam em torno da necessidade de
definio legal dos crimes, a proporcionalidade entre a pena e a infrao, dentre outras. (BONN,
1984, p. 72)
220
Como ensina Feuerbach, a sano penal produz uma espcie de coao psicolgica nos
integrantes da sociedade levando a dissuaso da vontade de delinqir. (NOVAES; SANTORO, 2009,
p. 74)
137
primeiro caso o homem desmandado j no pode cometer o crime, no
segundo no tem a mesma vontade de o cometer, no terceiro ainda que
tenha desejos no se atreve. No primeiro fica inabilitado, no segundo
reformado, no terceiro est como preso porque tem medo da lei. O modo
geral de prevenir os crimes declarar a pena que lhe corresponde, e faz-la
executar, o que, na acepo geral e verdadeira serve de exemplo. O castigo
em que o ru padece um painel em que todo homem pode ver o retrato do
que lhe teria acontecido, se infelizmente incorresse no mesmo crime. Este
o fim principal das penas, o escudo com que elas se defendem.
(BENTHAN, 2002, p. 23)
O pensamento de Bentham influenciou decisivamente o direito penal do sculo XIX,
a tal ponto de promover alteraes significativas nos Cdigos Penais da poca.
Proal (1892, p. 466)221 explica que os autores do Cdigo Penal francs de 1810, sob
a influncia das idias de Bentham222 e contaminados pelo esprito utilitrio,
promoveram a introduo de penas brbaras, vedando, mesmo, a admisso de
circunstncias atenuantes em matria criminal, o que s foi contornado em 1823,
com modificaes legislativas de inspirao mais humanista.
Mesma ateno proporcionalidade dispensava Bertauld (1864, p. 109)223, para
quem a intensidade de aplicao da pena encontrava-se na medida da defesa e da
conservao social frente ao perigo para a sociedade, devendo-se aplicar a todas as
infraes semelhantes uma pena idntica.
Anselmo Von Feuerbach, segundo grande expoente da preveno geral negativa,
expunha que a imposio da pena s ocorreria para assegurar a eficcia da ameaa
221
No original: Ce nest pas seulement dans lancien droit que la proccupation exclusive de lutilit
sociale a conduit le lgislateur exagrer la rpression. Les rdacteurs du code penal de 1810, sous
linfluence des ides de Bentham, voulant, dans une pense dutilit, exegrer lintimidation, avaient
dict des peines barbares, le carcan, la marque, la mort civile, la confiscation des biens du
condamn; ils navaient pas permis ladmission des circonstances attnuantes en matire de crime.
Cest en 1832 que, sous linspiration de penses plus humanines, le lgislateur a fait disparatre les
pnalits excessives et tendue aux crimes le principe des circonstances attnuantes.
222
Ressalte-se que Bentham no defendia, ao menos expressamente, penas cruis ou
desproporcionais, mas apenas a aplicao de penas cuja intensidade permitisse atingir o efeito
intimidatrio e preventivo esperado. Um exemplo disso a defesa que faz, em sua obra Teoria das
penas e das recompensas, das penas de carter pecunirio, capazes, segundo Bentham, de
assegurar uma indenizao parte lesada e, ao mesmo tempo, infligir ao delinqunte um sofrimento
proporcional. Il est des peines qui ont le double effet de fournir un ddommagement la partie lse,
et dinfliger au dlinquant une souffrance proportionnelle. Ainsi les deux buts se trouvent remplis par
une seulle et mme opration. Cest l, en certains cas, lavantage minent des peines pcuniaires.
(BENTHAM, 1840, p. 24)
223
No original: Le systme pour lequel le Droit de punir nest que le Droit de dfense ou de
conservation sociale, qui mesure, lui, la pnalit, non pas sur la perversit de lagent, non pas mme
sur la perversit de lacte, mais sur le danger de la socit, doit logiquement appliquer toutes les
infractions qui ont le mme caractre intrinsque une peine gale; il doit enchaner la libert et la
conscience du juge, le dshriter de tout pouvoir discrtionnaire, remplacer le maximum et le
minimum par la mme et inflexible mesure du chtiment. Ctait ce quavait compris et consacr la
logique de la Constituante.
138
penal, de tal forma que, ao punir o criminoso, o Estado demonstraria sociedade
que as normas penais vigoram realmente, garantindo, com a pena, a esperada
certeza da punio. (ROSA, 1995, p. 414).
A teoria da preveno geral positiva est compreendida na corrente funcionalista do
Direito Penal, sobretudo na concepo de Jakobs. Prega esta corrente que a pena
deve ser aplicada de modo a garantir o restabelecimento da confiana dos cidados
na vigncia das normas, lesadas com a ocorrncia dos crimes.
Os adeptos da teoria da preveno geral positiva224, tambm chamada de
integradora ou positiva, entendem que a pena, a partir do momento em que
aplicada, passa a repercutir na conscincia de toda a coletividade os valores
presentes norma, garantindo a todos a certeza de que esta ser aplicada sempre
que houver a sua violao. Produz, portanto, um efeito educativo na conscincia
coletiva, permitindo assegurar a aprendizagem de valores positivos pelos cidados,
na medida da obedincia s normas.
A diferena entre a preveno geral positiva e a preveno geral negativa est em
que, enquanto nesta o fim da pena promover a obedincia s normas por meio da
intimidao, o fim daquela garantir dita obedincia pela incluso, na mente
coletiva, da confiana dos cidados na vigncia e aplicao das normas, de tal sorte
que a opinio pblica readquira a confiana no direito penal.
Jakobs parte de um conceito funcional de culpabilidade, de forma a garantir um
equilbrio entre o indivduo afetado psiquicamente e a sociedade. (AMBOS, 2005, p.
154)
Jakobs (2003, p. 9)225 entende que, assim como os homens em sua relao com a
natureza somente se orientam na medida em que possam encontrar regularidades,
do mesmo modo, nos contatos sociais, s possvel a orientao desde que o
indivduo no conte, a todo momento, com um comportamento imprevisvel de seus
semelhantes. Do contrrio, todo contexto social se tornaria um risco imprevisvel.
224
a teoria da preveno geral positiva tambm incidente sobre os integrantes da sociedade, mesmo
e principalmente os no delinquntes, visa reforar os valores ticos ou a confiana no sistema social,
com a finalidade de evitar a prtica de condutas delituosas, a coao psicolgica afastada em
nome do consenso, conforme Gunther Jakobs, necessria a manuteno do convvio social
harmnico. (NOVAES; SANTORO, 2009, p. 74)
225
Para JAKOBS, o direito penal um sistema especfico de que se espera a estabilizao social, a
orientao da ao e a institucionalizao das expectativas pela via da restaurao da confiana na
vigncia das normas: a vida social requer certa segurana e estabilidade das expectativas de cada
sujeito frente ao comportamento dos demais. (BOZZA, 2007, p. 199)
139
Para Jakobs, as normas jurdicas representam expectativas estabilizadas de
comportamento
de
tipo
contraftico,
de
forma
possurem
validade
independentemente do seu cumprimento pelos destinatrios, sendo, ainda,
consideradas vlidas mesmo quando as expectativas so quebradas em virtude da
prtica do delito. (BOZZA, 2007, p. 201). Nesta tica, o fim alcanado a norma, e
no o indivduo, razo da crtica226 de diversos autores sua teoria.
3.3.2.2 Preveno especial
A teoria da preveno especial227 encontra as suas razes histricas nos sculos
XVII e XVIII, tendo como nascedouro as contribuies legadas pelo iluminismo228.
Esta teoria foca a pessoa do criminoso, de forma a evitar que este cometa novos
ilcitos. Leva em considerao, portanto, a periculosidade do agente, considerado
em sua individualidade e singularidade, tendo-se constatado a ineficincia da
preveno geral na intimidao do indivduo concreto.
A teoria da preveno especial229 lana mo de mecanismos de carter intimidatrio
e educativo de sorte a corrigir o condenado, ressocializando-o e reintegrando-o ao
226
De acordo com Bozza, levando em considerao que apenas as necessidades preventivas de
estabilizao da norma funcionam como seu contedo, seria perfeitamente possvel manipular o
conceito de culpabilidade. (...) O ponto mais grave da preveno geral positiva (assim como a
negativa) consiste na alienao da subjetividade e da centralidade do homem em benefcio do
sistema, deslocando o homem de sua posio de sujeito e fim de seu prprio mundo, para torn-lo
objeto de abstraes normativas e instrumento de funes sociais. (BOZZA, 2007, p. 207-208)
227
O pensamento da preveno especial repousa na ideia de que o crime tem na sua base certas
tendncias da personalidade do delinqunte, de tal maneira que o que em primeira linha interessa a
actuao directa da execuo da sano na personalidade do criminoso. Ou, vistas as coisas de
outro prisma: a pena tem a funo nica de defender a sociedade de elementos que perturbam a sua
orgnica e entende-se, materialmente, como meio de segregar ou eliminar indivduos socialmente
perigosos e incorrigveis, ou de tratar e corrigir os corrigveis (...) a ideia de preveno especial foi,
pela primeira vez, cientificamente afirmada por GROLMAN, contemporneo e contradito de
Feuerbach. (CORREIA, 1968, p. 49)
228
Em Tratado sobre a Tolerncia (1763), Voltaire, assim como fez Pietro Verri no caso das unes
pestferas de Milo, critica as funes, o mtodo, o procedimento e o desiderato do sistema
inquisitivo, a partir de um processo judicial condenatrio. Ao descrever a forma de manipulao
probatria pelo magistrado, Voltaire percebe o irracionalismo do direito da intolerncia, encontrando
guarida nos membros da Academia dei Pugni, principalmente em Beccaria, cuja traduo da obra Dei
Delitti e delle Pene ser prefaciada e comentada pelo autor. Parece, pois, ressalvada a ousadia na
sustentao, que Locke e Voltaire esto para a filosofia poltica iluminista, pelo contedo e pela
estrutura metodolgica das obras, como Beccaria e Verri esto para o direito penal ilustrado. Todos,
contudo, conformando o universo terico-prtico denominado garantismo ilustrado. (CARVALHO,
2003, p. 36)
229
Ao crime, que a violao da ordem jurdica, com resultados desfavorveis, reage a sociedade
com a punio do agente, no apenas de um modo geral, em retribuio do mal praticado, mas
tambm, em particular, com o fim de prevenir a verificao de novas infraes. (SABINO JNIOR,
1967, p. 285)
140
convvio social230. Em outras palavras, quando o carter de inibio geral atribudo
norma falhasse, atuaria a preveno especial sobre o criminoso, de forma a evitar,
atravs do mecanismo da pena, a incidncia de mais ilcitos no meio social.
O grande expoente da teoria da preveno especial Von Liszt. Contrariando a
corrente retribucionista231, prope Von Liszt a justificao da pena a partir da sua
necessidade para a manuteno da ordem jurdica e, por via de conseqncia, para
a prpria manuteno do Estado, de tal sorte que qualquer outra soluo quedaria
suprflua, falha ou intil.
Von Liszt revelou-se um dos maiores expoentes da Escola Sociolgica do Direito
Penal (surgida nos fins do sculo XIX). Para ele, a pena teria como fins: 1) afastar o
delinquente, a fim de que este no cometa novos crimes, promovendo a sua
ressocializao; 2) tranquilizar a sociedade, afastando o elemento perigoso do seu
meio; 3) intimidar os indivduos com tendncias para o crime. (ROSA, 1995, p. 414)
Nesta tica, a pena justa, para Von Liszt, aquela necessria para a manuteno da
ordem jurdica, revelando a sua grandeza de acordo com a sua qualidade e
extenso.
Lembram Novaes e Santoro (2009, p. 74) que, assim como na preveno geral, a
teoria da preveno especial232 tambm apresenta dois modelos: o positivo e o
negativo, de tal sorte que:
Positiva enquanto possibilidade moralizante, isto , seus defensores
acreditam que atravs da aplicao concretizada da sano penal o Estado
estar criando a possibilidade de moralizar o delinqunte, restituindo a ele os
valores corretos, evitando que volte a praticar infraes penais. So as
230
Trata-se do objetivo de, uma vez imposta a pena, reeducar o condenado e promover sua
reinsero social. (ESTEFAM, 2010, p. 295)
231
Reconhece-se que a pena corresponde tambm idia finalstica, fora produtora do direito, e
com esse reconhecimento se torna possvel utilizar os variados efeitos da cominao e execuo da
pena para a proteo dos interesses da vida humana. Conquanto a reminiscncia do passado da
pena no se tenha de todo esvaecido, e ainda hoje o instinto de vingana possa reclamar, como
inspirao sua, a teoria da justia reparadora, vai-se, todavia, incessantemente operando na histria
da pena a transformao que j o desenvolvimento do indivduo nos fizera conhecida: a ao
instintiva e desregrada, inconscientemente til, converte-se em ato voluntrio, determinado e
moderado pela idia do fim. Uma Poltica Criminal serena e cnscia do fim a que se dirige a
inelutvel exigncia que resulta para ns da histria do desenvolvimento da pena. (VON LISZT,
2003, p. 77)
232
Em sua verso mais radical, a teoria da preveno especial pretende a substituio da justia
penal por uma medicina social, cuja misso o saneamento social, seja pela aplicao de medidas
teraputicas, visando ao tratamento do delinqunte, tornando-o, por assim dizer, dcil, seja pela sua
segregao, provisria ou definitiva, seja, ainda, submetendo-o a um tratamento ressocializador que
anule as tendncias criminosas. (QUEIROZ, 2008, p. 53)
141
teorias de ressocializao do condenado, baseadas no carter pedaggico
da pena. Outrossim, a teoria da preveno especial negativa visa
neutralizao ou inocuizao do delinqunte, isto , atravs da aplicao
concreta da sano penal proporcional e necessria, o delinqunte ser
afastado do seio social, garantindo assim a paz e o desenvolvimento da
sociedade.
As crticas feitas pelos referidos autores teoria da preveno especial recaem
sobre a iluso de moralizao advinda da pena privativa de liberdade, sobretudo se
considerarmos os modelos tradicionais de aprisionamento, cuja eficcia na
reeducao dos encarcerados asseguradamente no alcanada. (NOVAES;
SANTORO, 2009, p. 74-75)
A incongruncia da teoria da preveno especial revelada por Mastieri (1990, p.
326), que assevera:
um juiz aplica ao ru uma pena de cinco anos de recluso a ser cumprida
em regime fechado. No momento da aplicao tem ele em mente todos os
princpios clssicos de justia, retribuio e proporo; mas adentrando, o
condenado, a fase de execuo efetiva da pena, o que importar ser o seu
comportamento, a sua capacidade de adaptao, os sinais exteriores de
ressocializao que for capaz de exibir, pelo que poder mais ou menos
rapidamente, progredir de regime, obter livramento condicional, etc. Essas
questes ligadas preveno especial praticamente eclipsam todo o
raciocnio dogmtico clssico que presidiu a aplicao da pena. Julgamos
tendo em mente a pena-castigo e executamo-la tendo presente a penarecuperao.
Nota-se, pois, a falta de lgica do sistema punitivo atual233. Tendo unido o legislador
as funes de retribuio e preveno como o fim da pena, considera razovel
empreender a ressocializao234 atravs do castigo.
233
Em sentido contrrio, asseveram Dip e Moraes Jr.: Se a idia de retirar da pena as virtudes
reprovativa e preventiva vem da suposio de que elas e ressocializao so termos antinmicos,
nada mais equivocado. Na verdade, a reprovao o nico caminho pelo qual se chega
ressocializao. No h outro. E isso muito fcil de demonstrar e entender. Ressocializar
(reintegrar, reinserir na comunidade ordeira) pressupe: a) que a Sociedade seja depositria de
altssimos valores ticos; e b) que o prisioneiro ardentemente os queira redescobrir e reabsorver. Se
ela os no tiver, ele no ter razo para desejar sair. Se ele os no quiser, ela ter toda razo para o
deixar ficar onde est. Portanto, o processo de ressocializao consiste essencialmente em (re)
incluir no esprito (supostamente) receptivo do condenado o culto daqueles valores. Equivalente a
dizer: do respeito ao prximo. Ora bem, para chegar a dizer a Sociedade ao condenado que ele deve
reassimilar os seus valores, ela deve comear por dizer que foi imensamente reprovvel a deciso de
abandon-los. Por outras palavras, convenc-los a readotar aqueles valores (=reintegrar-se)
pressupe convenc-lo de que, sem eles, sua reintegrao no ser admitida. (DIP; MORAES JR.,
2002, p. 101)
234
A idia de recuparao do criminoso no recente, e j era levantada pelos prprios adeptos das
teorias absolutas, ainda que no atribussem ressocializao o fim primordial da pena. De acordo
142
Alicerada em sua tarefa de ressocializao235, a teoria da preveno especial cr
na utilidade de imposio de uma pena necessria de forma a permitir ao homem
criminoso a internalizao dos valores aceitos pelo grupo social, donde a sua
reintegrao favorea um plano de paz e estabilidade nas relaes coletivas, de
modo a garantir a sua utilidade social236.
Costa (1953, p. 285-286), por seu turno, entende que o direito pena deve se
basear na personalidade do delinquente, de tal forma que, quanto mais se adapte a
seu carter, mais justa ser para ele. Assim, a pena represso quanto natureza
objetiva, sofrimento quanto natureza subjetiva e preveno quanto ao fim principal.
O sistema de aplicao das penas atua, nesta tica, na fixao da medida ou limite
da penalidade, demonstrando que o poder s pode punir um delito em consonncia
com a justia e a utilidade social237.
com Arago: A justia penal doravante deve transformar-se em uma funo de clnica preservadora
contra o crime, encarado como um fenmeno de degenerescncia, como um sintoma de patologia
individual e social. Mais do que a punio do delinqunte vale prevenir o delito pela supresso das
causas que o produzem. da sabedoria popular que o mal deve ser arrancado pela raiz, e princpio
cientfico que desaparecida a causa cessa o efeito que dela resulta. E no somente possvel evitarse o delito por essas medidas que visam diretamente estancar as fontes produtoras da delinqncia
como tambm preveni-lo pela criao de instituies que nos permitam utilizarmos do criminoso
tanto quanto do homem em benefcio de ambos. a clebre doutrina da simbiose do crime, sugerida
e preconizada por LOMBROSO, e que consiste em nos aproveitarmos das energias malfazejas e
inclinaes perversas, canalizando-as em formas de atividade social e teis coletividade humana.
Muitos indivduos de ndole cruel e temperamento de homicida deixam de ser assassinos por se
entregarem profisso de magarefe ou de cirurgio, onde podem largamente dar expanso aos
seus instintos sanguinrios. O delinqunte, pois, de um homem prejudicial pode ser transformado, por
meio de uma cultura simblica apropriada, em um indivduo til aos seus co-associados. (ARAGO,
1977, p. 343)
235
a forma de preveno especial que hoje mais requer a ateno dos penalistas a que consiste
em aplicar ao sentenciado um processo de ressocializao capaz de restitu-lo vida livre sem
problemas para o Direito. Esse um objetivo a alcanar, sonhado por antigos penalistas e hoje
elevado pela Penologia categoria de misso a cumprir, para servir qual se imaginaram vrias
atitudes e processos. So meios atravs dos quais se pretende fazer agir sobre a total personalidade
do condenado um sistema de foras de adaptao e de convencimento orientadas no sentido de
corrigir as causas do seu extravio e reintegr-lo na comunidade social. (BRUNO, 1976, p.25)
236
O que se preconiza a pena como meio e instrumento de utilidade social, atendendo, dentro dos
limites imaginados, a reclassificao social do delinqunte atravs dos meios educativos ou
ortopsquicos, ao invs da pena limitada ao sentido etimolgico, como retribuio, ou como imperativo
categrico, ou com fundamento em transcendentes razes filosficas. A legislao sua preconiza
les peines doivent tre excutes de manire exercer sur le condamn une action ducatrice et
prparer son retour la vie libre (art. 37). A Constituio Italiana declara as penas no podem
consistir em modos de tratamento contrrios ao sentimento da humanidade e devem visar
reeducao do condenado. A Declarao de Direitos da Constituio Francesa diz as penas
privativas de liberdade devem tender reeducao do culpado (Art. 10). O Cdigo checo (1950)
salienta, educar o condenado durante sua execuo e ressoci-lo, para convert-lo em um membro
da comunidade, como os demais. No mesmo sentido, as legislaes da Bulgria e Iugoslvia
(1951). (COSTA, 1972, p. 68-69)
237
No original: Si on fait, en effet, reposer le droit de punir sur la justice absolue et lutilit sociale,
pour dterminer o commence le droit rpressif, ses limites ainsi que ses caractres essentiels, pour
143
Entretanto, Garca Pablos de Molina (1992, p. 257) critica a dicotomia usualmente
feita entre preveno, dissuaso e intimidao, devendo estas ser vistas como
termos correlatos, de tal sorte que o incremento da delinqncia explica-se pela
debilidade da ameaa penal; sendo que o rigor da pena se traduz no correlativo
descenso da criminalidade. Para ele, o problema reside nas polticas criminais de
nosso tempo, manipuladoras do medo e ocultadoras do fracasso da poltica
preventiva238.
faire infliger un chtiment un acte, il suffit de remonter la thorie et de rechercher si cet acte est
contraire la justice absolue et contraire au devoir de conservation de la socit. De mme pour les
peines, comme nous le dirons plus loin, ce systme sert fixer la mesure ou la limite de la pnalit en
dmontrant que le pouvoir ne peut punir un dlit que ne le comporte la justice et plus que ne le
demande lutilit sociale. (LEFORT, 1879, p. 23)
238
Garca Pablos de Molina prope, em lugar deste modelo falacioso e simplificador, as bases de
uma moderna poltica criminal de preveno de delito: 1) O objetivo ltimo, final, de uma eficaz
poltica de preveno no consiste em erradicar o crime, seno em control-lo razoavelmente. O total
extermnio da criminalidade e as cruzadas contra o delito so objetivos utpicos e ilegtimos que
entram em conflito com a normalidade do fenmeno delitivo e do seu protagonista; 2) No marco de
um Estado social e democrtico de Direito, a preveno do delito suscita inevitavelmente o problema
dos meios ou instrumentos utilizados, assim como dos custos sociais da preveno. O controle
eficaz da criminalidade no justifica o emprego de todo tipo de programas, nem legitima o elevado
custo social que determinadas intervenes requerem; 3) Prevenir mais que dissuadir, mais que
criar obstculos ao cometimento de delitos, intimidando o infrator potencial ou indeciso. Prevenir
significa intervir na etiologia do problema criminal, neutralizando suas causas. Contramotivando o
delinqunte s com a ameaa da pena ou com um sistema legal em excelente estado de
funcionamento, permanecem intactas as suas causas; no se atacam as razes do problema seno
seus sintomas ou manifestaes. E isso no basta; 4) A efetividade dos programas de preveno
deve ser programada a mdio ou longo prazo. Um programa tanto mais eficaz quanto mais se
aproxime etiologicamente das causas do conflito que o delito exterioriza. Os programas de preveno
primria so mais teis que os de preveno secundria e estes mais que os de preveno
terciria; 5) A preveno deve ser contemplada, antes de tudo, como preveno social e
comunitria, precisamente porque o crime um problema social e comunitrio. Trata-se de um
compromisso solidrio da comunidade no s do sistema legal e das suas reparties oficiais que
mobiliza todos os integrantes para solucionar um conflito doloroso. O protagonismo e liderana da
referida interveno corresponde comunidade; 6) A preveno do delito implica em prestaes
positivas, contribuies e esforos solidrios que neutralizem situaes carenciais, conflitos,
desequilbrios, necessidades bsicas. S reestruturando a convivncia, redefinindo positivamente a
relao entre seus membros e a destes com a comunidade cabe esperar resultados satisfatrios
no tocante preveno do delito. Uma preveno puramente negativa, policial ou semi-policial,
sobre bases puramente dissuasrias, carece de operatividade; 7) A preveno do delito, a
preveno cientfica e eficaz do delito, pressupe uma definio mais complexa e aprofundada do
cenrio criminal, assim como dos fatores que nele interatuam. Requer uma estratgia coordenada e
pluridirecional: o infrator no o nico protagonista do fato delitivo, visto que outros dados, variveis
e fatores configuram esse acontecimento. Os programas de preveno devem ser orientados
seletivamente para todos e cada um deles (espao fsico, habitat urbano, grupos de pessoas com
risco de vitimizao, clima social etc.); 8) Pode-se tambm evitar o delito mediante a preveno da
reincidncia. Mas, desde logo, melhor que prevenir mais delitos, seria produzir ou gerar menos
criminalidade. Considerando-se que cada sociedade tem o crime que (muitas vezes) ela mesma
produz e merece, uma poltica sria e honesta de preveno deve comear com um sincero esforo
de autocrtica, revisando os valores que a sociedade oficialmente proclama e pratica. Pois
determinados comportamentos criminais, com freqncia, correspondem a certos valores (oficiais ou
subterrneos) da sociedade cuja ambivalncia e essencial equivocidade ampara leituras e
realizaes delitivas (GARCA PABLOS DE MOLINA, 1992, p. 275-277)
144
A teoria da preveno especial, por haver mudado o foco do mbito da pena para a
recuperao do indivduo, afastando-o, pois, de concepes retributivas e
preventivas que desconsideravam o ser humano, passou a ter guarida239 em um
Direito Penal cada vez mais humanitrio e garantista.
No obstante haver-se convertido, ao menos por alguns autores, na panacia do
finalismo da pena, a teoria da preveno especial enfrenta algumas crticas.
Acentuando o aspecto da ineficcia da ao preventiva individual, Aschaffenburg
(1904, p. 242-243) apontava que, na perspectiva do criminoso j condenado, o
eventual reingresso ao crcere, uma vez experimentado, j no lhe pareceria to
assustador, de modo a atuar como um contra-motivo para impedir novos atos
punveis.
No se pode compartilhar deste ponto de vista. Apesar de alguns indivduos
factualmente poderem encontrar adaptao ao universo do crcere, no se mostra
razovel que a mdia dos ex-presidirios no demonstre averso simples
possibilidade de reingresso a este ambiente, por mais degradante que seja a sua
vida anterior ou posterior priso.
A teoria da preveno especial fortaleceu-se pela necessidade, cada vez mais
sentida, de proteo da sociedade diante do fenmeno criminal. Aschaffenburg
(1904, p. 244-245) prope, para assegurar o fim de proteo da sociedade frente
aos elementos a ela nocivos, a utilizao de todos os meios possveis, de forma a
converter o criminoso num indivduo inofensivo, corrigindo-o e dando a ele os
motivos morais de que carece, modificando os seus defeitos de educao e carter.
No tocante aos considerados irrecuperveis, nada mais bastaria, seno reduzi-los
impossibilidade de exteriorizao dos seus maus instintos.
A fundamentao da pena, como necessidade de conservao social, engendra o
risco de exagero das penas, a fim de torn-las mais exemplares, sacrificando os
direitos de um indivduo sob o pretexto de proteger, com a aplicao da pena, a
239
Roberto Lyra chega a falar em um dever de punir conferido sociedade, de tal sorte a recuperar
os seus indivduos desviados com a prtica do crime. Prender para castigar, para expiar, para
retribuir o mal do crime com o mal da pena dizia-se. Adotemos, agora, outra frmula: prender para
tratar, para curar, para educar, para ensinar, para instruir, para aparelhar o homem. Assim, a
sociedade tem, no s o direito, mas o dever de punir. A liberdade no permitiria sses benefcios, de
que o criminoso se apercebe no futuro. O Estado est tratando de reformular-se para poder reformar
os indivduos atirados ao crime por fra daquele estado perigoso social, a que se refere
SALDAA. (LYRA, 1942, p. 48)
145
sociedade como um todo. (GARRAUD, 1888, p. 45-46)
O
fato
que,
fundamentadora
malgrado
da
pena,
relevncia
nenhuma
jurdico-filosfica
delas
consegue
de
explicar,
cada
teoria
ao
menos
isoladamente, a funcionalidade da sano penal no atual estgio evolutivo do
Direito.
Fragoso (2004, p. 347-348) j denunciava, no tocante preveno geral, a ineficcia
da suposta coao psicolgica da pena no afastamento dos homens do delito,
creditando a incidncia de crimes a fatores no afetados pela ameaa de punio.
No que se refere preveno especial, tampouco esta se mostraria efetiva, dado os
ndices de reincidncia, sobretudo com a imposio da pena privativa de liberdade,
fonte realimentadora do sistema.
Cervini (2002, p. 53) aponta, nesse sentido, uma contradio entre fins e meios, na
medida em que:
A essa altura, importante determinar se no existe uma clara contradio
entre fins e meios. Uma questo postular em abstrato que a pena deve
servir para ressocializar ou reabilitar e outra muito diferente aceitar que a
priso um lugar idneo para cumprir tal objetivo. Os termos reeducao,
reabilitao, regenerao, instruo e outros comumente utilizados tm
escasso significado pois, uns e outros, tentam atribuir funo penal, em
seu aspecto penitencirio, uma finalidade que no lhe prpria, conquanto
se lhe exige algo que no pode realizar.
No contexto da busca pela ressocializao, a imposio de penas restritivas de
direitos para crimes de menor gravidade240 tem encontrado grande acolhida no
Direito Penal moderno. Aplicadas em substituio s penas privativas de liberdade
(e, por isso, chamadas de alternativas)241, as penas restritivas de direitos242, por
240
Em nossa legislao, as penas restritivas de direitos encontram-se previstas no artigo 43 do
Cdigo Penal, aplicveis de acordo com os critrios estabelecidos no artigo 44 do mesmo estatuto,
quais sejam: a) crimes com pena no superior a 4 anos e cometidos sem violncia ou grave ameaa
vtima ou, independentemente da pena a ser aplicada, se o crime for culposo; b) o ru no seja
reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade
do condenado, os motivos e as circunstncias indicarem que esta substituio seja suficiente.
241
No obstante a denominao de alternativas s penas restritivas de direitos haver se consolidado
em nossa doutrina e jurisprudncia, registre-se a crtica de Lopes quanto a uma eventual impreciso
de carter terminolgico: Estas penas, a nosso ver, no so alternativas em relao pena privativa
de liberdade, porque esta ser sempre aplicada. Assim, quanto sua aplicao, no h, pois,
qualquer alternativa. Alm de, obrigatoriamente, aplicada, a pena privativa de liberdade subsiste
substituio, podendo, a qualquer momento, ser executada, se descumpridas as condies de
substituio. Segundo o dicionrio AURLIO, alternativa a sucesso de duas coisas
reciprocamente exclusivas. Ora, a pena privativa de liberdade no excluda, tendo, apenas, sido
substituda sob condies. Logo, as penas restritivas de direitos so somente o que a prpria lei diz
146
permitirem ao condenado o cumprimento da pena longe do crcere, estariam mais
prximas do ideal ressocializador buscado pela teoria da preveno especial.
As penas restritivas de direitos, malgrado a sua grande acolhida e receptividade, no
repousaram imunes a crticas. A maior delas se revela, sobretudo, no tocante sua
adequao Magna Carta, j que dita pena implica, necessariamente, numa
sujeio do condenado a um programa imposto de regras e valores juridicamente
institudos de modo a domesticar o condenado, conformando-o ao conjunto de
expectativas socialmente sentidas pelo grupo social.
Tal
pensamento
de
Ribeiro
(2008,
p.
96-97),
compreendendo
inadmissibilidade, num Estado Democrtico de Direito, de modificao da
personalidade e identidade de um indivduo, contra a sua vontade, afrontando-se,
com tal medida, a preservao da prpria identidade do condenado. Em assim
sendo, defende a idia de que a aplicao de programas e mtodos de tratamento
deve passar pela aceitao do preso, de forma a garantir a sua dignidade243.
Na mesma linha, Rodrigues (2001, p. 162) defende que, antes de ser socializadora,
a execuo da pena seja no-dessocializadora, de forma a no violar os direitos de
cidado atribuveis ao preso. Igual exigncia manifesta Fragoso (2004, p. 347), de
tal sorte a respeitar a dignidade e autonomia do indivduo, devendo este ser livre
para recusar qualquer forma de tratamento a ele atribudo.
3.3.3 Teorias mistas da pena
autnomas e substitutivas da pena privativa de liberdade sendo que o qualificativo de autnomas foi
empregado para as distinguir das antigas penas acessrias, que eram aplicadas junto com a pena
privativa de liberdade, ento denominada de principal (vide 23.1.4 infra). A nosso ver, s h um caso
em que se aplica pena alternativa, segundo o nosso Cdigo Penal, quando o Juiz, valendo-se da
faculdade que lhe conferida pela cominao legal alternativa, resolve fazer opo pela multa (ex.
art. 147 pena, deteno, de um a sei meses, ou multa). A, a multa pena alternativa, mormente
aps a Lei 9.268, de 1.04.1996, que aboliu a converso. Neste caso, se aplicada a multa, fica
excluda a pena privativa de liberdade. (LOPES, 1999, p. 187)
242
Muitos disseram que essas penas so feitas para a Sua, como se l as coisas devessem ser
melhores. As penas restritivas de direito so aplicadas hoje na maior parte dos pases. No foi
inveno nossa: o CP, na sua parte geral, trouxe uma ampliao das chamadas penas alternativas,
que so as penas de prestao de servio comunidade, a pena de limitao de fim de semana ou a
pena de interdio de direitos. Dizem que ela no pode ser aplicada no Brasil. No pode para quem
no tem vontade poltica. (REALE JNIOR, 1994, p. 148)
243
Ribeiro defende, contrariamente idia de ressocializao, o novo conceito de reintegrao social,
produto de diversas tendncias poltico-criminais, representando, para o autor: uma evoluo em
relao concepo anterior, na medida em que expressa uma preocupao marcante com a
integridade fsica e psicolgica dos reclusos em face dos mtodos utilizados, com a dignidade e o
direito de autodeterminao dos mesmos e ainda com a necessidade de fomentar-se a comunicao
e a interao entre o mundo da priso e o mundo livre. (RIBEIRO, 2008, p. 101)
147
As teorias mistas, tambm chamadas de eclticas ou unitrias, surgiram em meio
profuso de crticas direcionadas, de um lado, s teorias absolutas e, de outro, s
teorias relativas (preveno geral e preveno especial)244. Ao invs de negar estes
dois fundamentos da pena, as teorias mistas procuram, do contrrio, correlacionar a
natureza retributiva e a natureza preventiva da sano penal. No que tange ao
aspecto retributivo, ao invs de fazer revelar um carter de vingana, corresponde
necessria medida assecuratria da proporcionalidade entre a pena e o delito,
adequando as funes de preveno geral e especial aos critrios de justia. Ao
mesmo tempo, a pena passa a buscar tanto um efeito dissuasor de prticas
criminosas pelos demais membros da sociedade, quanto um desestmulo
reiterao de aes criminosas pelo indivduo j condenado, permitindo-se, ainda,
que este seja ressocializado e reintegrado ao meio social.
Assim, atendidos os critrios da proporcionalidade, justia e culpabilidade do ru,
impor-se-lhe- uma pena cujo fim permita assegurar os objetivos desejados de
retribuio e preveno, inter-relacionados na aplicao da norma punitiva, cujos
limites encontram-se delimitados nas garantias constitucionais. Note-se, aqui, que a
retribuio no mais vista em seu carter vingativo, mas como critrio aferidor da
proporcionalidade e justia, razo pela qual se fala, nas teorias mistas ou unitrias,
de um neoretributivismo.
O maior expoente das teorias mistas Claus Roxin, propondo este a combinao de
elementos utilitrios e retributivos, e entendendo a retribuio numa perspectiva
garantista245.
244
preciso ressaltar que o fundamento da pena no radica to somente nos fins de preveno
geral ou de preveno especial. A preponderncia absoluta das exigncias de preveno geral
implicaria constante e substancial ampliao das margens penais dos delitos mais graves ou mais
frequentemente praticados, o que conduziria a penas injustas e desproporcionais. De outro lado,
justificar a pena exclusivamente pela preveno especial comprometeria sobremaneira a misso
precpua do Direito Penal, de proteo de bens jurdicos fundamentais. E isso porque, se, por um
lado, na hiptese de delinquentes ocasionais, dever-se-ia prescindir de qualquer sano penal j
que no necessitam de um tratamento corretivo -, de outro, na hiptese de delinquentes perigosos,
ainda que autores de delitos de menor gravidade, seria obrigatria a imposio de penas
desproporcionais. (PRADO, 2010, p. 520)
245
Para Souto, Roxin distingue trs momentos ou fases da pena. No primeiro momento, denominado
de legislativo (ou de cominao penal abstrata), as cominaes penais s se justificam por sua
utilidade para proteger bens jurdicos. No segundo momento, denominado de judicial (ou de
mensurao da pena), a atividade judicial tomar em considerao a preveno geral, j que a
eficcia preventiva da ameaa penal se reduziria a nada se no houvesse realidade alguma por trs
delas, ou seja, sem a imposio de pena. No terceiro momento, denominado de executivo, a pena
deve perseguir a preveno especial, com a reintegrao do criminoso comunidade
(ressocializao). (SOUTO, 2006, p. 50-51)
148
A teoria unificadora preventiva de Claus Roxin repousa em trs postulados bsicos,
conforme revela Crespo (2008, p. 15): 1) Fim exclusivamente preventivo da pena,
baseado no entendimento de que as normas penais s esto justificadas quando
contm a proteo da liberdade individual e uma ordem social a seu servio; 2) A
renncia a toda retribuio, de tal sorte que no seria correto afirmar que o castigo
dos criminosos nazistas j reintegrados socialmente e que no representam nenhum
perigo s se justificaria por um ponto de vista retributivo, considerando-se a
existncia de uma necessidade preventivo-geral de castigar tais feitos sob pena de
afetar gravemente a conscincia jurdica geral; 3) O princpio da culpabilidade como
meio de limitao da interveno, reconhecendo Roxin que este elemento decisivo
da teoria da retribuio deve passar a formar parte, em igual medida, da teoria
preventiva por ele defendida, de tal forma que a pena no pode ultrapassar em sua
durao a medida da culpabilidade, ainda que interesses de tratamento, segurana
e intimidao revelem ser desejvel uma deteno mais prolongada.
Nota-se que a busca de solues combinadas das teorias legitimadoras da pena
(LEMGRUBER, 1994, p. 66) parece ser a tnica no plano da poltica criminal
moderna246, cujo fim de proteo dos membros da sociedade no pode se converter
num instrumento de supresso dos direitos e deveres inerentes cidadania247.
O Cdigo Penal ptrio adotou, inegavelmente, a teoria mista. Esta nova concepo
terica, fruto de um posicionamento ecltico, passou a ser designada de
pluridimensionalismo ou mixtum compositum, onde as funes retributiva e
intimidatria da pena conciliam-se com a sua funo ressocializadora. (COSTA Jr.,
2010, p. 191)
Por oportuno, registre-se a proposio de Zaffaroni de uma teoria agnstica da
pena, concepo esta inovadora na medida em que busca a deslegitimao das
tradicionais teorias justificadoras da pena. Para Zaffaroni, a pena, em sua essncia,
no encontraria legitimao por parte do Estado, correspondendo a um mecanismo
246
Anbal Bruno aponta a mesma tendncia de convergncia dos fins da pena para uma teoria mista,
voltada para a reconquista social do criminoso, no excluindo da pena o seu carter de justa
retribuio, concepo esta que se coaduna, segundo o autor, com os princpios mais avanados da
teoria jurdico-penal. (BRUNO, 1976, p. 25-26)
247
Tal o pensamento de Novaes e Santoro, para quem: O caminho pode ser o de combinao das
teorias, sob viso constitucional, se a aplicao das penas , como j afirmado, um mal necessrio,
este deve ser seu princpio norteador, somente haver aplicao de pena quando se fizer necessrio
manuteno do convvio social pacfico, observadas todas as garantias constitucionais e legais
deferidas aos indivduos em sua totalidade. (NOVAES; SANTORO, 2009, p. 75)
149
arbitrrio de punio que assegura as estruturas de poder promovedoras da
excluso e da segregao social, consubstanciando a sua teoria num reforo luta
pela reafirmao das liberdades individuais frente a uma violncia punitiva estatal.
Em meio completa falncia das teorias absolutas, relativas e mistas em cumprir tal
papel, Zaffaroni (1991), em sua obra Em busca das penas perdidas: a perda da
legitimidade do sistema penal, acusa a crise de legitimao do discurso jurdicopenal, propondo, neste contexto, modelos construtivos que garantam a preservao
das garantias individuais frente atual cultura de punio.
No se compartilha desse ponto de vista.
A teoria agnstica da pena no corresponde propriamente a uma teoria, mas a um
alerta ou despertar crtico do direito penal frente imposio desnecessria e
injustificada de certas penas. Embora reconhecendo factualmente o carter poltico
da pena como mecanismo garantidor de um poder estatal segregador e opressivo,
negar qualquer base legitimatria pena corresponderia, em certa medida, a negar
a prpria legitimidade do direito enquanto realidade sancionadora de condutas,
mormente na verificao de que as primeiras manifestaes do direito se deram
atravs do mecanismo intimidatrio da pena. Nesta medida, a negao das teorias
legitimadoras da pena envolveria uma construo terica que sustentasse a
negao das prprias normas jurdicas, e, em essncia, do prprio direito, o que no
parece nem um pouco razovel.
A concepo, no plano filosfico, de uma teoria agnstica da pena revela a faceta
mais ntida da completa falncia da perspectiva instrumental (e da perspectiva de
seus seguidores) em continuarem insistindo na busca de uma justificativa racional
para a pena sob ditas bases, de tal sorte a legitim-la frente coletividade.
No plano instrumental, a iluso iluminista em buscar a verdade com o uso da razo
(ao alvedrio da receptividade da pena, enquanto pretenso de verdade, no consenso
racionalmente motivado dos sujeitos sociais), impede a cincia penal de sair do
redemoinho de suas prprias contradies e imperfeies. Nesta tica, ainda se cr,
inutilmente, que um penalista iluminado revelar, com o uso isolado de sua razo
individual, o sentido ideal ou justo de pena, sob os aplausos dos seus sempre
receptivos destinatrios sociais.
No obstante haver Zaffaroni acertadamente denunciado a iluso justificadora da
150
racionalidade instrumental, erra ao dizer que as penas no podem encontrar
legitimidade. Podem sim, mas no numa perspectiva instrumental, e sim numa
perspectiva comunicativa, encontrando repouso no consenso racionalmente
motivado dos participantes, orientador das aes individuais dos destinatrios
sociais da norma.
No captulo seguinte, passa-se ao desvelamento da racionalidade comunicativa da
pena, com a necessria superao das teorias instrumentais at ento veiculadas,
numa abertura da perspectiva jusfilosfica da pena dinmica comunicativa das
interaes sociais.
151
4 A RACIONALIDADE DA PENA
A realidade do processo comunicativo estende-se a toda a esfera de conhecimento
humano, em seus diversos campos do saber. No campo do Direito, representa a
construo, viabilizada pela linguagem, de um sistema regulador das condutas
sociais dos indivduos, o que refora o seu inquestionvel carter cultural248.
Se a comunicao consequncia lgica e natural da interao entre os sujeitos na
sociedade, tampouco se pode negar a sua exteriorizao na realidade do Direito, na
medida em que este representa o mecanismo disciplinador e sancionador, por
excelncia, das condutas de todos os indivduos.
No campo do Direito Penal este efeito comunicacional se revela no efeito dissuasor
exercido sobre a coletividade pela ameaa da sano penal. por isso que a
impunidade indicadora da ineficcia da ameaa de sano penal alimenta, nos
indivduos, o descrdito nas instituies. Os efeitos comunicativos produzidos sobre
a coletividade influenciam o processo histrico-evolutivo de modificao das leis,
bem como a medida e a intensidade da resposta do Direito na regulao das
condutas do grupo.
O efeito comunicativo gerado sobre os indivduos a partir do Direito atua de forma a
promover a mudana de comportamento dos membros da sociedade. Por igual
turno, as aes comunicativas exteriorizadas por seus membros acabam por
conduzir modificao do prprio Direito, num dinmico processo interativo
conduzido pelos sujeitos.
A linguagem, transmitindo em seus smbolos e sinais os padres de comportamento
institucionalizados no grupo social, corresponde ao veculo no qual cada novo
indivduo passa a integrar o campo de significaes comuns entre os sujeitos.
Atravs do processo de interpretao, os indivduos passam a compreender os
sinais e smbolos prprios linguagem, internalizando-os, por via de conseqncia,
na realidade de significaes do mundo objetivo.
248
No outro o entendimento de Brito (1993, p. 11), ao visualizar o Direito como um conjunto de
manifestaes da mente humana, por onde se expressam as aes, vivncias e convivncias do
homem. Segundo ele, os seus veculos (as normas) correspondem a discursos carregados de toda a
natureza da pragmtica da comunicao humana.
152
A apreenso da realidade pode ser dar tanto no plano de uma racionalidade
instrumental como no plano de uma racionalidade comunicativa. A primeira,
consubstanciada nos moldes de uma filosofia da conscincia, estrutura-se numa
relao meios-fins entre o sujeito cognoscente e o mundo exterior (objeto cognitivo).
O sujeito, isoladamente considerado, baseia-se nas suas percepes e autocompreenso para interpretar a realidade a sua volta.
Do contrrio, no plano da racionalidade comunicativa, os sujeitos envolvidos, ao
midiatizarem, atravs de atos de fala, suas pretenses de verdade com os demais
sujeitos, acabam por transmitir a tradio cultural da realidade viabilizando o
cumprimento das normas sociais institudas. (HABERMAS, 1987, p. 63)
A realidade captada pelos sujeitos em interao como um conjunto de padres
pr-moldados sobre os quais lhes cabe a aceitao ou recusa. Como esta realidade
igualmente experimentada por cada sujeito, passam a atuar expectativas
recprocas de comportamento frente aos demais, viabilizando mecanismos de
controle social que acomodam e estabilizam as aes individuais. Assim, ao
falarmos a mesma lngua, passamos a agir conforme as expectativas de
comportamento presentes no meio social, de forma a desempenhar papis que nos
so esperados.
As instituies sociais, para assegurarem estas expectativas, contam com variados
mecanismos de coero e sano, de forma a garantir a adequao das condutas
desviantes (ameaadoras do status quo), ao complexo de normas sociais vigentes.
O Direito, enquanto sistema regulador de condutas sociais, institucionaliza
mecanismos coercitivos correspondentes sano jurdica, a fim de que os seus
destinatrios sejam compelidos observncia das normas jurdicas estabelecidas
pelo poder institudo. No campo do Direito Penal, ditas sanes recebem o nome de
pena, aplicvel como resposta s infraes penais (crimes e contravenes)
praticados pelos sujeitos.
A tradio jurdica apresentada no captulo anterior mostra a pena como justificada
por uma racionalidade instrumental, ou seja, como a ameaa que principalmente ou
tambm destinar-se-ia a induzir nas pessoas a quem a norma se dirige uma atitude
de obedincia. Neste captulo, analisar-se-o as possveis relaes entre a
racionalidade instrumental e a racionalidade comunicativa da pena, com vistas ao
153
estabelecimento, ao final, de uma noo de justia para a reprimenda penal.
Como se indicou no captulo 2, a ao estratgica compreende a ao empreendida
por um sujeito com vistas ao atingimento de determinado fim (xito) sobre os demais
sujeitos. Esta ao envolve a escolha dos meios mais adequados para a
consecuo de determinado objetivo, promovendo-se uma modificao psicolgicocomportamental no receptor, influenciando as suas aes, pensamentos e atitudes,
de forma a comportar-se segundo os padres esperados pelo seu emitente.
A ao estratgica permite influenciar249 as decises dos demais participantes no
discurso, induzindo o consenso teleologicamente calculado, cujas conseqncias
so favorveis apenas para uma das partes. Neste processo de influenciao so
utilizados diversos instrumentos, dentre os quais se encontra a pena, cuja sano
jurdica implica, via de regra, na perda da liberdade do destinatrio da norma.
A pena passa a ser, ento, o veculo estratgico de garantia do cumprimento das
normas penais, garantindo, por consequncia, a preservao do status quo e o
atingimento dos fins visados pela coletividade (xito da ao). Inegavelmente, ao
mesmo tempo em que se empreende, mediante a dimenso ilocucionria dos atos
de fala, aes comunicativas, manifestam-se constantemente, mediante a dimenso
perlocucionria dos atos de fala, aes estratgicas, de tal sorte que os fins visados
(entendimento ou xito) fazem parte do conjunto de aes sociais existentes no
plano da comunicao entre os sujeitos.
Dentre estes sujeitos, encontra-se a figura do Estado, cujas normas jurdicas
apresentam
um
carter
comunicacional
como
emissores
de
mensagens
compartilhadas pelos seus destinatrios sociais, afetados que so tanto pelo seu
aspecto comunicativo quanto pelo seu aspecto estratgico.
Mas como uma ao estratgica pode se manifestar no plano estatal, como
instrumento para a consecuo dos fins pretendidos pelo poder dominante? Pode-se
exemplificar, no mbito de uma ao estratgica dirigida pelo Estado aos seus
cidados, os exemplo de Hitler250 e Churchill251, que, na segunda grande guerra252,
249
Ora, o direito, em toda a sua complexa realidade, consiste justamente numa tarefa de convencer
e persuadir a respeito de certas situaes, o que o torna eminentemente argumentativo e
hermenutico. (MENDES, 1996, p. 35-36)
250
Hitler, utilizando-se de retrica como instrumento viabilizador de uma ao estratgica para
ludibriar seus adversrios, sobretudo a Inglaterra, ao disfarar seus reais intentos de ataque a pases
da linha ocidental da Alemanha: Declarei que as fronteiras entre a Frana e a Alemanha so
154
procuraram, com semelhante uso da retrica, captar a legitimidade das normas de
exceo impostas frente ao seu povo, despertando-o, ainda, para a necessria
unio de esforos no atingimento do fim de vitria na guerra contra o adversrio
(xito da ao). Buscavam, ainda, a legitimidade popular s normas jurdicas
vigentes frente aos inimigos do sistema, cuja sano era justificada como merecido
castigo aos traidores de ambos os lados, autorizando-se a eventual morte ou tortura
dos dissidentes e opositores ao regime.
A pena, como ato estratgico, sempre foi utilizada ao longo da histria como veculo
transmissor de mensagens comunicacionais coletividade, a fim de que a norma
punitiva, alm de servir de castigo, passasse a funcionar como exemplo a todos os
indivduos, induzindo, diante deles, um consenso racionalmente motivado de
obedincia s normas.
Os fins utilitaristas perseguidos com o uso instrumental da pena acabam por
fundament-la como um ato teleolgico-estratgico de comunicao.
Viu-se, no segundo captulo deste trabalho, que a ao estratgica pode se dar tanto
de forma ostensiva quanto disfarada. Quanto s aes disfaradas, pode-se
definitivas. Fiz repetidas ofertas de amizade, e mesmo de estreita cooperao, Gr-Bretanha [...] A
Alemanha no tem interesses no Ocidente: Nossa muralha ocidental ser sempre a fronteira do Reich
a oeste [...] Quando agora peo ao povo alemo que faa sacrifcios e at mesmo que sacrifique
tudo, se fr necessrio tenho o direito de faz-lo, pois tambm eu estou hoje totalmente disposto,
como sempre estive, a fazer pessoalmente todos os sacrifcios [...] A partir dste momento, sou
apenas o primeiro soldado do Reich. Vesti, uma vez mais, a farda que para mim o que existe de
mais sagrado e querido. No a tirarei at que chegue a vitria, ou no sobreviverei luta (...) H uma
palavra que jamais aprendi: capitular [...] Todo aqule que julgue poder se opor, direta ou
indiretamente, s ordens da Nao, cair. Nada queremos com traidores [...] (MICHALANY, 1967, p.
954)
251
Churchill, igualmente utilizando-se do mecanismo da retrica como ao estratgica, cujo fim era
encorajar os habitantes da Inglaterra na difcil empreitada contra os adversrios alemes: Iremos at
o fim... Lutaremos na Frana, lutaremos nos mares e nos oceanos, lutaremos nos ares com confiana
crescente e fra crescente... Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo... Lutaremos nas
praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas e nas encostas...
Nunca nos entregaremos, e ainda que o que nem por um momento eu posso aceitar esta ilha, ou
parte dela, fsse subjugada e esfomeada, ento nosso Imprio, pelos mares, armado e protegido
pela Marinha de Guerra Britnica, levar adiante a luta, at que, na hora que a Deus aprouver, o
Nvo Mundo, em tda sua pujana e fra, se atire ao salvamento e libertao do Velho Mundo... A
Gr-Bretanha combater a ameaa da tirania durante anos e, se necessrio fr, sozinha! Discurso
de Winston Churchill, primeiro-ministro da Gr-Bretanha, proferido em 04 de junho de 1940.
(MICHALANY, 1967, p. 894)
252
A propsito, visando a ao estratgica o xito do sujeito diante do seu oponente, a sua
visualizao no mbito da guerra encontrada no precioso estudo do general chins Zun-Tsu,
representado em sua milenar obra A arte da guerra: O moral aquilo pelo qual o general domina.
Ora, a ordem e a confuso, a bravura e a covardia so qualidades dominadas pelo corao. Assim o
perito em controlar seu inimigo frustra-o e depois marcha contra ele. Irrita-o para confundi-lo e
hostiliza-o para amedront-lo. Desse modo ele priva o inimigo de seu moral e de sua qualidade de
planejar. (SUN-TZU, 1996, p. 77)
155
produzir sobre os receptores da ao uma dissimulao inconsciente (comunicao
distorcida)
ou
consciente
(manipulao).
Neste
ltimo
caso,
sujeito,
voluntariamente, busca ludibriar o(s) receptor(es), produzindo nele(s) uma
modificao psicolgico-comportamental.
A natureza da pena a da dimenso perlocucionria de um ato de fala. A imposio
da reprimenda penal visa no apenas punir o infrator da norma (face ao mecanismo
de coero e sano na busca do ajuste forado dos comportamentos desviantes ao
conjunto das normas jurdicas vigentes no grupo), mas, tambm, transmitir
coletividade a mensagem de que a prtica da conduta incriminada acarretar em
punio.
Recordando a lio de Berger e Luckmann (1985, p. 142), por vivermos em um
mundo simblico, cuja compreenso iluminada por um determinado universo
compartilhado por todos os indivduos, a legitimao de todas as prticas validada
por esse universo fica ameaada com a proposio de outro universo simblico.
Esta a razo pela qual os comportamentos transgressores da normalidade social
so estrategicamente punidos de forma a garantir a manuteno do status quo.
Dada a impossibilidade de garantir, com o gigantesco aparato repressivo de que
dispe e do arcabouo superabundante de leis penais, a diminuio da
criminalidade, o Estado, com grande freqncia, tem se utilizado da pena como
instrumento simblico para a garantia da ordem pblica e dos interesses estatais.
No quadro da realidade simblica do Direito, so precisas as lies de Neves (1994,
p. 34), para quem determinados grupos sociais buscam a influncia sobre a
atividade legiferante, de tal forma a dissuadir determinadas condutas que no se
coadunam aos valores por eles compartilhados, satisfazendo as suas expectativas
apenas com a expedio do ato legislativo. Em referncia a Gusfield, Neves (1994,
p. 35) cita como exemplo de legislao simblica o caso da lei seca, nos Estados
Unidos:
A tese central de Gusfield afirma que os defensores da proibio de
consumo de bebidas alcolicas no estavam interessados na sua eficcia
instrumental, mas sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindose a respectiva legislao como smbolo de status. Nos conflitos entre
protestantes/nativos defensores da lei proibitiva e catlicos/imigrantes
contrrios proibio, a vitria legislativa teria funcionado simbolicamente
a um s tempo como ato de deferncia para os vitoriosos e de degradao
para os perdedores, sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais.
156
Inmeros so os exemplos da utilizao (simblica) da pena como ato teleolgicoestratgico de comunicao. Tomem-se os crimes contra a ordem tributria. Notase, de forma flagrante, que a instrumentalizao do Direito Penal em favor dos fins
visados pelo Estado na arrecadao de tributos acaba por consagrar o tipo penal
como mera reao desobedincia ao dever jurdico de contribuir. A pena, aqui,
atua como o co de guarda do Estado para a salvaguarda de seus fins
arrecadatrios, ou seja, a ferramenta garantidora dos interesses do Estado na
cobrana de tributos.
Em outras palavras, a voracidade do Estado em cumprir os seus fins arrecadatrios
enseja a utilizao estratgica da pena como o mecanismo de punio em caso de
descumprimento dos cidados obrigao de pagar tributos. Aqui, a mera
construo conceitual dogmtica consegue elevar a figura jurdica da arrecadao
de tributos condio de bem jurdico tutelado pelo Direito Penal, autorizando-se a
criminalizao das condutas que lhe so violadoras, o que representa uma utilizao
indevida do Direito Penal para fins que no lhe so prprios, lanando mo o Estado
da pena como instrumento estratgico para a consecuo dos seus fins.
Outro exemplo de manifestao simblica do Direito Penal, viabilizada com a
utilizao estratgica da pena encontrado no artigo 319-A CP. Dispe o referido
tipo: (Deixar o Diretor de Penitenciria e/ou agente pblico de cumprir seu dever de
vedar ao preso o acesso a aparelho telefnico, de rdio ou similar, que permita a
comunicao com outros presos ou com o ambiente externo pena: deteno, de 3
meses a 1 ano).
Explica-se: o referido tipo, includo no ordenamento ptrio pela lei 11.466/07, teve
como contexto histrico uma grande revolta ocorrida simultaneamente em presdios
paulistas no ano de 2007, liderada por organizaes criminosas que, alm de
planejarem o motim nos estabelecimentos prisionais, promoveram uma onda de
crimes por todo o Estado, com a morte de inmeros cidados, incluindo ataques a
delegacias, veculos e postos policiais. Ditos acontecimentos, repercutindo
nacionalmente e internacionalmente nos meios de comunicao, instaram os
poderes pblicos adoo de urgentes providncias no combate criminalidade.
Como resposta, o Poder Executivo apressou-se em criar um assim chamado pacote
de medidas para a segurana pblica, cujas aes propostas, apresentadas
157
midiaticamente, no chegaram a se concretizar. O Poder Judicirio, por seu turno,
apressou-se em dizer (excluindo a sua parcela de responsabilidade), que o problema
residia nas leis brasileiras, e na sua inadequao e frouxido diante da crescente
criminalidade.
O Poder Legislativo, ento instado a dar uma resposta eficaz ao problema, optou por
promover a criao de mais um tipo no j extenso Cdigo Penal Brasileiro: a figura
do artigo 319-A CP. A incluso do citado tipo encontrava justificativa na constatao
factual de que a entrada de celulares e rdios em presdios havia sido o instrumento
viabilizador da revolta simultnea nos estabelecimentos prisionais, de onde partiram,
inclusive, as ordens para a prtica de crimes em todo o Estado. O novo tipo, agora,
passava a punir quem introduzisse ditos aparelhos no sistema prisional, ou
permitisse a sua livre utilizao pelos detentos.
A introduo de mais um tipo penal no representou nenhuma alterao factual no
quadro da realidade catica dos presdios em todo o Brasil. Alm disso, o artigo
citado incuo, por redundante, ao revelar-se, nada mais nada menos, do que uma
hiptese anteriormente j criminalizada pelo crime de Prevaricao (artigo 319 CP),
que preceitua: Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofcio, ou
pratic-lo contra disposio expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal, cuja pena, igualmente, de extenso de 3 meses a 3 anos.
Ora, a conduta de um diretor de presdio e/ou agente pblico de permitir ao preso o
acesso a aparelho telefnico ou de rdio j era enquadrada como hiptese de
prevaricao, desautorizando, por bvio, a criao de um tipo especfico para tutelar
a referida modalidade, sobretudo sendo a pena do artigo 319 CP a mesma do art.
319-A CP. O legislador, visando comunicar sociedade a pronta atuao dos
poderes pblicos frente criminalidade, acabou por criar, com o artigo 319-A CP, a
prevaricao da prevaricao. Antes de constituir-se em equvoco de ordem
tcnica do legislador, a criao intencional do artigo 319-A revela mais um exemplo
de manifestao simblica do Direito Penal, em que a pena estrategicamente
utilizada como mecanismo garantidor da ordem e da estabilizao de expectativas
sociais, neste caso no pela diminuio de oportunidades para a prtica criminosa,
mas, sim, por apresentar ao povo o poder pblico tomando providncias.
Nesta tica, Teles (2004, p. 326) aponta a presena de um Direito Penal simblico,
em que o legislador declara uma inteno, quando na realidade deseja exatamente
158
outra: apenas ludibriar a comunidade, inculcando nela a idia de confiana no
Estado.
A pena, preciso esclarecer, sempre cumpriu esta funo simblica e estratgica.
Se em pocas remotas253 a natureza repressiva dos castigos corporais visava
despertar nos destinatrios sociais da norma mecanismos intimidatrios dissuasores
de futuras e potenciais transgresses, ainda hoje, e cada vez com mais freqncia,
expressam-se, em espetculos miditicos, operaes policiais cinematogrficas,
quando, no raro, envolvendo a participao das Foras Armadas e seus
intimidadores aparelhos blicos.
Ao invs de buscar minorar a incidncia de crimes no combate a suas razes
sociais254, o Estado repressivo atua duplamente na transmisso comunicacional de
mensagens, seja com modificaes legislativas, seja com impactantes aes
operacionais de combate ao crime.
Aqui reside o carter mais realstico da utilizao estratgica dos mecanismos
punitivos estatais: o aparelho repressivo destinado a manter o status quo.
Amaral (2008, p. 173) aponta a instrumentalizao da pena como um perptuo
preenchimento estratgico, aplicada conforme a urgncia da resposta determinada
por cada momento histrico255. Nesta tica, a pena sempre acumulou, ao longo da
histria, discursos contraditrios entre si, ao mesmo tempo em que teorias diversas
procuraram a sua justificao. A busca destas justificativas revela, em sua raiz, os
mecanismos de poder dominante na sociedade, constituindo a histria da pena a
prpria narrativa de sua reinveno.
A pena, como ato estratgico, midiatiza a manifestao utilitarista dos mecanismos
253
a tortura surge como um momento importante para a concretizao da ameaa da pena. O
inquirido sente, durante todo o processo e, principalmente, durante o interrogatrio sob tortura, o
potencial de violncia e a majestade do poder real. A tortura, portanto, tem efeitos intimidatrios
para a coletividade. Como forma de punio antecipada, nunca se desvincula inteiramente de seus
efeitos purgatrios, que podem levar absolvio como tambm aplicao de uma pena
extraordinria. A tortura desempenha essa funo simblico-preventiva, ainda que aplicada
raramente, atuando, em geral, como ameaa oculta e temida no mbito do processo penal
inquisitrio secreto. Isso indica que a tortura pode ser eficaz mesmo quando pouco empregada pelos
tribunais do Ancien Rgime. Em outras palavras, o rigor do sistema penal da poca no depende da
freqncia de sua aplicao. (SABADELL, 2006, p. 384)
254
Embora no se possa, logicamente, estabelecer uma relao direta entre pobreza e criminalidade
(sob pena de uma injusta estigmatizao das classes menos favorecidas), h de se ponderar que a
misria e as desigualdades sociais so potenciais engendradoras de situaes de violncia, algumas
das quais desembocam na incidncia de criminalidade.
255
Para Maus, a prpria noo de pena reporta ao campo da ao estatal, onde a sua compreenso
sofreu modificaes ao longo da histria. (MAUS, 1891, p. 35)
159
repressores estatais na manuteno do status quo de segregao e excluso social.
O poder dominante procura, atravs do instrumento repressor da pena, manter o
quadro de desigualdades scio-econmicas prprias ao capitalismo, destinando a
sua aplicao preferencialmente s classes menos favorecidas.
Ao mesmo tempo, o aumento da criminalidade (fenmeno presente civilizao
moderna), ao repercutir na insegurana dos cidados, aciona, frente ao poder
institudo, o mecanismo teleolgico-estratgico da pena, viabilizando, frente a eles, o
convencimento estrategicamente motivado de que as instituies no apenas esto
em funcionamento, mas que atuaro, com implacvel rigor, no combate
criminalidade.
Expressa-se, nesse contexto, o carter simblico-estratgico da pena256, criando
uma falsa sensao de segurana, atingindo-se, no obstante, o fim teleolgicoestratgico visado pelo Estado. O prprio clamor social por um Direito Penal mximo
utilizado como ferramenta poltica do Estado para a obteno de legitimidade
frente aos cidados.
Conclui-se que a racionalidade da pena, expressa em sua feio teleolgicoestratgica, revela-se um mecanismo poltico legitimador da estrutura de poder
vigente na realidade social.
Entretanto, a ao empreendida pelo sujeito estratgico precisa compatibilizar-se
com a ao comunicativa, como condio para a legitimao da norma frente aos
sujeitos sociais. Quando os fins teleolgico-estratgicos presentes na norma se
adequarem aos argumentos substanciais presentes no consenso racional entre os
sujeitos, a norma jurdica revelar-se- como justa diante dos seus destinatrios. Do
contrrio, quando os fins teleolgico-estratgicos da norma jurdica no encontrarem
guarida no consenso racionalmente obtido pelos sujeitos, a norma revelar-se- como
injusta, repercutindo o sentido comunicacional de descrdito por parte dos seus
destinatrios sociais.
Em outras palavras, a norma jurdica, enquanto pretenso de verdade manifestada
no plano do discurso racional, procura a sua justificao no acordo que orientar as
256
A perspectiva abolicionista tambm leva em considerao o carter simblico da pena, a servir
como mensagem comunicativa aos seus destinatrios sociais: A histria e a antropologia permitem
ainda que se afirme que no so a durao ou o horror do sofrimento infligido que apaziguam
aqueles que eventualmente clamam por vingana, mas sim a dimenso simblica da pena, ou seja,
o sentido de reprovao social do fato que lhe imputado. (HULSMAN; CELIS, 1993, p. 120-121)
160
aes individuais dos participantes. Assim, na medida em que a norma jurdica no
mais corresponder tese do melhor argumento racional presente ao discurso,
perder a sua legitimidade, engendrando a sua alterao de forma a restaurar o
conjunto de expectativas sociais dos participantes do discurso.
4.1 A PENA LUZ DA RACIONALIDADE COMUNICATIVA
Busca a pena, como toda norma jurdica, legitimar-se257 frente aos seus
destinatrios.
No plano das normas jurdicas (entre as quais situa-se a pena), ainda que estas
sejam estabelecidas e impostas arbitrariamente por um determinado grupo detentor
do poder258, isto no impede a sua voluntria aceitao (legitimidade) pelos seus
destinatrios259, desde que a pretenso de verdade correspondente norma
encontre guarida no plano do discurso racionalmente motivado entre os sujeitos. Na
medida em que a norma (pretenso de verdade) no mais corresponder ao melhor
argumento presente no discurso, deixar de valer como verdade (regra vlida) entre
os sujeitos comunicantes, perdendo a sua legitimidade na medida em que possa ser
superada por outras pretenses de verdade dos sujeitos em interao.
Nesta tica, a ausncia de legitimao da pena frente aos seus destinatrios revela
o fato de que ela, como pretenso de verdade, deixou de valer como melhor
argumento presente no plano comunicativo do discurso empreendido pelos sujeitos,
de tal sorte que ao sentido comunicacional da obedincia s normas pode sobrepor-
257
Para legitimar, isto , para realizar o pressuposto difuso da legitimidade, a dogmtica se serve de
instrumentos operacionais. Estes so constitudos de regras ou princpios legitimantes. Distinguimos
trs grupos delas: regras de fixao de valores, regras de programao e regras de consecuo.
Pelas primeiras estabelece-se um sistema constante de valores. Pelas segundas o sistema
projetado temporalmente num fluxo de adaptaes. Pelas terceiras ele se atualiza. No caso concreto,
as duas ltimas acabam por depender das primeiras, o que confere legitimao um evidente carter
ideolgico, entendendo-se por ideologia uma valorao ltima e primeira dos valores, a partir da qual
estes adquirem um contedo e um espao de variao possvel. (FERRAZ JNIOR; DINIZ;
GEORGAKILAS, 1989, p. 23)
258
As proposies normativas foram postas no curso secular de formao do Estado moderno,
provindas de vrias fontes: costumes, precedentes judiciais, Direito romano (recepo), Direito escrito
etc., e onde focos de poder diversos tinham poder normativo e decisrio: cidades-livres, SacroImprio, prncipes, igrejas nacionais (Werner Naef, Staat und Staatsgedanke, pgs. 33-37), tudo
atropelando-se, porque, atrs da multiplicidade de normas conflitantes, estavam os centros de poder
emitentes das normas. (VILANOVA, 1997, p. 241)
259
De um ponto de vista comunicacional, a questo da legitimidade se coloca no nvel ftico e no
moral. Trata-se do reconhecimento, em ltima instncia, das decises do detentor do poder.
(FERRAZ JNIOR, 2002, p. 53)
161
se o sentido comunicacional de sua desobedincia260, instando, por parte do
legislador, a sua necessria alterao.
A ao comunicativa pressupe, como j explicitado, a manifestao autntica e
sincera das opinies dos sujeitos envolvidos no discurso, contemplando a
predisposio destes em se deixarem convencer apenas pela fora do melhor
argumento, conduzindo os atores ao acordo racionalmente261 motivado quanto
validade de suas proposies, harmonizando e coordenando os seus planos de
ao individuais.
A racionalidade comunicativa, no demais lembrar, no nega a racionalidade
instrumental.
Ao
contrrio,
complementa-a,
ampliando
os
horizontes
do
conhecimento presos ao limites do sujeito, capaz de apreender a verdade com o uso
da razo. A ao comunicativa, ao mesmo tempo em que preserva o potencial crtico
da racionalidade iluminista, denuncia a sua fragilidade e iluso em creditar ao sujeito
a capacidade nica e transcendente de apreenso da verdade, dotado que do
mecanismo do seu intelecto.
A se encontra, pois, o carter revolucionrio da teoria da ao comunicativa
transposta ao plano da pena: ao proporcionar a igualitria manifestao de
pretenses de verdade pelos sujeitos, que atuam em direo a um consenso
orientador das aes racionais de todos os atores, a verdade sobre a pena deixa de
estar presa autoridade do sujeito para revelar-se, ao contrrio, como produto da
interao comunicativa entre os participantes do discurso. Em outras palavras, na
perspectiva da ao comunicativa, a verdade sobre a pena deixa de estar baseada
na autoridade do sujeito que a proclama, para revelar-se no consenso entre os seus
destinatrios, na dinmica do processo comunicativo entre eles.
Adotada esta perspectiva racionalista da pena, ela assenta-se, ento, em bases
comunicativas, com vistas a um consenso. Em virtude da dinmica das interaes
sociais, no obstante a impossibilidade de realizao emprica do consenso
denominado verdadeiro na concepo habermasiana, depreende-se que a
260
Galvo faz referncia, no plano existencial de uma sociedade dividida em classes, e social e
politicamente estratificada, desobedincia de certos grupos marginalizados, cuja obstaculizao s
normas acaba por movimentar dialeticamente o direito, exercendo uma espcie de contra-poder
frente aos dispositivos institudos pelo prprio poder, constituindo a violncia popular organizada um
legtimo direito poltico. (GALVO JR, 2007, p. 37)
261
Como j se afirmou, dito acordo dito racional porque os sujeitos tm conscincia de que um
consenso s pode surgir de interesses universalizveis (comuns) a todos os participantes.
162
manifestao de um consenso emprico sobre a pena, engendrado como produto da
fora cogente dos argumentos racionais no plano do discurso entre os sujeitos, seja
suficiente para fundamentar, tanto quanto possvel, a racionalidade da pena,
respeitadas as condies de aproximao entre o consenso emprico e o consenso
verdadeiro. Dito consenso emprico aproximar-se- cada vez mais do consenso
verdadeiro na medida em que os argumentos racionais dos sujeitos encontrarem
guarida no acordo que orientar as aes individuais de todos os participantes,
assemelhando-se as circunstncias do discurso situao de fala ideal.
As sanes penais, expressas em sua fora perlocucionria, intentam a sua
legitimao frente aos sujeitos sociais, como resposta s condutas violadoras da
norma jurdica. Assim que, para Habermas, a condenao moral ou legal acaba
por apelar a um consenso normativo de fundo, viabilizador de um acordo racional
entre os sujeitos, graas ao consenso bsico legitimador das prprias normas
penais. (HABERMAS, 2004b, p. 123.)
Este aspecto comunicativo torna-se ainda mais ntido ao visualizar-se a utilizao,
via processo argumentativo, de atos de fala262 pelos sujeitos em interao,
promovendo a modificao de comportamento dos demais participantes do processo
da deciso jurdica263. preciso, entretanto, ressalvar que enquanto a livre
reivindicao de pretenses de validade, no contexto do devido processo legal,
262
Assim concebemos o ato de falar como uma ao lingstica dirigida a outrem, como apelo ao
entendimento de outrem. Esta ao comporta como elementos fundamentais o sujeito que fala ou
orador, o endereado da fala ou ouvinte e o objeto, aquilo que se fala ou questo. Estes trs
elementos so incontornveis e no h discurso sem eles. (FERRAZ JNIOR, 2000, p. 30)
263
Normas jurdicas so decises. Atravs delas, garantimos que certas decises sero tomadas.
Elas estabelecem assim controles, isto , pr-decises, cuja funo determinar outras decises.
Embora isto no signifique, como veremos, uma reduo da norma norma processual, o ponto de
vista pragmtico no deixa de ressaltar este aspecto procedimental do discurso normativo. No
exemplo que estamos analisando, podemos levantar uma srie de alternativas conflitivas que
envolvem decises a tomar: ser preso ou no ser preso, legalmente ou ilegalmente, por autoridades
ou por qualquer um, tendo cometido um delito ou no tendo cometido um delito, em flagrante ou no,
pagando fiana ou no pagando, admitindo-se fiana ou no se admitindo, etc. Estas alternativas so
do tipo incompatvel, portanto, conflitivas. A norma cumpre a tarefa de determinar quais as decises,
ou seja, quais alternativas decisrias devem ser escolhidas. O objeto do discurso normativo, ou seja,
o objeto da situao comunicativa olhado do ngulo do comunicador normativo, no propriamente o
conjunto das alternativas, mas a deciso que, diante delas, deve ser tomada. Ou seja, no exemplo,
so as decises: s prender em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade, comunicar ao juiz
a priso ou deteno, relaxar a priso ilegal. Temos, pois, dois ngulos distintos: as alternativas
conflitivas (ser preso ou no, legalmente ou no), objeto do discurso dos comunicadores sociais, e o
objeto do discurso do comunicador normativo, que tambm constitui um conflito, diferente do outro,
na medida em que considera um conflito sobre o conflito, que requer deciso sobre a deciso. Assim,
o objeto da norma, sua questo conflitiva, no apenas ser preso ou no ser preso, legalmente ou
ilegalmente, mas tambm s prender em flagrante ou por ordem escrita: deciso obrigatria ou
proibida ou permitida/ou indiferente/ou facultativa/etc. (FERRAZ JNIOR, 2000, p. 49-50)
163
inspirada no modelo da ao comunicativa, a presena efetiva de interesses no
universalizveis a lastrear estas reivindicaes converte o procedimento em um
entrechoque de aes estratgicas.
Nesta tica, a pena, enquanto pretenso de verdade, apresenta-se passvel de
questionamento no plano do discurso, engendrando, pela fora do melhor
argumento, o consenso racional entre os sujeitos.
Como se afirmou, dito acordo denominado de racional porque os prprios
participantes tm conscincia de que seu consenso surgiu de interesses
universalizveis (comuns a todos os sujeitos). No mbito dos interesses
universalizveis, presentes ao acordo racional entre os sujeitos, harmonizam-se as
pretenses de verdade dos participantes. Este consenso produzido, longe de
revelar-se imutvel, mostra-se passvel de modificao medida que uma nova
pretenso de verdade, em sua fora ilocucionria, revelar-se, por sua vez, o melhor
argumento no plano do discurso.
A compreenso da teoria da ao comunicativa envolve a disposio do investigador
em colocar em suspenso uma racionalidade calcada no sujeito, em que a verdade
est contida na autoridade daquele que a proclama, para descobri-la no consenso
(acordo racionalmente motivado entre os sujeitos), orientador das aes individuais
dos participantes do discurso.
Envolve, concomitantemente, a real compreenso da noo habermasiana de
situao de fala ideal, em que a igualitria oportunizao de atos de fala pelos
sujeitos (livres que esto de qualquer coero ou presso) substitui-se perspectiva
monolgica da razo instrumental, esperana iluminista que, transposta realidade
da pena, faz creditar ao sujeito a capacidade de buscar regras e frmulas
expressivas e reveladoras da sua medida e intensidade.
A possibilidade jusfilosfica de investigao da racionalidade comunicativa da pena,
via instrumental habermasiano, encontra guarida no sentido comunicacional da
punio. De fato, embora se reconhecendo a repercusso de todos os aspectos do
Direito, no se pode comparar o efeito comunicacional das penas ao de outras
determinadas normas jurdicas, a exemplo das normas comerciais. Para o indivduo
comum, uma nova lei de falncias, na medida em que quase nada repercute sobre o
seu dia-a-dia, apresenta pequena importncia no plano do sentido comunicacional
164
da norma frente aos indivduos.
Entretanto, confrontado o sujeito social possibilidade de ser morto, roubado ou
violentado, a aspirao social a uma pena capaz de afastar e punir potenciais
violadores da norma repercute comunicativamente na formulao e manifestao de
pretenses de verdade pelos sujeitos racionais, refletindo-se na confirmao ou
modificao do sentido comunicacional da pena frente ao sistema punitivo.
Transpostas a racionalidade comunicativa e instrumental para o plano da pena,
observa-se a insuficincia desta ltima na histrica busca por uma justificao para a
reprimenda penal.
A pena, enquanto norma jurdica, j goza, desde o seu nascimento, de potencial
legitimidade pelos sujeitos sociais. De um lado, por constituir-se um produto da
linguagem comum entre os sujeitos, encontra aceitao no acordo comunicativo
entre eles e transmissvel pela prpria tradio. Desde o seu nascimento, o indivduo
encontra-se condicionado, em sua existncia social, observncia de uma srie de
normas cuja violao acarretar, quase que inevitavelmente, punies pelo grupo. A
prpria aceitao das normas encontra legitimidade nas expectativas mtuas de
cumprimento pelos seus destinatrios, reduzindo os conflitos e garantindo a
estabilidade no meio social.
No contexto da teoria da ao comunicativa de Habermas, a pena abriga uma
pretenso de verdade, midiatizada no plano de um discurso racionalmente motivado
entre os sujeitos sociais. Considerando que os sujeitos, na ao comunicativa,
manifestam as suas pretenses de verdade no plano do discurso, atuam de forma a
buscar o entendimento (verdade) como regra orientadora de suas futuras aes,
fazendo prevalecer a fora do melhor argumento.
Ao aderirem s regras estabelecidas pelo grupo social, os sujeitos, atuando de
acordo com expectativas mtuas de comportamento diante dos demais sujeitos,
inserem-se no acordo racionalmente motivado que assegura a estabilidade social,
representando este acordo o conjunto das aspiraes comuns de comportamento
presentes em um determinado momento histrico.
Em outras palavras, a necessidade da pena comunicativamente aceita pelos seus
destinatrios. Como pretenso de verdade manifestada no plano do discurso
racional entre os sujeitos, goza, como norma jurdica, de potencial legitimidade frente
165
aos seus destinatrios, por corresponder ao melhor argumento que orientar o
conjunto das aes individuais dos participantes, garantindo a natural e voluntria
submisso destes ao acordo racional exteriorizado no plano da ao comunicativa.
A norma jurdica encontra duas vias de legitimao. A primeira repousa na
adequao da norma ao prprio sistema jurdico vigente. A segunda encontra
guarida na sua justificao frente aos destinatrios da norma, o que s pode ser feito
via processo argumentativo.
Considerando que a pena repousa, como ato comunicativo, no acordo racionalmente
motivado entre os sujeitos, cuja pretenso de verdade encontra legitimao entre os
participantes do discurso, resta esclarecer que dito acordo (verdade) no esttico;
ao contrrio, demonstra-se varivel conforme a historicidade e a prpria dinmica
das relaes sociais entre os sujeitos comunicativos. Mais ainda, corresponde a uma
verdade passvel de mutao na medida em que as pretenses de verdade entre os
participantes do discurso sejam passveis de novos questionamentos no contexto de
um plano de fala ideal.
Tal se observa do exame histrico-evolutivo do Direito Penal. Embora a idia de
imposio da pena pelo Estado j encontrasse guarida desde a Antiguidade,
variaram no tempo a intensidade de sua imposio, bem como os prprios
fundamentos tico-poltico-religiosos do direito de punir.
O mesmo se observa no exame das mudanas vivenciadas pelo advento do
Iluminismo e das idias antropocentristas e humanistas. Ditas mudanas permitiram
uma ntida alterao no pensamento coletivo, a engendrar novas perspectivas de
punio e a busca de uma nova racionalidade na imposio da pena.
Quando a pena era estabelecida pelos chefes da tribo, lderes religiosos ou
monarcas, a quem eram atribudas pretenses de conhecimento e sabedoria (ou
mesmo, o privilgio divino de revelar a verdade), no raro, era o uso da fora que
induzia, estrategicamente, o consenso acolhedor dessas pretenses.
Neste mister, as intervenes do poder dominante, ao encontrarem guarida no
acordo racional que orientava as aes dos destinatrios da pena, permitiam a sua
legitimao de tal sorte a corresponder ao melhor argumento racional presente no
plano comunicativo. Em sociedades tribais, a pena, enquanto pretenso de verdade,
na medida em que espelhava o castigo exigido pelos deuses para o abrandamento
166
de uma fria manifestada em raios, troves e tempestades, encontrava adequao
ao acordo racional que orientava as aes individuais dos membros do grupo. Notese que, por compartilharem a crena nos deuses comuns, a pena atribuda acabava
por elevar-se tese do melhor argumento, harmonizando as pretenses de validade
reivindicadas pelos destinatrios da norma e viabilizando, assim, um consenso.
No obstante, por ser dito consenso varivel, por exemplo, se a crena no deus
sedento de sacrifcios fosse substituda por uma crena de outra natureza, na
medida em que a pretenso de verdade correspondente pena no mais passasse
a valer como a tese do melhor argumento, necessariamente provocaria, nessas
sociedades primitivas, a quebra no acordo racional obtido, sendo superada a pena
(enquanto pretenso de verdade) por outros argumentos racionais que ento
passavam a valer, no plano do discurso entre os sujeitos, como o melhor argumento
que orientaria as suas novas aes racionais.
Tal pode ser compreendido, em ditas sociedades, na factual suposio de que o
castigo corporal de um membro do grupo (em nome dos deuses), a partir do
momento em que no mais aplainasse o seu terrvel furor, deveria ser substitudo
por outra espcie de pena mais gravosa, a exemplo da pena de morte ou da
intensificao dos castigos corporais na pretensa salvaguarda dos interesses do
grupo social em obterem a benevolncia dos deuses.
A racionalidade comunicativa da pena consegue, ento, explicar de que maneira, em
sociedades afetadas por um drstico isolamento comunicacional264, encontrava esta
legitimao entre os povos. Para certas sociedades teocrticas, a punio em nome
dos deuses encontrava justificao frente ao grupo social ao adequar-se, como
pretenso de verdade, ao acordo racional que harmonizava as aes individuais dos
participantes, como devotos submissos a suas divindades regentes, presos que
estavam ao universo de mitos que conferiam sentido sua existncia.
A mesma anlise vale para as reprimendas penais aplicadas em plena Idade Mdia,
em meio ao obscurantismo religioso e ao teocentrismo, sob cuja estrutura teve
origem, em alguns pases europeus, a Santa Inquisio.
264
Isto ocorria nas sociedades primitivas e ainda pode ocorrer entre grupos excludos da globalizao
da informao. A noo de comunidade comunicacional, isto , a totalidade dos indivduos capazes
de se comunicarem entre si, permite, em princpio, a realizao de um consenso emprico que seja o
mais prximo possvel do consenso verdadeiro. evidente que isto depende das condies de
discusso reproduzirem suficientemente bem as da situao de fala ideal e de terem os participantes
uma competncia comunicativa que testemunho de sua racionalidade.
167
Note-se que, ao contrrio do que possa parecer, as prticas inquisitrias
encontravam legitimao e obedincia frente aos indivduos, justificando-se muito
mais pela sua aceitao social do que por qualquer instrumento coercitivo imposto
pelo Estado. Isso se explica pelo clima de medo e insegurana espiritual vivenciados
em meio crena indiscutvel na probabilidade de danao humana administrada
pela Igreja, intermediria na dico da vontade de Deus.
Neste cenrio, multides se aglomeravam para assistir ao espetculo de execuo
pelo fogo, na crena irresoluta de que dito ato, longe de representar uma violncia
punitiva do Estado, revelava-se medida piedosa praticada pela Igreja, permitindo ao
indivduo a expiao dos seus pecados e o acesso a Deus, no livramento dos
espritos malignos que haviam se apoderado do corpo. Nesta medida, o espetculo
piedoso da pena conformava-se, como pretenso de verdade, ao melhor argumento
que, orientando as aes racionais dos sujeitos, legitimava os fins teleolgicoestratgicos trazidos com a pena.
Ocorre que, com o advento do humanismo e do antropocentrismo, pondo por terra a
viso teocrtica de mundo e a tese da revelao exclusiva da verdade e do
conhecimento por intermdio de uma organizao gestora dos interesses da
divindade, processou-se uma significativa mudana na dinmica comunicativa. O
Iluminismo ento surgido, ao repercutir sobre os indivduos a crena na revelao da
verdade por instrumento da prpria razo, possibilitou, no tocante ao Direito Penal, a
quebra de legitimidade na autoridade teocrtica dos tribunais, com significativos
reflexos na perspectiva da pena.
A partir da, os fins teleolgico-estratgicos perseguidos pelo Estado no mais
encontravam guarida no acordo racional entre os sujeitos, deixando, pois, de valer
como o melhor argumento orientador das suas aes individuais. A partir do
momento em que o humanismo e o antropocentrismo opuseram-se ao teocentrismo,
a justificao do sentido e intensidade da pena como castigo encontrou srios
bices nas pretenses de verdade dos sujeitos sociais. Em outras palavras, a partir
do momento em que os argumentos racionais expressos nos valores humanistas
passaram a fazer parte do discurso racional entre os sujeitos, a fogueira e a forca
cederam lugar convenincia, socialmente sentida, de mensurao de critrios
racionais para a aplicao da pena.
A constatao intermediria a que se chega, at este momento, corresponde a uma
168
assertiva nevrlgica para a compreenso desta tese: a de que a racionalidade da
pena, longe de ser determinada apenas por critrios instrumentais, precisa ser
revelada em suas bases comunicativas.
Como se afirmou, as tentativas histricas de fundamentao da pena se basearam
em uma racionalidade instrumental (racionalidade meios-fins), de carter Iluminista.
Na busca de uma justificao filosfica para a pena, originaram-se as teorias
absolutas (pregando a pena como um ato de retribuio), relativas (dividindo-se em
preveno geral negativa - reforando o carter intimidatrio da pena frente
coletividade; preveno geral positiva - repercutindo na conscincia coletiva os
valores positivos presentes norma; e especial - buscando a ressocializao do
criminoso); e mistas (unindo aspectos retributivos e preventivos no tocante pena).
Na teoria absoluta da pena, a racionalidade instrumental, em sua crena na
determinao da verdade por intermdio da razo, exercitada de maneira solipsista
pelo Estado, legislador, juiz, doutrinador, embora no atribuindo explicitamente
qualquer fim ao primeiro momento histrico da pena, houve por bem reputar a
retribuio (vingana) como a conseqncia natural do crime (pecado cometido),
realizada com a reprimenda penal.
Nesse momento (como em todos os momentos histricos da pena), a sua
justificao no se fundamentou apenas no exerccio solipsista da razo, mas,
tambm, no consenso racionalmente obtido pelos seus destinatrios sociais, sendo
o sentido comunicacional da pena sustentado, como pretenso de verdade, pelo
acordo racional que orientava as aes dos indivduos, cujo efeito legitimador opera
ex post factum.
Tanto assim se procedeu que, a partir do momento em que as pretenses de
verdade correspondentes aos valores humanistas sobrepuseram-se, por sua fora
ilocucionria, lgica das execues e castigos corporais impostos pelo Estado, a
lgica instrumental viu-se forada a elucubrar novas justificativas para a imposio
racional da pena, de forma a obter, novamente, potencial legitimao frente aos
sujeitos sociais.
O que se verificou a partir deste momento foi que a pena, como ato estratgico, no
mais se sustentava em termos comunicativos, j que os fins por ela perseguidos no
mais se harmonizavam com os argumentos racionais suscetveis de promover o
169
consenso, forando a modificao da pena enquanto pretenso de verdade a
adequar-se ao acordo racional que orientava a nova sociedade iluminista.
Os fins perseguidos com a pena, em outras pocas, podiam encontrar justificao
em reconhecimento ao exerccio solipsista da razo, a exemplo dos tribunais
inquisitrios. No entanto, a partir do momento em que a dinmica comunicativa das
interaes sociais no mais reconheceu como vlidos os argumentos racionais
contidos na pena em seu carter de castigo, a perda de sua legitimidade enquanto
melhor argumento ps a relevo a insuficincia de uma racionalidade que insiste em
buscar e disciplinar regras na perspectiva nica do sujeito, revelia do universo dos
argumentos racionais dos destinatrios sociais da norma, sem apreo, pois, ao
carter comunicativo da interao entre os participantes.
A racionalidade instrumental iluminista viu-se, ento, forada a procurar, com o
auxlio da razo, um novo fim para a pena, revelando, na manifestao de alguns
precursores, a exemplo de Bentham e Feuerbach, que agora ela se basearia no
carter de preveno geral. Ocorre que a mudana na racionalidade da pena no se
procedeu, ao contrrio do que se possa pensar, em virtude do reconhecimento
social da autoridade intelectual dos referidos autores, sendo, ao contrrio, um reflexo
da dinmica comunicativa das interaes sociais, que no mais coadunava a
coexistncia de valores humanistas socialmente valorizados e a noo de pena
como um ato de castigo.
Alheio ao carter comunicativo das interaes sociais no tocante ao sentido
comunicacional da pena frente coletividade, a interveno estatal sobre a pena
demonstrou, nesse momento histrico, graves equvocos. A este respeito, o apego
iluminista idia de preveno geral, com inspirao nas idias de Bentham, levou
introduo desta idia, como frmula mgica no Cdigo Penal francs de 1810
(PROAL, 1892, p. 466), resultando na adoo de penas brbaras, reveladoras de
catastrfica interveno da razo instrumental na estipulao das reprimendas
penais, erro s corrigido com o Cdigo Penal de 1823, naquele pas.
A adoo de fins utilitaristas que levassem a uma eficaz intimidao de potenciais
criminosos no cometimento de infraes desencadeou, ao contrrio, insatisfaes,
protestos e revoltas, que, exteriorizadas comunicativamente, propiciaram a mudana
de um Cdigo sem legitimidade diante do corpo social. O que se revelou, aqui, foi a
completa dissonncia entre a ao estratgica da pena midiatizada pelo Estado e a
170
ao comunicativa verificada no consenso entre os sujeitos.
Mais uma vez, a mudana no carter da pena, agora afastando os fins utilitaristas
que, buscando a preveno a todo custo, exacerbavam drasticamente as
reprimendas penais, no se procedeu em virtude da acolhida social de novos
argumentos. Os mesmos tericos que haviam descoberto a necessidade do
agravamento penal, sponte sua, pelo exerccio solipsista da razo instrumental,
diagnosticavam, agora, a necessidade de harmonizao entre os fins retributivos e
preventivos (servindo aqueles como parmetros de proporcionalidade para a
estipulao da pena).
A mesma racionalidade instrumental iluminista disps-se a revelar a finalidade da
pena como um ato de ressocializao. No obstante, a idia de ressocializao
presente na teoria da preveno especial esbarra na ausncia de guarida no
consenso racionalmente obtido pelos sujeitos sociais.
Em que pesem as contribuies cientficas de seus expoentes, dentre os quais se
encontra Von Liszt, o fim pretendido de ressocializao (versando sobre o sujeito in
concreto), no pode ser conseguido por meio de uma racionalidade instrumental,
mas somente por meio de uma racionalidade comunicativa, de tal sorte a promover a
aderncia do condenado ao acordo racionalmente motivado que orientar as suas
futuras aes racionais. Nesta perspectiva, estabelece-se o consenso entre o
Estado, a sociedade e o indivduo, que, ciente da condio de coero que lhe
imputada, manifesta aes racionais em sintonia com os fins teleolgico-estratgicos
visados por aqueles.
Assim, no basta ao sujeito estratgico (Estado, legislador, juiz, etc...) estabelecer
ou declarar, atravs da pena, o fim de ressocializao pretendido. Ao contrrio, a
pretenso de verdade correspondente pena deve revelar-se, na perspectiva do
condenado, o melhor argumento racional de forma a orientar os seus planos de ao
individual, de tal sorte a conformar o seu agir racional ao conjunto de expectativas
sociais de observncia norma.
Pode-se ento concluir que em toda deciso judicial h sempre um mandamento
estratgico. Ocorre que este mandamento estratgico necessita coadunar-se com o
mandamento comunicativo. Quando isto ocorre, passa a repousar frente norma
jurdica um sentido de justia, repercutindo no sentido comunicacional de sua
171
obedincia pelos sujeitos sociais. Do contrrio, quando o mandamento estratgico
no encontrar guarida no mandamento comunicativo, o que se evidenciar ser a
perda de legitimidade da norma jurdica frente aos seus destinatrios sociais,
induzindo, por parte do sujeito estratgico, que seu cumprimento se d por
mecanismos coercitivos, de tal sorte a induzir, pela coero, a sua observncia pelos
sujeitos sociais.
Isso s contornado por meio de uma ao comunicativa, atravs do consenso
racionalmente obtido pelos sujeitos, que, por espelhar interesses universalizveis
(comuns a todos os participantes), repercute sobre o condenado em uma atuao
racional em sintonia no apenas com os interesses do Estado, mas com os seus
prprios interesses.
Observa-se, assim, que a racionalidade da pena, antes de corresponder a critrios
lgico-instrumentais, revela, desde os primrdios, o seu ntido carter comunicativo,
confirmando o Direito como um dinmico fenmeno cultural, mediado pela
linguagem e redimensionado pelos sujeitos, no evolver comunicativo das interaes
sociais.
No tocante pena, revela a racionalidade instrumental iluminista o esforo histrico
de justificao, no plexo de normas jurdicas, da atuao repressiva do Estado com
vistas sua legitimidade social. Em outras palavras, a racionalidade instrumental
iluminista, base de acertos e erros, revela, em seu percurso histrico de
justificao da pena, um esforo teleolgico tendente sua legitimao diante da
coletividade.
Tal crena ainda est presente no Direito Penal moderno. Ainda se cr que a
qualquer momento um sbio iluminista dir, com toda a evidncia, qual o sentido
ideal ou justo de pena. Tal a crena transmitida cincia penal por advento do
Iluminismo: de que somos capazes, com o uso da razo, de estabelecer um
fundamento para a pena, fundamento este que venha a libertar a dogmtica penal
das limitaes de uma justificao da pena alm das enferrujadas e vencidas teorias
absolutas, relativas e mistas.
A ausncia de substncia e viabilidade terico-prtica de solues alternativas para
a pena contribuem para a estagnao da cincia penal, na qual, vez ou outra, algum
penalista, adicionando cerejas ao bolo dogmtico da justificao instrumental da
172
pena, sugere, em vo, modificaes pontuais nas referidas teorias.
Ciente da inviabilidade de alternativas para uma adequada justificao da pena via
racionalidade instrumental, Zaffaroni conclui por uma teoria agnstica da pena, para
a qual esta no encontraria justificao possvel por parte do Estado. O que
pretende o autor desta tese demonstrar, exatamente, que h uma alternativa a
esta viso niilista de Zaffaroni. A pena encontra, sim, uma racionalidade. Ocorre que
esta racionalidade no instrumental, e sim comunicativa, revelando-se no plano do
consenso racional entre os sujeitos.
Diante
das
imperfeies
das
teorias
absolutas
relativas,
reputando
inconvenincia de justificao racional da pena como ato exclusivo de retribuio
(que reduziria a pena a uma mera vingana) ou como ato exclusivo de preveno
(que engendraria o exagero indiscriminado da pena), as teorias mistas espelham,
por seu aparente equilbrio, o porto seguro dos penalistas, enquanto no
descortinam, no horizonte, a revelao do sentido ideal de pena, justificador de sua
medida e intensidade.
O que se afirma aqui a inexistncia de frmulas ou de regras instrumentais que
cumpram to misso. A indicao da filosofia contempornea ao realar a
importncia do fenmeno da comunicao em grande parte das teorias veiculadas
pelos autores mais representativos (entre eles Habermas, Luhmann, Gadamer, os
construtivistas e os adeptos da psicologia cognitiva) sugere que este pode ser um
caminho frtil a ser explorado quando a razo instrumental do Iluminismo se revele
insuficiente.
A racionalidade da pena, longe de ser determinada por uma lgica instrumental, s
pode ser revelada em seu carter comunicativo. Nos moldes de uma racionalidade
comunicativa, a verdade no se baseia no exerccio solipsista da razo, mas no
consenso racionalmente motivado que orientar as aes racionais dos sujeitos.
Nesta medida, v qualquer tentativa de fundamentao instrumental da pena, se
esta, enquanto pretenso de verdade, no corresponder ao acordo racionalmente
obtido pelos sujeitos.
Explica-se: conceber a pena como um ato de intimidao ou retribuio nada diz, se
a pena, enquanto pretenso de verdade, no encontrar guarida no acordo racional
que orientar as futuras aes individuais dos seus destinatrios. Em igual medida,
173
conceber a pena como um ato de ressocializao nada diz, se a pena, enquanto
pretenso de verdade, no corresponder ao melhor argumento que orientar as
aes racionais do condenado frente a uma atuao de acordo com padres
socialmente esperados.
Na medida em que os fins teleolgico-estratgicos perseguidos com a pena podem
ou no se coadunar, como argumentos racionais, ao acordo comunicativo dos
destinatrios sociais da norma, torna-se frgil qualquer tentativa de determinar, na
perspectiva isolada do sujeito, os fins da pena.
Nesta perspectiva, a construo de um sentido comunicacional de pena, elevado a
um consenso racional entre os sujeitos, orienta as aes individuais de todos os
destinatrios, viabilizando a justificao e a legitimao da pena frente aos
participantes. Em outras palavras, a legitimao da pena, ao invs de assentar-se na
autoridade do sujeito que a proclama - Estado, legislador, juiz etc..(alheia que est
dinmica comunicativa das interaes sociais) , passa a encontrar guarida no
consenso racionalmente motivado entre os sujeitos, orientador de suas aes
individuais.
No plano da superao de uma racionalidade instrumental por uma racionalidade
comunicativa, faz-se severa ressalva de que a necessria adequao dos fins
teleolgico-estratgicos perseguidos pelo Estado ao consenso racionalmente obtido
pelos sujeitos no se confunde (ao contrrio do que equivocadamente se possa
presumir), com um perptuo preenchimento estratgico de sorte a atender a
vontades ou demandas sociais episdicas no tocante pena.
Por outro lado, no mundo da informao globalizada, rompem-se as comunidades
comunicacionais que poderiam reivindicar para a sua tradio as caractersticas de
consenso verdadeiro, de vez que o intercmbio das idias obriga a que se oferea
para sustentao das pretenses de verdade mais do que simplesmente o apelo
autoridade de um pensamento divino ou humano de que determinado grupo se
imagine guardio.
Ao se conceber como ao estratgica uma ao em que os sujeitos comunicativos
atuam utilitariamente no sentido de influenciar os demais no fim colimado de
atendimento aos prprios interesses, agindo de acordo com as expectativas de
comportamento dos demais sujeitos no meio social, no soa menos lgico constatar
174
que, nesta natureza, o prprio Estado passe a figurar como um sujeito (viabilizador
de aes estratgicas), sobretudo ao se pressupor a noo/funo de sujeito como
emissor de mensagens comunicativas e, neste diapaso, no se pode negar o
carter comunicacional das leis, cdigos, jurisprudncia e das diversas normas, cujo
nascedouro provm do Estado. Dessa forma, assim como qualquer sujeito,
atribuem-se ao Estado, enquanto sujeito emissor de mensagens, tanto aes
comunicativas quanto aes estratgicas.
Costa (1998, p. 39-40) salienta que a realidade comunicacional pressupe sempre
o sentido originrio implcito na prpria comunidade, naquilo que comum, de tal
sorte que, mesmo no dilogo entre duas pessoas, est sempre presente a marca
indelvel da comunidade, onde o eu s se reconhece como eu na medida em que
se v no outro.
Assim sendo, a norma penal sofrer alteraes, de forma a buscar, no plano
discursivo, a sua aspirao de verdade (dentro do acordo racionalmente motivado
entre os sujeitos), de forma a orientar as futuras aes dos participantes do discurso.
Esta realidade comunicativa revelada igualmente na perspectiva do condenado. A
pena atua como um processo de dilogo com a sociedade e com o prprio
condenado, despertando e provocando sobre ele um universo de expectativas.
(DOTTI, 1998, p. 141-143)
Nesta tica, o pensamento contemporneo vem concebendo a pena como um
processo de dilogo entre o condenado e o Estado, de forma a no mais enxerglo como um objeto de medidas teraputicas, mas como um sujeito da execuo,
induzindo a sua participao efetiva no processo de reinsero social, a estabelecer
um mecanismo de interao atravs de diversos institutos, como o sursis, o
livramento condicional, a prestao de servios comunidade, a admoestao
verbal, dentre outros265.
265
O Conselho da Comunidade, de exigncia obrigatria em cada comarca e composto por
representantes de categorias sociais estranhas ao quadro oficial (advogados, comerciantes,
industriais, assistentes sociais), traduz a presena da sociedade no interior dos estabelecimentos
que, segundo a sua natureza, devero contar em suas dependncias com reas de servios
destinados a dar assistncia, educao, trabalho, recriao e prtica desportiva. Alm disso, haver
instalao reservada a estgio de estudantes universitrios (LEP arts. 82, 83 e pargrafo nico). A
participao da comunidade no processo de execuo penal, em forma militante (diagnosticando,
propondo e ofertando solues) e no como testemunha das violncias e rebelies uma das
exigncias da democracia fundada em princpios e regras que dignificam o ser humano, cujo extrato
revela a histria pessoal em meio essncia e contingncia. (DOTTI, 1998, p. 144)
175
A pena, aqui, vista em sua racionalidade comunicativa, contrariamente
racionalidade instrumental que marcou as concepes tericas da finalidade da
pena, voltadas para a busca de determinado objetivo (justa retribuio ou preveno
contra novos crimes). Esta a viso de Estefam (2010, p. 295), para quem o debate
deve girar em torno de uma racionalidade comunicativa, encarando-se a pena como
um mecanismo de comunicao (de transmisso de mensagens):
A pena (aplicada) um mecanismo necessrio para transmitir a todos uma
mensagem, sem a qual a sociedade no funcionar corretamente. A
mensagem de que, apesar do crime cometido, a norma segue vigente
essa informao somente ser transmitida, insista-se, se a pena for
efetivamente aplicada.
O condenado, pelas prprias condies que o cercam, tem conscincia das
limitaes impostas pelo Estado e dos papis que lhe so esperados no
cumprimento da sua pena. Tem igual conscincia de que um acordo racional sobre a
pena s pode partir de interesses universalizveis (comuns a todos os sujeitos).
Ocorre que o dilogo exercido entre o Estado e o condenado atravs da pena deve
repercutir no apenas como um mero mecanismo coercitivo de imposio de
condutas, mas, ao contrrio, deve repousar na fora ilocucionria do mandamento
como reivindicao de uma pretenso de verdade passvel de adequao ao acordo
racional que harmonizar as aes individuais do condenado ao conjunto de
expectativas juridicamente exigveis.
Em outras palavras, a partir do momento em que as aes racionais do sujeito
estratgico em quem se investe o poder estatal, levadas a efeito pelo mecanismo da
pena, encontrarem guarida, como melhor argumento, no plano do acordo racional,
as aes teleolgico-estratgicas perseguidas pelo Estado (presentes em benefcios
como a progresso de regime, sursis, livramento condicional, etc...), obtero sintonia
com as aes individuais racionais do condenado.
Assim, a racionalidade comunicativa engendra a possibilidade de legitimao da
pena frente ao prprio condenado, repercutindo um sentido de atuao estatal em
que a reprimenda, longe de lhe parecer autoritria, atue sobre ele como pretenso
de verdade legitimamente aceita, j que expressiva de interesses universalizveis,
ou seja, comuns.
Retome-se a noo j exposta de acordo racional. Ele dito racional justamente
176
porque os sujeitos tm a plena conscincia de que o consenso verdadeiro s pode
ser buscado numa soluo que contemple interesses universalizveis, ou seja,
comuns a todos os participantes, razo pela qual, mesmo ciente dos mecanismos de
coero a que est submetido, a atuao racional do condenado harmoniza-se aos
fins perseguidos pelo Estado com a imposio da pena.
Desta feita, no se trata de um mero esforo estatal, viabilizado por polticas
criminais, no sentido de atender s exigncias ou preferncias do condenado. Esta
eventual afirmao revelaria a incompreenso dos postulados tericos da ao
comunicativa. O contedo proposicional da pena contempla argumentos racionais,
manifestados no plano de um discurso racional entre o condenado e o Estado,
expressivo de interesses comuns a todos os participantes. Recorde-se, como
afirmado, que aquele tem conscincia das limitaes a que est submetido, e dos
papis que lhe so juridicamente esperados, desde que a racionalidade aqui referida
seja a racionalidade comunicativa.
Ocorre que, em lugar de uma imposio que lhe parea autoritria, descabida ou
injusta de mecanismos coercitivos, passa a atuar, no plano comunicacional, a
possibilidade de participao na formao discursiva do acordo racional entre os
sujeitos envolvidos, de tal sorte que o consenso obtido, representando interesses
comuns, harmoniza aes racionais de todos os participantes.
Ao espelhar interesses universalizveis, o acordo racional obtido livre de
decepo, garantindo uma atuao esperada em sintonia com as expectativas
jurdicas do Estado. Igualmente na perspectiva do condenado, a racionalidade se
evidencia pelo consenso, e no pela imposio de normas que eventualmente se lhe
apresentem descabidas, irracionais ou injustas.
Em outras palavras, ao representar interesses universalizveis, comuns aos sujeitos
envolvidos, a justificao racional da pena frente ao condenado passa a assentar-se
no na fora bruta da coero estatal, mas na fora do melhor argumento dentro do
acordo racional obtido, onde o consenso, longe de ser imposto de fora para dentro,
aceito como vlido pelos participantes, legitimando a imposio estatal da pena
sobre o indivduo concreto.
Recorde-se que na concepo habermasiana de ao comunicativa, as pretenses
de verdade, manifestadas em sua fora ilocucionria em direo ao consenso,
177
promovem o acordo racional que harmonizar as aes individuais de todos os
participantes do discurso. Necessrio esclarecer, no tocante ao sentido impositivo
da pena, os caracteres desta noo de acordo racional, a fim de se evitar possveis
equvocos por parte do leitor.
A reduo simplria de acordo racional a um mero acordo ou ajuste de vontades, ou,
ainda, a uma simples interseco de vontades entre os sujeitos representa grave
erro, que se deve evitar. Navegando neste equvoco, um simples acordo obtido entre
indivduos para o apedrejamento de uma mulher adltera, comumente levado a
efeito em sociedades extremistas, equivaleria a um acordo racional, que legitimaria
violaes a liberdades individuais.
A superao deste equvoco passa pela rememorao, frente ao leitor, da noo de
situao de fala ideal, presente na concepo habermasiana de ao comunicativa.
A situao de fala ideal pressupe, antes de tudo, liberdade entre os participantes
do discurso, ausente, neste contexto, qualquer coero ou imposio, sendo a nica
fora vlida a do melhor argumento. Pressupe, ainda, a predisposio dos
participantes do discurso de, colocando em suspenso as suas convices pessoais e
abrindo os ouvidos para a alteridade, poderem deixar-se surpreender pelos demais
argumentos racionais igualmente manifestados no discurso, prevalecendo, ao final,
por sua fora ilocucionria, o melhor argumento.
Voltando ao exemplo ventilado, de uma sociedade extremista construir um consenso
acerca de determinada modalidade de Direito Penal, a impossibilidade de
manifestao livre dos participantes do discurso no referido contexto comunicativo,
dada a impossibilidade de questionamento pelos sujeitos racionais dos dogmas
religiosos em ditas sociedades (sob a constante ameaa de sanes), inviabilizaria,
por completo, a manifestao de uma ao comunicativa.
A ao comunicativa, ao pressupor a situao de fala ideal, exige a igualitria
manifestao de atos de fala pelos sujeitos. Deste modo, a possibilidade de
construo comunicativa do consenso depende do carter democrtico e plural das
instncias que produzem as normas jurdicas. Nesta ordem, quanto mais
democrtica for uma sociedade, mais as pretenses de verdade contidas nas
normas
jurdicas
encontraro
guarida
no
consenso
racionalmente
obtido,
repercutindo, por conseqncia, no plano da sua legitimidade frente aos
destinatrios sociais.
178
Esclarece-se, assim, que a harmonizao, no plano da imposio da pena, entre os
fins teleolgico-estratgicos perseguidos pelo Estado e os argumentos racionais dos
destinatrios da norma, manifestada no consenso racionalmente obtido entre os
sujeitos, no corresponde a uma suposta ameaa de violao s garantias
constitucionais.
Como se esclareceu, os argumentos contidos nas pretenses de verdade dos
participantes do discurso, para que prevaleam, no podem corresponder ao que os
participantes racionais do discurso considerassem manifestaes irrefletidas,
inflexveis ou tendenciosas. Ao contrrio, ditos argumentos, porque necessariamente
racionais, j pressupem no apenas a manifestao sincera dos participantes, mas
a abertura para todas as demais pretenses de verdade presentes ao discurso.
Ocorre que, dentre as inmeras pretenses de verdade manifestadas no plano
comunicativo encontram-se tambm as garantias constitucionais de ordem
individual. Elas tambm correspondem a argumentos racionais presentes ao plano
do discurso, por isso mesmo inseridas na Lei Maior. Neste mister, eventuais
manifestaes teleolgicas do Estado, no tocante pena, que representassem um
decrscimo s garantias constitucionalmente previstas (limitando, por sua ordem, a
liberdade coletiva), no encontrariam guarida, frente aos sujeitos racionais, como o
melhor argumento vlido no discurso. A prpria evoluo histrica revela a
insustentabilidade, frente aos destinatrios sociais da norma, de limitaes incisivas
liberdade dos indivduos.
Em momentos de grande incidncia de criminalidade, repercutindo sobre a opinio
pblica a necessidade de incremento punitivo, as presses populares podem levar o
Estado a, estrategicamente, promover modificaes no carter da reprimenda penal,
exacerbando o seu rigor punitivo com reflexos no direito material e processual. No
obstante, na medida em que o novo carter da pena (enquanto pretenso de
verdade) possibilitar, frente aos destinatrios sociais, limitaes exageradas e
injustificadas ao seu direito de liberdade, na medida em que no mais encontrarem
guarida no acordo racional entre os sujeitos, perdero a sua legitimidade, com a
consequente perda de sua validade social.
Na perspectiva instrumental, atribui-se ao sujeito (Estado, juiz, legislador) o papel de
guardio das garantias constitucionais. Ledo engano. Ns (sujeitos sociais) que
somos os guardies de ditas garantias, tendo sido o Direito, a Constituio e a
179
prpria Democracia produto da construo comunicativa dos sujeitos sociais. Nessa
medida, um eventual sentido punitivo imprimido pelo sujeito estratgico que
repercuta, como afirmado, na supresso significativa de liberdades individuais,
ecoar comunicativamente na esfera do discurso, no obtendo, como pretenso de
verdade, guarida no consenso racional obtido pelos destinatrios da norma.
Isto leva concluso de que as garantias constitucionais, enquanto pretenses de
verdade, encontram igualmente guarida no discurso racional entre os sujeitos, cuja
garantia pelos seus prprios destinatrios impede a sua brutal suspenso por
eventuais pretenses de verdade manifestadas comunicativamente no plano do
consenso racionalmente obtido. A no ser assim, a prpria constituio, e com ela
todo o ordenamento jurdico, seria repudiada pelo acordo racional dos participantes
da sociedade. Quando isto ocorre, o efeito desta circunstncia chama-se revoluo.
Infere-se, ento, que os fins visados pelo Estado com a pena, na medida em que
encontrarem guarida no acordo racional dos destinatrios da norma, repercutiro
frente coletividade a sua observncia e aceitabilidade social na medida do
consenso racionalmente obtido entre os sujeitos. Nesta ordem, ao representar
interesses universalizveis, combinados sem decepo, manifestaro (como se
demonstrar no ltimo captulo desta pesquisa) um sentido justo ou ideal para a
pena frente aos sujeitos, harmonizando os fins teleolgico-estratgicos perseguidos
pelo Estado com o consenso racional obtido pelos destinatrios da norma.
A guarida, no carter da pena, de interesses universalizveis viabilizada na
demonstrao, frente aos seus destinatrios, de que o cumprimento da norma no
apenas representa interesses do Estado, mas, em igual medida, os seus prprios
interesses, de tal sorte que a sua observncia pelos sujeitos implicar na igual
proteo aos seus fins particulares, orientando as suas aes racionais em sintonia
com os fins estrategicamente previstos. Assim, a imposio coercitiva da pena por
parte do sujeito estratgico substituda por um sentido de pena que repercuta,
frente aos indivduos, como o melhor argumento orientador de suas aes racionais.
A pena juridicamente instituda busca a sua validade como o melhor argumento que,
visando o consenso, harmonizar as pretenses de verdade dos sujeitos
participantes do discurso, engendrando o sentido comunicacional de obedincia
norma. Em outras palavras, dita pena visa harmonizar-se com os argumentos
racionais dos seus destinatrios, conformando as expectativas sociais de obedincia
180
s normas e de atuao do Estado no combate ao crime.
Em apoio das pretenses de validade reivindicadas no discurso, trocam-se
argumentos substanciais. Esses argumentos no so necessariamente lingsticos,
mas aes s quais possvel atribuir um significado. Do ponto de vista defendido
nesta tese, a pena , sobretudo, um argumento oferecido ao criminoso com a
pretenso de convenc-lo do carter invlido do crime cometido. Busca-se, desse
modo, trazer o condenado a participar do consenso acerca dos padres de
comportamento social validados pelo acordo racional intersubjetivo.
Se a pena no tiver a capacidade de funcionar como argumento substancial que
convena o condenado da ilegitimidade de ao, ela s poder ser justificada como
uma ao estratgica que vise excluir o condenado do convvio com sujeitos
racionais com os quais ele, condenado, no consegue entrar em consenso.
Esta a atitude que permite classificar o apenado como sociopata, ou seja, um
anormal, desprovido da racionalidade que lhe permita compreender o carter
ilegtimo do seu comportamento.
Esta possibilidade no significa a validao de qualquer ordem jurdico-social pela
excluso daqueles que a ela se opem. Aqueles que apontam, nas desigualdades
econmicas e na injustia social, um terreno frtil a tornar atrativos comportamentos
antisociais, oferecem, legitimamente, reivindicaes de pretenses de validade a
suas prprias idias, no se podendo considerar como racionalmente justificada, no
sentido comunicativo, a ordem jurdico-social que no tenha argumentos que
desmintam cabalmente essas reivindicaes.
Desse modo, quando se diz aqui que a pena comunicativamente justificada levar o
prprio condenado a admitir que ela resguarda interesses universalizveis que ele
participa, est-se imaginando superadas as desigualdades e injustias que levariam
o indivduo a sentir-se excludo do modo de vida que a sociedade oferece e,
portanto, afastado do discurso racional que poderia lev-lo a participar do consenso.
A necessria superao de uma racionalidade instrumental da pena por uma
racionalidade comunicativa requer, portanto, uma abertura para novas perspectivas
no plano da realidade comunicativa do Direito.
Requer-se a compreenso de que a verdade, longe de estar assentada na
perspectiva isolada e limitada do sujeito, revela-se, com maior legitimidade, no
181
consenso entre os sujeitos envolvidos. No tocante aos fins da pena, dito consenso,
na medida em que representar interesses comuns construdos e revelados
comunicativamente, harmonizar as aes racionais dos indivduos ao conjunto de
expectativas socialmente esperadas.
A abertura, via racionalidade comunicativa, para o universo de pretenses de
verdade dos sujeitos sociais no plano do discurso atua de forma a conferir norma
jurdica no apenas legitimidade formal, mas tambm legitimidade material, na
medida em que viabiliza a necessria e efetiva abertura para a argumentao moral.
4.2 OPINIO PBLICA E FORMAO DO CONSENSO NA PERSPECTIVA DE
HABERMAS
A opinio pblica exerce, neste contexto, um papel decisivo. Igualmente ao que
ocorre no plano da ao comunicativa, na ao estratgica ela desempenha, como
sujeito comunicacional, modificaes no mbito do Direito. Promovendo uma
alterao psicolgico-comportamental nos sujeitos receptores, a opinio pblica
acaba por modificar o mbito de validade da norma, influenciando a sua eventual
alterao na busca de potencial legitimidade frente aos seus destinatrios.
Os meios de comunicao desempenham, aqui, um papel decisivo, na medida em
que possam ser manipulados266 para a preservao do status quo vigente, ou
mesmo para a sua eventual alterao na salvaguarda de determinados fins. Esta
afirmao parte da verificao factual de que, mesmo em pases democrticos, no
266
A capacidade de manipulao dos meios de comunicao no deve ser desprezada. Levando-se
em conta o seu poder de influncia sobre os indivduos, constitui-se em poderosa ferramenta que
viabiliza a utilizao de aes estratgicas pelo poder constitudo. Nesse sentido, assevera
Guareschi: No seria exagero dizer que a comunicao constri a realidade. Num mundo todo
permeado de comunicao um mundo de sinais num mundo todo teleinformatizado, a nica
realidade passa a ser a representao da realidade um mundo simblico, imaterial. Isso to
verdade, que na linguagem do dia-a-dia j se podem ouvir frases como estas: J acabou a greve? E
se algum pergunta por que, a resposta ? Deve ter acabado, pois o jornal no diz mais nada..., ou
A televiso no mostrou mais nada... A concluso a que chegamos a de que uma coisa existe, ou
deixa de existir, medida em que comunicada, veiculada. por isso, consequentemente, que a
comunicao duplamente poderosa: tanto porque pode criar realidades, como porque pode deixar
que existam pelo fato de serem silenciadas. Um exemplo claro de como a comunicao constri a
realidade foi o que Mattelart (1973) chamou de maior exerccio de marketing internacional do Brasil,
a campanha feita pelo governo brasileiro, no incio da dcada de 70, para a criao do que se
chamou de milagre brasileiro. Ao preo de meio milho de dlares, o governo brasileiro reuniu, num
consrcio, as quatro maiores agncias publicitrias do pas (todas elas penetradas de capital norteamericano) e planejou a campanha da criao do milagre brasileiro, com anncios redigidos em
cinco lnguas e enviados aos maiores dirios e revistas dos pases do bloco capitalista. Com isso, o
governo encheu o balo do milagre que viria a se esvaziar pouco tempo depois, misteriosamente.
(GUARESCHI, 1991, p. 14)
182
se pode afirmar a existncia de uma imprensa absolutamente livre e imune ao
complexo de influncias externas, caractersticas da polarizao do poder no incio
deste sculo267.
Quem detm a comunicao, detm o poder, afirma Guareschi (1991, p. 15), de tal
sorte que, se a comunicao que constri a realidade, os que detm a construo
dessa realidade acabam por deter o poder sobre a existncia das coisas, a difuso
das idias e a criao da opinio pblica. Chegam, inclusive, a determinar certos
grupos sociais como melhores ou piores, confiveis ou no-confiveis, tudo de
acordo com os interesses dos detentores do poder268.
Para Guareschi (1991, p. 19):
A posse da comunicao e a informao tornam-se instrumento privilegiado
de dominao, pois criam a possibilidade de dominar a partir da
interioridade da conscincia do outro, criando evidncias e adeses, que
interiorizam e introjetam nos grupos destitudos a verdade e a evidncia do
mundo do dominador, condenando e estigmatizando a prtica e a verdade
do oprimido como prtica anti-social. Essa sociedade de dominao, por
no poder ser questionada e contestada, se fortifica e se consolida,
passando a exercer a hegemonia numa determinada sociedade; hegemonia
no sentido mais exato de Gramsci: o poder que possui um grupo dominante
de definir uma situao ou uma alternativa como a nica vlida e possvel.
Assim, ao veicularem hodiernamente, por vezes de forma espetaculosa e
sensacionalista, o aumento da incidncia de crimes no meio social, os meios de
comunicao, atuando no processo de influenciar a opinio pblica, acabam por
267
o poder no mais identificado s ao poder poltico (o qual, alem disso, v suas prerrogativas
rodas pela ascenso do poder econmico e financeiro) e porque a imprensa, os meios de
comunicao de massas no se encontram mais, automaticamente, em relao de dependncia com
o poder poltico; o inverso quase sempre o caso. Pode-se at mesmo dizer que o poder est menos
na ao do que na comunicao. (...) Quanto a falar do poder, no se pode faz-lo seno
considerando a crise que ele sofre, no sentido amplo do termo, e que uma de suas caractersticas
neste fim de sculo. De um poder vertical, hierrquico e autoritrio, estamos passando para um poder
horizontal, reticular e consensual (um consenso obtido, precisamente, por meio de manipulaes
miditicas). Crise, dissoluo, disperso do poder, s dificilmente se sabe onde ele se encontra.
(RAMONET, 1999, p. 39)
268
Em estudos e pesquisas realizados no campo da comunicao, verificou-se que a opinio pblica
preparada com informaes sobre determinadas populaes de tal modo que isso pode chegar a
justificar at mesmo uma invaso de um pas adversrio. A pesquisa de Hester (1976) mostrou que,
de cada 100 notcias enviadas do bureau da Associated Press de Buenos Aires para o quartel central
dos Estados Unidos, apenas 8 eram aproveitadas. Mas o mais srio era que das 8 aproveitadas, 4
eram notcias que falavam de violncia e de criminalidade quando das 100 originais, apenas 10
eram sobre o assunto. Com isso, os pases informados por essas agncias vo formando opinio,
construindo imagens sobre determinados povos, identificando-se como criminosos e violentos. No
difcil, posteriormente, legitimar-se uma invaso ou retaliaes sobre populaes que, para a grande
maioria, so criminosas e violentas. (GUARESCHI, 1991, p. 15)
183
levar crena de que o incremento da atuao repressiva condio inexorvel da
atuao estatal, dando margem inflao legislativa penal, com o aumento dos
crimes e o aumento das penas. (REALE JNIOR, 1994, p. 145)
O medo provocado pelo crescente incremento da criminalidade, bem como a
verificao factual da impunidade na atuao repressiva estatal acabam por
repercutir frente coletividade um inverso sentido comunicacional de descrdito nas
instituies, a afrontar o sentimento mdio de justia das reprimendas penais.
A corrupo impregnada nas instituies pblicas, cuja realidade transportada
para o mundo jurdico, repercute junto sociedade a mensagem comunicacional de
que as sanes jurdicas no se aplicam s camadas mais abastadas da populao,
ficando elas imunes incidncia da lei, destinando-se, em contrapartida, aos pobres
e miserveis as punies juridicamente previstas pelo poder estatal.
A constatao factual de manipulao das normas jurdicas em favor de certas
classes privilegiadas revela mecanismos de poder presentes no meio social. Neste
particular, reportam-se hodiernamente, nos meios de comunicao, dezenas de
casos que sugerem a no incidncia das reprimendas penais na proteo dos
interesses dos detentores do poder poltico e econmico. Um simples exame do
perfil scio-econmico dos presos (tanto provisrios quanto definitivos) aponta as
discrepncias de um direito penal segregador e elitista, que destina a pena como
instrumento reafirmador dos mecanismos de excluso social.
Esta advertncia tem presente comentrios como o de Wacquant (2007, p. 419),
para quem:
as autoridades responsveis pela ordem pblica dos diferentes governos
que se sucedem num determinado pas ou em diferentes pases, em um
dado momento, combinam, todos eles, com o mesmo ritmo entrecortado e
com apenas umas poucas variaes menores, as mesmas figuras
obrigatrias com os mesmos parceiros: fazer patrulha numa estao de
metr ou num trem de subrbio, exaltando as medidas anti-crime; visitar, em
cortejo, o posto de polcia de um bairro mal afamado; deixar-se posar numa
foto coletiva de vitria aps uma batida de drogas anormalmente grande;
fazer algumas advertncias viris aos malfeitores para que, de agora em
diante, eles se comportem bem; e lanar os faris da ateno pblica
sobre os transgressores reincidentes, os mendigos agressivos, os
refugiados errantes, os imigrantes que aguardam ser expulsos, as
prostitutas de calada e outros detritos sociais que se acumulam nas ruas
das metrpolis fin-de-sicle, para a indignao dos cidados respeitveis.
Por toda a parte, ecoam as mesmas loas devoo e competncia das
foras da ordem, o mesmo lamento em relao escandalosa
complacncia dos juzes, a mesma afirmao apressada em prol dos
184
inviolveis direitos das vtimas do crime, os mesmos anncios tonitruantes
prometendo ora fazer baixar a delinqncia em 10% ao ano (promessa
que nenhum poltico arrisca lanar em relao ao nmero de
desempregados), ora restaurar o controle do Estado sobre as zonas do
no-direito, ou ainda aumentar significativamente a capacidade das
prises, ao custo de bilhes de euros.
Ocorre que a impunidade, ao corromper as expectativas sociais de justia na
atuao repressiva estatal, acaba por comprometer a eficcia comunicacional de
obedincia s normas. A precariedade e ineficincia do aparelho administrativojudicial na apurao e processamento criminal dos acusados, com a consequente
demora na soluo das lides, acabam por reforar o descrdito nas instituies,
cujas implicaes so transpostas no plano da realidade comunicativa entre os
sujeitos.
A isto se adere o desconhecimento da maioria da populao quanto aos direitos e
garantias constitucionalmente previstas em favor dos acusados, interpretados pela
opinio pblica como regalias ou privilgios injustificados diante do quadro da
realidade de violncia socialmente sentida. Neste mister, os meios de comunicao
reproduzem um papel destrutivo, ao induzirem a coletividade a conceber uma
pretensa passividade e conivncia dos poderes pblicos revelia da impotncia de
uma populao amedrontada pela criminalidade.
Assim que, veiculando que determinado juiz mandou soltar um indivduo j
condenado pela justia, omitem os meios de comunicao que o citado condenado
possivelmente j fazia jus obteno do benefcio do livramento condicional,
instituto jurdico presente em inmeros pases civilizados, inclusive nos reputados
pela mdia como modelos de justia criminal.
Da mesma forma, ao veicularem a soltura de um determinado bandido que j tinha
passagens pela polcia, olvidam os meios de comunicao que, na hiptese
ventilada, dita priso, por sua eventual arbitrariedade e leso aos ditames da lei,
afrontou supostas garantias constitucionais de ordem individual, cuja preservao
condio de existncia de um Estado Democrtico de Direito.
A sensao de insegurana reflete-se igualmente no plano da estipulao, in
abstrato e in concreto, das penas, comunicando a legisladores e juzes a
convenincia em estabelecerem reprimendas penais mais duras no sentido de
refrear a criminalidade.
185
Dada a pretensa morosidade e benevolncia do aparelho repressivo estatal em punir
os infratores da lei, o sentido comunicacional de pena socialmente construdo revela
pretenses de verdade tendentes ao descrdito nas instituies e perda de
confiana na capacidade intimidatria da pena. Ditas pretenses de verdade,
manifestadas no discurso, propiciam a quebra no acordo racional entre os sujeitos,
provocando, por parte do Estado, alteraes na pena de forma a novamente obter a
sua legitimao no consenso entre os participantes.
Nesta ordem, v-se ento o Estado compelido a promover, estrategicamente,
modificaes no quadro das reprimendas penais, de forma a estabilizar expectativas
frustradas com a quebra na alegada capacidade intimidatria da pena. Ainda que
eventualmente ciente da ineficcia desta medida, atua o Estado no envidamento do
mecanismo utilitrio da pena de forma a preservar o status quo socialmente
institudo.
A imposio estratgica da pena como necessrio instrumento de defesa social
frente criminalidade
constitucionais
de
busca
ordem
coadunar-se com o
individual,
acabando
por
conjunto de
engendrar
garantias
paradoxais
manifestaes de sua poltica criminal, gravitando em torno de um direito penal
mnimo e de um direito penal mximo.
Encontrando profundas limitaes em sua tarefa de garantia da segurana pblica, o
Estado, cada vez mais pressionado pela opinio pblica, v-se forado a utilizar
estrategicamente o Direito Penal como instrumento simblico para a consecuo de
seus fins.
A realidade simblica do Direito reconhecida por Neves (1994, p. 34), para quem
determinados grupos sociais buscam a influncia sobre a atividade legiferante de tal
forma a dissuadir determinadas condutas que no se coadunam aos valores por eles
compartilhados, satisfazendo as suas expectativas apenas com a expedio do ato
legislativo. Em referncia a Gusfield, Neves (1994, p. 35) cita como exemplo de
legislao simblica o caso da lei seca, nos Estados Unidos:
A tese central de Gusfield afirma que os defensores da proibio de
consumo de bebidas alcolicas no estavam interessados na sua eficcia
instrumental, mas sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindose a respectiva legislao como smbolo de status. Nos conflitos entre
protestantes/nativos defensores da lei proibitiva e catlicos/imigrantes
contrrios proibio, a vitria legislativa teria funcionado simbolicamente
a um s tempo como ato de deferncia para os vitoriosos e de degradao
186
para os perdedores, sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais.
No plano da ao comunicativa, a opinio pblica269 assume posio de destaque
ao influenciar e promover alteraes nas pretenses de verdade dos participantes
do discurso. Aqui, o sentido comunicacional da pena ocasiona modificaes no
acordo racional obtido pelos sujeitos (destinatrios da norma). Estas modificaes
promovero, por conseqncia, alteraes no mbito das normas penais, de forma a
se coadunarem com as pretenses de verdade socialmente sentidas e esperadas
pelo grupo social, ocasionando constantes modificaes no Direito Penal.
Ripolls (2005, p. 195) comenta a reivindicao feita por Habermas do papel
desempenhado pela opinio pblica na tarefa de criao do Direito. Para Habermas,
a opinio pblica seria um fenmeno social elementar, situado no mesmo plano dos
conceitos sociolgicos de ao ou de autor social, correspondendo a uma estrutura
de comunicao de pareceres que utiliza a linguagem natural e que se desenvolve
no mundo da vida. A diferena entre a opinio pblica e as interaes da vida
privada repousaria no fato de aquela se projetar em um nmero cada vez maior se
sujeitos, que entram em contato recproco atravs dos meios de comunicao,
contribuindo para a formao da vontade coletiva institucionalizada.
Habermas (1984a, p. 288) entende a impropriedade de se definir a existncia de
uma opinio pblica, sendo mais apropriado falar em tendncias isoladas que, sob
determinadas condies, atuam na formao da opinio pblica, razo pela qual ela
s pode ser definida comparativamente. Para ele:
O grau de carter pblico de uma opinio pode ser medido pelo seguinte:
at que ponto este provm da esfera pblica interna organizao de um
pblico constitudo por associados e at que ponto a esfera pblica interna
organizao se comunica com uma esfera pblica externa que se constitui
no intercmbio jornalstico-publicitrio atravs das mdias e entre
organizaes sociais e instituies estatais.
Semelhante raciocnio expe Melo (1998, p. 207-209), para quem o fenmeno da
269
Por opinio pblica deve-se entender, no plano operacional no qual nos movemos, a opinio de
um coletivo qualificado de pessoas, mais concretamente, daquelas que determinam os contedos dos
meios formadores de opinio. Refiro-me, entre outros, aos redatores, roteiristas ou editores, aos
articulistas e comentaristas habituais e, em geral, a todos aqueles que tm capacidade significativa
para selecionar as matrias a tratar e para decidir o modo de aproximao e nfase das mesmas; e
no se pode esquecer, obviamente, dos diferentes setores privados, corporativos, polticos... que, ao
redor desses meios, terminam por condicionar ou influir em seus contedos. (RIPOLLS, 2005, p.
30)
187
opinio pblica pressupe a existncia de opinies minoritrias, correspondendo na
verdade a um fenmeno dialtico resultante do choque entre opinies divergentes
diante de um fato, buscando uma delas captar as atenes e as preferncias da
maioria dos indivduos. No entanto, a opinio pblica270 s pode ser determinada
quando se manifestar explicitamente atravs das opinies individuais, de tal forma
que, quantificadas as opinies individuais, e definida a tendncia majoritria, tem-se
a opinio pblica. Melo aponta a opinio pblica como um produto da atividade
social, da resultando a sua dinmica e a sua sujeio influncia dialtica das
opinies que refletem as foras vivas da sociedade.
As consideraes a respeito da opinio pblica ganham revelo a partir do momento
em que estas passam a ser o termmetro social para a modificao legislativa das
normas penais e processuais penais.
Em outras palavras, a alterao nas pretenses de verdade presentes no discurso
jurdico promove modificaes no acordo racionalmente obtido, sendo que a busca
de um novo consenso pelos sujeitos visa reabilitar a legitimidade da norma frente a
todos os destinatrios. Observe-se que esse acordo no pode ficar restrito a um
mundo dos especialistas em Direito, protegidos na torre de marfim de um jargo
hermtico e inacessvel, nem, tampouco, ficar ao sabor de uma presso da opinio
pblica episodicamente comovida por uma campanha sistemtica da mdia.
Neste contexto, ganha relevncia a necessidade de distinguir-se entre um
movimento de opinio episdico, ainda que macio, e um consenso que se possa
aproximar do consenso verdadeiro que Habermas preconiza.
O acordo racional obtido pelos sujeitos, consoante Habermas, engloba um equilbrio
de poder entre as partes envolvidas e uma capacidade de generalizao de
interesses negociados, elementos sem os quais no se poderia falar em acordo,
mas somente em um pseudo-acordo. No obstante, estes pseudo-acordos j
equivalem e exprimem formas de legitimao cuja funo a de justificar que as
pretenses de validade do sistema normativo so legtimas, evitando, desta forma,
que sejam questionadas no plano discursivo pelos sujeitos intersubjetivamente
270
o processo da comunicao coletiva (mecnico, indireto, unilateral) no basta a si mesmo.
Depende, para sua eficcia, do processo da comunicao interpessoal. Pois o fenmeno
comunicativo, com os seus efeitos culturais, est condicionado dinmica dos grupos dentro da
sociedade. Aparentemente, os mass media atingem globalmente a sociedade; mas, na prtica, o
contedo das suas mensagens refletido, digerido, analisado dentro dos grupos, vindo da a adoo
de opinies e de atitudes. (MELO, 1998, p. 194)
188
relacionados. (HABERMAS, 1980, p. 142-143)
A estrutura do discurso racional ou fundamentante est determinada pela regra do
dever de prova e outras que a ela se ligam. O que d o sentido da sua unidade a
possibilidade pragmtica do discurso, ou seja, as regras compem uma unidade em
funo da possibilidade de comportamentos discursivos fundamentantes.
Para Chamon Jnior (2007, p. 126), o processo de legitimao do Direito se d por
duas vias, a saber:
a) pela via da correo do procedimento em que as normas foram
estatudas e b) pela possibilidade de, alm desta correo, tambm ser
capaz de uma justificao material para alm da forma representada pelo
procedimento. Destarte, estabelece HABERMAS uma diferenciao entre
meios capazes de se verificar a legitimidade do Direito. H uma
justificao formal, garantida pela correo do procedimento de produo
normativa, inclusive, apontado pelo autor como nica forma de legitimidade
possvel para o positivismo (WEBER), e, por outro lado, haveria uma
justificao material que, no desprezando a formal, permitiria ainda uma
legitimidade perante o mundo da vida, isto , para alm do mero processo
de produo normativa.
Nesta ordem, na primeira via de legitimao o que se busca a adequao da
prpria norma ao sistema jurdico vigente. Aqui, a norma encontra legitimidade
porque est em consonncia com o prprio ordenamento. Na segunda via de
legitimao, o que se busca a sua justificao frente aos destinatrios sociais da
norma (legitimidade perante o mundo da vida), o que depende, todavia, de um
processo de argumentao. Da decorre que, para Chamon Jnior (2007, p. 127), a
averiguao da legitimidade da instituio jurdica deve se dar tanto sob o aspecto
formal (procedimento formal) quanto material (legitimidade material)271.
No que concerne ao formalismo, o direito moderno define mbitos em que as
pessoas podem exercitar legitimamente o seu arbtrio. Em outras palavras,
pressupe-se um livre-arbtrio dos sujeitos jurdicos em um determinado mbito
(eticamente neutralizado) de aes privadas, mas que comportam, anexas,
consequncias jurdicas. (HABERMAS, 1984b, p. 259)
Esses trs traos estruturais, segundo Habermas, referem-se:
271
Entretanto, segundo o autor, determinadas matrias, em virtude de seu prprio contedo, j
alcanam sua legitimidade pela estreita via da legalidade formal (a exemplo do Direito Comercial), o
que no ocorre com outras matrias (como o Direito Penal ou Constitucional), em que se requer, alm
da legitimidade formal, tambm a via da legitimidade material, o que se justifica pelo acentuado
contedo moral destas reas do Direito. (CHAMON JUNIOR, 2007, p. 127)
189
a) ao modo de validez do direito e de criao do direito;
b) aos critrios de punibilidade;
c) ao modo de sano;
d) ao tipo de organizao da ao jurdica.
Nesta ordem, tais estruturas definem um sistema de ao em que se supe que
todas as pessoas se comportam estrategicamente, obedecendo, em primeiro lugar,
s leis a ttulo de convnios publicamente sancionados, passveis, no entanto, de
legtima modificao; em segundo lugar, perseguem seus prprios interesses sem
atender a aspectos ticos; em terceiro lugar, tomam, de acordo com tal orientao
conforme os prprios interesses, as decises timas272 no marco das leis vigentes
(tomando em considerao as conseqncias jurdicas), de forma que todos os
sujeitos jurdicos acabam por fazer uso de sua autonomia de modo racional com
respeito a fins. (HABERMAS, 1984b, p. 259-260)
Habermas promove uma separao clara entre legalidade e legitimidade273, da a
sua flagrante oposio a Max Weber. Consoante lio de Chamon Jr. (2007, p. 140141), Habermas rebate qualquer tentativa de se conferir legitimidade legalidade
como algo inerente ao Direito. Ao contrrio, Habermas prope que a legitimidade do
Direito se derivaria da relao interna entre Direito e Moral, e no de um
procedimento formal capaz de encobrir sob o manto da legitimidade (formal)
quaisquer contedos ainda que moralmente insustentveis.
Legitimidade e legalidade so realidades indissociveis. Para ser legtima,
pressupe-se a concordncia da lei aos procedimentos formais para ela
estabelecidos. No obstante, num Estado Democrtico de Direito no encontra
validade uma lei que no possua legitimidade. A ttulo de ilustrao, exemplifica
Schmitt (1982, p. 50) que uma resoluo majoritria do Parlamento ingls no
bastaria para fazer da Inglaterra um Estado sovitico (comunista), j que dita norma
no encontraria legitimao frente aos seus destinatrios.
272
tima tomada no sentido de racional, deciso esta capaz de atingir o fim desejado de acordo
com as expectativas de comportamento dos destinatrios das normas.
273
S se tem sentido falar em legitimidade da legalidade medida em que a juridicidade se abre e
incorpora a dimenso da moralidade, estabelecendo assim uma relao com o Direito que, ao mesmo
tempo, interna e normativa. Em sntese, s legtima a legalidade circunscrita em uma
racionalidade cujo procedimento se situa entre processos jurdicos e argumentos morais. (MOREIRA,
2002, p. 74)
190
A legitimidade pressupe uma previsibilidade de comportamento dos destinatrios
da norma, com vistas sua aceitao. Somente em um ordenamento em que a
segurana jurdica seja um princpio predominante podem os cidados defender
adequadamente seus interesses e direitos. Assim, somente a razovel expectativa
de que os titulares do poder pblico e demais sujeitos de Direito vo se comportar de
maneira respeitosa diante das leis que possibilita aos cidados estruturarem-se em
todos os planos de suas vidas. (GUERRA; ESPN; MORILLO, 2007, p. 66)
O estudo da legitimidade das normas jurdicas envolve o estudo do surgimento do
prprio Estado. A noo de um contrato social dada, consoante revela Hnaff
(1931, p. 85)274, com a prpria Revoluo Francesa, em 1789. Esta visava trazer
para o plano da realidade as teorias filosficas que destruram as bases da
sociedade francesa e da monarquia absoluta, conferindo a esta nova sociedade o
princpio de um contrato, erigindo-se, com base na penalidade275, a idia de contrato
social.
De uma forma ou de outra, as regras penetram, segundo Hnaff (1931, p. 172), a
intimidade das conscincias individuais, que aceitam com fidelidade a estrita
observncia do direito moral e ideal. Assim, o Direito conteria foras em equilbrio,
interesses comuns ligados, uma razo que os iluminaria e um ideal que os
dominaria. Quanto justia, esta corresponderia a um processo evolutivo,
correspondente moralizao progressiva de foras brutas.
Nesta viso, a prpria democracia assume uma nova vertente legitimadora. A sua
legitimidade decorreria no mais de uma aprovao coercitiva dos interessados, mas
de um processo em que seus destinatrios pudessem, como sujeitos livres e iguais,
tomar parte numa formao discursiva de vontade. (HABERMAS, 1990, p. 226-227)
274
No original: La Rvolution de 1789 tait plus quune rvolution politique, ctait une revolution
sociale; elle essaya de traduire en fait et de raliser dans la pratique, dans ce quelles avaient de bon
et dans ce quelles avaient de dsastreux, les thories philosophiques qui avaient ruin les bases de
lancienne socit franaise et de la monarchie absolue qui en avait t la dernire expression. Elle
voulut donner la socit nouvelle, pour unique fondement, le principe que la socit tait un contrat,
la loi un contrat, la cration du pouvoir, le rsultat dun contrat; elle dut, pour tre logique, et ce ntait
pas par la logique quelle pchait, donner pour base la pnalit le principe du contrat social, ce
principe que Rousseau, Beccaria, Voltaire, Mably avaient accrdit dans la philosophie, et que Servan
et Dupaty, comme magistrats, Linguet, lie de Beaumont, Target et Lacretelle, comme avocats,
avaient transport dans le monde judiciaire.
275
A penalidade, para Hnaff, era vista de duas maneiras: 1) relacionando-se ao direito de punir, cujo
poder social investido era o direito que cada indivduo havia cedido sobre ele mesmo em caso de
violao do contrato.; 2) Relacionando-se ao direito de cada indivduo de se defender contra seus
semelhantes em caso de agresso. De acordo com Hnaff, a primeira concepo foi adotada pelos
filsofos e publicistas, sendo a segunda adotada pelos jurisconsultos. (HNAFF, 1931, p. 85-86)
191
Habermas (1997, p. 218-219)276, do ponto de vista da legitimidade, considera
indissociveis o Direito e a Moral, admitindo uma relao de complementariedade
entre estas duas realidades. Nesta perspectiva, contrariamente ao que propugna o
direito positivista, a moral no paira sobre o direito; do contrrio, emigra para o
direito positivo, sem, no entanto, perder a sua identidade, de tal sorte que tanto o
Direito como a Moral controlam-se mutuamente277.
Sublinhando a ntima relao entre Direito e Moral na perspectiva habermasiana
Agra (2008, p. 413) afirma:
O Direito moderno, para Habermas, se caracteriza pelas exigncias
concomitantes de positivao e de fundamentao argumentativas,
baseadas em parmetros ticos morais. No que se difere dos positivistas
tradicionais que sustentam poder ser a legitimidade obtida apenas pelo
procedimento, destituda de qualquer tipo de contedo material. A
institucionalizao das decises judiciais realizada de uma dupla forma:
obedecendo ao procedimento que fora previamente estipulado, quando
cada ato acarretar uma conseqncia prevista no ordenamento, e que a
deciso proferida seja sustentada pelo critrio fornecido pelo melhor
argumento, com a abertura de um canal para os preceitos morais. A
legitimao do Direito obtida por meio de procedimentos, que se
desenrolam atravs de uma seqncia de atos jurdicos, cuja deciso ser
tomada com base no argumento mais robusto, imbuda de preceitos morais.
Assim, dessa forma, a legitimao procedimental do Direito fundamenta-se
em princpios morais. A nica coero admitida durante o procedimento
judicial a fora exercida pelo melhor argumento, em uma relao de
276
No podemos apagar simplesmente as fronteiras que separam o direito da moral. Os
procedimentos oferecidos pelas teorias da justia para explicar como possvel julgar algo do ponto
de vista moral s tm em comum, com os processos juridicamente institucionalizados, o fato de que a
racionalidade dos procedimentos deve garantir a validade dos resultados obtidos conforme o
processo. Os processos jurdicos aproximam-se mais das exigncias de uma racionalidade
procedimental completa, uma vez que dependem de critrios institucionais independentes, os quais
permitem constatar, na perspectiva de um no-participante, se uma deciso surgiu conforme as
regras ou no. Ao passo que o processo dos discursos morais, no regulados juridicamente, no
consegue preencher esta condio. Neles, a racionalidade procedimental incompleta. E, para saber
se algo foi julgado do ponto de vista moral, preciso decidir na perspectiva de participantes, pois no
existem outros critrios externos aos objetivos. Entretanto, nenhum dos dois tipos de processos pode
realizar-se sem idealizaes, especialmente sem os pressupostos comunicacionais da prtica de
argumentao, eles so inevitveis no sentido de uma coero transcendental fraca. A prpria
fragilidade de tal racionalidade procedimental imperfeita nos faz entender, sob pontos de vista
funcionais, por que determinadas matrias tm que ser reguladas pelo direito e no pelas regras
morais ps-tradicionais. Pouco importa a feio do procedimento escolhido para examinar se uma
norma poderia encontrar o assentimento racionalmente motivado de todos os possveis envolvidos.
Ele no garante a infalibilidade, nem a univocidade e, menos ainda, o surgimento do resultado no
prazo devido. Para fundamentar normas, uma moral autntica s dispe de processos falibilistas.
(HABERMAS, 1997, p. 216)
277
Nos discursos jurdicos, o tratamento argumentativo de questes prticas e morais
domesticado, de certa forma, pelo caminho da institucionalizao do direito, ou seja, a argumentao
moral limitada: a) metodicamente atravs da ligao com o direito vigente; b) objetivamente, em
relao a temas e encargos de prova; c) socialmente, em relao aos pressupostos de participao,
imunidades e distribuies de papis; d) temporalmente, em relao aos prazos de deciso. De outro
lado, porm, a argumentao moral tambm institucionalizada como um processo aberto que segue
a sua prpria lgica, controlando sua prpria racionalidade. (HABERMAS, 1997, p. 218-219)
192
complementariedade entre o Direito e a moral.
Desta forma, Habermas, contrariamente a Max Weber278, negando que a
legitimidade possa ser auferida exclusivamente com base nos procedimentos,
prope, no processo de construo das decises jurdicas, que estas, alm de
atenderem aos procedimentos previstos no sistema279, permitam o espao para a
justificao da norma, o que s pode ser conseguido por meio de uma abertura para
os preceitos morais.
De acordo tambm com Moreira (2002, p. 31-32), a noo de Habermas a respeito
do acordo normativo (aceitao pelos destinatrios da norma) ope-se concepo
de Max Weber. Enquanto que para este o acordo normativo estaria firmado na
tradio, para Habermas estaria firmado no consenso entre os participantes, onde a
ao comunitria do tipo convencional substituda por uma ao societria do tipo
racional.
Esta indissociabilidade entre Direito e Moral280 visualizada por Habermas no
apenas no plano individual, mas tambm no plano legislativo, cuja legitimidade, em
ambos, deve estar assentada em processos racionais. A abertura para a
argumentao moral impede que a autonomia do direito se estruture apenas em
uma autonomia sistmica, ou seja, que adquira autonomia apenas para si mesmo.
278
Max Weber interpreta as ordens estatais das sociedades ocidentais modernas como
desdobramentos da dominao legal. Porque a sua legitimidade depende da f na legalidade do
exerccio do poder. Segundo ele, a dominao legal adquire um carter racional, pois a f na
legalidade das ordens prescritas e na competncia dos que foram chamados a exercer o poder no
se confunde simplesmente com a f na tradio ou no carisma, uma vez que ela tem a ver com a
racionalidade que habita na forma do direito e que legitima o poder exercido nas formas legais. Esta
tese desencadeou grande discusso. E, durante o seu desenrolar, Max Weber introduziu um conceito
positivista do direito, segundo o qual direito aquilo que o legislador, democraticamente legitimado ou
no, estabelece como direito, seguindo um processo institucionalizado juridicamente. Sob esta
premissa, a fora legitimadora da forma jurdica no deriva de um possvel parentesco com a moral.
Isso significa que o direito moderno tem que legitimar o poder exercido conforme o direito, apoiandose exclusivamente em qualidades formais prprias. E, para fundamentar essa racionalidade, no se
pode apelar para a razo prtica no sentido de Kant ou de Aristteles. Isso significa, para Weber, que
o direito dispe de uma racionalidade prpria, que no depende da moral. Aos seus olhos, a confuso
entre moral e direito pode, inclusive, colocar em risco a racionalidade do direito e, com isso, o
fundamento da legitimidade da dominao legal. Segundo ele, todas as correntes contemporneas
que materializam o direito formal burgus so vtimas desta moralizao fatal. (HABERMAS, 1997,
p. 193-194)
279
No processo de legitimao so utilizados instrumentos operacionais, constitudos por regras e
princpios. (FERRAZ JNIOR, 1989, p. 23)
280
No que tange coexistncia entre Direito e Moral, esclarece Silva que em lugar de distino
substancial, melhor ser falar em variaes e pontos de contato entre a Moral e o Direito, para s
quantitativamente se referirem alguns elementos que tica ou tecnicamente predominam na
construo das normas de comportamento: processo de elaborao, campos de incidncia do
preceito e objetivos especficos. (SILVA, 1979, p. 251)
193
(HABERMAS, 1997, p. 246-247)
Para Habermas, o direito reclama no apenas aceitao; ele demanda dos seus
endereados no apenas um reconhecimento ftico, mas tambm reivindica merecer
o reconhecimento. A se encontra, justamente, a necessidade de abertura para a
argumentao moral281, servindo esta, como esclarece Reese-Schaffer (2008, p. 7778), como o modelo processual de averiguao da formao da vontade,
exteriorizada pelas pretenses de validade hipotticas. Nesta tica, a legalidade s
legtima medida que os discursos jurdicos forem permeados por discursos
morais.
Em igual sentido, abordando a ntima ligao dos valores na lgica jurdica formal,
aponta Canaris (2002, p. 31-33):
Este carcter axiolgico e teleolgico da ordem jurdica implica que,
comparativamente, os critrios lgico-formais tenham escasso significado
para o pensamento jurdico e para a metodologia da Cincia do Direito. Na
verdade, a Cincia do Direito, na medida em que aspire cientificidade ou,
pelo menos, adequao racional dos seus argumentos, est
evidentemente adstrita s leis da lgica; contudo essa ligao no
condio necessria nem suficiente para um pensamento jurdico correcto;
mais ainda: os pensamentos jurdicos verdadeiramente decisivos ocorrem
fora do mbito da lgica formal. Assim sucede com o que a essncia do
Direito, com o encontrar as decises de valor, com o manuseamento
esclarecido dos valores, pensando-os at o fim e, a concluir, num ltimo
estdio, executando-os.
281
Registre-se, no entanto, que apesar da ntima relao entre o Direito e a Moral, Habermas
promove clara distino entre os dois conceitos, consoante revela Reese-Schafer: do ponto de vista
funcional, a Moral sofre de duas fraquezas. A primeira seria uma fraqueza cognitiva. Nos processos
morais, a possibilidade de se saber se tal norma obteria o consentimento dos possveis envolvidos
no garante a adeso necessria, pois nesse procedimento no se garante a infalibilidade, nem a
univocidade e, menos ainda, o surgimento do resultado no prazo devido. Em sociedades complexas,
as relaes sociais se do sob a gide de um tal pluralismo, j que a aplicao de processos
falibilistas, como os decorrentes dos discursos morais, implicaria uma incerteza estrutural. A outra
seria uma fraqueza motivacional. A moralidade no seria capaz de acoplar ao seu redor, sozinha,
uma motivao para o agir, pois delas no se depreende uma obrigatoriedade geral (...) o Direito,
para Habermas, assume, diferentemente da Moral, uma dimenso instrumental. Enquanto a Moral
fim em si mesma, o Direito pode servir como instrumento a partir do momento em que serve para
efetivar decises polticas. Mais do que uma relao de complementaridade, interessa para
Habermas a pesquisa pelo entrelaamento realizado entre a Moral e o Direito. Nesse sentido, a Moral
no entendida mais como um contedo metafsico ao invs, imigra para o Direito positivo, sem, no
entanto, perder sua identidade. Como no possui um contedo metafsico, a Moral se constitui
enquanto procedimento que permite a busca da fundamentao das normas, segundo contedos
normativamente fracos. Esse entrelaamento entre os procedimentos jurdico e moral permite um
controle mtuo entre ambos. (REESE-SCHAFER, 2008, p. 78-80)
194
Para Moreira (2002, p. 74), a abertura do Direito para a Moral282 possibilitou uma
ampliao dos princpios jurdicos no ordenamento, isso porque certos princpios
morais foram sendo evolutivamente incorporados ao mundo do Direito, assumindo,
concomitantemente, a feio de princpios jurdicos.
Mas como possvel o surgimento da legitimidade a partir da legalidade? Esclarece,
ento, Reese-Schafer (2008, p. 80-81):
depreende-se da circunstncia de que a legalidade oriunda de um
processo de legislao que, em princpio, democrtico. Nesse sentido, o
procedimento parlamentar assume a perspectiva de uma racionalidade
prtico-moral. Ora, essa normatividade decorre da circunstncia de que so
levadas em considerao, para a elaborao da vontade do legislador,
todas as possveis manifestaes da vontade soberana do povo, de modo a
no se excluir nenhuma, e essa vontade legislativa depende da formao
discursiva da vontade na esfera pblica e poltica. Assim, a legitimidade do
ordenamento jurdico depreende-se de sua abertura para a busca racional
das condies de validade que se institucionalizam atravs de um
procedimento que incorpora em suas entranhas a dimenso moral.
Assim, Habermas prope resolver o problema da legitimidade do Direito a partir da
prpria legalidade, utilizando, para tal, o princpio da democracia. (DUTRA, 2005, p.
189). No plano legislativo, a norma encontraria legitimao em funo da
representao democrtica da vontade popular, abrindo espao para as diversas
manifestaes de vontade racionalmente midiatizadas no processo comunicativo de
elaborao das leis. Nesta perspectiva, o direito positivo j nasce com uma
expectativa de legitimidade, ou seja, uma expectativa de aceitao racional da
norma pelos seus destinatrios. (DUTRA, 2005, p. 199)
Em outras palavras, para Habermas283, a legalidade extrai a sua legitimidade por
282
Temos que a tcnica jurdica afasta a arbitrariedade das decises no mbito do Direito, uma vez
que a sistemtica do ordenamento jurdico possibilita um desenrolar plenamente calculvel e, por sua
vez, uma base deontolgica que permite a introduo de normais morais em seu bojo. As normas
jurdicas, alm de estipular condutas juridicamente aceitas ou reprovveis, articulam um nexo interno
que fornece as diretrizes para as atitudes do Estado. Portanto, essas normas renem em si diretrizes
de comportamento tanto para os sujeitos de Direito privado quanto para os sujeitos de Direito
pblico. (MOREIRA, 2002, p. 73)
283
Note-se que pode haver um distanciamento significativo entre as pretenses de verdade dos
sujeitos comunicantes. Conforme afirma Hassemer: As dificuldades de compreenso entre os juristas
e os leigos, os problemas de traduo entre a linguagem tcnica jurdica e a linguagem do cotidiano,
so frequentemente atribudos ao distanciamento da realidade dos juristas e sua dogmtica
artificial. Esta dogmtica documentada se contrape s cincias sociais como cincias da realidade.
Mas uma integrao das cincias sociais cincia do Direito servir como auxlio na superao das
dificuldades comunicativas dos juristas? Claro que no. Na verdade os juristas (penalistas) e os
cientistas sociais renem seu respectivo conhecimento sobre a realidade a partir de interesses
distintos, na verdade eles falam uma linguagem diferente. Porm nem mesmo as cincias sociais
195
meio de uma racionalidade procedimental de contedo moral. Assim, pode-se dizer
que uma norma encontra legitimidade se ela aceita pelo interesse geral, sendo,
entretanto, passveis de discusso as pretenses de verdade que as legitimam,
podendo ser questionadas a qualquer momento pelos participantes.
.As pretenses de verdade reivindicadas em boa-f, no entender de Habermas,
sobrenadaro
aes
estratgicas
que
contemplam
interesses
no
universalizveis e apenas os atos comunicativos sero examinados reciprocamente
com vistas ao entendimento. Esta esperana no meramente um wishful thinking;
o postulado de racionalidade (comunicativa) dos sujeitos participantes.
4.3 O SENTIMENTO DE JUSTIA DA PENA
No se concebe uma instrumentalizao teleolgico-estratgica da pena de forma a
preencher, pura e simplesmente, anseios sociais de exacerbamento repressivo
frente ao medo e insegurana diante da criminalidade. Os argumentos proferidos
sob tais condies no correspondero a argumentos racionais. Isso porque,
recordando-se a lio j exposta, estes envolvem a busca de interesses
universalizveis (comuns a todos os participantes), de tal sorte que as proposies
argumentativas manifestadas pelos sujeitos, tendentes a uma exasperao irracional
da pena em momentos de irreflexo, no encontraro guarida no acordo racional
entre os sujeitos.
Isso ocorre porque as garantias constitucionais de ordem individual tambm
correspondem a argumentos racionais (pretenses de verdade) midiatizadas no
plano do discurso, cuja fora ilocucionria atua de forma a fazer prevalecer, como
melhor argumento, um sentido de pena que no implique a supresso de direitos e
interesses socialmente sentidos pelos destinatrios da pena. Neste mister, a prpria
experincia histrica demonstra a inconvenincia e ilegitimidade social de uma
atuao repressiva alheia s garantias mnimas dos direitos do indivduo, a tornar
inconciliveis perspectivas engendradoras de um direito penal mximo, expressiveis
comunicativamente.
Esta a razo pela qual ditas proposies comunicativas, enquanto pretenses de
esto ligadas diretamente realidade, elas tambm tem uma dogmtica, cujas estruturas de
relevncia produzem de modo distinto a realidade que para elas significativa. (HASSEMER, 2005,
p. 141)
196
verdade manifestadas no discurso, no alcanam a fora do consenso, ou seja, no
preenchem o acordo racionalmente motivado que orientar as aes racionais dos
sujeitos. Isso porque atuam no processo comunicativo pretenses de verdade
(expressas em princpios e regras de ordem jurdica), que, manifestadas no plano de
uma situao de fala ideal, igualmente buscam a sua legitimao pela fora do
melhor argumento, acabando por inviabilizar, no plano racional do discurso, a
adeso, pelos participantes, a solues extremistas. Nesta ordem, as solues
obtidas pelo consenso racionalmente motivado entre os sujeitos pressupem a
compatibilizao
entre
um
eventual
incremento
punitivo
as
garantias
constitucionais do Estado Democrtico de Direito.
O consenso universal sobre a pena nunca alcanado, mas apenas um consenso
emprico, que pode se aproximar cada vez mais do consenso universal na medida
em que as pretenses de verdade encontrarem fundamentao nos argumentos
substanciais oferecidos e aceitos pelos sujeitos, no contexto de uma situao de fala
ideal que deve ser pressuposta, a fim de que o melhor argumento possa manifestarse no plano discursivo.
No plano da racionalidade comunicativa, de nada adianta conceber a pena como um
ato de retribuio ou preveno se a pena, enquanto pretenso de verdade, no
encontrar guarida no acordo racional entre os sujeitos, situao em que a perda de
sua validade social denunciar a inconvenincia do seu sentido punitivo. Em igual
medida, a concepo de pena como um ato de ressocializao no alcanar
validade social se no se revelar, na perspectiva do condenado, o melhor argumento
racional orientador de suas aes individuais.
Recorde-se a afirmao j exposta de que a perspectiva da pena enquanto ato
comunicativo no envolve uma mera adequao aos desejos ou vontades dos
destinatrios sociais da norma. O acordo aqui obtido, no demais repetir, dito
racional justamente porque os participantes tm conscincia de que um consenso s
poder surgir a partir de interesses universalizveis, ou seja, comuns a todos os
participantes. Nesta medida, os sujeitos tm conscincia de que a pena, em sua
natureza coercitiva, repercutir na limitao das suas liberdades individuais. O
consenso racionalmente obtido pelos participantes permite adequar as pretenses
punitivas (pretenses de verdade) aos argumentos racionais dos destinatrios da
pena, harmonizando as expectativas sociais de obedincia s normas.
197
Na perspectiva do consenso racional obtido pelos sujeitos, uma pena que se
apresente (em seu sentido comunicacional) como incua ou benevolente poder
repercutir, como pretenso de verdade, na alterao do acordo racional entre os
sujeitos, de tal sorte a promover modificaes no mbito da norma. Semelhante
efeito se produzir ao se revelar a pena atentatria s garantias constitucionais
(estas, pretenses de verdade igualmente presentes ao discurso racional entre os
sujeitos), perdendo, ento, sua fora ilocucionria como o melhor argumento racional
no plano do discurso.
Na medida em que se harmonize ao consenso racionalmente obtido pelos sujeitos,
orientador das aes racionais dos participantes, a pena revelar-se- como justa.
Mas justa no na perspectiva isolada de um sujeito que a proclame, mas sim perante
todos os seus destinatrios sociais.
Ignorar esta realidade ignorar a prpria dinmica comunicativa das interaes
sociais, olvidando, ainda, a constatao factual de que a mudana no carter
histrico da reprimenda penal sempre se deveu a alteraes socialmente sentidas
no carter comunicacional da pena frente aos destinatrios.
Os indivduos, compactuando com as regras presentes no seio social, tendem,
segundo Rawls (2003, p. 6-7), a uma cooperao mtua no atingimento de fins
universalizveis, sobretudo numa sociedade democrtica. Assim que Rawls
concebe a sociedade como um sistema equitativo de cooperao social, perpetuado
de gerao a gerao, e formado por homens livres e iguais.
Esta tendncia associao de pessoas livres para, comunicativamente, atingirem
fins comuns, manifesta-se em diferentes sentidos no plano social. A propsito, Hall
(2001, p. 49) aponta a prpria idia de nao como reveladora de um sistema de
representao cultural, que, como uma comunidade simblica, promove identidade e
lealdade entre os participantes.
Note-se que a vigncia de uma norma conseguida no apenas em virtude da
ameaa de punio, mas, anteriormente a ela (e em essncia), pela prpria
aceitao social dos seus destinatrios. Este papel, no entanto, no meramente
passivo, mas comunicativamente ativo no processo de construo das normas
sociais.
Neste diapaso, Machado Neto (1987, p. 415) entende que o poder social, acima de
198
qualquer poder poltico institucionalizado, mantm ntimas relaes com o Direito,
sendo esse poder o mecanismo sociolgico da vigncia, no apenas aceitando as
normas sociais, mas provocando o aparecimento de outras normas. Para ele:
mesmo quando a norma legal j est regulamentada, cabem presses da
opinio pblica sobre juzes, tribunais e funcionrios administrativos a quem
est afeta a aplicao das normas aos casos particulares. Casos h mais
ostensivos, em que a prpria norma deixa ao poder social a sua
complementao, tal como se d quando a norma refere conceitos
eminentemente sociais como pudor, bons costumes, bom pai de famlia,
pessoa nimiamente pobre etc... Assim se esclarece que, sob o ordenamento
jurdico-positivo vigente existe uma realidade social que, alm de produzi-lo
inicialmente, o mantm em vigncia e o vai reelaborando sucessivamente
de maneira constante e que o condiciona em todos os momentos de sua
vida. H, portanto, um poder social que d origem ao sistema jurdico e atua
incessantemente em sua manuteno e modificao.
Nesta condio, o Estado se apodera do direito/dever de estabelecer, atendendo
aos requisitos da positividade, formalidade e legalidade, as normas jurdicas
disciplinadoras das condutas sociais.
Discorrendo sobre a natureza deste poder estatal, Bourdieu (2005, p. 212) aponta
que o campo jurdico o lugar de concorrncia pelo monoplio do direito de dizer o
direito, com a atuao de agentes com competncia tcnica para interpretar um
corpo de textos que consagram a viso legtima e justa do mundo social284.
Ainda que se utilize da fixao da pena como ato estratgico, indutor de
mutabilidade, todo o percurso histrico da evoluo penal repousa na adequao da
pena aos argumentos racionais presentes no consenso racional tpico daquele
momento histrico, denunciando, pois, a iluso da perspectiva instrumental em dotar
o sujeito da possibilidade de controlar ou, mesmo, antever, os fins adequados para a
pena.
O exame da realidade comunicacional da pena permite evidenciar que o sentido
imprimido pelo sujeito estratgico pode no repousar em aceitabilidade pelos seus
284
com esta condio que se podem dar as razes quer da autonomia relativa do direito, quer do
direito propriamente simblico de desconhecimento, que resulta da iluso da sua autonomia absoluta
em relao s presses externas. A concorrncia pelo monoplio do acesso aos meios jurdicos
herdados do passado contribui para fundamentar a ciso social entre os profanos e os profissionais
favorecendo um trabalho contnuo de racionalizao prprio para aumentar cada vez mais o desvio
entre os veredictos armados do direito e as intuies ingnuas da equidade e para fazer com que o
sistema das normas jurdicas aparea aos que o impem e mesmo, em maior ou menor medida, aos
que a ele esto sujeitos, como totalmente independente das relaes de fora que ele sanciona e
consagra. (BOURDIEU, 2005, p. 212)
199
destinatrios. A constatao factual da dissonncia entre o carter estratgico da
reprimenda penal e o consenso racionalmente obtido sobre a pena denuncia a
imperfeio da racionalidade instrumental na determinao do sentido e medida da
pena.
A racionalidade da pena fundamentalmente comunicativa, e secundariamente
instrumental. Ela se evidencia no consenso entre os seus destinatrios, sendo seu
sentido comunicacional historicamente construdo no apreo ou desapreo s
condutas socialmente manifestadas no plano da realidade.
Alis, a definio tradicional de justia, dar a cada um o que lhe pertence, aponta
claramente nessa direo. Dar, implica fazer com que algum abandone alguma
coisa e que algum aceite algo. , portanto, um ato estratgico. Quem, porm, est
autorizado a determinar o que a cada um pertence, sem que se gere, nesse mister, o
conflito? Apenas o consenso de todos racionalmente construdo pela troca de
argumentos substanciais na situao de fala ideal.
Nesta medida, se o sentido imprimido pena pelo sujeito estratgico englobar
interesses universalizveis presentes ao consenso entre os participantes, a pena
revelar-se- como justa, repercutindo no sentido comunicacional de obedincia
norma. Do contrrio, se o sentido imprimido pelo sujeito estratgico no espelhar
interesses universalizveis, presentes ao consenso, a pena soar como injusta,
repercutindo no sentido comunicacional de descrdito na norma, e, por via de
conseqncia, nas prprias Instituies.
O preenchimento, no carter da pena, de interesses universalizveis viabiliza-se na
demonstrao, aos seus destinatrios, de que a observncia da norma no apenas
representa interesses do Estado, mas os seus prprios interesses, de tal sorte que a
sua observncia pelos sujeitos implicar na igual proteo aos seus fins particulares.
Semelhante efeito pode ser manifestado no tocante ao prprio condenado. Na
medida em que se lhe revele, no processo de dilogo estabelecido pela pena, que o
ato por ele praticado ofendeu no apenas os interesses do Estado e dos demais
sujeitos, mas os seus prprios interesses, a norma passar a repercutir, em sua
racionalidade, reconhecida pelo consenso comunicativamente atingido, na prpria
conscincia moral do apenado.
Assim, recuperar o condenado representa, ao contrrio de faz-lo encampar,
200
forosamente, realidades e interesses que ele no reconhece como seus, a
necessria harmonizao das pretenses de verdade dos sujeitos envolvidos, em
que o consenso, passando a surgir de interesses universalizveis (comuns), atua de
forma a orientar as futuras aes individuais, ao mesmo tempo em que consagra,
frente ao Estado, a sua autoridade moral em imputar a pena ao indivduo concreto.
O Direito aspira a que as suas normas sejam justas. Ocorre que, visto o seu
universo de incidncia repercutir sobre os indivduos (destinatrios das normas
jurdicas), a mensurao do justo ou injusto passa a repousar no sentido
comunicacional da norma frente coletividade, e no na perspectiva isolada do
sujeito que assim o declara.
Na medida em que a ordem jurdica contempla, no mbito da norma, interesses
universalizveis, promove a aderncia dos sujeitos desviantes ao consenso,
conformando-os ao acordo racionalmente obtido, orientador de suas aes
individuais.
Pode-se afirmar ento que, na medida em que a pena abranger interesses
universalizveis, promover a adequao das condutas desviantes ao consenso
racionalmente obtido, harmonizando os argumentos racionais trazidos ao discurso.
Do contrrio, na medida em que a norma espelhar unicamente os interesses do
sujeito que a profere, por no obter receptividade e legitimidade pelos seus
destinatrios sociais, instar o Estado a utilizar-se do carter estratgico da pena
para obter, coercitivamente, a sua observncia.
Todos os indivduos dotados de racionalidade285 so passveis de adentrarem ao
consenso. Insta, nesta tica, norma jurdica a salvaguarda de interesses
universalizveis entre os sujeitos, a fim de que estes possam aderir a dito consenso.
A perspectiva irrealista da racionalidade instrumental est em acreditar na
observncia invarivel das normas jurdicas ainda quando destoantes do consenso
entre os sujeitos. Inmeros exemplos poderiam ser dados neste contexto. A famosa
guerra de espadas na Bahia apenas um deles.
O que pretende a norma proibitiva no se harmoniza s pretenses de verdade dos
adeptos desta prtica. Por no espelhar interesses universalizveis, a norma
285
Excluem-se, desta feita, os loucos, que, por no serem capazes de criar uma racionalidade
alternativa, no so passveis de aderirem ao consenso.
201
proibitiva cai em descrdito, em que os praticantes da referida modalidade, antes de
se verem intimidados com a ameaa simblica da sano, repercutem em suas
aes racionais o desvirtuamento da medida juridicamente imposta.
Incumbe norma, neste contexto, estabelecer, na perspectiva de uma situao de
fala ideal, um processo de dilogo com os destinatrios, em que a pena repercuta
diante deles como o melhor argumento racional presente ao discurso, de tal sorte a
salvaguardar no apenas os interesses institucionalizados, mas os seus prprios
interesses, no caso, a sade e integridade fsica. O acordo racionalmente obtido,
revelador de uma ao comunicativa, evitar a utilizao da pena meramente como
ato estratgico, sendo a crena falida no seu potencial intimidatrio cada vez mais
denunciadora da imperfeio do sistema.
A criminalizao da figura do usurio de drogas ilcitas representa outro exemplo.
Visualizam-se, neste contexto, duas realidades flagrantemente conflitantes. De um
lado, o Estado, considerando criminoso o consumo de substncias entorpecentes,
ordena coletividade (e ao condenado, individualmente considerado) que fiquem
longe das drogas. De outro lado, na perspectiva do usurio, a droga muitas vezes
representa seu nico refgio ou prazer, ou, mais ainda, o seu direito inegocivel
expressivo de seu jus libertatis. Em outras palavras, a proibio estatal lhe soa como
orquestra para surdos, onde o recurso previsto na lei 11.343/06 (de admoestao
verbal e multa para forar-lhe o enquadramento), soa incuo, para no dizer
pattico.
Como ento garantir, sob tais condies, a legitimidade e justificao da norma
frente aos seus destinatrios? O nico meio se revela na busca, pela pena, do
dilogo entre o Estado e o indivduo, viabilizado na perspectiva de uma situao de
fala ideal. A autoridade moral do Estado, nesta medida, no repousar numa
qualidade superior que lhe seja nsita, mas na fora do melhor argumento por ele
demonstrado (frente aos seus destinatrios) de que o consumo de drogas no
apenas fere interesses estatais, mas os seus prprios interesses, revelando-se-lhes,
nesta medida, como legtima e justa a reprimenda penal.
A repousa, justamente, o grave equvoco da perspectiva instrumental: apesar de se
dizer democrtica, por no manifestar uma situao de fala ideal (igualitria
oportunizao de atos de fala pelos sujeitos), inviabiliza, no mbito da norma
jurdica, a manifestao de interesses universalizveis. Retomando o exemplo das
202
drogas ilcitas, ao colocarem-se, frente a frente, juiz e usurio, o que se percebe
que, na perspectiva da racionalidade instrumental, jamais falaro eles a mesma
lngua.
norma
juridicamente
estabelecida,
traando
receita
de sua
ressocializao, requer do condenado o seu enquadramento forado ao sistema
imposto. Nada mais brutal, irrealstico e esquizofrnico.
A ressocializao de um condenado s possvel ao entrar o sujeito comunicativo
(Estado, juiz, legislador) em um acordo racional com ele, demonstrando, no plano do
discurso e pela fora cogente dos argumentos racionais, que, ao mesmo tempo em
que seu ato criminoso ofende a sociedade, acaba por ofender tambm a si prprio.
Por ser incapaz de manifestar tal dilogo, somente passvel de consecuo via ao
comunicativa, a mesma racionalidade instrumental da pena, oferecedora do remdio
coativo do que bom e justo para a sociedade, acaba por conferir a esta a noo de
que alguns indivduos so irrecuperveis, j que no foram capazes de deglutir a
receita instrumentalmente fabricada para o seu prprio bem.
Com efeito, a crena na racionalidade instrumental acaba por obstaculizar novos
caminhos para a pena. Observe-se, a este respeito, a seguinte passagem exposta
por Minahim (2008, p. 21):
Qualquer que seja a resposta escolhida para a pergunta formulada, quanto
adequada providncia que o estado deve tomar com o violador da ordem,
mesmo aquelas pensadas pelos abolicionistas traro consigo o sofrimento.
De fato, impossvel dissociar a pena, a composio e as formas
alternativas de restaurao da dor, pelo menos, do constrangimento por ela
infligido.
Este pensamento no o que aqui se defende. Sua coerncia e lucidez restringemse a uma perspectiva instrumental da racionalidade, na medida em que a pena, por
no se harmonizar, por vezes, s pretenses de verdade presentes no consenso
entre os sujeitos, pode ressoar sobre os destinatrios sociais com um sentido
coercitivo e constrangedor, revelados como sofrimento. No obstante, na
perspectiva da racionalidade comunicativa, ao permitir-se a harmonizao dos fins
perseguidos pelo sujeito estratgico aos argumentos racionais dos destinatrios da
norma, presentes no consenso, a pena torna-se passvel de revelao, frente a
estes, como justa e adequada. Passa, ento, a ser vista no como um sofrimento,
mas como pretenso de verdade legitimamente aceita.
O que se conclui, nesta tica, que a concepo da pena como sofrimento revela
203
apenas a faceta mais ntida, arbitrria e ilusria da perspectiva instrumental, cuja
utilizao estratgica considera vivel uma incorporao forada de valores e
interesses pelos seus destinatrios sociais. Nesta perspectiva, a pena correr
sempre o risco de revelar-se, de fato, um sofrimento.
Note-se que no plano da racionalidade comunicativa o argumento racional
(pretenso de verdade) manifestado pelo sujeito (Estado, juiz, legislador) apenas
mais um argumento presente no discurso, que, por estruturar-se no contexto de uma
situao de fala ideal, poder ou no revelar-se o melhor argumento orientador das
aes racionais de todos os destinatrios.
Exemplifica-se: a pretenso de verdade validadora da pena presente nos artigos 219
a 222 e 240 do Cdigo Penal (correspondentes s revogadas figuras do rapto e do
adultrio) deixou de valer como o melhor argumento orientador das aes racionais
dos destinatrios da norma, manifestado no plano do discurso racional entre os
sujeitos. Em consequncia, a fora cogente das referidas normas perdeu eficcia
junto coletividade, em decorrncia da notria modificao dos costumes durante,
especialmente, a segunda metade do sculo XX. Observe-se que isto no significa
que o adultrio se tenha tornado algo recomendvel ou elogivel. Apenas, face s
alteraes na moral vigente, especialmente nos aspectos da sexualidade, a
repercusso social dessa prtica ficou totalmente modificada.
Neste contexto, a racionalidade instrumental, que sempre opera ex post, achou por
bem, dcadas aps a factual perda de legitimidade e justificao social da norma,
revogar os referidos dispositivos legais. Nota-se, no exemplo citado, que a pretenso
de verdade do Estado j havia perdido terreno, no plano comunicativo do discurso,
para as pretenses de verdade presentes no consenso racional entre os seus
destinatrios, cuja forma de vida se alterara substancialmente.
Pode ocorrer, todavia, que a pretenso de verdade presente pena, mesmo
gozando de potencial legitimidade no plano social, venha a perder terreno, em
determinado contexto ftico, para outra pretenso de verdade manifestada no plano
do discurso. Tal pode ser ilustrado no rumoroso exemplo do tratorista, ocorrido h
alguns anos e frequentemente explorado pela imprensa ptria. Instado a demolir o
imvel humilde de determinada moradora em virtude da obrigao de observncia
de deciso judicial, o referido tratorista optou por descumprir a norma, sendo ento
preso em flagrante por crime de desobedincia, conseqncia esta geradora, no
204
obstante, de significativos protestos por parte da sociedade.
O exame da realidade comunicativa do caso citado revela que a pretenso de
verdade manifestada pelo tratorista prevaleceu frente pretenso de verdade da
pena como o melhor argumento no plano do discurso, de tal sorte a revestir de
ilegtima qualquer tentativa de imposio de pena quele indivduo, porque eivada
comunicativamente, frente aos seus destinatrios, da mais absoluta injustia.
Resta esclarecer, ento, em que medida possvel ao sujeito estratgico auferir o
sentido comunicacional de pena socialmente revelado no acordo racionalmente
obtido entre os sujeitos, de tal sorte a imprimir polticas criminais em sintonia com os
argumentos racionais dos participantes do discurso.
Tal possibilidade passa a ser engendrada na abertura do discurso penal aos
argumentos racionais dos destinatrios da norma. Envolve, particularmente, a
superao da crena na perspectiva instrumental em sua busca de frmulas s
passveis de serem reveladas pelo sujeito isoladamente considerado, com base na
sua autoridade, revelia das demais pretenses de verdade manifestadas no
discurso.
A partir do momento em que, tanto no plano legislativo, judicial ou administrativo, o
discurso penal abrir espao, em sua alteridade, ao pluralismo e oportunizao
democrtica de atos de fala pelos sujeitos, a construo de um sentido de pena que
harmonize os argumentos racionais de todos os participantes frente a um Estado
Democrtico de Direito permitir a mais prxima sintonia entre a funo
comunicativa e a funo estratgica da reprimenda penal, substituindo o sentido
comunicacional de descrdito por um sentido comunicacional de crena na norma,
orientador das aes racionais dos indivduos.
Como se afirmou, os fins da pena no podem ser criados ou institucionalizados
como um ato de mgica do sujeito estratgico, passvel de invarivel recepo no
acordo racional entre os indivduos. Ao contrrio, a dinmica comunicativa das
interaes sociais que conforma, historicamente, a realidade jurdica da pena,
cabendo ao sujeito estratgico imprimir o seu sentido e intensidade em harmonia
com o consenso racionalmente obtido sobre a pena no plano comunicativo.
A situao de fala ideal, ao viabilizar a igualitria oportunizao de atos de fala pelos
interlocutores, engendra, na perspectiva do consenso racionalmente obtido, a
205
construo de um sentido comunicacional de pena passvel de adequar-se ao
sentido punitivo manifestado pelo sujeito estratgico.
Assim, medida em que a funo teleolgico-estratgica da pena harmonizar-se
com a sua funo comunicativa, a pena revelar-se- como justa frente aos seus
destinatrios sociais. Do contrrio, na medida em que os fins teleologicamente
previstos pelo sujeito estratgico destoarem do sentido comunicativo de pena
presente ao acordo racional entre os sujeitos, a pena repercutir em um sentido
comunicacional de descrdito ou descrena perante as instituies e ao sistema
estatal repressivo, ou mesmo, de arbitrariedade ou irracionalidade do sujeito que a
profere.
A justia da pena s alcanada quando os fins teleolgico-estratgicos da sano
perseguidos pelo sujeito coadunam-se com um consenso expressivo dos
argumentos racionais dos seus destinatrios, apresentando-se ento a pena, nesta
medida, como justa frente ao grupo social. Pode-se ento afirmar que a justia da
pena s alcanada quando a sua funo comunicativa encontra sintonia com a
funo estratgica teleologicamente perseguida pelo sujeito, de modo a harmonizar
o conjunto dos fins estrategicamente previstos com as pretenses de verdade dos
destinatrios da norma.
Em outras
palavras, rejeitando-se as
frmulas
mgicas
da racionalidade
instrumental, afirma-se que o sentido ideal ou justo da pena s pode ser revelado na
harmonizao entre a funo estratgica da pena com a sua funo comunicativa.
Somente nesse sentido que a pena passvel de revelao como justa; mas justa
no na perspectiva isolada do sujeito (Estado, juiz, legislador), mas, sim, na
perspectiva de todos os seus destinatrios sociais.
Na medida em que o Estado no abre o discurso jurdico para o pluralismo e a
democrtica oportunizao de atos de fala pelos sujeitos, cada vez mais se ver
instado a se utilizar da pena como um ato estratgico, pura base do dura lex sede
lex. A significao comunicacional do referido brocado latino no tocante pena
revela to somente a ausncia da autoridade moral da ordem jurdica frente aos
seus destinatrios, porque o sentido de justia visado pelo sujeito passa a no se
adequar ao sentido de justia comunicativamente construdo e presente no
consenso racional entre os participantes. A conseqncia a ilegitimidade da norma
frente aos seus destinatrios sociais.
206
Nesta medida, os interesses que a ordem jurdica espelha no mbito da reprimenda
penal
tm
de
ser
universalizveis,
sob
pena
de
ela
no
ser
aceita
comunicativamente pelos sujeitos. Assim, quanto mais democrtica for a ordem
jurdica, mais justa ela ser, na medida em que salvaguardar os interesses comuns a
todos os participantes.
Torna-se
possvel,
nesta
ordem,
trazer
para
consenso
os
potenciais
transgressores e mesmos os indivduos reincidentes, a partir do momento em que a
pena espelhar, no contexto de uma situao de fala ideal, a salvaguarda de
interesses universalizveis, conformados ao plano de um consenso entre os
participantes do discurso.
Ao incorporar interesses universalizveis, a pena se mostrar justa diante dos atores
sociais, substituindo-se um agir estratgico baseado na ameaa da pena por um agir
comunicativo em que o consenso, livremente obtido, passa a orientar as aes
individuais dos seus destinatrios. Em outras palavras, substituindo-se um direito
penal impositor de verdades instrumentais por um direito penal do consenso entre os
participantes.
207
5 CONCLUSO
A linguagem, como medium condutor da tradio, engendra mecanismos de controle
social na medida em que comunica a todos os indivduos uma realidade comum
socialmente experimentada.
O carter comunicacional da linguagem, ao compartilhar padres de relacionamento
apreensveis por cada membro do grupo, conforma os comportamentos individuais a
um universo de expectativas mtuas de comportamento frente aos seus
semelhantes, na medida em que a relao fonte e receptor condiciona cada sujeito a
uma atuao segundo papis socialmente esperados.
A realidade socialmente construda encontra a sua objetivao no espectro da vida
coletiva, correspondendo os usos e costumes a um universo de condutas dotadas
de sentido frente aos sujeitos sociais. nesta lgica que os mitos alcanaram
grande importncia para as sociedades, ao conferirem sentido existencial ao
conjunto da realidade comunicativamente partilhada.
No obstante, a realidade comunicacional no pressupe uma mera passividade do
receptor s mensagens do emitente, tampouco que o fenmeno da comunicao
alcance os mesmos efeitos para todos os indivduos, razo pela qual no se pode
compreend-lo como um mero intercmbio de informaes, mas como um complexo
conjunto de mensagens, sinais e smbolos, que, ao serem internalizados conforme a
singular realidade psicolgico-comportamental dos destinatrios sociais, revela a
dinmica deste processo.
A construo viabilizada pela linguagem disciplinadora e estabilizadora das aes
coletivas no impede, entretanto, que determinadas aes individuais transgridam a
esfera de obedincia s normas sociais, desencadeando, em virtude do afastamento
da realidade instituda, a imposio de sanes (jurdicas, morais, religiosas ou de
outra natureza), cujo fim a recomposio das expectativas sociais frustradas, de tal
sorte a ajustar as condutas desviantes ao conjunto das normas vigentes no grupo.
O Direito, ao projetar-se no mundo dos fatos considerados juridicamente relevantes,
estabelece sanes dotadas de impessoalidade e coercibilidade, encontrando na
pena o termmetro da reprovabilidade e censurabilidade social das condutas
transgressoras dos padres de comportamento coletivamente admitidos.
208
A compreenso da natureza comunicativa e estratgica das aes sociais
esclarecida na Teoria da Ao Comunicativa, de Jrgen Habermas, fundamentando
uma racionalidade comunicativa, alternativa racionalidade instrumental.
Assim, desloca-se o eixo de uma filosofia centrada no sujeito e voltada aplicao
de meios racionais para a obteno de fins, no campo da ao pragmtica e no
plano das concepes metafsicas de uma racionalidade pr-estabelecida (de
carter Iluminista), para uma filosofia centrada na intersubjetividade dos integrantes
do discurso, que, num dinmico processo cooperativo de interao e emancipao,
buscam o acordo racional que viabilizar o consenso. Habermas postula que, na
hiptese de atender a efetuao do consenso a determinados requisitos (situao de
fala ideal, interesses universalizveis, pressuposto de veracidade ou sinceridade),
este consenso fundamentar a verdade dos enunciados e a racionalidade dos
participantes do discurso.
Observe-se que o consenso sempre passvel de modificao pelos prprios
sujeitos participantes do agir comunicativo, desde que novos argumentos
substanciais sejam oferecidos e livremente aceitos, na situao de fala ideal.
A racionalidade construda comunicativamente e intermediada pela linguagem
fundamenta, ento, uma verdade sempre perfectvel, na medida em que as
pretenses de verdade colocadas em xeque pelos prprios sujeitos racionais no
mais corresponderem ao melhor argumento, deixando de valer como a regra que
orientar as futuras aes individuais dos participantes do discurso.
A tipologia das aes sociais em Habermas contempla a existncia de aes
teleolgicas, normativas, dramatrgicas, comunicativas e estratgicas (teleolgicoestratgicas), sendo as aes comunicativa e estratgica as bases da epistemologia
habermasiana.
A ao comunicativa inclina-se ao consenso (acordo racionalmente motivado entre
os participantes do discurso), que, testando as suas pretenses de verdade, buscam
orientar as aes individuais em busca do entendimento, com a igualitria
oportunizao de proposies argumentativas numa situao de fala ideal,
coordenando de comum acordo os planos de ao individual dos participantes.
As pretenses de verdade, submetidas aos critrios de aceitabilidade que emergem
da ao dos demais participantes do discurso, todos supostamente obedientes s
209
regras de correo tcnica e tica impostas interlocuo, fornecem, no plano
argumentativo, a justificao racional ex post frente aos interlocutores, obtida
mediante o prprio consenso. Na ao comunicativa, midiatizam-se, nas pretenses
de verdade, atos de fala ilocucionrios, cujo carter proposicional visa o
entendimento entre os sujeitos intersubjetivamente relacionados.
A ao estratgica, por seu turno, visa o convencimento estrategicamente motivado
de um sujeito sobre os demais oponentes, orientando suas aes na escolha dos
meios mais adequados para a persecuo das suas prprias metas individuais.
Nesta modalidade de ao, os sujeitos atuam de forma a influenciar os demais.
Em outras palavras, a racionalidade presente na ao estratgica corresponde a
uma racionalidade teleolgica das metas individuais dos atores sociais envolvidos,
que atuam de forma a influenciar os demais sujeitos na consecuo dos seus
prprios fins. Nesta modalidade de ao, utilizam-se atos de fala perlocucionrios,
com a inteno de modificar, de modo psicolgico-comportamental, os receptores,
engendrando uma persuaso estrategicamente motivada que conforme os
destinatrios da ao aos padres esperados pelo emitente.
O Direito constri uma realidade simblica e paralela que procura coadunar-se
realidade factual da convivncia coletiva. Estas realidades revelam-se idealmente
congruentes na medida em que o Direito consegue, realisticamente, obter a
legitimao frente aos sujeitos sociais.
A realidade da convivncia social revela a cooperao entre os indivduos na
consecuo de interesses comuns, atuando cada sujeito de acordo com os padres
exigveis pela coletividade, cujo comportamento e expectativas so pr-moldadas e
transmitidas pela linguagem, aderindo os participantes ao acordo racionalmente
motivado que assegura a estabilidade social.
Revela-se, aqui, o carter estratgico das normas jurdicas. Nesta tica, a dogmtica
da deciso jurdica, por meio de mecanismos procedimentais, viabiliza a
fundamentao do Direito como um sistema de controle de comportamento, no
apenas conformando a lei ao ordenamento jurdico (legitimidade formal), mas
buscando a sua justificao frente aos destinatrios via argumentao jurdica
(legitimidade material), exigindo, para tanto, uma democrtica abertura para a
argumentao.
210
A pena, enquanto norma jurdica, submete-se igualmente ao plano de sua
justificao, gozando de pretensa legitimidade frente aos destinatrios sociais. Tanto
na sano in abstrato (prevista no tipo sancionador correspondente a cada crime e
definida pelo legislador) quanto na sano in concreto (aplicada pelo magistrado na
soluo do caso concreto), a estrutura dogmtica da norma jurdica pretende conferir
pena um grau de legitimidade frente aos sujeitos.
Na tradio jurdica, essa legitimao buscada nos efeitos da pena, isto , na
adequao da pena aos efeitos pretendidos, o que tpico da racionalidade
instrumental. No obstante, enquanto pretenso de verdade manifestada no plano
do discurso racional, a pena procura a sua justificao no acordo racional que
orientar as aes individuais dos participantes do discurso.
Assim, na medida em que no mais corresponder ao melhor argumento, perder a
pena a sua legitimidade. Isto ser manifestado por um sentimento de injustia, que,
em ltima anlise, propiciar a alterao da norma de forma a restaurar o conjunto
de expectativas sociais dos participantes do discurso.
O carter comunicativo da pena, enquanto produto cultural e termmetro moral das
sociedades, revelou-se historicamente em seu papel de manuteno das estruturas
de poder, incorporando em sua dogmtica o conjunto de valores socialmente
vigentes.
A tentativa de adequar o direito penal aos seus fins tico-polticos propiciou o
surgimento das teorias da pena, cuja racionalidade, de carter instrumental, revelou
correntes jusfilosficas, divididas historicamente em absolutas, relativas e mistas,
ligadas, respectivamente, s idias de retribuio, preveno (geral negativa, geral
positiva e especial) e conjugao de idias retributivas e preventivas.
Seja promovendo o castigo (teoria absoluta), reforando o carter intimidatrio da
pena (preveno geral negativa), repercutindo na conscincia da coletividade os
valores positivos presentes norma (preveno geral positiva), induzindo no
condenado mecanismos intimidatrios e educativos tendentes sua ressocializao
(preveno especial), ou correlacionando a natureza retributiva e a natureza
preventiva da sano penal (teorias mistas), o fato que a proposio de teorias
fundamentadoras da pena, por revelarem uma racionalidade instrumental (baseada
na aplicao de meios racionais para a obteno de fins), no levam em
211
considerao, no clculo de seus efeitos, o complexo de influncias comunicacionais
presentes no amplo espectro da interao entre os sujeitos.
Ao conceber o castigo como o fundamento tico-poltico da pena, o Direito Penal
no impediu a evolutiva perda de legitimidade da sano incriminadora em
decorrncia da internalizao, no discurso racional entre os sujeitos, das idias
iluministas e humanistas, que apregoavam a necessidade de prevenir os crimes, ao
invs de puni-los. Por outro lado, a concepo da pena como um ato de preveno,
na medida em que autorizou, em certos momentos, o exacerbamento das penas
como reforo ao seu carter intimidatrio, teve a sua legitimidade condicionada ao
sentido comunicacional de represso socialmente sentido pelo grupo, dando
margem, paradoxal que parea, ao abrandamento de penas brbaras factualmente
institudas, em virtude da ausncia de justificao racional frente aos destinatrios.
Em igual medida, o estabelecimento de um fim ressocializador ou a juno de idias
retributivas e preventivas, escolhidas pelo Estado repressor como o fundamento
tico-poltico de imposio da pena nenhum efeito logra se no clculo dos seus
resultados estratgicos no for levado em considerao o sentido comunicativo da
norma, considerando-se, como ocorre na forma de vida democrtica, que a norma
expressa interesses universalizveis validados por um consenso que se aproxime do
consenso verdadeiro.
Conclui-se que a concepo da pena como um ato de preveno, retribuio ou
ressocializao de nada repercutir se a pena, apoiada nas pretenses de verdade
reivindicadas pela norma, no encontrar guarida no acordo racional (de carter
comunicativo) orientador das aes individuais dos seus destinatrios.
Por ser uma norma jurdica, a pena goza, por sua prpria natureza, de potencial
legitimidade frente aos sujeitos, com pretenses de elevar-se a melhor argumento
que orientar as futuras aes individuais dos participantes do discurso,
estabilizando as expectativas de atuao repressiva do Estado.
No entanto, dito acordo racional encontra-se sujeito a rupturas decorrentes da perda
de legitimidade da norma (enquanto consenso) frente aos destinatrios, o que
decorre da dinmica das relaes sociais entre os sujeitos comunicativos.
O descrdito do Estado em seu papel de combate criminalidade repercute, na
sociedade, no sentido comunicacional da pena, abstrata e concretamente instituda.
212
O sentido justo de pena revelado quando a sua funo comunicativa encontra
sintonia com a funo estratgica, de modo a coadunar o conjunto de intenes
estrategicamente previstas para a norma com os argumentos racionais de seus
destinatrios presentes no consenso racionalmente obtido.
Em outras palavras, a justia da pena s revelada quando os fins teleolgicoestratgicos da sano perseguidos pelo Estado coadunam-se com as pretenses
de verdade (argumentos racionais) dos sujeitos manifestadas no plano do discurso
gerador do consenso. Apresenta-se a pena, nesta tica, como justa frente aos seus
destinatrios sociais.
Se o sentido imprimido pena pelo sujeito estratgico integrar interesses
universalizveis presentes no consenso entre os participantes, a pena revelar-se-
como justa, repercutindo no sentido comunicacional de obedincia norma. Ao
contrrio, se o sentido imprimido pelo sujeito estratgico no englobar interesses
universalizveis, presentes ao consenso, a pena soar como injusta, repercutindo no
sentido comunicacional de descrdito na norma, com a consequente perda de sua
legitimidade.
O preenchimento, no carter da pena, de interesses universalizveis viabilizado na
demonstrao, frente aos seus destinatrios, de que a observncia da norma no
apenas representa interesses do Estado, mas tambm os seus prprios interesses,
de tal sorte que a sua observncia pelos sujeitos implicar a igual proteo aos seus
fins particulares legtimos, orientando as suas aes racionais em sintonia com os
fins estrategicamente previstos.
Na medida em que a ordem jurdica contempla, no mbito da pena, interesses
universalizveis, promove a aderncia dos sujeitos desviantes ao consenso,
conformando-os ao acordo racionalmente obtido, orientador de suas aes
individuais, conferindo, reprimenda penal, a sua necessria e efetiva legitimidade.
213
REFERNCIAS
AGRA, Walber de Moura. Habermas e a legitimao da jurisdio constitucional. In:
Revista do programa de ps-graduao em direito da universidade federal da
Bahia, n. 16, 2008.1. Salvador, BA, 2008.
AGUIRRE ORAA, Jos Mara. Raison critique ou raison hermneutique?: une
analyse de la controverse entre Habermas et Gadamer. Paris: Les ditions du Cerf,
1998.
ALMEIDA, Cndido Mendes de. Cdigo Philippino ou ordenaes e leis do Reino de
Portugal. 14. ed. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870.
AMARAL, Augusto Jobim do. Fronteiras do poltico e do direito penal: discursos crticos
sobre a pena. In: Cincias penais: revista da associao brasileira de professores de
cincias penais. Ano 5, n 8. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
AMBOS, Kai. La parte general del derecho penal internacional: bases para una
elaboracin dogmtica. Trad. Ezequiel Malarino. Montevideo, Uruguay: Fundacin
Konrad-Adenauer, 2005.
ARAGO, Antnio Moniz Sodr de. As trs escolas penais: clssica, antropolgica e
crtica: estudo comparativo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977.
ARAJO, Ins Lacerda. Do signo ao discurso: introduo filosofia da linguagem. So
Paulo: Parbola Editorial, 2004.
ARISTTELES. Poltica. Trad. Pedro Constantin Tolens. So Paulo: Martin Claret,
2007.
ARRUDA, Jos Jobson de A.; PILETTI, Nelson. Toda a histria: histria geral e histria
do Brasil. So Paulo: tica, 1994.
ASCHAFFENBURG, G. Crime e represso. Trad. S. Gonalves Lisboa. Lisboa: Livraria
Clssica Editora de A. M. Teixeira, 1904.
ASA, Luis Jimnez de. Tratado de derecho penal: Tomo 1. 2. ed. Buenos Aires:
Editorial Losada, 1956.
BASTOS, Filinto Justiniano Ferreira. Estudos de direito penal. Salvador: Joaquim
Ribeiro & Co., 1911.
BATISTA, Vera Malaguti. A funcionalidade do processos de criminalizao na gesto
dos desequilbrios gerados nas formaes sociais do capitalismo ps-industrial e
globalizado. In: KARAM, Maria Lcia(org.). Globalizao, sistema penal e ameaas ao
estado democrtico de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
BATTAGLINI, Giulio. Direito penal: parte geral. Trad. Paulo Jos da Costa Jr.; Armida
Bergamini Miotto. So Paulo: Saraiva, Ed. Da Universidade de So Paulo, 1973.
214
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimares. 11. ed.
Curitiba: Hemus, 2000.
BEMFICA, Francisco Vani. Da teoria do crime. So Paulo: Sarava, 1990.
______. Programa de direito penal: parte geral. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
BENNETT, Walter. O mito do advogado: reavivando ideais da profisso de advogado.
Trad. Valter Lellis Siqueira. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
BENTHAN, Jeremy. Teoria das penas legais e tratado dos sofismas polticos. Leme,
SP: CL EDIJUR, 2002.
______. Thorie des peines et des rcompenses. Tomo I. Bruxelas: Socit Belges
de Librairie, 1840.
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construo social da realidade: tratado
de sociologia do conhecimento. Trad. Floriano de Souza Fernandes. 6. ed. Petrpolis:
Vozes, 1985.
BERLO, David Kenneth. O processo de comunicao: introduo teoria e prtica.
Trad. Jorge Arnaldo Fontes. 7. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
BERTAULD, A. Cours de code pnal et leons de lgislation criminelle: explication
thorique et pratique. 3. ed. Paris: Cosse et Marchal, 1864.
BERTRAM, Salzmann. Histria de crimes da Bblia. Trad. Slvia Reinhold Timm.
Barueri: Sociedade Bblica do Brasil, 2000.
BETTIOL, Giuseppe. Direito penal. Trad. Paulo Jos da Costa Jnior; Alberto Silva
Franco. V. III. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Novas penas alternativas: anlise poltico-criminal das
alteraes da Lei n. 9.714/98. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 2006.
______. Tratado de direito penal, v.1: parte geral. 13. ed. So Paulo: Saraiva, 2008.
BOFF, Leonardo. Homem: sat ou anjo bom? Rio de Janeiro: Record, 2008.
BONN, Robert L. Criminology. New York: McGraw-Hill, 1984.
BOULOC, Bernard; LEVASSEUR, Georges; STEFANI, Gaston. Droit pnal gnral. 14.
ed. Paris: Dalloz, 1992.
BOURDIEU, Pierre. O poder simblico. 8. ed. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2005.
BOZZA, Fbio da Silva. Uma anlise crtica sobre a preveno geral positiva de
Gunther Jakobs. In: Revista de Estudos Criminais, Ano VII, n 26. So Paulo: Notadez,
2007.
215
BRANDO, Cludio. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense,
2008.
______. Significado poltico-constitucional do direito penal. In: Direito penal
contemporneo: estudos em homenagem ao professor Jos Cerezo Mir. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007.
BRAUDEL, Fernand. La mditerrane et le monde mditerranen a lpoque de
Philippe II. 3. ed. Tomo I. Paris: Librairie Armand Colin, 1976.
BRETON, Philippe; PROULX, Serge. Sociologia da comunicao. Trad. Ana Paula
Castellani. So Paulo: Edies Loyola, 2002.
BRITO, Edvaldo. Aspectos jurdicos da democracia participativa como uma reviso do
processo decisrio. In: Revista da Faculdade de Direito: Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia, v. XXXVI. Salvador: EDUFBA, 1996.
______. Limites da reviso constitucional. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris, 1993.
BRITO, Raymundo. Direito penal fascista: medidas administrativas de segurana. Rio
de Janeiro: A. Coelho Branco F., 1938.
BRUNER, Jerome. Atos de significao. Trad. Sandra Costa. Porto Alegre: Artes
Mdicas, 1997.
BRUNO, Anbal. Das penas. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976.
______. Direito penal: parte geral. Tomo 1. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967.
CAMARGO, Antnio Lus Chaves. Tipo penal e linguagem. Rio de Janeiro: Forense,
1982.
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemtico e conceito de sistema na cincia
do direito. 3. ed. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2002.
CANCELLI, Elizabeth. A cultura do crime e da lei. Braslia: Universidade de Braslia,
2001.
CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal: parte geral. V. II. Trad.
Jos Luiz V. de A. Franceschini; J. R. Prestes Barra. So Paulo: Saraiva, 1957.
CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
CASSIRER, Ernst. A filosofia das formas simblicas. Trad. Marion Fleischer. So
Paulo: Martins Fontes, 2001.
______. O mito do Estado. Trad. lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
CERVINI, Ral. Os processos de descriminalizao. 2. ed. So Paulo: Revista dos
216
Tribunais, 2002.
CHAIJ, Fernando. Paz na angstia. Trad. Dejanira Mendes Rossi. 3. ed. Santo Andr:
Casa Publicadora Brasileira, 1969.
CHAMON JUNIOR, Lcio Antnio. Filosofia do direito na alta modernidade: incurses
tericas em Kelsen, Luhmann e Habermas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
CHANDLER,
Daniel.
The
Sapir-Whorf
hypothesis.
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/whorf.html. Acesso
Acesso em: 15 mar 2011.
Disponvel
em:
em 28/jun/2011.
CHAVANNE, A.; LESASSEUR, G. Droit pnal et procdure pnale. 2. ed. Paris: Sirey,
1971.
CHRISTENSEN, N. E. Sobre la naturaleza del significado. Trad. Juan Carlos Garcia
Borrn. Barcelona: Editorial Labor, 1968.
COELHO, Fbio Ulhoa. Direito e poder: ensaio de epistemologia jurdica. So Paulo:
Saraiva, 1992.
CORRA, Manoel Luiz Gonalves. Linguagem e comunicao social: vises da
lingstica moderna. So Paulo: Parbola, 2002.
CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Livraria Almedina, 1968.
COSTA, lvaro Mayrink da. Exame criminolgico. Rio de Janeiro: Editora Jurdica e
Universitria LTDA, 1972.
______. Direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
COSTA, Fausto. El delito y la pena en la historia de la filosofia. Trad. Mariano RuizFunes. Mxico, UTEHA, 1953.
COSTA, Jos Francisco de Faria. Direito penal da comunicao: alguns escritos.
Coimbra: Coimbra Editora, 1998.
COSTA Jr., Paulo Jos da. Curso de direito penal. 11. ed. So Paulo: Saraiva, 2010.
CRESPO, Eduardo Demetrio. Culpabilidad y fines de la pena: con especial referencia al
pensamiento de Claus Roxin. In: Cincias Penais: Revista da associao brasileira de
professores de cincias penais. Ano 5, n 8, jan-jun/2008.
DAVIS, Flora. A comunicao no-verbal. Trad. Antnio Dimas. So Paulo: Summus,
1979.
DE JESUS, Santa Teresa. Castelo interior ou moradas. Carmelitas descalas do
Convento Santa Teresa, segundo a edio crtica de Frei Silvrio de Santa Teresa. 15.
ed. So Paulo: Paulus, 1981.
217
DE SOUZA, Rosa. Testiculos habet, et bene pendentes. So Paulo: Ibrasa, 2008.
DIP, Ricardo; MORAES JR., Volney Corra Leite. Crime e castigo. Campinas:
Millennium, 2002.
DOTTI, Ren Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. 2. ed. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998.
DURO, Aylton Barbieri. A crtica de Habermas deduo transcendental de Kant.
Londrina: Ed. UEL; Passo Fundo: EDIUPF, 1996.
DUTRA, Delamar Jos Volpato. Razo e consenso em Habermas: a teoria discursiva
da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia. 2. ed. Florianpolis: UFSC, 2005.
ESTEFAM, Andr. Direito penal, v. 1. So Paulo: Saraiva, 2010.
EWALD, Franois. Foucault: a norma e o direito. Trad. Antnio Fernando Cascais. 2. ed.
Lisboa: Veja, 2000.
FARIA, Antnio Bento de. Annotaes therico-prticas ao cdigo penal do Brazil.
V. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves & Cia, 1913.
FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razn: teoria del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995,
p. 223.
______. Direito e razo: teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer Sica; Fauzi
Hassan Choukr; Juarez Tavares; Luiz Flvio Gomes. 2. ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006.
FERRAZ JNIOR, Trcio Sampaio. A cincia do direito. 2. ed. So Paulo: Atlas, 1980.
______. Direito, retrica e comunicao: subsdios para uma pragmtica do discurso
jurdico. So Paulo: Saraiva, 1973.
______. Estudos de filosofia do direito: reflexes sobre o poder, a liberdade, a justia
e o direito. So Paulo: Atlas, 2002.
______. Introduo ao estudo do direito: tcnica, deciso, dominao. So Paulo:
Atlas, 2008.
______. Teoria da norma jurdica: ensaio de pragmtica da comunicao normativa.
Rio de Janeiro: Forense, 2000.
FERRAZ JNIOR, Trcio Sampaio; DINIZ, Maria Helena; GEORGAKILAS, Ritinha Alzira
Stevenson. Constituio de 1988. So Paulo: Atlas, 1989.
FERREIRA, Gilberto. Aplicao da pena. Rio de Janeiro: Forense, 2000a.
FERREIRA, Rodrigo Mendes. Individuao e socializao em Jrgen Habermas: um
estudo sobre a formao discursiva da vontade. So Paulo: Annablume; Belo Horizonte:
218
Unicentro Newton Paiva, 2000b.
FERRI, Enrico. Princpios de direito criminal: o criminoso e o crime. Trad. Paolo
Capitanio. 2. ed. Campinas: Bookseller, 1998.
FERRI, Henri. La sociologie criminelle. 3. ed. Paris: Arthur Rousseau, 1893.
FOUCAULT, Michael. A verdade e as formas jurdicas. Trad. Roberto Cabral de Melo
Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau, 1996.
______. Microfsica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edies Graal,
1979.
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal: parte geral. Ver. Por Fernando
Fragoso. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
FRASSATI, Alfredo. Lo sperimentalismo nel diritto penale. Torino: Fratelli Bocca,
1892.
FREITAG, Barbara. Dialogando com Jrgen Habermas. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 2005.
FUHRER, Maximiliano Roberto Ernesto. Histria do direito penal: crime natural e crime
de plstico. So Paulo: Malheiros, 2005.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e mtodo I: traos fundamentais de uma
hermenutica filosfica. Trad. Flvio Paulo Meurer. Petrpolis: Vozes, 1997.
GALVO JR., J. C. Dialtica da violncia e relaes de fora. 2. ed. Rio de Janeiro:
NPL, 2007.
GARCIA, Basileu. Instituies de direito penal, v.1, Tomo I. 4. ed. So Paulo: Max
Liminad, 1972.
GARCIA, Jos ngel Brandariz. Poltica criminal de la exclusin: el sistema penal en
tiempos de declive del estado social y de crisis del estado-nacin. Granada: Comares,
2007.
GARCA PABLOS DE MOLINA, Antnio. Criminologia: uma introduo a seus
fundamentos tericos. Trad. Luiz Flvio Gomes. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade
contempornea. Trad. Andr Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 2008.
GAROFALO, R. La criminologie. 2. ed. Paris: Flix ALCAN, 1890.
GARRAUD, R. Trait thorique et pratique du droit penal franais. Tomo I. Paris:
Larose et Forcel, 1888.
GASTALDI, Viviana. Direito penal na Grcia antiga. Trad. Mnica Sol Glik.
219
Florianpolis: Fundao Boiteux, 2006.
GIORGI, Alessandro de. A misria governada atravs do sistema penal. Trad. Srgio
Lamaro. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2006.
GRIMBERG, Carl. Histria universal. V. 1, a aurora da civilizao. So Paulo: Azul,
1989.
GUARESCHI, Pedrinho A. (coord.). Comunicao e controle social. Petrpolis: Vozes,
1991.
GUERRA, Luis Lpez; ESPN, Eduardo; MORILLO, Joaqun Garcia. Derecho
constitucional, v.1. 7. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007.
HABERMAS, Jrgen. A constelao ps-nacional: ensaios polticos. Trad. Mrcio
Seligmann-Silva. So Paulo: Littera Mundi, 2001.
______. A crise de legitimao no capitalismo tardio. Trad. Vamireh Chacon.
(Biblioteca Tempo Universitrio: Srie Estudos alemes). Rio de Janeiro: Edies Tempo
Brasileiro, 1980.
______. A tica da discusso e a questo da verdade. Trad. Marcelo Brando Cipolla.
So Paulo: Martins Fontes, 2004a.
______. A lgica das cincias sociais. Trad. Marco Antnio Casanova. Petrpolis, RJ:
Vozes, 2009.
______. Agir comunicativo e razo destranscendentalizada. Trad. Lucia Arago;
reviso Daniel Camarinha da Silva. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002.
______. Conhecimento e interesse: com um novo posfcio. Trad. Jos N. Heck. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1982.
______. Connaissance et intrt. Trad. Grard Clmenon e Jean-Marie Brohm. Paris:
Gallimard, 1976.
______. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume II. Trad. Flvio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
______. Mudana estrutural da esfera pblica: investigaes quanto a uma categoria
da sociedade burguesa. Trad. Flvio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984a.
______. O discurso filosfico da modernidade: doze lies. Trad. Luiz Srgio Repa,
Rodnei Nascimento. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
______. Para a reconstruo do materialismo histrico. Trad. Carlos Nelson
Coutinho. 2. ed. So Paulo: Editora Brasiliense, 1990.
______. Passado como futuro. Trad. Flvio Beno Siebeneichler; entrevistador, Michael
Haller. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.
220
______. Raison et lgitimit: problmes de lgitimation dans le capitalisme avanc.
Trad. Jean Lacoste. Paris: Payot, 1978.
______. The theory of communicative action, I: reason and the rationalization of
society. Trad. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1984b.
______. The theory of communicative action, II: Lifeworld and system: a critique of
functionalist reason. Trad. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1987.
______. Verdade e justificao: ensaios filosficos. Trad. Milton Camargo Mota. So
Paulo: Edies Loyola, 2004b.
______. Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der Kommunikativen Kompetenz.
In: HABERMAS, J. e LUHMANN, N. Theorie der Gesellschaft older
Sozialtechnologie, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1971. (Traduo no publicada de Guido
Antnio de Almeida)
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da
Silva; Guaracira Lopes Louro. 6. ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2001.
HASSEMER, Winfried. Introduo aos fundamentos do direito penal. Trad. Pablo
Rodrigo Alflen da Silva. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris, 2005.
HNAFF, Armand Le. Le droit et les forces: tude sociologique. 9. ed. Paris: Librairie
Flix Alcan, 1931.
HERKENHOFF, Joo Batista. Crime: tratamento sem priso. 3. ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 1998.
HERRERO, Csar Herrero. Poltica criminal integradora. Madrid: Dykinson, S. L.,
2007.
HESCHEL, Abraham Joshua. Deus em busca do homem. Trad. Tuca Magalhes. So
Paulo: Arx, 2006.
HULSMAN, Louk; CELLIS, Jaqueline Bernat de. Penas perdidas: o sistema penal em
questo. Trad. Maria Lcia Karan. Niteri: LUAM, 1993.
HUNGRIA, Nelson. Comentrios ao cdigo penal. V. I, Tomo II. 4. ed. Rio de Janeiro,
Forense, 1958.
______. Novas questes jurdico-penais: Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito
Ltda, 1945.
JAKOBS, Gunther. Sociedade, norma e pessoa: teoria de um direito penal funcional.
Barueri: Manole, 2003.
JANET, Pierre. Lintelligence avant le langage. Paris: Ernest Flammarion, 1936.
221
JAPIASS, Carlos Eduardo Adriano. Le systme pnitentiaire brsilien. In: Les
systmes pnitentiaires dans le monde. CR, Jean-Paul; JAPIASS, Carlos
Eduardo A. Paris: Dalloz, 2007.
JOINER, Eduardo. Manual prtico de teologia. Rio de Janeiro: Central Gospel, 2004.
JUNG, Carl G. Chegando ao inconsciente. In: JUNG, Carl G. O homem e seus
smbolos. 2. ed. Trad. Maria Lcia Pinho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaa. A inter-ao pela linguagem. 10. ed. So Paulo:
Contexto, 2007.
LANDIM FILHO, Raul; ALMEIDA, Guido Antnio (Orgs.). Filosofia da linguagem e
lgica. Rio de Janeiro: Loyola, 1980.
LARENZ, Karl. Metodologia da cincia do direito. 3. ed. Trad. Jos Lamego. Lisboa:
Calouste Gulbenkian, 1997.
LEFORT, M. Joseph. Cours lmentaire de droit criminel: droit pnal, procdure
criminelle. 12. ed. Paris: Ernest Thorin, 1879.
LEMGRUBER, Julita (org.). Alternativas pena de priso: anais da conferncia
promovida pela secretaria de justia do estado do rio de janeiro em outubro de 1994. Rio
de Janeiro, 1994.
LESLY, Philip (coord.). Os fundamentos de relaes pblicas e da comunicao.
Trad. So Paulo: Pioneira, 1995.
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. 2. ed. Trad. Alex Marins. So Paulo:
Martin Claret, 2006.
LOMBROSO, Csar. Lhomme criminel. Tomo I. Paris: Flix Alcan, 1895.
LOPES, Jair Leonardo. Curso de direito penal: parte geral. 3. ed. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999.
LOPES JR., Aury. Direito processual penal: e sua conformidade constitucional. 4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
LOWENSTIMM, A. Superstio e direito penal. Trad. Alfredo Ansur. Porto: Livraria
Chardron, 1904.
LYRA, Roberto. Comentrios ao cdigo penal. V. II. Rio de Janeiro: Forense, 1942.
LYRA FILHO, Roberto. Criminologia dialtica. Braslia: Ministrio da Justia, 1997.
MACHADO NETO, Antnio Lus. Sociologia jurdica. 6. ed. So Paulo: Saraiva, 1987.
MARINO JNIOR, Raul. A religio do crebro: as novas descobertas da neurocincia
a respeito da f humana. So Paulo: Gente, 2005.
222
MARQUES, Antnio. O interior: linguagem e mente em Wittgenstein. Lisboa: Fundao
Calouste Gulbenkian, 2003.
MARQUES, Jos Frederico. Tratado de direito penal. V.1. Campinas: Bookseller, 1997.
MARTINS, Jos Salgado. Direito penal: introduo e parte geral. So Paulo: Saraiva,
1974.
MAUDSLEY, H. Le crime et la folie. 4. ed. Paris: Librairie Germer Baillire et Cie., 1880.
MAUS, Isodore. De la justice pnal: tude philosophique sur le droit de punir. 2. ed.
Paris: Flix Alcan, 1891.
MEDINA, Jos. Linguagem: conceitos-chave em filosofia. Trad. Fernando Jos R. da
Rocha. Porto Alegre: Artmed, 2007.
MELO, Jos Marques de. Teoria da comunicao: paradigmas latino-americanos.
Petrpolis, RJ: Vozes, 1998.
MENDES, Antnio Celso. Direito: linguagem e
Champagnat, 1996.
estrutura simblica.
Curitiba:
MESTIERI, Jao. Teoria elementar do direito criminal: parte geral. Rio de Janeiro: J.
Mestieri, 1990.
METZ, A. Les cinquante livres du digeste ou des pandectes de lempereur
justinien. Tomo VII. Paris: Behmer et Lamort, 1805.
MICHALANY, Douglas. Histria das guerras mundiais. Livro IV, primeiro tomo. So
Paulo: Agev, 1967.
MINAHIM, Maria Auxiliadora. Pena e sofrimento. In: Revista do Programa de PsGraduao em Direito da Universidade Federal da Bahia, n 17, Ano 2008.2, Salvador,
Bahia.
MINAHIM, Maria Auxiliadora; COLHO, Yuri Carneiro. A estrutura ontolgica das coisas
como recurso garantidor no direito penal. In: Direito penal contemporneo: estudos em
homenagem ao professor Jos Cerezo Mir. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
MONTE, Octavio Pimentel do. Ensaios de direito penal. Rio de Janeiro: Livraria Editora
Conselheiro de Almeida, 1923.
MONTESQUIEU. De lEsprit des lois. V. I. Paris: Gallimard, 1995.
MORE, Thomas. A utopia. 2. ed. Trad. Maria Isabel Gonalves Toms. So Paulo:
Martin Claret, 2009.
MOREIRA, Luiz. Fundamentao do direito em Habermas. 2. ed. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002.
223
MORETTI, Fernando. Piratas: uma histria secreta. So Paulo: Escala, 2010.
MUOZ CONDE, Francisco. Teora general del delito. 3. ed. Vanencia: tirant lo blanch,
2004.
NEDER, Gizlene. Iluminismo jurdico-penal luso-brasileiro: obedincia e submisso.
Rio de Janeiro: Revan, 2007.
NEVES, Marcelo. A constitucionalizao simblica. So Paulo: Acadmica, 1994.
NEVES, Vasco de Philadelpho. A existncia de Deus. Salvador: Casa do Caminho,
2001.
NIETZSCHE, Friedrich. La gnalogie de la morale. Trad. Isabelle Hildenbrand. Paris:
Gallimard, 1971.
NINO, Carlos Santiago. Consideraciones sobre la dogmtica jurdica: con referencia
particular a la dogmtica penal. Mxico: UNAM, 1974.
NOGUEIRA, Alcntara. Poder e humanismo: o humanismo em B. de Spinoza; o
humanismo em L. Feuerbach; o humanismo em K. Marx. Porto Alegre: Srgio Antnio
Fabris, 1999.
NOVAES, Felipe; SANTORO, Antnio. Direito Penal. Coord. Milton Delgado Soares. V.
3. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
ORTEGA Y GASSET, Jos. O homem e a gente: inter-comunicao humana. Trad. J.
Carlos Lisboa. 2. ed. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1973.
ORTOLAN, J. Explication historique des instituts de lempereur Justinien. Paris: E.
Plon et Cie., 1876.
PARODI, D. Les bases psychologiques de la vie morale. 9. ed. Paris: Flix Alcan,
1937.
PENTEADO, Jos Roberto Whitaker. A tcnica da comunicao humana. So Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2001.
PERELMAN, Chaim. Lgica Jurdica: nova retrica. Trad. Vergnia K. Pupi. 2. ed. So
Paulo: Martins Fontes, 2004.
______. Tratado da argumentao. Trad. Maria Emantina Galvo. So Paulo: Martins
Fontes, 1996.
PIERANGELI, Jos Henrique. Cdigos penais do Brasil: evoluo histrica. 2. ed. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
PINHO, Ana Cludia Bastos de. Direito penal e estado democrtico de direito: uma
abordagem a partir do garantismo de Luigi Ferrajoli. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
224
PINKER, Steven. O instinto da linguagem: como a mente cria a linguagem. Trad.
Claudia Berliner. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
PIZZI, Jovino. O contedo moral do agir comunicativo: uma anlise sobre os limites
do procedimentalismo. So Leopoldo do Sul, RS: UNISINOS, 2005.
______. Curso de direito penal brasileiro, v. 1: parte geral, arts. 1 a 120. 10. ed. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
PROAL, Louis. Le crime et la peine. Paris: Flix Alcan, 1892.
PUGLIA, Ferdinando. Manuale di diritto penale: secondo il nuovo codice penale
italiano. v. I, parte generale. Napoli: Ernesto Anfossi Editore, 1890.
QUEIROZ, Paulo. Funes do direito penal: legitimao versus deslegitimao do
sistema penal. 3. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
RAMONET, Ignacio. A tirania da comunicao. Trad. Lcia Mathilde Endlich Orth.
Petrpolis, RJ: Vozes, 1999.
RAWLS, John. Justia como equidade: uma reformulao.Trad. Claudia Berliner;
reviso tcnica e da traduo lvaro De Vita. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
REALE, Miguel. Fundamentos do direito. 3. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais,
1998.
REALE JNIOR, Miguel. Direito penal aplicado, 4. So Paulo: Revista dos Tribunais,
1994.
REESE-SCHAFER, Walter. Compreender Habermas.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2008.
Trad.
Vilmar
Schneider.
RIBEIRO, Bruno de Morais. A funo de reintegrao social da pena privativa de
liberdade. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris, 2008.
RIPOLLS, Jos Luis Diz. A racionalidade das leis penais: teoria e prtica. Trad. Luiz
Rgis Prado. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
ROCHA, Alexandre Srgio da. Cientificidade e consenso: esboo de uma epistemologia
a partir da teoria consensual da verdade de Jrgen Habermas. In: OLIVA, Alberto (org.)
Epistemologia: a cientificidade em questo. Campinas: Papirus, 1990.
ROCHA, Fernando A. N. Galvo da. Direito penal: parte geral. 3. ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 2009.
______. Poltica criminal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000.
RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questo penitenciria: estatuto
jurdico do recluso e socializao, jurisdicionalizao, consensualismo e priso. So
225
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Direito e prtica histrica da execuo penal no
Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2005.
ROSA, Antnio Jos Miguel Feu. Direito penal: parte geral. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995.
ROSS, Alf. Direito e justia. Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2003.
ROSSI, P. Trait de droit pnal. 12. ed. Tomo I. Paris: Guillaumin et Cie., 1855.
ROUH, F. Lexprience morale. 4. ed. Paris: Flix Alcan, 1937.
ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. Trad. Lus Greco. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
______. Poltica criminal e sistema jurdico-penal. Trad. Lus Greco. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002.
RUSHE, Georg; KIRCHLEIMER, Otto. Punio e estrutura social. Trad. Gislene Neder.
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999.
SABADELL, Ana Lucia. Tormenta juris permissione: tortura e processo penal na
pennsula ibrica (sculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Revan, 2006.
SABINO JNIOR, Vicente. Direito penal: parte geral. V. 1. So Paulo: Sugestes
Literrias S.A., 1967.
SAMPAIO, Nelson de Sousa. O indivduo e o direito penal do futuro. Salvador:
Edies Forum, 1942.
SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da
retrica jurdica. Porto Alegre: Fabris, 1988.
SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. Curitiba: ICPC: Lumen Juris, 2006.
SRANAN, Snkara. Deus sem religio. Trad. Brazil Translations & Solutions. So
Paulo: Centro de Estudos Vida & Conscincia Editora, 2008.
SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. Hemenutica: arte e tcnica da interpretao.
Trad. Celso Reni Braida. Brgana Paulista: Universitria So Francisco, 2003.
SCHMITT, Carl. Teora de la constitucin. Madrid: Alianza Editorial, 1982.
SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de escrever. Trad. Pedro Sssekind. Porto Alegre:
L&PM, 2005.
SEARLE, John R. Expresso e significado. Trad. Ana Ceclia G. A. de Camargo; Ana
Luiza Marcondes Garcia. So Paulo: Martins Fontes, 1995.
226
______. Os actos de fala: um ensaio de filosofia da linguagem. Coimbra: Livraria
Almedina, 1981.
SILVA, Luciano Correia da. Direito e linguagem: teoria e prtica da comunicao
forense. Bauru, SP: Jalovi Ltda, 1979.
SILVA, Severino Celestino da. Analisando as tradues bblicas: refletindo a essncia
da mensagem bblica. 2. ed. Joo Pessoa: Ncleo Esprita Bom Samaritano, 2000.
SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteo constitucional liberdade religiosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008.
SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa. Curitiba: Juru,
2007.
SIQUEIRA, Galdino. Tratado de direito penal: parte geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Jos
Konfino, 1947.
SOARES, Orlando. Direito penal. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977.
SOUTO, Miguel Abel. Teorias de la pena y limites al ius punieni desde el estado
democrtico. Madrid: Dilex, S. L., 2006.
SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre as origens das filosofias do dilogo: algumas
aproximaes iniciais. In: GAUER, Ruth Maria Chitt (coord.). Sistema penal e violncia.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
STEIN, Ernildo. Dialtica e hermenutica: uma controvrsia sobre mtodo em filosofia.
In: HABERMAS, Jrgen. Dialtica e hermenutica: para a crtica da hermenutica de
Gadamer. Trad. lvaro Valls. Porto Alegre: L & PM, 1987.
SUN-TZU. A arte da guerra. Trad. do chins para o ingls: Samuel B. Griffith. Trad.
ingls para o portugus: Gilson Csar Cardoso de Sousa; Klauss Brandini Gerhardt. 3.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
SUXBERGER, Antnio Henrique Graciano. Legitimidade da interveno penal. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006.
TELES, Antnio Xavier. Introduo ao estudo de filosofia. 15. ed. So Paulo: tica,
1977.
TELES, Ney Moura. Direito Penal. So Paulo: Atlas, 1998.
______. Direito Penal: parte geral: arts. 1 a 120. V. 1. So Paulo: Atlas, 2004.
TISSOT, G. Le droit pnal tudi dans ses principes, dans ses usages et les lois
des divers peuples du monde ou introduction philosophique et historique a ltude
du droit criminel. 2. ed. Tomo I. Paris: Arthur Rousseau, 1879.
227
TOLEDO, Francisco de Assis. Princpios bsicos de direito penal: de acordo com a lei
n. 7.209, de 11-7-1984 e com a Constituio Federal de 1988. 5. ed. So Paulo: Saraiva,
1994.
TURNER, Ronaldo D. Introduo ao antigo testamento. V. 1. So Paulo: I.B.B.C.,
1987.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia
histrica. Trad. Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
VIEIRA, Celso. Defesa social: estudos jurdicos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1920.
VILANOVA, Lourival. As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo. So
Paulo: Max limonad, 1997.
______. Causalidade e relao no direito. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 1989.
VON LISZT, Franz. Tratado de direito penal alemo. Trad. Jos Higino Duarte Pereira.
Campinas: Rossell Editores, 2003.
WACQUANT, Loic. Punir os pobres: a nova gesto da misria nos Estados Unidos: a
onda punitiva. Trad. Srgio Lamaro. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
WARAT, Luis Alberto. O direito e a sua linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Srgio Antnio
Fabris, 1995.
WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick; JACKSON, Don D. Pragmtica da
comunicao humana: um estudo dos padres, patologias e paradoxos da interao.
Trad. lvaro Cabral. So Paulo: Cultrix, 2007.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaes filosficas. Trad. Marcos G. Montagnoli. 4.
ed. Petrpolis: Vozes, 2005.
______. Tractatus Logico-Philosophicus. Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner &
Co., 1947.
WOLKMER, Antonio Carlos. Introduo ao pensamento jurdico crtico. 5. ed. So
Paulo: Saraiva, 2006.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade
do sistema penal. Trad. Vnia Romano Pedrosa. Rio de Janeiro: Revan, 1991.
______. O inimigo no direito penal. Trad. Srgio Lamaro. Rio de Janeiro: Revan,
2007.
ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual de direito penal
brasileiro, v.1: parte geral. 6. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
ZUGALDA ESPINAR, J. M. Derecho penal: parte general. 2. ed. Valencia: T. B., 2004.
You might also like
- Judicialização Da Política e DemocraciaDocument183 pagesJudicialização Da Política e DemocraciaEduardo Silva100% (1)
- ALESSANDRO BARATTA Principios de Direito Penal MinimoDocument22 pagesALESSANDRO BARATTA Principios de Direito Penal MinimoMarcela Bastazini VanussiNo ratings yet
- Os Estilos de Liderança e As Principais TáticasDocument114 pagesOs Estilos de Liderança e As Principais TáticasRafael Santos LemosNo ratings yet
- Livro Modelo de GestãoU1Document59 pagesLivro Modelo de GestãoU1Joao De La Conceição33% (3)
- Resenha Criminologia Critica e Critica DDocument10 pagesResenha Criminologia Critica e Critica DsaviosquasherNo ratings yet
- A Democracia No Brasil - Fernando LimongiDocument25 pagesA Democracia No Brasil - Fernando LimongiIsabela RossinoNo ratings yet
- Oramentoplanodemarketing IPAMDocument18 pagesOramentoplanodemarketing IPAMSofia MartinsNo ratings yet
- O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, um enigma a ser decifrado: Percepções cognitivas na interpretação da normaFrom EverandO Novo Código de Processo Civil Brasileiro, um enigma a ser decifrado: Percepções cognitivas na interpretação da normaNo ratings yet
- Tese - Júpiter, Hércules, Hermes e A Efetivação Dos Direitos Sociais PDFDocument256 pagesTese - Júpiter, Hércules, Hermes e A Efetivação Dos Direitos Sociais PDFMaximusmarcellus MaximusmarcellusNo ratings yet
- Fichamento Direito e Democracia HabermasDocument24 pagesFichamento Direito e Democracia HabermasNatalia SilveiraNo ratings yet
- Os Processos de Legitimação para Criminalização e Punição de Condutas Lesivas Ao Meio Ambiente: Da Essencialidade Do Bem Jurídico Penal À Necessidade Da Pena Privativa de Liberdade para Sua ProteçãoDocument32 pagesOs Processos de Legitimação para Criminalização e Punição de Condutas Lesivas Ao Meio Ambiente: Da Essencialidade Do Bem Jurídico Penal À Necessidade Da Pena Privativa de Liberdade para Sua ProteçãoCLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃESNo ratings yet
- DP Dos Vulneráveis e Busca Por Reconhecimento - Texto Daniela Costa e Daniela BarretoDocument31 pagesDP Dos Vulneráveis e Busca Por Reconhecimento - Texto Daniela Costa e Daniela BarretoWesley SoaresNo ratings yet
- MCP Menezes8cDocument23 pagesMCP Menezes8cLUCAS ALECRIMNo ratings yet
- Prof. Rubens Correia Junior - Sistema Carcerário e Dessocialização PDFDocument14 pagesProf. Rubens Correia Junior - Sistema Carcerário e Dessocialização PDFRubens Correia JuniorNo ratings yet
- Contradições Entre As Bases Teóricas Da Medida de Segurança e Os Fundamentos Jurídico-Constitucionais Do Direito PenalDocument29 pagesContradições Entre As Bases Teóricas Da Medida de Segurança e Os Fundamentos Jurídico-Constitucionais Do Direito PenalCLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃESNo ratings yet
- Ilton Garcia Da Costa - 2020 - Caminhos para Mudanças - Diálogos Entre Criminologia, Abolicionismos Penais e Justiça RestaurativaDocument11 pagesIlton Garcia Da Costa - 2020 - Caminhos para Mudanças - Diálogos Entre Criminologia, Abolicionismos Penais e Justiça RestaurativaLuciana MirandaNo ratings yet
- Direito penal comparado na era da política criminal transnacionalDocument12 pagesDireito penal comparado na era da política criminal transnacionalThief Game BRNo ratings yet
- PAPER - Direito PenalDocument16 pagesPAPER - Direito PenalRico MartinsNo ratings yet
- A Construção Social Da CensuraDocument15 pagesA Construção Social Da CensuragersonlloboNo ratings yet
- Intertipicidade Penal - TeseDocument359 pagesIntertipicidade Penal - TeseVieira SoaresNo ratings yet
- A Teoria da Democracia Deliberativa de HabermasDocument8 pagesA Teoria da Democracia Deliberativa de HabermasAndréNo ratings yet
- 1ºP - CriminologiaDocument5 pages1ºP - Criminologiaajuliana.schneiderNo ratings yet
- As Alternativas As Penas e As Medidas SocioedutivasDocument31 pagesAs Alternativas As Penas e As Medidas Socioedutivaspaulo AlvesNo ratings yet
- Brandariz, José Angel "Gerencialismo y Políticas Penales"Document30 pagesBrandariz, José Angel "Gerencialismo y Políticas Penales"Marcelo VegaNo ratings yet
- Jürgen Habermas A Esfera Pública No Processo Democrático deDocument148 pagesJürgen Habermas A Esfera Pública No Processo Democrático delaura_fisica7340No ratings yet
- A responsabilidade segundo Claus Roxin: estudos preliminaresDocument20 pagesA responsabilidade segundo Claus Roxin: estudos preliminaresrasrmNo ratings yet
- Projeto Capes CNJDocument67 pagesProjeto Capes CNJCarolina Costa FerreiraNo ratings yet
- Dicionário - Direito PenalDocument5 pagesDicionário - Direito PenalAnonymous YkWZM20ZNo ratings yet
- Os Processos de Descriminalização e Os Critérios de Valoração Da Norma Jurídica - Validade, Eficácia e JustiçaDocument30 pagesOs Processos de Descriminalização e Os Critérios de Valoração Da Norma Jurídica - Validade, Eficácia e JustiçajobeenNo ratings yet
- Punição e Penas Restritivas de Direito: disputa da racionalidade penal modernaFrom EverandPunição e Penas Restritivas de Direito: disputa da racionalidade penal modernaNo ratings yet
- Aplicação do princípio da intervenção mínima e da inexigibilidade de conduta diversa nos crimes de deserção cometidos por bombeiros militares sob influência da dependência químicaDocument23 pagesAplicação do princípio da intervenção mínima e da inexigibilidade de conduta diversa nos crimes de deserção cometidos por bombeiros militares sob influência da dependência químicaJuly RodriguedNo ratings yet
- Direitos Humanos e Política de Drogas Uma Análise Do Uso Funcional Do Ideário Tradicional de Direitos para Justificar ADocument25 pagesDireitos Humanos e Política de Drogas Uma Análise Do Uso Funcional Do Ideário Tradicional de Direitos para Justificar Atiago loyolaNo ratings yet
- CienciaConjuntaDireitoPenal SínteseDocument4 pagesCienciaConjuntaDireitoPenal SínteseJuliana FitasNo ratings yet
- Falsos Bens Juri769dicosDocument24 pagesFalsos Bens Juri769dicosBrendo GomesNo ratings yet
- Direito Penal dos Vulneráveis: uma análise crítica da busca por reconhecimentoDocument27 pagesDireito Penal dos Vulneráveis: uma análise crítica da busca por reconhecimentoAna FernandesNo ratings yet
- A Tensão Entre Faticidade e Validade No Direito Segundo Habermas - Aylton DurãoDocument18 pagesA Tensão Entre Faticidade e Validade No Direito Segundo Habermas - Aylton DurãoMateus Barbosa Gomes AbreuNo ratings yet
- Dialnet UnSistemaPenalEnUnEstadoPretendidamenteSocialYEnUn 4020202Document13 pagesDialnet UnSistemaPenalEnUnEstadoPretendidamenteSocialYEnUn 4020202pizarrofrancisca287No ratings yet
- Tutela penal dos bens jurídicos supraindividuaisDocument35 pagesTutela penal dos bens jurídicos supraindividuaisFran FariasNo ratings yet
- Direito nas sociedades humanasDocument3 pagesDireito nas sociedades humanasÉgon FreireNo ratings yet
- Movimentos de Politica Criminal e EnsinoDocument23 pagesMovimentos de Politica Criminal e EnsinoMarcos MeloNo ratings yet
- Jairo Qualificação 03 PDFDocument76 pagesJairo Qualificação 03 PDFjairomouraNo ratings yet
- A Fundamentação Democrática Do Direito em HabermasDocument21 pagesA Fundamentação Democrática Do Direito em Habermashrnr9nvknhNo ratings yet
- CIDADES, SEGURANÇA PÚBLICA E URBANISMO: Um Novo Olhar Sobre Políticas Públicas Inclusivas.Document28 pagesCIDADES, SEGURANÇA PÚBLICA E URBANISMO: Um Novo Olhar Sobre Políticas Públicas Inclusivas.CLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃESNo ratings yet
- Juvencio, TESAURO JURÍDICO E VULNERABILIDADE SIGNIFICADOS E POSSIBILIDADES A PARTIR DO PROCESSO DE INDEXAÇDocument18 pagesJuvencio, TESAURO JURÍDICO E VULNERABILIDADE SIGNIFICADOS E POSSIBILIDADES A PARTIR DO PROCESSO DE INDEXAÇGiulia TeixeiraNo ratings yet
- Artigo A Figura Astuta Da Igualdade No Discurso Da Justiça RestaurativaDocument13 pagesArtigo A Figura Astuta Da Igualdade No Discurso Da Justiça RestaurativaChristian SouzaNo ratings yet
- Direito Penal I - ramo do direitoDocument3 pagesDireito Penal I - ramo do direitoCandyNo ratings yet
- Mídias e Discursos Do Poder: A Legitimação Discursiva Do Processo de Encarceramento Da Juventude Pobre No BrasilDocument542 pagesMídias e Discursos Do Poder: A Legitimação Discursiva Do Processo de Encarceramento Da Juventude Pobre No BrasilKoala LumpurNo ratings yet
- Claudia Mansani Queda de ToledoDocument142 pagesClaudia Mansani Queda de ToledoTacio Lorran SilvaNo ratings yet
- Os penalistas e a ditadura civil-militarDocument413 pagesOs penalistas e a ditadura civil-militarPatrick CacicedoNo ratings yet
- Aspectos da tipicidade penal a partir da filosofia da informaçãoDocument24 pagesAspectos da tipicidade penal a partir da filosofia da informaçãoFábio CapelaNo ratings yet
- CONPEDI ARGENTINA Artigo Constitucionalismo Compensatorio AndreGontijo RodrigoEspiucaDocument20 pagesCONPEDI ARGENTINA Artigo Constitucionalismo Compensatorio AndreGontijo RodrigoEspiucaAndre PiresNo ratings yet
- Texzto 1 11artigo1FINAL - Layout - 1Document20 pagesTexzto 1 11artigo1FINAL - Layout - 1Utsch FabianoNo ratings yet
- A Relação Entre Política Jurídica e A Nova Hermenêutica JurídicaDocument28 pagesA Relação Entre Política Jurídica e A Nova Hermenêutica JurídicaCheila OliveiraNo ratings yet
- A Autonomia Da Perícia Criminal Oficial No Âmbito Da Polícia Federal: Percepções e Reflexões Dos Profissionais Do Sistema de Justiça CriminalDocument169 pagesA Autonomia Da Perícia Criminal Oficial No Âmbito Da Polícia Federal: Percepções e Reflexões Dos Profissionais Do Sistema de Justiça CriminalmarcogccondeNo ratings yet
- Jozuel - Versão FinalDocument22 pagesJozuel - Versão FinalCassius SoaresNo ratings yet
- Administração de Conflitos, Espaço Público e Cidadania Uma Perspectiva Comparada Civitas - Roberto de Lima KantDocument7 pagesAdministração de Conflitos, Espaço Público e Cidadania Uma Perspectiva Comparada Civitas - Roberto de Lima KantIván AuSiNo ratings yet
- A Interface Entre A Mediacao e A Justica RestauratDocument20 pagesA Interface Entre A Mediacao e A Justica RestauratSilvia Araújo MartinsNo ratings yet
- Direito Penal e SociedadeDocument18 pagesDireito Penal e SociedadeRPMNo ratings yet
- O Direito e A Ciência Econômica A Possibilidade Interdisciplinar Na Contemporânea Teoria Geral Do DireitoDocument20 pagesO Direito e A Ciência Econômica A Possibilidade Interdisciplinar Na Contemporânea Teoria Geral Do DireitoMrlechuga20No ratings yet
- Dissertação - ALESSANDRA MATOS PORTELLA - Usuario Ou TraficanteDocument101 pagesDissertação - ALESSANDRA MATOS PORTELLA - Usuario Ou TraficanteMarcelo MalvezziNo ratings yet
- A impugnação do direito de propriedade como direito fundamentalDocument108 pagesA impugnação do direito de propriedade como direito fundamentalNaila FortesNo ratings yet
- A Justiça Restaurativa como Cultura de Paz nas EscolasDocument19 pagesA Justiça Restaurativa como Cultura de Paz nas EscolasClaudio LenteNo ratings yet
- Prova de Direito Desportivo - Prof. AssedDocument7 pagesProva de Direito Desportivo - Prof. AssedIsabela RossinoNo ratings yet
- Apires-A Racionalidade PenalDocument22 pagesApires-A Racionalidade Penalapi-31947947No ratings yet
- Karl Engish, Introdução Ao Pensamento JurídicoDocument283 pagesKarl Engish, Introdução Ao Pensamento JurídicootaviogremistaNo ratings yet
- Tratado de Direito Privado - 262 - 277Document37 pagesTratado de Direito Privado - 262 - 277Isabela RossinoNo ratings yet
- Karl Engish, Introdução Ao Pensamento JurídicoDocument283 pagesKarl Engish, Introdução Ao Pensamento JurídicootaviogremistaNo ratings yet
- Codigo de AberturasDocument6 pagesCodigo de AberturasJoao PencaNo ratings yet
- Atendimento Ao Cliente Como Diferencial CompetitivoDocument41 pagesAtendimento Ao Cliente Como Diferencial CompetitivoSalles ExpressoNo ratings yet
- Avaliação Formativa - RessignificandoDocument19 pagesAvaliação Formativa - RessignificandoramosandreNo ratings yet
- Filosofia 2o Ciclo PDFDocument43 pagesFilosofia 2o Ciclo PDFCassimo Aiuba AbudoNo ratings yet
- Projetos NobresDocument3 pagesProjetos NobresNoel Jose PereiraNo ratings yet
- Segmentação e posicionamento de mercadoDocument46 pagesSegmentação e posicionamento de mercadoEduardo FernandesNo ratings yet
- Influência dos Pares na Prevenção da Violência no NamoroDocument14 pagesInfluência dos Pares na Prevenção da Violência no NamoroManuela LinsNo ratings yet
- Estudo Da Viabilidade Econômico-Financeira de Uma Farmácia Na Região PDFDocument44 pagesEstudo Da Viabilidade Econômico-Financeira de Uma Farmácia Na Região PDFjackelineconsecah100% (1)
- Manual de Normatização Da Intermediação de Mão de Obra - ImoDocument59 pagesManual de Normatização Da Intermediação de Mão de Obra - ImoJosé Carlos DE Paiva SantosNo ratings yet
- Ecotourism DevelopmentDocument92 pagesEcotourism DevelopmentCeicinha SilvaNo ratings yet
- ADM PúBLICA EM EXERCICIOS TCU AULA 05 PDFDocument85 pagesADM PúBLICA EM EXERCICIOS TCU AULA 05 PDFrsilva14bimtzNo ratings yet
- ESte ÉDocument19 pagesESte ÉDenilson AluizioNo ratings yet
- Projeto básico para formação de soldados da PM de PE em 2015Document69 pagesProjeto básico para formação de soldados da PM de PE em 2015José Medeiros100% (1)
- 1518092378553Document7 pages1518092378553Mateus RodriguesNo ratings yet
- Resenha sobre o livro O Manifesto de Medição de DesempenhoDocument2 pagesResenha sobre o livro O Manifesto de Medição de DesempenhoPaulo VictorNo ratings yet
- Texto IntegralDocument144 pagesTexto IntegralmayconnevesNo ratings yet
- Reflexões Sobre Cultura e Comunicação No Contexto OrganizacionalDocument11 pagesReflexões Sobre Cultura e Comunicação No Contexto OrganizacionalMichelliNo ratings yet
- Dissertacao Ricardo LuzDocument182 pagesDissertacao Ricardo LuzGilson Luis Salomão MacielNo ratings yet
- Apostila STM CompletaDocument49 pagesApostila STM CompletaIsmael LealNo ratings yet
- Disciplinas EconômicasDocument19 pagesDisciplinas EconômicasChristyan OssamuNo ratings yet
- ERP integra processosDocument14 pagesERP integra processosPaulo Wanderson MoraesNo ratings yet
- Deixar LegadoDocument2 pagesDeixar LegadoigorraphaelNo ratings yet
- Carla Balganon - Consultora Jurídica e Gerente com experiência em vendasDocument2 pagesCarla Balganon - Consultora Jurídica e Gerente com experiência em vendasMarco OriguelaNo ratings yet
- Be5 17Document48 pagesBe5 17Sérgio SantanaNo ratings yet
- Teoria Da ContingênciaDocument30 pagesTeoria Da ContingênciaCicero LuizNo ratings yet
- Schauer - Capitulo 3Document24 pagesSchauer - Capitulo 3Letícia DantasNo ratings yet
- Orientações Reuniões Intercalares 10 (1) 10 07Document3 pagesOrientações Reuniões Intercalares 10 (1) 10 07orlandocorreia100% (1)