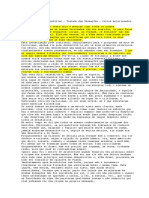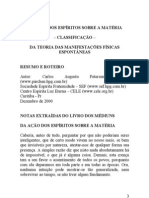Professional Documents
Culture Documents
Fatos Do Espírito Humano - Gonçalves de Magalhães
Uploaded by
Alexandre NormandiaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Fatos Do Espírito Humano - Gonçalves de Magalhães
Uploaded by
Alexandre NormandiaCopyright:
Available Formats
Fatos do esprito humano - cap.
XV
D. J. Gonalves de Magalhes
Texto extrado da edio mais recente, e crtica, de Fatos do esprito humano (Petrpolis: Vozes,
2004, pp. 347-376).
Notas ao fim do texto.
Captulo XV
Da corporeidade. Causa da permanncia na ordem das percepes. Resposta a uma observao de
Leibniz. Porque criou Deus os espritos humanos. O que limita o poder do homem. Da ordem social
existente. Possibilidade de qualquer outra ordem social. Convenincia de uma sociedade livre.
Tudo se compreende com a liberdade humana. Conciliao da liberdade com a prescincia divina.
Deus est presente ordem social. Moralidade dos nossos atos. Motivo das nossas aes.
Refutao da teoria do interesse individual. Fim moral do homem. A virtude mais fcil do que
parece. Sentimentos morais. O dever. Imortalidade da alma.
Trato de compreender a ordem universal de todas as coisas, e explic-la a mim mesmo sem
hiptese, e no invento para o meu prazer uma teoria abstrata, procurando fora harmoniz-la
em todas as suas partes, para dar-lhe essa beleza ideal da unidade, com que aspiram os grandes
engenhos a selar as suas obras. Parto de fatos reconhecidos por todos os filsofos das mais
contrrias escolas, e por todos aqueles que possuem qualquer conhecimento geral das coisas da
natureza; invoco o testemunho de todas as cincias no suspeitas de metafsica e de misticismo;
procuro os princpios, as demonstraes e concluses de todas as teorias as mais antagonistas, o
que elas afirmam, e o que negam sistematicamente, e o que sem querer confessam, pela eficcia
da verdade, que reluz em todas as teorias, mesmo naquelas que a desconhecem; como brilha a luz
atravs do nevoeiro que a encobre.
No por falta de inteligncia que deixamos s vezes de reconhecer a verdade, mas por
deficincia de ateno, o que depende da vontade; e muitas vezes por um falso preconceito, que
nos faz duvidar da evidncia s por parecer contrria ao nosso modo habitual de entender, e a
certos princpios que fabricamos por uma anlise incompleta, e uma induo precipitada. Custa-
nos muito no meio, ou no fim da vida, renovar as nossas idias, como o mudar de linguagem, e
reformar os nossos costumes. Assim, no h verdade em cincia alguma, no h fato novo, achado
pelo trabalho assduo de alguns espritos, que no fosse, e no seja combatido por mil juzos
antecipados. Outras vezes, no podendo conciliar fatos que nos parecem contrrios ao que
sabemos, negamos hoje o que afirmamos ontem, damos agora como causa o que antes
reconhecemos ser efeito, ou desacorooados duvidamos de tudo; o que tambm um erro,
porque infalivelmente alguma coisa verdade sem a menor dvida para o esprito humano, a
comear pela sua prpria existncia.
Do que at aqui fica demonstrado podemos concluir que este universo sensvel uma
reverberao do universo intelectual, que existe no pensamento de Deus, e que se corporiza para
ns pelo reflexo das nossas intuies e sensaes: que essas sensaes no so qualidades de
nenhuma substncia finita, e atmica, mas simples sinais dos movimentos dos pensamentos de
Deus, que por elas se nos tornam sensveis; do mesmo modo que se nos fosse possvel perceber
por meio de sensaes todos os atos de qualquer esprito humano, eles nos pareceriam
movimentos rpidos, e os seus pensamentos nos pareceriam objetos corpreos.
Se deixasse a inteligncia eterna de pensar este universo, ele desapareceria todo em um
momento, e dele no ficaria um s tomo.
Os objetos dos nossos sonhos se esvaecem quando se abrem os sentidos, porque, sendo meras
reverberaes dos nossos pensamentos imitados, s para ns existem quando os ideamos, e nada
fora de ns os sustenta, e os percebe; nem lhes pode dar permanncia a nossa vontade limitada.
Mas sendo este universo sensvel um reflexo fora de ns dos pensamentos de Deus, os quais
intuitivamente percebemos, esse Ser eterno que o concebeu lhe d durao, e faz que
constantemente nos afete.
A fora vital sensvel que organiza, e todas as foras, ou leis da natureza, so volies,
determinaes do Ser eterno; e o que chamamos substncia material simplesmente a vontade
de Deus, que sustenta os seus prprios pensamentos, ou criaes intelectuais. A verdadeira
substncia, o verdadeiro e nico Ser o esprito infinito que tudo sabe e tudo pode, e que
pensando e querendo, criou todo o universo.
Neste sentido entendo o sublime pensamento de Leibniz falando de Deus:
"Seu entendimento a origem das essncias, e a sua vontade a origem das existncias. Eis em
poucas palavras a prova de um Deus nico, com suas perfeies, e por ele a origem das coisas" [1].
Para que possamos bem compreender o que so os objetos que percebemos, e o espao mesmo
em que se eles movem, e como tudo est na inteligncia divina, sem existncia substancial fora
dela, imaginemos agora muitos homens dormindo em uma estncia, e todos sonhando
diversamente; uns representando cidades; outros, bosques; outros, mares, etc. Todas estas
espcies se lhes antolham ao mesmo tempo; e nesse estreito lugar onde os vemos imveis e
dormindo, se movem eles intelectualmente, e viajam por pases vastos e diversos, contemplando
milhares de coisas que nos so invisveis; de modo que esses espritos por virtude prpria criam
momentaneamente no s as coisas que imaginam, como tambm o espao em que elas se
movem.
Mas, em vez de ser muitos espritos humanos que sonham, um s esprito infinito, uma s
inteligncia eterna, ou s Deus quem tudo pensou e pensa; e ns, espritos finitos, percebemos
uma parte dos seus mesmos pensamentos, sem intermdio algum; porque todos os supostos
intermdios so outros tantos pensamentos de Deus, que percebemos ou concebemos.
Assim que o espao mesmo infinito est no esprito infinito que o concebeu, bem como todas as
coisas que no espao percebemos; e esse espao infinito est na inteligncia eterna, no como ns
o representamos, mas como em ns est o poder de imaginar, de idear, e de querer.
No parecer agora extravagante pensamento se dissermos que o esprito no est no corpo e no
espao, mas sim que o corpo e o espao esto intelectualmente no esprito, ou perante o esprito.
Ns percebemos o nosso corpo com as mesmas condies que nos servem na percepo de
qualquer outro corpo; a sensibilidade que a ele nos prende, isto , os pensamentos e as sensaes
que o representam, no lhe do outro ser, outras qualidades alm daquelas que pelas intuies e
sensaes lhe atribumos. O nosso corpo est para ns como para ele est a sua efgie refletida em
um espelho, onde ele no est realmente; e quando queremos ver o que se acha no nosso rosto,
olhamos para o espelho, e a o vemos. A figura que se nos antolha no espelho nada mais do que
o segundo reflexo da nossa percepo. Se por uma alucinao se apresentar ao meu esprito uma
imagem do meu corpo bem diversa da que tenho agora, eu verei no espelho essa imagem
presente minha fantasia, e no aquela que eu reputava antes ser o aspecto verdadeiro do meu
corpo; e como o corpo um efeito de uma srie de idias refletidas por ns, mas no por ns
inventadas, qualquer alterao na ordem da sucesso desses sinais produzir um novo corpo, ou
uma nova forma e qualidades.
Se no estado normal o efeito corpreo das nossas percepes parece o mesmo e real para todos,
porque a srie dessas idias que produzem o corpo, e os corpos, se refletem em todos os espritos
do mesmo modo, tendo elas sido todas pensadas por uma s inteligncia suprema.
Lembra-me agora a este respeito uma observao de Leibniz.
"Creio que o verdadeiro critrio em matria dos objetos dos sentidos a ligao dos fenmenos
[...] E a ligao dos fenmenos, que afiana as verdades de fato relativamente s coisas sensveis
fora de ns, se verifica por meio das verdades de razo; como as aparncias da ptica se
esclarecem pela geometria. Entretanto devemos confessar que no de supremo grau toda essa
certeza, como bem o reconheceu o nosso autor [Locke]; porque no impossvel,
metafisicamente falando, que haja um sonho seguido e durvel, como a vida de um homem; mas
uma coisa to contrria razo, como o seria a fico de um livro que se formasse por acaso,
atirando-se confusamente os caracteres de uma tipografia. De resto, verdade tambm que,
contanto se liguem os fenmenos, pouco importa lhes chamemos sonhos ou no; pois que a
experincia mostra que no nos iludimos nas medidas que tomamos em relao a esses
fenmenos" [2].
Aceitando este reparo de um dos primeiros sbios do mundo como uma objeo, que nos poderia
ser apresentada, respondemos, que essa possibilidade metafsica no contrria razo; pois que
a razo e a experincia mostram que essa possibilidade o fato, no produzido por acaso, como a
hiptese do livro, sem que nenhuma inteligncia pusesse em devida ordem os baralhados tipos,
mas sim pela unidade da inteligncia suprema, que coordenou os sinais que servem aos homens,
sinais que em dadas condies lhes apresentam um mundo uniforme e permanente, e em outras
condies, quando reproduzidos s pela nossa vontade criadora, nos exibem um mundo
passageiro, vrio e ilusrio.
Se at aqui dissemos alguma coisa que parea estar em contradio com o que afirmamos neste e
no ltimo captulo, porque julgamos conveniente caminhar pouco a pouco, e falar
sucessivamente a linguagem conhecida de cada cincia que invocvamos em nosso socorro; como
quem, subindo uma escada, de degrau em degrau se apia, at que, chegando ao topo, se mostra
na extremidade oposta ao ponto de que partira.
Deixemos agora o corpo, que fsica e metafisicamente falando sabemos o que , e tratemos do
esprito, e da sua existncia em Deus.
certo que se todas as coisas esto intelectualmente em Deus, e nos espritos, porque fora de
Deus e dos espritos no h lugar para coisa alguma, de necessidade o esprito humano est em
Deus. Mas o esprito humano no um simples pensamento da inteligncia eterna que, sem
conhecer-se, se mova por determinaes necessrias; que s exista intelectualmente em Deus, ou
como objeto para outros espritos, do mesmo modo que o corpo existe para ns.
O esprito tem conscincia de si; na sua inteligncia se refletem os pensamentos de Deus; ele
procura compreend-los, delibera, e obra por si mesmo. Essa conscincia e liberdade lhe do uma
individualidade real, a posse de si mesmo, e ele diz eu, e realmente existe; e quer o constitusse
Deus com o seu prprio ser, quer lhe desse um ser anlogo ao seu, de ambos os modos ele se
conhece pela sua prpria conscincia, e se distingue da conscincia eterna e universal, bem como
da conscincia de todos os espritos seus irmos. Por essa conscincia individual, e por seus
prprios atos, que ele se julga, e julgado; que goza, ou padece; que se queixa, ou se aplaude;
que virtuoso, ou culpado; no tanto pelo que faz, como pela inteno com que o faz; porque na
inteno est a virtude para Deus.
A inteligncia divina seria a nica e solitria espectadora dos seus belos pensamentos, se no
houvesse outras inteligncias que os percebessem, e onde eles se refletissem. Incompleta fora sua
obra, se tendo Deus pensado a ordem social, e a virtude no meio de todos os contrastes, e seres
livres que a executassem, no desse a esses seres da sua inteligncia uma existncia real, uma
conscincia prpria, e uma verdadeira liberdade.
O fato que existimos.
Criando-nos Deus para saber e poder, no absolutamente como ele, mas relativamente ao que
pusesse nossa disposio, deu-nos todas as condies essenciais do ser imagem sua: a durao
idntica, atestada pela conscincia e pela memria; a inteligncia e a liberdade, e por conseguinte
a posse de ns mesmos, e a faculdade de inventar, testemunhada pelas cincias progressivas, e
por todas as nossas obras, e pelos sonhos.
O que limita o nosso poder o corpo animal, essa imagem, esse complexo de fenmenos
sensveis, sujeito a leis necessrias, independentes da nossa vontade, que demanda
imperiosamente a nossa ateno, e involuntariamente se ope s nossas determinaes. O corpo
no nos foi dado como uma condio de saber e de querer, mas como uma sujeio que
coarctasse esse poder livre, de que abusaramos, chamando-nos vida prtica. Sem esse corpo,
sem as relaes sensveis com outros espritos, e com os objetos pensados por Deus, e postos ao
nosso alcance, no poderamos efetuar as intuies puras de justia, de dever, de virtude e do
belo no meio de todas as lutas da liberdade e da inteligncia, de que a histria, essa conscincia
do gnero humano, conserva a lembrana para nosso ensino. S com esta triste condio
poderamos ser entes morais. Essa a nossa glria, e o nosso bem. S tem liberdade neste mundo
quem inteligente; s tem inteligncia quem livre, e obra por si mesmo; e quem tem
inteligncia e liberdade tem conscincia de si mesmo, de necessidade um ente moral.
Podia Deus sem dvida criar uma sociedade de espritos puros, no obrigados a coisa alguma, no
sujeitos menor dor, seres anglicos que vivessem em uma eterna bem-aventurana, s
contemplando as maravilhas do seu criador. Mas qual seria o mrito desses espritos para tanta
ventura? Necessita Deus de admiradores inteis? Pois que se nos apresenta este pensamento,
quem dir que no seja esse soberano bem o prmio final que nos espera?
Mas voltemos ao nosso estado atual, que s por ele chegaremos a prever o nosso futuro.
Concebemos que a vida humana e a ordem social podiam ser melhores do que so; que no
estivssemos sujeitos a tantas aflies e enfermidades; que fssemos todos bons e belos; que no
necessitssemos de to rudes trabalhos para esta vida transitria; que justas fossem todas as
nossas inclinaes; que no houvesse dios e guerras; que Deus mesmo nos governasse. Mas o
que seria ento a liberdade humana, se estivesse inteiramente subjugada a instintos naturais?
Qual seria o nosso mrito, se nenhum obstculo se nos apresentasse? O que seria a virtude, se a
no praticssemos com algum esforo, vencendo as dificuldades e os vcios com que nos opomos
uns aos outros? Qual seria a nossa cincia, quais as nossas artes, a nossa indstria, se as
necessidades, as privaes e as misrias humanas, a que chamamos males fsicos e morais, no
nos instigassem a uma contnua atividade livre, a um trabalho incessante?
Mas demos que desaparecessem todas as virtudes, e todas as cincias, desaparecendo todas as
suas ocasies, todos os vcios, e todos os males humanos. Mesmo assim essa sociedade de
mquinas vivas, pouco mais ou menos como a das abelhas, impossvel seria com a inteligncia e a
liberdade; porque bastariam estas duas condies para que cada indivduo pensasse, discorresse,
e quisesse ordenar as coisas a seu jeito; e cada qual pensando, e querendo operar a seu grado,
no haveria acordo, no haveria sociedade, seria a guerra o estado permanente, e viveriam os
homens em um estado muito pior do que o atual. Supondo porm uma sociedade de entes sem
liberdade, sem virtudes nem vcios, sem bens nem males, todos de acordo e uniformes
obedecendo a uma s vontade sempre justa; uma tal sociedade possvel, e talvez exista em
qualquer outro sistema planetrio; mas sendo tambm possvel uma sociedade de homens livres,
que no exclui a outra, nem por ela excluda, esta sociedade existe de fato no nosso planeta, e
dela somos membros, livres graas a Deus, a fim de que sejamos justos por ns mesmos, virtuosos
e sbios pelos nossos prprios esforos, e no um rebanho de mquinas, obedecendo cegamente
a uma vontade soberana.
Afonso X, rei de Castela, denominado o Astrnomo, no satisfeito talvez com o sistema de
Ptolomeu, adotado no seu tempo, que ainda ento no tinham aparecido Coprnico, Kepler e
Galileu para esclarec-lo, dizia que se Deus o tivesse consultado quando criou o mundo, melhor o
teria ordenado. Se o presumido monarca, apesar da sua cincia astronmica, ignorava com que
sabedoria havia Deus regulado o movimento dos astros, mais ignorava ainda a ordem das coisas
humanas, e a arte de governar um Estado; porque descontentes os povos, seu prprio filho
Sancho IV o expulsou do trono.
Com a inteligncia, a liberdade, e a vida futura compreendemos o homem, a ordem social, a
virtude e o vcio, o bem e o mal; sem a inteligncia, sem a liberdade, sem vida futura tudo
obscuro, tudo incompreensvel, tudo absurdo no homem, e na ordem social.
Quem nega a liberdade humana cai em uma contradio manifesta; porque, negando-a, prova que
sabe o que liberdade; que quis, e deixou de querer alguma coisa em oposio outra; que fez
esforos para resistir; que pensou sobre os meios de subtrair-se necessidade; que foi livre na sua
resoluo, na sua inteno, no seu querer, e que s deixou de executar o que livremente quis,
porque a execuo depende de coisas estranhas sua livre vontade. Se esse poder de efetuar
fosse tanto como o de querer, imagine-se que ordem haveria neste mundo! Aniquilada estaria a
espcie humana, ou seria a Terra um verdadeiro vale de lgrimas. A liberdade de muitos s era
possvel com algum elemento fatal, que os reunisse, e os harmonizasse; e a coexistncia da
liberdade e da necessidade prova que tudo foi previsto e ordenado com maior sabedoria que a
ordem de todo esse imenso universo. E como de fato existe esta harmonia da liberdade e da
necessidade, nenhuma dificuldade temos de admitir o livre-arbtrio, e a prescincia divina.
Este grande problema da conciliao do livre-arbtrio e da prescincia divina, to discutido pelos
maiores telogos e filsofos cristos, tem sido explicado por modos diversos, mas no resolvido.
Uns, reconhecendo o livre-arbtrio, negam como incompatvel a prescincia divina. Outros,
julgando impossvel que Deus ignore o que os homens tm de fazer, sacrificam a liberdade
oniscincia do Eterno. Outros enfim, admitindo ambas as coisas como certas, procuram ajustar as
duas verdades, sem contudo satisfazerem completamente.
Eu creio que, reconhecendo-se bem no que consiste o livre-arbtrio, distinguindo-o do elemento
fatal e previsto que lhe resiste, e da oposio mesma de todas as vontades livres que se
combatem, coordenam e harmonizam perante a razo absoluta e a necessidade das coisas que
no dependem da nossa vontade, possa tudo estar previsto, sem que deixem os homens de ser
livres.
Para o mrito do homem, para a sua virtude, basta a inteno com que ele livremente faz o que
deve fazer, ou se ope, sem que possa subtrair-se necessidade: e essa liberdade de resoluo, e
o seu mrito, so tanto maiores quanto ele ignora o que h de acontecer, e se atribui a
determinao e a execuo. Pode Deus ter previsto todos os acontecimentos, e para que sejamos
livres, para que tenhamos o mrito e a responsabilidade dos nossos atos, basta que no determine
ele todas as nossas resolues e volies, que sero anuladas umas pelas outras, diante da
necessidade prevista que ignoramos, e da razo que consultamos.
Suponhamos que no tivesse Deus previsto um acontecimento, uma revoluo qualquer feita
pelos homens para derrubar uma m administrao, e estabelecer uma nova ordem, segundo o
seu entender. Determinar-se-iam uns a combater, outros a defender; lutariam, e triunfariam os
primeiros pelos esforos que fizessem, pela indstria que empregassem, pelos meios que
achassem ao seu alcance. Teriam esses homens obrado livremente, teriam conscincia de suas
livres determinaes, acreditariam que sem eles no se faria a revoluo, atribuir-se-iam o
resultado, a glria dos seus feitos, e estabeleceriam afinal um novo governo, e uma nova
organizao dependente das circunstncias. Seriam livres neste caso os atos desses homens? E por
qu? Sem dvida por terem feito o que quiseram, segundo as suas posses. Suponhamos agora que
tudo estava previsto por algum; teriam esses homens feito as mesmas coisas, obrado do mesmo
modo, empregado os mesmos meios, segundo as diversas contingncias, seria idntico o
resultado; deixariam eles por isso de ter procedido livremente? Teriam sido cegos instrumentos,
por causa dessa previso que ignoravam, e que no influiu nas suas deliberaes e
determinaes? Cremos que no. Muitas coisas prevemos ns quase como infalveis, e
empregamos contudo recursos imensos para evit-las, sem que o consigamos. Livres somos nos
nossos esforos, e o que h de ser acontece, no por ter sido previsto e determinado, mas como
uma conseqncia natural da luta da liberdade contra a necessidade.
Deus est presente ordem social; ele no a deixou entregue merc da vontade caprichosa de
alguns homens; ele previu tudo, e deixando toda a liberdade ao esprito humano para pensar e
determinar-se como quisesse, obrigou-o pela razo e pelo corpo a conformar-se ordem
providencial dos seus infalveis planos, para o maior bem das suas criaturas, filhos da sua
predileo, em quem reflete os seus pensamentos. Ele saber premiar a todos, segundo as suas
obras, com uma justia igual sabedoria sem fim que se patenteia em todas as coisas.
No podemos deixar de aceitar as condies da nossa existncia neste mundo; a razo nos
aconselha a conformarmo-nos voluntariamente aos sbios decretos da Providncia sempre justa;
e a lei da necessidade, representada pelos fenmenos da sensibilidade e pela ordem mais
conveniente de todas as coisas, a despeito nosso, nos obriga e arrasta. Se nos revoltamos s vezes
contra a razo que nos aconselha, e a necessidade que nos constrange, porque temos a
conscincia de que somos livres, seno nem tal pensamento de revolta nos viria. Todos os nossos
juzos sobre o bem e o mal, sobre o justo e o injusto, sobre o mrito e o demrito, sobre Deus e os
homens, provam essa liberdade; a educao, a moral, a legislao, a religio e a ordem social o
provam. Que importa tudo esteja previsto, se essa previso nos deixa livre a conscincia, e
ignoramos o que h de acontecer? No sabemos todos que havemos de morrer? Quem o duvida?
Mas a incerteza do dia da morte, em que ningum pensa, deixa a todos livre campo a mil projetos
at o fatal momento. Ns devemos praticar como se nada estivesse providenciado; como se
tivssemos a faculdade de mudar inteiramente a ordem das coisas; como se s de ns dependesse
o nosso estado, e outro pudesse ter sido o nosso passado. Essa ignorncia do que tem de
acontecer nos d uma inteira liberdade nos nossos juzos, deliberaes e resolues, e perfeita
moralidade aos nossos atos. A fatalidade nas coisas humanas no se apresenta como razo e
motivo das nossas determinaes, seno como um efeito, um resultado delas.
No compreendemos s vezes as coisas por as considerarmos separadamente, sem todas as suas
relaes; mas ns vemos que todos os fenmenos, todos os fatos do universo, todos os
acontecimentos inteligveis, e sensveis se encadeiam admiravelmente, e assim parecem sair uns
dos outros, como uma srie interminvel de causas e efeitos; bem que tudo dependa de uma s
causa eterna. Essa razo absoluta de tudo, esse princpio permanente que incessantemente opera,
esse poder patente em todas as coisas, essa sabedoria infinita, esse Deus invisivelmente presente
a todas as inteligncias, e que se revela na imensidade dos mundos, e no modo maravilhoso por
que percebemos os seus pensamentos, por tal modo ordenou todas as coisas em relao aos
espritos, que nada deixa de ter uma causa final. Se um ser no pode obrar livremente sem ter
conscincia de si, sem o conhecimento do que pode e deve fazer, essa liberdade, essa conscincia,
essa inteligncia, inseparveis, quer altere, quer no altere a ordem das coisas, deve
infalivelmente ter um fim previsto e certo. Se essa liberdade d moralidade ao ato, essa
moralidade no pode ser intil, sem mrito algum, sem servir para alguma coisa.
Com efeito, a conscincia de todos os homens liga o prmio ao mrito e moralidade da ao
livre, e no condena o que obra sem inteligncia e liberdade. Se assim julgam naturalmente todos
os homens em relao uns aos outros, e a todas as coisas, assim devemos julgar de ns mesmos
em relao a Deus; porque ele a justia infalvel, a verdade mesma, que nos faz pensar deste
modo.
Mas como daremos verdadeira moralidade aos nossos atos? Quais os princpios por onde nos
devemos guiar nas nossas resolues? Como homens, como cidados, como membros da grande
famlia humana, como criaturas de Deus, necessitando de tudo o que nos cerca, achamo-nos a
cada instante em relaes diversas, e muitas vezes vacilantes nas nossas resolues. O que
faremos? Deixar-nos-emos arrastar impassveis pelas circunstncias, e pela fatal necessidade? Mas
ainda assim, levados pela torrente, vamos julgando, resolvendo, aplaudindo a nossa sorte, ou
protestando contra ela, e acusando de injusta a ordem dos acontecimentos. A inteligncia e a
liberdade no se resignam sem esforo a esse fatalismo maometano, mais em palavras que em
obras; como no deixa a sensibilidade de produzir a dor, se nos retalham o corpo.
Tomaremos ns por guia a sensibilidade? Procuraremos somente aquilo que nos possa causar
prazer, e evitaremos tudo o que nos cause alguma dor, segundo o princpio da escola cirenaica?
Mas essas sensaes, pelas quais involuntria e instintivamente se movem os animais, no nos
impedem que muitas vezes com inteligncia e vontade suportemos dolorosas operaes para
salvar a vida, e mesmo para livrar-nos de algum pequeno defeito que enfeia o corpo, sem arriscar
a sua existncia, e sem causar-nos a menor dor; e todos julgam que obramos bem, quando
suportamos todas essas dores, quando tomamos remdios que nos causam as mais repugnantes
sensaes, quando nos entregamos a grandes e penosos trabalhos do esprito, ou do corpo, com
algum fim qualquer que parea razovel.
Devemos talvez guiar-nos pelo princpio do interesse individual, proposto pelo sensualismo;
motivo to desprezvel conscincia mesma dos que o seguem, que com o ttulo de egosta
infamam quem por ele parece determinar-se?
Esse princpio do interesse individual, bem ou mal entendido, depende de um clculo, supe
inteligncia e vontade, e o desprezo da dor e dos males presentes, na esperana de um maior
gozo, e de um maior interesse. Qual esse maior interesse, que no o prazer, e o interesse atual,
momentneo? Haver pois para ns um interesse real e positivo, pelo qual devamos sacrificar
outros muitos interesses, os nossos cmodos presentes, e os nossos prazeres?
Qual ser esse interesse individual bem entendido, que nos impe alguns sacrifcios? Ser tudo o
que quisermos, e o que julgarmos ser da nossa maior convenincia? Se algum julgar que o seu
maior interesse ser rico a todo custo, para gozar como deseja; se assentar que para isso lhe
necessrio roubar pelo comrcio, ou por qualquer outro modo, ou matar com todas as precaues
um parente, amigo, ou estranho, e ir depois deleitar-se em pas longnquo, onde seja considerado
e estimado pela sua riqueza; ser isso justamente o que ele deve fazer, no seu interesse? Se um
pai de famlia julgar em algum momento de perigo que o seu principal interesse salvar-se antes
de tudo, e deixar sua mulher e seus tenros filhos expostos: justamente isso o que ele deve fazer?
Se um prncipe cuidar que o seu maior interesse, a sua verdadeira glria, consiste em governar
despoticamente a seu bel-prazer, sem a menor oposio; e si para sua segurana, assentar de
organizar um grande exrcito, assalariar mercenrios, mandar prender e matar os homens
inteligentes que no queiram submeter-se sua tirania, escoltar-se de vis aduladores: far bem
esse prncipe? Assim que deve obrar? O miservel escritor que, calculando as vantagens
pecunirias e sociais que poder fruir do seu mesquinho talento, assentar que o verdadeiro
vender a sua pena a um partido, ou profan-la escrevendo infmias e calnias, ou falsas doutrinas
que desmoralizem e prejudiquem os homens: far o que deve, recolhendo o vil salrio que
esperava? No haver pois nem bem nem mal, nem justo nem injusto, nem virtude nem crime,
nem belo nem feio, nem til nem intil? Ser tudo indiferente? Tudo o mesmo? E s ser
moralmente til o que parecer a cada um de sua maior utilidade? Quem ousar dizer que sim em
sua conscincia?
Se h pois alguma coisa verdadeiramente til, independentemente do prazer e da dor, de toda
qualquer paixo, de qualquer vontade, de qualquer clculo de interesse, h por conseguinte
alguma coisa que seja absolutamente boa, justa e verdadeira, que nos impe o dever de procur-
la por ela mesma, e no pelo prazer ou interesse particular. Temos pois um bem, um soberano
bem, que deve ser o fim de todas as nossas determinaes, e um dever rigoroso, absoluto de
procur-lo, e de realiz-lo, apesar de todos os sacrifcios, e de todos os clculos de interesse, sob
pena de sermos imorais e corruptos se o no fizermos.
A resoluo e a ao sero verdadeiramente morais aos olhos de Deus, e da nossa conscincia,
quando, reconhecendo ns esse bem, essa verdade, essa justia absoluta, que Deus mesmo que
se nos apresenta relativamente a todas as coisas, a praticarmos com a inteno nica de cumprir o
nosso dever, sem outro qualquer motivo, ou qualquer outro fim.
Podemos ser heris, justos, caridosos aos olhos dos homens, praticando atos de bravura,
administrando a justia, e dando esmolas aos pobres. quanto basta s vezes para o mundo, que
no penetra as nossas ambiciosas intenes, e ainda bem; mas no basta para a perfeita
moralidade da ao; e se os homens descobrem que no praticamos o bem por um princpio de
dever; que procuramos a glria, a recompensa, a fama, a considerao; eles deixam de admirar-
nos, e como a nossa prpria conscincia, como Deus mesmo, nos dizem: fostes movidos por um
sentimento de vaidade, de ambio, e de egosmo; nada fizestes por dever, e por amor do bem;
acertastes nos vossos clculos, tanto melhor; mas se no acertsseis, ter-vos-eis arrependido do
que fizestes. Se porm tivsseis obrado por amor do bem, qualquer que fosse o resultado, no
tereis remorsos, nem arrependimento, e a conscincia vos diria: fiz o que devia, e continuarei a
fazer o que devo, qualquer que seja o resultado.
No se arriscar porm a enganar-se o homem tomando por bom e justo o que na realidade for
mau e injusto? Quantos fanticos religiosos e polticos, quantos ignorantes inflamados por
perversos conselheiros, ou por falsos princpios, cuidam cumprir o seu dever, praticando atos
repreensveis e criminosos?
Ns distinguimos a inteno justa, pura de todo o clculo de interesse individual, inteno que d
o verdadeiro carter de moralidade ao, da ao em si mesma, que pode ser boa ou m
independentemente do motivo moral que a determina. Considerando separadamente a ao, no
duvido afirmar que, exceo dos casos de rematada doidice, todos os atos dos fanticos polticos
e religiosos, todos os crimes praticados neste mundo no tiveram outra causa seno o clculo do
interesse individual, e paixes egosticas, e no o motivo puro de dever, com o fim de fazer o bem.
Esses criminosos, esses malvados no ignoravam o que o bem, e quais os seus deveres.
Hipcritas, que nem o ttulo mereceis de fanticos; serpentes, raa de vboras, segundo a frase do
Evangelho, que sois como sepulcros ornados por fora, e cheios por dentro de podrides e
imundcies; ambiciosos de bens terrenos, que matastes com fogo e ferro, e roubando, e mentindo,
negastes a verdade aos homens; dizei, qual foi o motivo dos vossos crimes? Foi o amor do bem?
foi algum princpio de dever? Ignorveis a santa doutrina de amor e caridade, to recomendada
por Jesus Cristo, que vos disse: Meu reino no deste mundo? Hipcritas! H porventura a menor
conformidade entre os vossos atos infames e a verdade que sabeis e conculcais, e o dever que vos
impe o vosso ministrio? Foi o dever, ou o vil interesse individual que vos guiou, e vos guia? Foi o
desejo do mando, do poder, dos palcios, do luxo, e das suntuosidades do mundo. Vs sereis
capazes de derramar a impiedade sobre a Terra, de revoltar os homens contra o santo, o honesto,
e o justo, se esses sentimentos no fossem nos coraes dos homens mais fortes, mais poderosos
que as vossas iniquidades.
Que os homens infelizmente obram s vezes por clculos de interesse, por motivos de prazer, ou
dominados por paixes violentas, quem o nega? Mas dar isso moralidade e beleza aos seus atos,
e pureza s suas intenes? Ou no somos ns entes morais e sociais? Para que a inteligncia e a
liberdade? Sero para estar em servio dos apetites, das paixes, e do clculo de interesses
individuais? Necessitam o corpo e as paixes de um ente moral que como escravo as sirva? No
teremos outros deveres, outro fim seno cuidar cada um no que lhe convm? Ser a nossa prpria
individualidade o nico objeto do nosso culto, dos nossos clculos, e do nosso interesse?
Deveremos tudo fazer por amor de ns mesmos? No, mil vezes no. A teoria do sensualismo e do
materialismo to falsa em moral como em psicologia, e no somente falsa como princpio, seno
tambm falsa e desmentida pela prtica. O homem muito superior pintura que dele fazem, e
mais fcil a virtude do que parece. Essa moral repugnante dos Helvetius, essa prfida poltica dos
Maquiavis, esse abjeto despotismo da fora dos Hobbes, so stiras e sarcasmos humanidade,
e no coisas que lhe convenham. Elas s servem para ridiculizar e embrutecer o homem,
deslustrar a virtude, entronizar o vcio, e corromper os governos. No nos hospitais, e nos
ptridos cadveres que se estuda a natureza humana; ela a se mostra em parte, mas enferma,
corrupta, ou morta.
O homem antes um ente social, do que individual. Desde o momento em que aparecemos neste
mundo at aquele em que o deixamos, a cada instante dependemos e necessitamos da sociedade;
nela vivemos, por ela e para ela nos instrumos; todos nela pensam, e trabalham por ns e para
ns; como ns por ela e para ela: a mesma razo nos ilumina a todos; a nossa conscincia por
assim dizer a conscincia da sociedade; e mais vezes a consultamos do que a ns mesmo. A
inteligncia, a vontade, o amor, a paternidade, a amizade, a caridade, o herosmo, as intuies
puras do bem, do belo, e do justo, todas as cincias, todas as artes belas, todas as indstrias, a
sade e a enfermidade, tudo nos conduz sociedade, ou dela nos vem, como um fluxo e refluxo
contnuo de um s elemento.
O homem um ente moral, porque social, e social, porque moral; as duas relaes constituem
um s fato. Naturais, ou voluntrios, diretos ou indiretos, todos os nossos atos, ns todos para a
sociedade nos convergimos; no por um contrato, no por um princpio de interesse individual,
mas por uma lei da Providncia, pela razo mesma de sermos homens. Nenhum rgo do nosso
corpo feito por si, e para si mesmo; todos so feitos por uma s fora vital, e para um mesmo
corpo vivo; ainda que paream trabalhar separadamente, todos trabalham em comum e para
todos. Assim somos ns para a sociedade; ela o nosso verdadeiro corpo moral.
Podemos dizer que o fim particular do homem neste mundo merecer na sociedade pela prtica
da virtude, e o seu fim geral a perfeio da sociedade pela prtica da justia. Moralmente
falando, o ato bom, justo e belo, se serve para a conservao e perfeio da sociedade; e a
inteno pura e meritria, se tende ao mesmo fim. A inteno imoral, e sem mrito algum, se
o egosmo, o amor prprio determinou o ato.
Sendo o homem perfeitamente moral, ser tambm perfeitamente religioso, segundo a letra e o
esprito do Evangelho, que s nos ensina o amor da verdade, e a prtica do bem e da caridade;
no por um clculo de interesse individual na esperana de um prmio futuro, mas pela firme
vontade de obedecer justia divina pela sua prpria perfeio, quando mesmo no fosse certo o
prmio.
Tudo o que tende perfeio da sociedade nos moraliza, e nos eleva a Deus; e s ama a Deus
quem ama o prximo.
Todos julgam da bondade do ato, porque o que aparece; e no da inteno, que s presente a
Deus e conscincia. A inteno ser pura, e o ato infalivelmente bom, se no nos determinarmos
por nenhum motivo de interesse prprio. Podemos pois, quanto bondade do ato, guiar-nos pelo
juzo da sociedade; porque nela brilha a mesma razo que nos aclara. Mas como s bom o que
verdade, e a verdade o fruto da nossa inteligncia desenvolvida pela cultura de todas as cincias,
no meio da sociedade, e com os seus prprios socorros, o dever moral dos sinceros cultores da
cincia comunicar a todos o que eles julgam ser verdade, ainda que ela seja contrria opinio
geral. Mas esse dever lhes no d o direito algum de impor a verdade por meio da fora. A
sociedade livre como a nossa conscincia, e livre deve governar-se para que se aperfeioe; essa
liberdade dever ser respeitada, quando ela no tende ao mal.
Scrates no duvidou ensinar a verdade, e a morrer por ela sem resistncia, apesar de sua
convico, e de ser ela contrria ordem social em que vivia; e o gnero humano o admira por
isso. Mais perfeito e belo exemplo nos deu o Divino Mestre, praticando o que nos ensinou,
sacrificando-se por todos, e recomendando aos seus discpulos que pacificamente espalhassem a
verdade sem ferro nem fogo. Morramos pela verdade se for necessrio; mas no matemos por
ela, que no h verdade alguma que nos d o direito de matar.
O fim moral do homem o fim mesmo da sociedade, e de todo o gnero humano, o
aperfeioamento de todos conjuntamente. O nico instrumento humano dessa perfeio a
nossa inteligncia, que tem por fim a verdade em todas as coisas, o conhecimento do que belo e
justo. Boas so todas as cincias, no s porque nos elevam a Deus, fazendo-nos conhecer as suas
obras, seno porque servem sociedade. Boas so todas as artes belas; porque, procurando
realizar a idia pura do belo, nos despertam esse nobre sentimento que tanto humaniza e
aperfeioa os homens. Boas so todas as indstrias; porque elas so aplicaes das cincias e das
artes, e tendem a melhorar as condies da existncia humana social; s imoral o que feio,
injusto e mau, o que nos desvia da verdade e de Deus.
A prtica do dever e da virtude, independente de toda a inteno boa ou m, de todos os clculos
do interesse individual, no to difcil como parece. O autor de tudo nos indicou todos os nossos
deveres com um cuidado incessante, e facilitou-nos com grande profuso todos os meios de
satisfaz-los.
O que convm ao corpo nos anunciado pelos apetites e desejos peridicos, que no dependem
de clculo algum, e cuja satisfao natural nos do prazeres, e pode dar-nos algum mrito,
combatendo-os quando desordenados, e tendentes a embrutecer-nos.
Deixando os apetites e desejos puramente animais, todos os sentimentos morais, que j
dependem de um conhecimento do esprito, e que sem essa intuio no seriam sentimentos, nos
levam aprazivelmente sociedade e prtica da virtude, e nos abrem um vasto campo ao mrito,
moderando-os pelo conhecimento do bem, e combatendo os sentimentos contrrios, que
devemos considerar como enfermidades do esprito, como sejam o dio, a clera, e o desejo da
vingana.
Todos os belos sentimentos morais nos tiram de ns, e nos conduzem sociedade,
particularizando-a pela famlia, os amigos, os conhecidos, os cidados ilustres e benemritos, e a
ptria; e com o bem de todos nos regozijamos! A glria da nossa ptria a nossa prpria glria.
Que sacrifcios no somos ns capazes de fazer por este doce nome de ptria! Como palpita o
corao do proscrito ao pronunci-lo! Com que lgrimas de amor e de reconhecimento
contemplamos o heri que a defende, o poeta que a canta, e o sbio que a ilustra, sem que o
menor clculo de interesse determine os nossos atos e o nosso juzo sobre o mrito dos cidados
que a enchem de glria!
Se me perguntarem por que amamos a ptria ainda que ingrata seja, por que amamos os filhos e
os amigos; eu no acharei outra resposta seno: porque o nosso dever; porque ningum foi
feito para amar-se a si mesmo, mas para amar a todos, e a tudo o que bom, justo e belo.
Se samos destes sentimentos que particularizam as nossas afeies morais, e as nossas simpatias;
se entramos no domnio da inteligncia pura; encontramos o amor da verdade, o amor do justo, e
o amor do belo, que nos fazem cidados do mundo; e ainda mais nos esquecemos de ns mesmos
e dos nossos interesses individuais, procurando a verdade, o justo e o belo, na ptria e longe dela,
em todos os tempos, em todos os povos, admirando sem interesse algum Homero, Virglio,
Scrates, Plato, Aristides, Epaminondas, Marco Aurlio, Rafael, Miguel ngelo e Washington.
Por este amor puramente intelectual, o esprito de todo se universaliza, e vive mais para
contemplar a verdade com todos os espritos, do que para si mesmo; mais para admirar, do que
para gozar; e quanto mais universal e abstrata a idia, tanto mais ele capaz de sacrificar-se por
ela. E quais so os gozos egosticos, os interesses individuais que o esprito procura em troco das
privaes, dos prazeres sensuais, de tantas viglias, de tantos incmodos, da pobreza, do desprezo
dos homens, e de uma vida toda de sacrifcios, e at da morte? O ser chamado heri, sbio ou
poeta? Foi porventura por amor desses ttulos que centenares de ilustres espritos se sacrificaram,
e se deixaram flagelar, mutilar, e queimar neste mundo, sem a esperana mesmo que depois do
martrio e da morte lhes conferissem esse ttulo, posto em dvida pelos seus ingratos
contemporneos, e pelos injustos juzes? No; porque o homem no foi feito para si mesmo,
para amar-se a si mesmo; e por isso est sempre pronto para sacrificar-se pelos outros, por uma
idia, e por tudo o que no ele, e lhe parece ser o seu dever. Se dissermos ao jovem covarde,
que trata de fugir para se no prestar ao servio da ptria, que ele far bem no seu prprio
interesse de correr os perigos da guerra; que poder distinguir-se, e merecer grandes honras; ele
nos responder, que bem sabe o que do seu verdadeiro interesse; que no deseja a glria das
armas; que a sua vida mais preciosa, e que a no sacrificar inutilmente. Mas falemos de seus
pais, da sua ptria, do seu dever; e talvez um nobre pensamento acorde em sua alma, talvez
palpite o corao do covarde, tinja-lhe as faces o rubor da vergonha, e resoluto venha combater
por amor dos outros, e ser heri contra todos os clculos do egosmo.
Alguns coraes generosos parecem s vezes manifestar sentimentos de egosmo, lastimando a
ingratido dos seus contemporneos, como se por amor de vil prmio os servissem; assim se
queixam s vezes os heris e os poetas. Mas que a ingratido to feio e injusto proceder que
nos revolta, do mesmo modo que a perfdia, ainda que praticada seja contra um inimigo nosso.
Reprovamos o inquo comportamento que nos vexa, e continuamos a prestar-nos aos ingratos. Por
que desprezamos o avaro, dado que entesoure para ns? Porque a avareza denuncia a ausncia
do sentimento do belo, do bem e do justo.
Mas acima de todos esses amores puros da verdade, do justo, e do belo, quando considera o
esprito a sua prpria natureza, quando medita sobre essa noo de um Ser eterno e necessrio,
de uma causa absoluta, de um poder infinito unido a uma infinita sabedoria, que reunidas lhe do
a concepo de uma bondade incomparvel, e de uma perfeita beleza, que se revela em todas as
suas obras; quando ele compara com os atributos infinitos desse Ser a sua prpria inteligncia to
grande e to ilimitada, a sua prpria causalidade to forte e to circunscrita, o seu prprio ser to
real e presente, e to indefinvel; quando ele pela filosofia e a verdadeira religio se eleva a Deus,
e o acha por toda a parte, e tudo nele e por ele; o esprito cheio de santa admirao, e de um
espanto inefvel, em Deus se absorve, esquece-se de sua prpria individualidade, e no acha para
si outro ser alm daquele Ser infinito que lhe deu a conscincia; outra inteligncia seno aquela
que o ilumina; outro poder seno aquele que o dirige; e depois deste xtase que o purifica, ele
volta satisfeito os olhos a este mundo, que ento acha perfeito e belo, porque lhe revela a
oniscincia e a onipotncia de acordo para o bem; e na verdade s belo o que para o bem feito
com sabedoria e poder. E se antes sentia o homem alguma dificuldade, por amor de si, em
cumprir os seus deveres; se como forado cedia; se ainda esperava alguma recompensa do seu
sacrifcio; se ainda pensamentos egosticos se apresentavam aos seus clculos; agora a abnegao
de si completa; j no espera que se lhe apresente a ocasio para fazer o bem; ele a procura, e
se esfora para cumprir os seus deveres; e a sua nica vontade sacrificar-se por todos, e
conformar-se em tudo com as suas santas leis da Providncia.
O egosmo no uma lei do esprito humano, nem um sentimento natural; uma depravao,
uma enfermidade, proveniente da ausncia do sentimento do dever, ocasionada pelas
necessidades factcias do homem, ou das necessidades viciosas do corpo.
Se a vida do homem sobre a Terra um contnuo merecer; se um contnuo cumprimento de mil
deveres morais, que no tm os animais; se ele deve constantemente aperfeioar-se na sociedade
pelo conhecimento da verdade, e pela prtica do bem, do belo e do justo; esses deveres morais, e
a sua prpria natureza espiritual, lhe afianam uma existncia alm da campa.
incompatvel com a sabedoria, e a infinita bondade divina, que um ente espiritual que tem
deveres morais a cumprir neste mundo, para complemento dos altos desgnios do seu criador, seja
inutilmente condenado a tantos tormentos morais, a tantos sofrimentos fsicos pelos outros, e
pelo seu corpo; e depois de alguns anos de dores, de meditaes, de trabalhos, de sacrifcios, de
edificao e at do martrio, os que cumpriram os seus deveres, e os que no os cumpriram, os
bons e os maus, os justos e os injustos, os tiranos e as vtimas, voltem todos a um mesmo nada.
Se por um acaso incrvel, ou cega fatalidade, existisse toda esta ordem universal, toda esta
harmonia prodigiosa, intelectual, moral e fsica; ainda assim, por esse mesmo acaso, por essa
mesma cega fatalidade poderia ressurgir o ser que pensa em qualquer parte deste imenso
universo, e os bons e os maus terem destinos diferentes. Quando mesmo a conscincia da nossa
individualidade, e a memria dos nossos atos fossem meros fenmenos sensveis de uma
substncia qualquer, simples, ou organizada, essa mesma conscincia individual, essa mesma
memria poderia reaparecer em qualquer poro dessa substncia, como para ns renascem as
sensaes; e essa conscincia, em qualquer parte que revivesse, poderia achar-se em melhores,
ou piores condies, em relao aos seus atos passados, e ao bem, e ao mal de que se acusasse.
Que impossibilidade h nessa durao e imortalidade da conscincia individual? No me conheo
eu hoje o mesmo que era h quarenta anos, tendo crescido o meu corpo, e tendo-se renovado
continuamente de modo tal que no h nele uma s molcula com que veio luz do dia? Por que
no poderei eu, psicologicamente falando, existir quando a outros olhos parecer este corpo sem
mim? Quando por falta de um rgo no possa o esprito dizer aos que prantearam em torno
deste esplio: Eu aqui estou, liberto pela morte desse fantasma, sobre o qual ainda chorais!
Por que no poderamos ns ter existido no seio de Deus, ou mesmo neste mundo, como o
supunha Pitgoras, antes de revestir-nos do corpo atual? Por que no poderamos ter perdido a
memria dos nossos atos passados, a fim de livre e meritoriamente cumpramos alguma misso?
Lembramo-nos porventura do que fizemos nos primeiros anos desta vida transitria? Ns vemos
uma criana nos braos maternos, ou ensaiar jubilosa os seus primeiros passos sobre a terra, e
temos por esse modo a certeza que pelo mesmo estado passamos. Mas quem se recorda dos seus
primeiros esforos para caminhar e falar, dos seus primeiros discursos, das coisas que viu, das
dores que padeceu na sua terna infncia? Entretanto que vida to agitada e to cheia de
comoes como a da criana? Que impossibilidade h pois que, por um sbio desgnio da
Providncia, tenhamos perdido a lembrana da nossa passada existncia?
Este mistrio que cobre o nosso estado anterior igual ao que envolve a origem do gnero
humano, e ao esquecimento da nossa puercia, apesar de v-la reproduzida em nossos filhos. Mas
decerto no comeou o gnero humano por um casal de crianas, produzidas uma vez por acaso
pela terra, e lanadas a toa em bravio bosque, entregues sua inexperincia, e abandonadas ao
que acontecesse. Ns subimos com os anais dos povos ao nebuloso Oriente, esse bero
inescrutvel da espcie humana, e deparamos com as runas de todos os elementos de uma
civilizao gigantesca, e no descobrimos essa barbaria, esse fabuloso estado selvagem que vemos
no meio de ns, no meio da nossa incompleta civilizao; como ramos secos de uma rvore
frondosa, cados por terra ao p do tronco, ou arrojados para longe por um cataclismo. E alm no
passa a histria da humanidade. A civilizao filha da civilizao; eis tudo o que sabemos; do
mesmo modo a inteligncia filha da inteligncia. Esse esquecimento do passado, e a dvida
sobre o futuro so to providenciais como toda a ordem do universo. Que impossibilidade h pois
que recobremos um dia essa memria completa dos diversos perodos da nossa vida inteira? Falo
como filsofo, trato da simples possibilidade, e no acho razo alguma que a isso se oponha; no
vejo nisso dificuldade alguma; e prescindindo de todas as provas psicolgicas e morais, j expostas
em seu favor, esta concepo certamente mais clara, mais inteligvel, mais razovel, mais
filosfica do que a de uma matria atmica, que tudo produz sem inteno, sem nada saber;
mesmo a inteligncia, mesmo a crena da existncia de Deus, sem que haja Deus; mesmo a
religiosidade, e a esperana de uma vida futura, sem que haja razo para isso.
Comdia horrvel seria este mundo; uma iluso sem causa este universo; a existncia humana uma
zombaria do nada, e tudo mentira, se no houvesse um Deus justo e bom! Os malvados teriam
razo por um mero acaso; no haveria verdade e justia nem na Terra, nem no cu!
Tranqilizemo-nos! O que absurdo no pode ser verdade. Deus existe; e o esprito humano
imortal com a sua conscincia.
Notas
[1] Essais sur la bont de Dieu, la libert de lhomme et lorigine du mal I, 7.
[2] Novos ensaios IV, II, 14.
You might also like
- Apostila Curso Flauta DoceDocument5 pagesApostila Curso Flauta DoceJoão Leonardo De Sousa LeonelNo ratings yet
- Ética e Relações Pessoais No Ambiente de TrabalhoDocument4 pagesÉtica e Relações Pessoais No Ambiente de TrabalhoMárcio NicoryNo ratings yet
- O Livro de Metatron e a Jornada à Quinta DimensãoDocument63 pagesO Livro de Metatron e a Jornada à Quinta DimensãoAntares OrionNo ratings yet
- Lei Universal Da Atração - Thomas TrowardDocument96 pagesLei Universal Da Atração - Thomas TrowardRayssaEulalia100% (1)
- As conferências de Edimburgo sobre a menteDocument66 pagesAs conferências de Edimburgo sobre a menteElainy Peres100% (1)
- Transcrição - Aula 03 - Cosmologia e Astrologia MedievalDocument13 pagesTranscrição - Aula 03 - Cosmologia e Astrologia MedievalSérgio HNINo ratings yet
- A filosofia islâmica segundo Mohammad Baquer AssadrDocument352 pagesA filosofia islâmica segundo Mohammad Baquer AssadrluizNo ratings yet
- Limiar Do Mundo Espiritual - Rudolf SteinerDocument42 pagesLimiar Do Mundo Espiritual - Rudolf Steinerjoabe_siNo ratings yet
- História das Artes MedievaisDocument2 pagesHistória das Artes MedievaisArquiteto e Eng. TSST Bombeiro civil Rafael Santos100% (3)
- Hermenêutica FilosóficaDocument152 pagesHermenêutica FilosóficaHermeneuticaDiscurso100% (2)
- Rudolf Steiner - Eterização Do SangueDocument13 pagesRudolf Steiner - Eterização Do SangueOkianStill100% (1)
- 7 Benzimentos PoderososDocument7 pages7 Benzimentos Poderososlina100% (1)
- Ecce Homo - Louis Claude de Saint-MartinDocument51 pagesEcce Homo - Louis Claude de Saint-MartinThamos de Tebas100% (4)
- Requisitos para Classe de AventureirosDocument1 pageRequisitos para Classe de AventureirosCamila OliveiraNo ratings yet
- Olodu IfáDocument78 pagesOlodu IfáAwosade Olaifa67% (3)
- A Sacerdotiza de MaioralDocument9 pagesA Sacerdotiza de Maioralzeneida gomes cardosoNo ratings yet
- Anjo Metatron - Livro de MetatronDocument63 pagesAnjo Metatron - Livro de Metatronpaulo ssNo ratings yet
- A Beleza e o Amor no Espírito OriginalDocument81 pagesA Beleza e o Amor no Espírito Originaljones ferreiraNo ratings yet
- A origem e evolução da arquitetura góticaDocument112 pagesA origem e evolução da arquitetura góticaAlexandre Galindo100% (1)
- DESCARTES. Objeções e RespostasDocument64 pagesDESCARTES. Objeções e RespostasSannabria100% (3)
- O Limiar Do Mundo EspiritualDocument34 pagesO Limiar Do Mundo Espiritualpaulonelson100% (1)
- Apostila Ifa DayiroDocument32 pagesApostila Ifa DayiroifadayiiroNo ratings yet
- Quadro Comparativo Das Teorias Do Conhecimento de Descartes e DDocument3 pagesQuadro Comparativo Das Teorias Do Conhecimento de Descartes e DSoninha lamasNo ratings yet
- A Eterização do SangueDocument12 pagesA Eterização do SanguemaestrolucianoNo ratings yet
- Ética e Moral em SpinozaDocument7 pagesÉtica e Moral em SpinozaRoberto BlattNo ratings yet
- Escola Estadual Manoela Soares Bicalho ensino fundamental e médioDocument4 pagesEscola Estadual Manoela Soares Bicalho ensino fundamental e médioROSANGELA VITOR SANTIAGONo ratings yet
- O Cosmo, o Homem e A CidadeDocument5 pagesO Cosmo, o Homem e A CidadeAlexandre NormandiaNo ratings yet
- 059 Pensamento e Vida - Emmanuel - Chico Xavier - Ano 1958Document73 pages059 Pensamento e Vida - Emmanuel - Chico Xavier - Ano 1958Mariany Bastos Hotz100% (1)
- Condillac - Origem dos Conhecimentos nos SentidosDocument11 pagesCondillac - Origem dos Conhecimentos nos SentidosRonaldo Rodrigues MoisesNo ratings yet
- Saint Martin - Ecce Homo PT PDFDocument28 pagesSaint Martin - Ecce Homo PT PDFjweblog2No ratings yet
- Texto Extraído de O Que É SemióticaDocument12 pagesTexto Extraído de O Que É SemióticaAnaNo ratings yet
- A Teoria Metafísica de George BerkeleyDocument4 pagesA Teoria Metafísica de George BerkeleyLuciano Soares100% (1)
- Da Ciência à Consciência CósmicaDocument6 pagesDa Ciência à Consciência CósmicaFilho adulto pais alcolatrasNo ratings yet
- Locke J. Ensaio Sobre o Entendimento Humano - Vol I Cap.8 Liv. II p.153-168Document16 pagesLocke J. Ensaio Sobre o Entendimento Humano - Vol I Cap.8 Liv. II p.153-168marialuapsNo ratings yet
- As Conferencias de EdimburgoDocument96 pagesAs Conferencias de EdimburgoveraA.No ratings yet
- Aula 038 RevisadaDocument26 pagesAula 038 RevisadaYuri SoaresNo ratings yet
- 3 Hume - Investigação Sobre o Entendimento Humano (Excertos)Document10 pages3 Hume - Investigação Sobre o Entendimento Humano (Excertos)Luis SantosNo ratings yet
- A influência de Descartes na concepção do eu na cultura ocidentalDocument4 pagesA influência de Descartes na concepção do eu na cultura ocidentalDiego VillelaNo ratings yet
- Chaves Da Gnose (Aula 169)Document8 pagesChaves Da Gnose (Aula 169)Gabriel FernandesNo ratings yet
- A Liturgia Do CompanheiroDocument18 pagesA Liturgia Do CompanheiroFlavioNo ratings yet
- Deus. Realidade Ou Mito PDFDocument118 pagesDeus. Realidade Ou Mito PDFValter Rosa BorgesNo ratings yet
- DAVIDHUMEDocument14 pagesDAVIDHUMEmaiaNo ratings yet
- Platão dualismo transcendência IdéiasDocument3 pagesPlatão dualismo transcendência IdéiasElliott SmithNo ratings yet
- A Relação Entre Sujeito e Objeto Na Capelania PrisionalDocument4 pagesA Relação Entre Sujeito e Objeto Na Capelania PrisionalmcmaquinasdecosturaNo ratings yet
- O princípio da dúvida de Descartes e o método racionalistaDocument37 pagesO princípio da dúvida de Descartes e o método racionalistatchitcho0138No ratings yet
- Monadologia, G. W. LeibnizDocument8 pagesMonadologia, G. W. Leibnizigor oliveiraNo ratings yet
- 134 Aula CofDocument17 pages134 Aula CofRoberto MirandaNo ratings yet
- 02 - Porque Um Livro (Para Dispositivo Móvel)Document13 pages02 - Porque Um Livro (Para Dispositivo Móvel)RonailsonNo ratings yet
- Aula 9 - A Fé e As Faculdades HumanasDocument8 pagesAula 9 - A Fé e As Faculdades HumanasRenzo GurgelNo ratings yet
- Da Ação Dos Espíritos Sobre A MatériaDocument25 pagesDa Ação Dos Espíritos Sobre A Matériaapi-19660409No ratings yet
- Introdução à Lógica e Tipos de ConhecimentoDocument59 pagesIntrodução à Lógica e Tipos de ConhecimentoSamaraSantiago100% (1)
- Pessach - AltaDocument10 pagesPessach - Altayairalon100% (2)
- Renascença Cinquecento: Seminário História Do Pensamento LiberalDocument14 pagesRenascença Cinquecento: Seminário História Do Pensamento LiberalJosue Souza DA SilvaNo ratings yet
- Resumos Kant, Nietzsche e DescartesDocument3 pagesResumos Kant, Nietzsche e DescartesLusan Silva PaivaNo ratings yet
- Conferencias de Edimburgo Sobre Ciencia Mental - THOMAS TROWARDDocument126 pagesConferencias de Edimburgo Sobre Ciencia Mental - THOMAS TROWARDJosiane Ritta Piedade dos SantosNo ratings yet
- Vicente Ferreira Da Silva - Uma Interpretação Do Sensível - Contra Os AcadêmicosDocument9 pagesVicente Ferreira Da Silva - Uma Interpretação Do Sensível - Contra Os AcadêmicosAugusto SoaresNo ratings yet
- John Locke - Ensaio Acerca Do To HumanoDocument5 pagesJohn Locke - Ensaio Acerca Do To HumanoVinícius dos SantosNo ratings yet
- A Sexta MeditaçãoDocument3 pagesA Sexta MeditaçãoAlessandro LadeiraNo ratings yet
- A fábrica de deuses: o universo e sua função essencial na filosofia de Henri BergsonFrom EverandA fábrica de deuses: o universo e sua função essencial na filosofia de Henri BergsonNo ratings yet
- A Natureza Humana em DescartesDocument9 pagesA Natureza Humana em DescartesJacson GuerraNo ratings yet
- 1Document5 pages1goliveiras1708No ratings yet
- Ideias, conhecimento e causalidade em Descartes e HumeDocument7 pagesIdeias, conhecimento e causalidade em Descartes e HumeLiliana MatosNo ratings yet
- O EU NA FILOSOFIA DE KANTDocument6 pagesO EU NA FILOSOFIA DE KANTRicardoAndréNo ratings yet
- Teorias de Platao, Descartes e HumeDocument5 pagesTeorias de Platao, Descartes e HumeMafalda Sofia GomesNo ratings yet
- HUME (Trechos)Document2 pagesHUME (Trechos)eudumalNo ratings yet
- As funções do Corpo CausalDocument6 pagesAs funções do Corpo CausalBruna SoaresNo ratings yet
- Slides Leila - ApresentaçãoDocument21 pagesSlides Leila - ApresentaçãoAlexandre NormandiaNo ratings yet
- Borrão MetafísicaDocument9 pagesBorrão MetafísicaAlexandre NormandiaNo ratings yet
- Relato de estágio em filosofiaDocument57 pagesRelato de estágio em filosofiaAilton BarretoNo ratings yet
- Plano de Aula Dezembro 02Document1 pagePlano de Aula Dezembro 02Alexandre NormandiaNo ratings yet
- Paidéia Dos SofistasDocument1 pagePaidéia Dos SofistasAlexandre NormandiaNo ratings yet
- Paidéia Dos SofistasDocument1 pagePaidéia Dos SofistasAlexandre NormandiaNo ratings yet
- (Livro) Mário Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce-Vol. 2Document5 pages(Livro) Mário Mascarenhas - Minha Doce Flauta Doce-Vol. 2Flávio SantosNo ratings yet
- Revista EspiritoLivre 013 Abril2010Document125 pagesRevista EspiritoLivre 013 Abril2010Debora AraujoNo ratings yet
- Guia Completo para Os NovatosDocument260 pagesGuia Completo para Os NovatosGustavo Henrique100% (1)
- Revista EspiritoLivre 013 Abril2010Document125 pagesRevista EspiritoLivre 013 Abril2010Debora AraujoNo ratings yet
- Currículo completo para vaga pretendidaDocument1 pageCurrículo completo para vaga pretendidaJacqueline NunislimaNo ratings yet
- 2 Servidao Humana SpinozaDocument17 pages2 Servidao Humana SpinozaAlexandre NormandiaNo ratings yet
- Aviso de Habilitação e Inabilitação - CP 01 - 14 - ETUFOR - CELDocument46 pagesAviso de Habilitação e Inabilitação - CP 01 - 14 - ETUFOR - CELAlexandre NormandiaNo ratings yet
- Gerencia de Projetos - Nov-2009Document91 pagesGerencia de Projetos - Nov-2009Alexandre NormandiaNo ratings yet
- Lei 8112 111290Document53 pagesLei 8112 111290Lorena Jucá WanderleyNo ratings yet
- Teoria Do ApegoDocument8 pagesTeoria Do ApegoAugusto AmbrozioNo ratings yet
- Dinamica CasaisDocument10 pagesDinamica CasaisMarcio RobertoNo ratings yet
- Os Céus Declaram A Glória de AdonaiDocument5 pagesOs Céus Declaram A Glória de AdonaiSi Gu Jo ConNo ratings yet
- A dimensão simbólica do pensamento humanoDocument9 pagesA dimensão simbólica do pensamento humanoLeandroFernandesDantasNo ratings yet
- Bênção da Irlanda - Arranjo musical e traduçãoDocument1 pageBênção da Irlanda - Arranjo musical e traduçãoHectorieNo ratings yet
- Cristo Quero Ser Instrumento - Frei Fabretti - PartituraDocument2 pagesCristo Quero Ser Instrumento - Frei Fabretti - PartituraPaula ParahybaNo ratings yet
- Estrategias de EvangelismoDocument11 pagesEstrategias de EvangelismoMarcia BrancoNo ratings yet
- Uma Abordagem sobre Números no Batuque do RSDocument136 pagesUma Abordagem sobre Números no Batuque do RSRomulo DuarteNo ratings yet
- Bibliografia Imigracao Colonizacao Alema RsDocument164 pagesBibliografia Imigracao Colonizacao Alema RsAle Müller Lyardet100% (1)
- Quamquam PluriesDocument8 pagesQuamquam PluriesDeposito da Fé da Igreja Católica Apostolica RomanaNo ratings yet
- D - D 5E - Ficha de Personagem Automática - Biblioteca ÉlficaDocument3 pagesD - D 5E - Ficha de Personagem Automática - Biblioteca ÉlficaIago Rocha PortoNo ratings yet
- Seis Atitudes de Um DiscipuladorDocument8 pagesSeis Atitudes de Um DiscipuladorPaulo SilvaNo ratings yet
- BLOCKMANS2002 Introdução À Europa Medieval 300-1550 PDFDocument609 pagesBLOCKMANS2002 Introdução À Europa Medieval 300-1550 PDFPedro AmaralNo ratings yet
- Pastores Das Assembleias de Deus - Do Apoliticismo Escatológico Ao Aparelhamento Moralista - Marina CorreaDocument26 pagesPastores Das Assembleias de Deus - Do Apoliticismo Escatológico Ao Aparelhamento Moralista - Marina CorreaGeiselNo ratings yet
- Dízimo: expressão de fé e gratidãoDocument8 pagesDízimo: expressão de fé e gratidãoDc Claudio Viana Gonçalves VianaNo ratings yet
- Ebl 06 Junho 23 - UnificadaDocument1 pageEbl 06 Junho 23 - UnificadaJonathan RodriguesNo ratings yet
- Grupo WhatsappDocument5 pagesGrupo WhatsappEDSON JUNORNo ratings yet
- MOVIMENTO NEGRO DE BASE RELIGIOSA: A Irmandade Do Rosário Dos Pretos Taynar de CássiaDocument16 pagesMOVIMENTO NEGRO DE BASE RELIGIOSA: A Irmandade Do Rosário Dos Pretos Taynar de CássiaCristiane DuarteNo ratings yet
- Umbanda - Espada de Ogum - EBÓS - ODÚ OSSÁ, ODU EJI ONILE, OBARA E OXÉ, ODU E ODI, ODU OFUM, ODU IKA, ODU DE OWARIM PDFDocument3 pagesUmbanda - Espada de Ogum - EBÓS - ODÚ OSSÁ, ODU EJI ONILE, OBARA E OXÉ, ODU E ODI, ODU OFUM, ODU IKA, ODU DE OWARIM PDFjoao_f_31No ratings yet
- Devocional - O Deus Que SurpreendeDocument4 pagesDevocional - O Deus Que SurpreendeArlei VelosoNo ratings yet