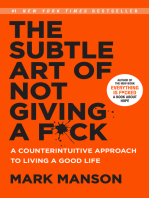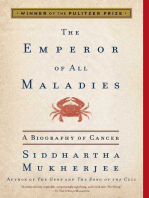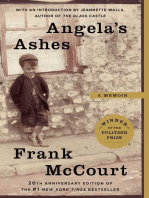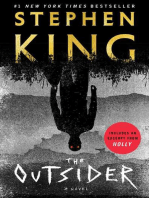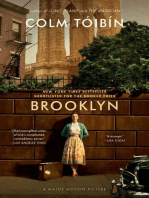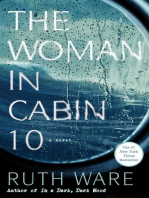Professional Documents
Culture Documents
Almeida-Filho-2004. SEM COMENTÁRIOS PDF
Uploaded by
Caroline Ferraz IgnacioOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Almeida-Filho-2004. SEM COMENTÁRIOS PDF
Uploaded by
Caroline Ferraz IgnacioCopyright:
Available Formats
865
A
R
T
I
G
O
A
R
T
I
C
L
E
Modelos de determinao social das doenas
crnicas no-transmissveis
Models of soci al determi nati on
of chroni c non-communi cable di seases
1
Instituto de Sade
Coletiva da Universidade
Federal da Bahia.
Rua Padre Feij 29/4
o
andar,
Campus Canela, 40210-
070, Salvador BA.
naomar@ufba.br
Naomar Almei da-Fi lho
1
Abstract This essay critically revises theoretical
frameworks and models of social determination
of chronic non-communicablediseases. Function-
alist sociology generated sociocultural models of
health that influenced the field of epidemiologic
investigation of so-called new morbidity(basi-
cally chronic and degenerative illnesses), later
contained under thegeneric label of stress theory.
Neo-durkheimian approaches of social inequali-
ties, based on thesocial capital concept, areana-
lyzed and theoretical uses of thelifestylenotion in
the health field are criticized. Models derived
from thedialectical materialism, grounded on the
concepts of labor and social class, are also dis-
cussed as they have turned quite influential in
Latin-American social epidemiology. Finally,
considering theoretical and conceptual gaps of
such partial theories in what concerns the sym-
bolic spaceof thesocial life, theconceptual bases
of an alternative theoretical focus: the theory of
modeof lifeand health. As a possiblesynthesis of
themodels object of this critical review, it is con-
sidered as especially suitablefor theelaboration of
epidemiologic models of social determination of
non-transmissiblechronic diseases.
Key words Chronic diseases, Social determina-
tion, Stress, Modeof life, Health inequities
Resumo Esteensaio revisa criticamentemarcos
referenciais e modelos tericos de determinao
social das chamadas Doenas Crnicas No-
Transmissveis. A sociologia funcionalista gerou
modelos socioculturais de sade que influencia-
ram o campo de investigao epidemiolgica da
chamada nova morbidade(basicamenteenfer-
midades crnicas edegenerativas), posteriormen-
te agrupados sob o rtulo genrico de Teoria do
Estresse. Analisam-seabordagens neodurkheimi-
anas das desigualdades sociais, baseadas no con-
ceito decapital social, criticando especialmenteos
usos quase-tericos da noo de estilo de vida
no campo da sade. Discutem-se ainda alguns
modelos derivados do materialismo dialtico que
setornaram bastanteinfluentes na epidemiologia
social latino-americana, com base nos conceitos
de trabalho e classe social. Finalmente, conside-
rando lacunas tericas econceituais dessas teorias
parciais no que diz respeito ao espao simblico
da vida social, apresentam-seas bases conceituais
deum enfoqueterico alternativo a teoria do
modo devida esade. Tomada como sntesepos-
svel dos modelos objeto desta reviso crtica, con-
sidera-seesta teoria como especialmenteindicada
para a elaborao demodelos epidemiolgicos de
determinao social de doenas crnicas no-
transmissveis.
Palavras-chave Doenas crnicas, Determina-
o social, Estresse, Modo devida, Iniqidades em
sade
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
866 866 866 866 866 866 866 866
Introduo
O objetivo deste texto revisar criticamente
abordagens correntes (marcos referenciais e mo-
delos tericos) do processo de determinao so-
cial das chamadas Doenas Crnicas No-Trans-
missveis, focalizando os principais modelos ex-
plicativos e seus respectivos marcos tericos. O
marco terico da sociologia funcionalista propi-
ciou a estruturao de modelos psicossociais de
sade, posteriormente agrupados sob o rtulo
genrico de Teoria do Estresse que influencia-
ram o nascente campo de investigao epide-
miolgica. Incluiremos neste item as atuais abor-
dagens neodurkheimianas das desigualdades
sociais e as teorias do capital social em sade,
criticando especialmente os usos quase-tericos
da noo de estilo de vida. Em segundo lugar,
discutiremos alguns modelos derivados do ma-
terialismo dialtico que se tornaram bastante in-
fluentes na epidemiologia social latino-america-
na, em especial aqueles baseados nos conceitos-
chave do marxismo clssico: processo de traba-
lho e estrutura de classes da sociedade.
A partir dessa anlise crtica, avaliaremos as
lacunas tericas e conceituais dessas teorias par-
ciais no que diz respeito aos domnios funda-
mentais da vida social: o simblico e a cotidia-
nidade. Para dar conta dessas lacunas, mais re-
centemente tem se proposto uma terceira abor-
dagem social da sade que se pode chamar de
epidemiologia do modo de vida, conforme
pretendemos esboar em A cincia da sade(Al-
meida Filho, 2000).
As referncias a essa linha terica tm sido
at agora tmidas e fugazes, sendo j tempo de
se buscar uma sistematizao, mesmo que inici-
al, dos elementos fundamentais dessa proposta.
Este justamente o contedo da parte final des-
te texto, onde pretendemos i ni ci almente de-
monstrar que o conceito modo de vida se arti-
cula organicamente ao arcabouo inacabado da
teoria social marxista, tendo sido desde o incio
utilizado (mas no suficientemente elaborado)
para enfocar as prticas sociais cotidianas. Em
segui da, apresentaremos algumas tentativas
precursoras e embrionrias de utilizao desta
categoria para a construo terica no campo
da sade coletiva, alm de propostas de teoriza-
o paralelas abordagem do modo de vi da e
sade, com base em concei tos anlogos ou
equivalentes como signos, significados e prti-
cas de sade e prticas de sade. Em conclu-
so, a partir da sntese de alguns elementos dos
modelos objeto desta reviso crtica e mediante
articulao dos trs circuitos dialticos funda-
mentais para a compreenso do processo sa-
de-enfermidade em sociedades concretas: o tra-
balho, a reproduo soci al e o modo de vi da,
apresentamos as bases conceituais de um enfo-
que terico alternativo a teoria do modo de
vida e sade especialmente adequado para a
elaborao de modelos epi demi olgi cos de
determi nao soci al das Doenas Crni cas
No-Transmissveis.
Modelos da epidemiologia
social norte-americana
Na segunda metade do sculo 20, macroteorias
de desenvolvimento econmico dominaram o
cenrio cientfico latino-americano, reforando
uma abordagem da sade fundamentalmente
como i nsumo para a formao do chamado
capital humano. A medicina preventiva, origi-
nalmente constituda como soluo ideolgica
para a crise estrutural do sistema de sade nor-
te-americano, apresentava-se ento como pro-
jeto de transformao da realidade sanitria da
Amrica Latina atravs da reforma pedaggica
do ensi no mdi co (Arouca, 1975). Data desta
poca a introduo do ensino da epidemiologia
no continente como uma das disciplinas bsi-
cas capazes de orientar uma atitude preventiva
diante dos agravos e problemas de sade.
Nas dcadas de 1960 e 1970, ocorreu um
grande esforo de construo terica na rea da
sade, desafiada pelo aumento relativo da cha-
mada nova morbidade, constituda basica-
mente por enfermidades crnicas e degenerati-
vas (Gonalves, 1990). Podemos citar principal-
mente os trabalhos de Ruel Stallones e Ren Du-
bos, buscando a elaborao de modelos ecolgi-
cos de sade-enfermidade especialmente foca-
dos em doenas transmissveis, e as contribui-
es de John Cassel e Leonard Syme, entre ou-
tros, no sentido de uma epidemiologia social das
Doenas Crnicas No-Transmissveis no qua-
dro de referncia do funcionalismo sociolgico
norte-americano. Analisaremos, em primeiro
lugar, os modelos tericos diretamente articula-
dos a este referencial. Dentre esses modelos, des-
tacam-se a teoria do estresse (Selye, 1956; Cas-
sel, 1974) e a teoria da mudana cultural em
sade (Barger, 1977). Apesar de articuladas em
seus conceitos fundamentais, trata-se de abor-
dagens bastante distintas enquanto a teoria do
estresse opera no mbito microssocial das rela-
es interpessoais, o outro enfoque ou conjunto
Figura 1
Modelo terico do estresse de Cassel.
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
867
de hipteses sobre as conseqncias das trans-
formaes sociais sobre a sade se refere ao n-
vel macrossocial das sociedades e das culturas.
A teori a do estresse deriva di retamente de
investigaes com animais, tendo sido formula-
da em suas condies atuais atravs dos traba-
lhos de Cannon e Selye, na dcada de 1930. De
acordo com o trabalho sistematizador de Cassel
(1974, 1976), para esta teoria, processos de ori-
gem social atuam principalmente como estres-
sores no-especficos, aumentando a suscetibi-
lidade de certos organismos diante de um est-
mulo nocivo direto (o agente), mediante altera-
es do si stema neuroendcri no. A teori a do
estresse tambm admite a determinao consti-
tucional de morbidade desencadeada por fato-
res biolgicos e ambientais, o que inclui doen-
as infecciosas e parasitrias. Os quadros clni-
cos derivados de tal processo no seriam mani-
festaes especfi cas de um ti po peculi ar de
estressor social, mas sim do agente microbiano
ou fsico-qumico ou da base gentica qual o
organi smo estava exposto. Para os pi onei ros
desta teori a, enquanto os agentes de doena
exercem um efeito patognico direto e unvoco,
danificando ou alterando a estrutura e funo
no plano tissular ou bioqumico, os estressores
operam indiretamente (ou condicionalmente)
em virtude da sua capacidade de agir na esfera
simblica (Hinkle Jr., 1973).
Os estressores podem ser de natureza indi-
vidual ou de natureza coletiva. O estressor indi-
vi dual pode atuar de modo agudo, com ao
equivalente ao que foi designado como even-
tos de vida, ou sob a forma de estresse crnico
(Dohrenwend & Dohrenwend, 1974). Os estres-
sores coletivos ou soci ai s i gualmente podem
implicar ao aguda, como as guerras e os de-
sastres naturais, ou ao crnica, por exemplo,
o chamado estresse social da opresso, da mi-
sri a e das desi gualdades soci ai s (James &
Kleinbaum, 1976).
Conforme a figura 1, os efeitos do estresse
podem ser di retos ou i ndi retos (Cassel, 1974,
1976). Os estressores podem diretamente deter-
mi nar quadros psi copatolgi cos (ansi edade,
depresses e somati zaes), comportamentos
de risco e, ainda no nvel biolgico, imunode-
presso. Sob medi ao de di ferentes graus de
vulnerabi li dade, estressores podem i ndi reta-
mente determi nar desde quadros mrbi dos
chamados classicamente de psicossomticos e
as Doenas Crni cas No-Transmi ssvei s, i n-
clui ndo nesta li sta quadros cardi ovasculares
(principalmente hipertenso arterial, acidentes
vasculares e i nfarto do mi ocrdi o), di abetes e
perturbaes gastroi ntesti nai s, at aci dentes,
sui cdi os, e, medi ante a queda da resi stnci a
imunitria, doenas infectocontagiosas e neo-
plasias.
Estressorsocial x percepo social do estresse
Estado de fight or flight x capacidade de coping
Sndrome de adaptao ao estresse Genoma
Doenas
Psicossomticas
Doenas Crnicas
No-Transmissveis
V
V
V
V
V
V
V
Vulnerabilidade
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
868 868 868 868
Para esta teoria, os estressores no diferem
em essncia dos seus antagonistas, os amortece-
dores (buffers), di sti no mai s na ordem do
contexto, significado e idiossincrasias dos sus-
cetvei s. Os amortecedores ou medi adores do
estresse reduziriam os efeitos nocivos agindo na
vulnerabilidade dos sujeitos. Isto poderia acon-
tecer, por um lado, com a mobilizao de recur-
sos externos, medi ante fatores generi camente
denominados de apoio social (Kaplan & Cassel,
1975; Kaplan et al., 1977; Broadhead et al.,
1983; Broadhead & Kaplan, 1991), basicamente
sob a forma de grupos de apoio e redes sociais.
Por outro lado, o aumento da resi stnci a dos
sujei tos em sua capaci dade para absorver ou
reagi r aos estressores pode ser expli cada pelo
uso de recursos pessoais (Kaplan, 1992), refor-
o da auto-estima e outras estratgias chamadas
de coping behavior (Antonovsky, 1979). Merece
destaque neste aspecto o trabalho de Sherman
James e colaboradores que desenvolveram a teo-
ria do active coping, baseada em elementos da
cultura afro-americana, aplicando-a principal-
mente investigao epidemiolgica da hiper-
tenso arterial (James, 1994).
Alm de contribuir para a formulao bsi-
ca da teoria do estresse, John Cassel e colabora-
dores, agrupados na Escola de Epi demi ologi a
Social de Chapel Hill, propuseram aplicar este
modelo explicao das relaes entre mudan-
a soci al e sade, avali ando as conseqnci as
para a sade do processo soci al fundamental
(no seu modo de entender) por que passam as
sociedades ocidentais contemporneas, o pro-
cesso de modernizao (Ibrahim et al., 1980).
Segundo essa abordagem, uma cultura popular
tradicional estabelece normas de vida apropria-
das situao social de comunidades e no de
soci edades complexas, embora uma cultura
adaptada para a vida rural possa aumentar, em
vez de diminuir, os nveis de estresse para o pro-
cesso sade/enfermidade resultando em maior
risco de Doenas Crnicas No-Transmissveis
(Cassel et al., 1960; Tyroler & Cassel, 1964).
A coerncia bsica do padro explicativo do
modelo de Cassel e colaboradores seria deter-
minada pelas idias de funo (intraestrutural)
e consistncia (interestrutural, porm, no siste-
ma soci al) com divergnci as teri cas corres-
pondentes s noes de aculturao e adapta-
o (Cassel, 1967). Para estes autores, a hiptese
de desorganizao social no seria aplicvel ao
estudo das conseqncias de mudanas sociais
para a sade, porque o contexto industrial mo-
derno simplesmenteno desorganizadoese-
cularizado (... mas) sim altamente organizado
em princpios diferentes(Cassel et al., 1960). Este
modelo, em suma, pretende que a moderniza-
o pode ou no levar a uma situao de incon-
gruncia cultural, dependendo da velocidade de
transi o e do grau de ajustamento entre a
cultura tradi ci onal do contexto sujei to
mudana e a nova si tuao soci al (Wi lson,
1970). Tais incongruncias difusas podem cau-
sar tenso excessiva na rede de relaes e, por-
tanto, estresse nos indivduos, que pode ou no
ser absorvido pelos sistemas biolgicos ou psi-
colgicos. Uma atualizao desta teoria, siste-
mati zada por Dressler (1985), enfati za que o
processo de modernizao tambm influencia-
ria o conjunto de recursos econmicos, psicos-
sociais e psicolgicos, disponvel para os indiv-
duos submetidos a processos de intensa e rpi-
da moderni zao com amortecedores dos
estressores ou faci li tadores de estratgi as de
coping.
Como crti ca de base, podemos di zer que
esta concepo apresenta um quadro extrema-
mente ideologizado dos contextos sociais ditos
tradicionais, supostamente formados por indi-
vduos que comparti lham formas culturai s e
objetivos soci ai s harmni cos e comuns. Alm
di sso, tratam as soci edades como se fossem
agrupamentos humanos homogneos, na me-
di da em que omi tem as privaes e carnci as
soci ai s bem como as desi gualdades di ante do
acesso a recursos econmi cos. Recentemente,
alguns autores (Wi lki nson, 1996; Kawachi &
Berkman, 2001; Evans et al., 2001; Marmot,
2001; Mackenbach, 2002) tentam recuperar o
potencial crtico da teoria do estresse, atualizan-
do-a como i nstrumento teri co fundamental
para o estudo das relaes entre desigualdades
soci ai s, pobreza e sade, parti cularmente no
que se refere mortali dade e morbi dade por
Doenas Crnicas No-Transmissveis.
A figura 2 apresenta de modo simplificado
um modelo expli cativo derivado da teori a do
estresse, que tem revitalizado a atual epidemio-
logi a soci al das doenas no-transmi ssvei s,
com um foco novo em i ni qi dades em sade
(Wilkinson, 1996; Evans et al., 2001; Macken-
bach, 2002). Dessa forma, analisam-se as conse-
qncias para a sade da distribuio desigual
de renda e de acesso a ativos econmi cos e
recursos soci ai s, assumi ndo a forma geral de
capital social (Kawachi & Berkman, 2001), alm
de estudar como a disponibilidade global destes
recursos i nfluenci a a si tuao de sade das
populaes (Marmot, 2001).
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
869
Desigualdades sociais e carncias econmi-
cas (privao ou pobreza) so tomadas como
conceitos fundamentais do modelo. O conceito
de capital social, de inspirao neodurkheimi-
ana e diretamente emergente da sociologia fun-
cionalista parsoniana (apesar de sua centralida-
de na teoria social de Bourdieu), aparece como
importante mediador social entre os processos
socioeconmicos de base, os estressores sociais
e as estratgi as de coping dos i ndivduos. A
intermediao do conceito de vulnerabilidade
central para o modelo, tanto no que se refere
susceptibilidade diante de biopatgenos em do-
enas transmissveis quanto aos determinantes
genticos da predisposio a Doenas Crnicas
No-Transmissveis. De todo modo, ainda que
i ntroduza um i mportante componente soci al
que amplia o escopo psicolgico individual da
teoria clssica do estresse, este modelo omite os
determinantes econmicos da pobreza e priva-
o e as razes polticas das iniqidades sociais.
A epidemiologia social latino-americana
O movimento da sade coletiva, hoje hegem-
nico no Brasil e na Amrica Latina, significou
um contraponto s propostas de i nterveno
assi stenci ali sta sobre populaes margi nai s
incorporadas pelo movimento da sade comu-
nitria (Donnangelo, 1978). Neste sentido crti-
co, em oposio aos marcos tericos da sociolo-
gia funcionalista anglo-sax, o campo da sade
coletiva tem definido como seu objeto o proces-
so sade-enfermi dade no em comuni dades
i deali zadas e harmni cas, porm no sei o de
sociedades complexas e contraditrias, recorta-
das por prticas institucionais, constitudas por
agentes histricos. Nesse contexto, vrias con-
cepes crticas da epidemiologia como teoria e
prtica foram desenvolvidas em diferentes cen-
tros latino-americanos, abertamente destinadas
a subsidiar a construo histrica do campo da
sade coletiva. Dentre as mais relevantes destas
contri bui es, revi saremos a epi demi ologi a
das classes sociais (Breilh, 1991), e a teoria do
processo de produo e sade (Laurell, 1991).
A contribuio de Edmundo Granda, Jai-
me Breilh e colaboradores foi fundamental para
a constituio de uma vertente crtica na epide-
miologia latino-americana. O ponto de partida
para a proposta terica desses autores a crtica
aos modelos epi demi olgi cos convenci onai s,
apresentados como instrumentos do projeto de
dominao capitalista. Nessa perspectiva, inici-
almente questionam os critrios de objetivida-
de adotados pela investigao epidemiolgica,
que toma os fatos de sade-enfermidade como
essenci almente coi sas bi olgi cas. A conse-
qncia imediata, coerente com a natureza de
Figura 2
Modelo do capital social e desigualdades em sade (Wilkinson, Kawachi).
Desigualdade social Pobreza
Estilo de Vida
V
V
V
V
V V
Capital social Estressorsocial
Genoma Capacidade de coping
Doenas Crnicas No-Transmissveis Doenas Psicossomticas
V
V
V
V
V
Vulnerabilidade
Figura 3
Modelo do perfil epidemiolgico de classes de Breilh, Granda et al.
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
870 870 870
seu ponto de partida, consiste na identificao
do ponto de vista da classe operria como refe-
renci al privi legi ado para a construo de um
novo pensamento para a epidemiologia (Gran-
da, 1976).
O modelo terico da determinao social
das enfermidades elaborado pelo grupo de Qui-
to, esquematizado na figura 3, estrutura-se em
torno de um conceito fundamental no quadro
teri co do marxi smo, o de reproduo soci al
que, conforme mostraremos adiante, pode ser
retomado dentro de um modelo mais praxiol-
gico e menos estruturalista. O desenvolvimento
das foras produtivas e das relaes sociais de
produo, concatenadas em modos e formas de
produo, por sua vez realizados concretamen-
te como uma formao social, determinam os
padres de reproduo simples e ampliado. Em
cada um dos modos de produo que consti -
tuem uma dada formao social concreta, esta-
belecem-se classes sociais que apresentam pro-
cessos tpicos de reproduo social em distintas
fases do desenvolvimento das foras produtivas.
De acordo com Breilh & Granda (1985), os pro-
cessos epidemiolgicos se expressam concreta-
mente em cada classe social particular por meio
de um perfil epidemiolgico de classe, consti-
tudo de doi s elementos: um que se refere
essnci a, o perfi l reprodutivo ; e outro feno-
mnico, o perfil de sade-enfermidade.
Finalmente, o processo sade-enfermidade
propriamente dito resulta da dialtica entre as
manifestaes da reproduo social que consti-
tuem valor de uso para a classe social e aquelas
que se contrapem como nocivas ou pernicio-
sas para a reproduo de classe (denominadas
de contra-valores ). Para Breilh (1989), o pro-
cesso histrico da formao social e sua estru-
CLASSES SOCIAIS
PERFIL EPIDEMIOLGICO DE CLASSES
PERFIL REPRODUTIVO
VALORES CONTRAVALORES
PROCESSO SADE-DOENA
Doenas Crnicas No-Transmissveis
MODO DE PRODUO
REPRODUO SOCIAL
FORMAO SOCIAL
V
V
V
V V V V
V
Figura 4
Modelo do processo de trabalho de Laurell et al.
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
871
tura de classes determi na qual dos plos da
contradi o mai s se desenvolver. Quando o
plo da negao ou dos contravalores predomi-
na, aumenta a enfermidade e a morte, compro-
metendo o perfil reprodutivo de classe; quando
se intensifica o plo dos bens ou valores de uso,
potencializam-se as expresses de sade e vita-
lidade da classe social. O modelo de Breilh no
empresta destaque especial ao tema das Doen-
as Crnicas No-Transmissveis, no obstante
i mpli car possi bi li dades de acoplamento para
teorias restritas de determinao desse impor-
tante grupo de morbidade.
A operaci onali zao metodolgi ca desse
modelo teri co tem si do tentada de duas ma-
neiras. Vejamos a primeira: tomando-se rigoro-
samente a dimenso coletiva da concepo de
classe social, busca-se investigar os padres de
distribuio ecolgica dos indicadores de sa-
de, analisados por sua agregao espacial, pres-
supondo-se uma di stri bui o mai s ou menos
homognea das classes no interior dos espaos
socialmente constitudos. A prtica de investi-
gao do prprio grupo de Quito aponta para
esta direo (Breilh et al., 1983; Breilh, Campa-
a & Granda, 1991). No que se refere segunda
maneira, epidemilogos latino-americanos (co-
mo Mrio Bronfman, Csar Victora e Marilisa
Barros, entre outros) tentaram uma operacio-
nalizao do conceito de classe social como um
atributo individual, verificando sua correspon-
dncia (e eventual reduo) a categorias emp-
ricas tais como ocupao, insero produtiva,
renda, etc., buscando construir uma certa epi-
demi ologi a da desi gualdade (Vi ctora et al.,
1989).
De acordo com Laurell, conforme esque-
mati zado na fi gura 4, s podemos entender a
questo da sade na sociedade pelo conceito de
trabalho. Para isso, existem dois caminhos mais
relevantes, ambos inspirados no marco terico
do marxismo. Um primeiro, proposto por Gar-
ca (1983), desdobra o conceito de trabalho em
trabalho abstrato e trabalho concreto, buscan-
do analisar o gasto energtico e os usos espec-
fi cos do corpo como produtores de atrofi a-
PRODUO
DIVISO DO TRABALHO BASE TCNICA
com materialidade externa
com materialidade interna
DESGASTE
NEXO BIOPSQUICO
CARGA LOBORAL
PERFIL PATOLGICO
Doenas Crnicas No-Transmissveis
MAIS-VALIA PROCESSO LABORAL
V
V
V
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
872
hipertrofia ou de fadiga psquica e social. Para
compreender o outro caminho, por ela escolhi-
do, preciso remeter-se ao conceito de proces-
so de produo, com seus doi s elementos: o
processo de valori zao (produo de mai s-
valia) e o processo laboral (produo de bens).
Por sua vez, necessrio decompor o processo
de trabalho em seus elementos constitutivos: o
objeto e os instrumentos de trabalho e o traba-
lho em si. O objeto do trabalho apresenta uma
vertente tcnica (caractersticas fsicas, qumi-
cas e mecnicas) e uma vertente social, incor-
porando as relaes sociais que o tornam pos-
svel. Os instrumentos de trabalho compreen-
dem a materializao das relaes entre capital
e trabalho, incorporando igualmente a consti-
tui o tecnolgi ca dos mei os de produo.
Finalmente, o conceito de trabalho em si deve
ser ampli ado para conter desde os processos
corporai s quanto organi zao e divi so do
trabalho como estratgia de explorao e pro-
duo de mais-valia.
No que se refere problematizao da sa-
de na relao sade-trabalho, em uma primeira
fase, Laurell (1977) adotava o conceito de pro-
ceso social salud-enfermedad tal como desen-
volvido pelas primeiras contribuies tericas
da medi ci na soci al lati no-ameri cana (Garca,
1972). Entretanto, para consolidar o seu posi-
ci onamento sem perder a congrunci a com a
teoria do processo de trabalho, posteriormente
a autora props substi tu-lo pelo concei to de
nexo biopsquico, identificado como a mani-
festao parti cular da corporei dade humana
dos processos histricos gerais. Nesse modelo,
novamente no se privilegia o importante tema
das Doenas Crnicas No-Transmissveis, ape-
sar de se apontar para a determinao proximal
desse grupo de morbi dade com o auxli o de
abordagens etiolgicas restritas com as teorias
do estresse.
Avanando mais no detalhamento do seu
modelo teri co, Laurell toma emprestado de
Tambellini (1976) a expresso modos de andar
pela vi da fazendo-a equivaler ao concei to de
esteretipos de adaptao, por sua vez impor-
tado da biologia neo-sistmica norte-america-
na. Segundo ambas as autoras, tratar-se-i a de
um conceito-chave originrio da obra de Can-
guilhem. Contudo, em busca dos referenciais de
base dessas importantes contribuies, no en-
contramos em Canguilhem a expresso modo
de andar pela vida ou similar; refere-se a mode
de vieque, apesar de i mpli car uma fasci nante
abertura terica para lidar com as relaes en-
tre sade e soci edade na esfera do coti di ano
(conforme proposto adi ante), nada tem a ver
com o referenci al do processo de trabalho e
sade.
Finalmente, Laurell considera a noo de
risco insuficiente, substituindo-a pela categoria
cargas produtivas, com a distino entre aque-
las cargas com materialidade externa (fsicas,
qumicas, biolgicas, etc.) daquelas com mate-
rialidade interna (ritmo, controle, tenso ps-
quica, etc.). Para uma representao da relao
entre o processo de produo e o nexo biops-
qui co, desenvolveu o concei to de desgaste,
sendo que a combinao entre desgaste e repro-
duo determina a constituio de formas his-
tricas biopsquicas especficas, substrato geral
que determina uma constelao de enfermida-
des particulares, conhecida como o perfil pato-
lgico de um grupo social (Laurell & Noriega,
1989).
possvel identificar alguns problemas con-
cei tuai s em ambas as li nhas teri cas. Em pri -
meiro lugar, os dois enfoques assumem implici-
tamente uma epistemologia internalista e pola-
rizadora, na medida em que admitem uma pre-
cedncia formal e funcional do objeto sobre o
mtodo. Depois, e talvez em conseqncia, no
conseguem escapar de uma atitude que se po-
deria designar como aparelhamento da investi-
gao cientfica como instrumento da luta ope-
rria (Laurell) e de liberao das classes oprimi-
das (Breilh), o que implica uma negao da sua
especificidade como modo de produo de co-
nhecimento.
Em segundo lugar, tanto Breilh como Lau-
rell tentam uma crti ca radi cal ao concei to de
risco, chave para a epidemiologia contempo-
rnea. Todavia, as noes equivalentes de perfil
epidemiolgico de classe social e de nexo bio-
psquico so igualmente insatisfatrias. Teri-
ca ou metodologicamente, no se mostram ca-
pazes de substi tui r o concei to de ri sco, como
ferramenta conceitual para expressar o carter
coletivo do processo sade-enfermidade. Isso
tanto mais grave na teorizao de Cristina Lau-
rell, que chega a recorrer noo clnico-fisio-
lgica de perfil patolgico individual.
Em terceiro lugar, na base dos seus mode-
los tericos, tanto o enfoque de Breilh & Gran-
da quanto o de Laurell operam uma reduo da
complexidade social a uma nica dimenso da
vi da soci al. Nesse aspecto, ambos i gualmente
tm lutado com veemncia contra o monocau-
salismo, mas permanecem, por sua vez, presos a
duas formas distintas de monodeterminismo:
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
873
Breilh com a categoria de classe social e Laurell
com a de processo de trabalho. Mais ainda, esta-
belecem entre si uma polmica sobre a centrali-
dade e precedncia de cada uma das respectivas
categorias. Nesse sentido, o prprio Breilh apre-
senta uma crtica radical postulao laurellia-
na. Por um lado, identifica que a raiz terica da
formulao do nexo biopsquico encontra-se
na i di a ori gi nalmente gramsci ana de nexo
psicofsico que, no entanto, teria sido empre-
gada de modo distorcido e inadequado. Por ou-
tro lado, aponta que o modo de apresentar a
noo de estereti po de adaptao permi te
uma interpretao reducionista do social como
externo ao bi opsqui co e que traz, atravs da
categoria adaptao uma noo de ajuste de
origem funcionalista, retomando a clssica teo-
ria do estresse. De fato, Laurell (1981) conside-
ra que o estresse pareceser omaior risco profissi-
onal no contexto do capitalismo avanado. Em
convergncia com investigadores escandinavos
(Gardell, 1982), analisa o estresse como resul-
tante do aumento da complexidade do processo
de funcionamento e para o incremento da pro-
dutividade, aliado ao reduzido grau de controle
e autonomia dos trabalhadores no processo de
produo.
Alguns cientistas de formao antropol-
gica, como Allan Young (1980) e Gilles Bibeau
(1988), h bastante tempo j questionavam as
bases epistemolgicas formais de tais modelos
tericos, visando construir um novo marco re-
ferencial por meio da crtica sistemtica dos ele-
mentos fundamentais das teorias a serem supe-
radas. Superando a crtica radical dos modelos
de determinao social da epidemiologia lati-
no-americana, cabe neste ponto considerar que
tais teorias so rigorosas e ricas, porm parciais.
E que se encontram prontas para articulao a
um corpo terico que as compatibilize entre si
e as integre a outras teorias parciais sobre o que
se encontra ausente de to proveitoso e impor-
tante esforo. Trata-se dos domni os funda-
mentais da vida social: o simblico e a cotidia-
nidade. Para isso, antes precisamos apresentar a
Teori a dos Si gnos, Si gni fi cados e Prti cas de
Sade.
Teoria dos signos,significados
e prticas de sade
Desde 1980, Gilles Bibeau e Ellen Corin, herdei-
ros da tradi o transcultural de Murphy e
Leighton, vm propondo o desenvolvimento de
uma antropologi a crti ca da sade, capaz de
superar a dicotomia cultura-sociedade e a cor-
respondente clivagem no campo antropolgico
entre uma antropologia cultural (interpretativa
e fenomenolgi ca) e uma antropologi a soci al
(estrutural-funcionalista). Para esses autores, a
antropologia cultural, em suas vertentes inter-
pretativa e fenomenolgica, mostra-se insufici-
ente para abordar a complexidade dos proces-
sos de sade e doena e sua relao com o con-
texto cultural global (Bibeau, 1987; 1988; 1994;
Bibeau & Corin, 1994; 1995).
Nessa perspectiva, Bibeau, Corin e colabo-
radores arti culam uma teori a metassi ntti ca
que tem como pretenso integrar elementos se-
miolgicos, interpretativos e pragmticos essen-
ci ai s para uma abordagem cultural da sade
(Bibeau & Corin, 1994; Corin, 1993, 1995; Corin
et al., 1989, 1990, 1993). Para esses autores, as
experi nci as subjetivas formam-se a parti r de
representaes culturais sobre a subjetividade,
o corpo, o mundo e a vida, criadoras dos signi-
ficados que se expressam atravs de narrativas
individuais. Da a necessidade de considerar a
experincia do adoecimento e as narrativas so-
bre a doena em sua relao com a rede de sig-
ni fi caes culturai s. Neste senti do, os autores
i ni ci almente recorrem concepo de rede
semntica de Good que, conforme explicitam
Bi beau & Cori n (1994) permite identificar os
laos queunem categorias-chaveculturais tanto a
sistemas deinterpretao quanto a histrias pes-
soais deindivduos.
Isto significa estabelecer uma conexo epis-
temolgica, terica e metodolgica entre dife-
rentes di menses da reali dade, adotando-se
uma perspectiva global (Bibeau, 1988). Resul-
tante de um trabalho de articulao entre mi-
cro e macrocontextos soci ai s, tal perspectiva
expressa uma dupla orientao que aponta, de
um lado, para uma leiturahistoricizada econtex-
tualizada da cultura [local] e, deoutro lado, para
uma interpretaodas concepes que a popu-
lao produz sobre os problemas de sade men-
tal (Corin et al., 1990). Na esfera particular da
sade-enfermi dade-cui dado, trata-se de i nte-
grar si stemas semi olgi cos de si gni fi cao e
condies externas de produo (contexto eco-
nmico-poltico e sua determinao histrica)
com a experincia do adoecimento, como trans-
formao da identidade individual e do modo
de ser-no-mundo.
Ao propor a compreenso da experincia de
adoecimento a partir dessa perspectiva global,
construindo uma articulao entre trajetrias
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
874
individuais, cdigos culturais, contexto macros-
social e determinao histrica, Bibeau & Corin
introduzem, no campo da antropologia mdi-
ca, a problemtica da causalidade em diferentes
nveis de determinao dos fenmenos (Bibe-
au, 1994; Bibeau & Corin, 1994). Neste sentido,
propem um esquema analti co fundado em
dois conceitos centrais: condies estruturantes
e experincias organizadoras coletivas. Preten-
dem com estes conceitos representar os diferen-
tes elementos contextuais (sociais e culturais)
que se arti culam para formar os di sposi tivos
patognicos estruturais.
As condi es estruturantes abrangem o
macrocontexto, ou seja, as restri es ambi en-
tais, as redes de poder poltico e as bases de de-
senvolvimento econmico, as heranas histri-
cas e as condi es coti di anas de vi da (ou mo-
dos de vida). Ou seja, trata-se de condicionan-
tes referidos ao macrocontexto que atuam co-
mo elemento de modulao da cultura e como
limitadoras da liberdade de ao individual. As
experi nci as organi zadoras coletivas, por sua
vez, representam os elementos do universo s-
cio-simblico do grupo que atuam no sentido
de manter a i denti dade grupal, os si stemas de
valores e a organi zao soci al (Bi beau, 1994;
Bibeau & Corin, 1994). Desse modo, ao postu-
lar que os sistemas semiolgicos e os modos de
produo articulam-se para produzir a experi-
nci a do adoeci mento, os autores resgatam a
pretenso de Young de consi derar o contexto
soci oeconmi co, polti co e hi stri co nos pro-
cessos de sade-doena-cuidado.
Alm da influncia dos fatores macrossoci-
ais, Bibeau & Corin enfatizam a autonomia e a
responsabilidade dos indivduos na modifica-
o da histria e dos fatos sociais. A concepo
mdica de nosologia, segundo a qual cada sig-
no patolgi co corresponde a um si gni fi cado
numa rede de causalidade e a procedimentos de
cura-cuidado numa rede de prticas teraputi-
cas, no pode deixar de ser considerada, embo-
ra de forma modi fi cada. Na bi omedi ci na
moderna, o sentido do sintoma dado, portan-
to, pelo processo biofisiolgico que lhe subja-
cente e que, dessa maneira, encontra-se bloque-
ado ou massi fi cado (Cori n, 1993). E justa-
mente essa massi fi cao/universali zao do
senti do que um enfoque alternativo sobre o
complexo sade/patologia-enfermidade-doen-
a precisa romper.
Desta forma, Bibeau & Corin propem um
quadro teri co de referenci al antropolgi co,
semi olgi co e fenomenolgi co para o estudo
das semiologias populares e dos sistemas locais
de significao e de ao diante dos transtornos
mentais que pode ser apropriado para o campo
das Doenas Crnicas No-Transmissveis. Es-
tes sistemas enrazam-se nas dinmicas sociais e
nos valores culturais centrais do grupo e funda-
mentam as construes individuais da experi-
ncia de adoecimento (Bibeau, 1994; Bibeau &
Corin, 1994; Corin, 1995). Na prtica metodo-
lgica, isso implica o desenvolvimento de uma
abordagem semntico-pragmtica e contextu-
al, capaz de parti r de casos concretos para
compreender como a comunidade percebe, in-
terpreta e reage com relao aos problemas de
sade.
Nessa perspectiva, nas esferas de construo
simblica das comunidades, signos corporais e
comportamentais so transformados em sinto-
mas de uma dada enfermidade, adquirindo sig-
nificados causais especficos e gerando determi-
nadas reaes soci ai s, confi gurando enfi m o
que Bi beau & Cori n propem denomi nar de
si stema de si gnos, si gni fi cados e prti cas de
sade. No geral, o conhecimento popular local-
mente construdo plural, fragmentado e at
contraditrio. A semiologia popular e os mode-
los culturais de interpretao no existem como
um corpo de conhecimento explcito, mas so
formados por um conjunto variado de elemen-
tos imaginrios e simblicos, ritualizados como
raci onai s. Para esses autores, o conheci mento
popular em torno da problemtica da enfermi-
dade se articula e se expressa em termos de sis-
temas semnticos construdos social e histori-
camente.
Dada a complexidade da realidade cultural,
as diferentes interpretaes dos sujeitos oriun-
dos do centro ou da margem da sociedade refle-
tem heterogeneidades sociais, econmicas, tni-
cas e culturais, bem como a realidade concreta
dos diferentes atores sociais que participam das
diversas situaes. Isso deve ser levado em con-
ta pelos modelos tericos das interpretaes di-
tas nativas que tm como objetivo traduzi-las
para outro referencial o da linguagem cient-
fica, explorando as correlaes com o contexto
sociocultural mais amplo. Nessa dupla perspec-
tiva, ao mesmo tempo em que h uma submis-
so aos textos locai s, buscando respei tar os
glossrios e percepes dos membros da comu-
nidade, uma certa violncia interpretativa a eles
i mposta na medi da em que a produo do
conhecimento cientfico inapelavelmente tende
universalidade (Bibeau, 1988; Bibeau & Corin,
1995).
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
875
No cotidiano da vida das pessoas comuns
(a comunidade para Bibeau & Corin), o proces-
so de definio de categorias e reconhecimento
dos casos de enfermidade no opera necessaria-
mente identificando categorias ntidas de pen-
samento, mas por meio de semelhanas, analo-
gias e estabelecendo uma continuidade entre os
casos de acordo com uma rica e flutuante varie-
dade de cri tri os. Essa categori zao remete
mais a modelos do tipo prottipos de Lakoff
resultantes de processos de family resemblance
de Wittgenstein, por sua vez melhor compreen-
didos por sistemas alternativos de lgica (como
a lgica fuzzyde Zadeh ou as lgicas paracon-
sistentes de Newton da Costa) do que a uma
classificao hierrquica de categorias discretas,
mutuamente exclusivas e estvei s, ti pi fi cadas
atravs de lgicas de consistncia formal. Pelo
contrri o, as categori zaes dos si stemas se-
mnticos so fragmentadas, contraditrias, par-
cialmente compartilhadas e construdas local-
mente, organi zadas em mlti plos si stemas
semnti cos e praxi olgi cos (estruturados em
prti cas), hi stori camente contextuali zados e
acessveis somente atravs de situaes concre-
tas eventos e comportamentos que com-
pem o modo de vida das pessoas.
O conceito de modo de vida
Originalmente, a noo de modo de vida, ain-
da como conceito em estado prtico, para usar
a terminologia althusseriana, encontra-se clara-
mente explicitada nos escritos de Lewis Morgan
(1977[ 1877] ), um dos precursores da antropo-
logia no sculo passado, cuja obra inspirou En-
gels em seu Origens da famlia, da propriedade
privada e do Estado(Engels, 1972) e Marx em
diversas instncias de sua obra mestra O capital
(Marx, 1984).
A expresso modo de vida foi empregada
por Marx e Engels como elemento bsi co de
anlise das formaes sociais pr-capitalistas,
buscando particularmente situar a natureza no
somente material e fsica da reproduo social.
Em uma definio j bastante clara e elaborada,
foi referido pela primeira vez na seo de aber-
tura de A ideologia alem(Marx & Engels, 1977
grifos dos autores), da seguinte forma:
O modo pelo qual os homens produzem seus
meios desubsistncia depende, antes detudo, da
natureza dos meios que eles encontram e tm de
reproduzir. Este modo de produo no deve ser
considerado, simplesmente, como a reproduo
da existncia fsica dos indivduos. Trata-se,
antes, deuma forma definida deatividadedestes
indivduos, uma forma definida de expressarem
suas vidas, um definido modo de vidadeles. As-
sim como os indivduos expressam suas vidas, as-
sim eles so.
Especialmente nos Grundrisse(Marx, 1973),
encontramos um aprofundamento deste concei-
to, s vezes referido como condies naturais
de existncia ou modo objetivo de existncia,
antecipando-se de modo surpreendente ao con-
ceito antropolgico de cultura. Vejamos rapida-
mente alguns fragmentos dessa obra que, pela
sofisticao da construo conceitual em pauta,
exemplarmente dialtica, no permitem evitar a
longa citao:
Essas condies naturaisde existncia, com
as quais ele[o produtor] serelaciona mesmo co-
mo com um corpo inorgnico, tm carter duplo:
elas so (i) subjetivas e(ii) objetivas. O produtor
existecomo membro deuma famlia, deuma tri-
bo, um agrupamento de sua gente, etc. o que
adquirehistoricamenteformas diversas resultan-
tes da mistura econflitos com outros(Marx, 1973
grifos do autor).
A atitudeem relao terra (...) significa que
o homem mostra-se, desdeo princpio, como algo
mais que a abstrao do indivduo que traba-
lha, tendo um modo objetivo deexistncia (...)
queantecedesua atividadeeno surgecomo sim-
ples conseqncia dela, sendo tanto uma pr-con-
dio de sua atividade, como sua prpria pele,
como so os seus rgos sensoriais (...). A media-
o imediata desta atitudea existncia do indi-
vduo mais ou menos naturalmente evoluda,
mais ou menos historicamente desenvolvida e
modificada como membro de uma comunida-
de... (Marx, 1973 grifos do autor).
A noo de modo objetivo de existncia
definida, de maneira restrita, como as pr-con-
dies correspondentes individualidade do
produtor. De modo ampliado, trata-se de todas
as formas em que a comunidade pressupe os
sujeitos numa unidadeobjetiva especfica com as
condies de sua produo, ou nas quais uma
existncia subjetiva determinada pressupe a
prpria entidadecomunitria como condio de
produo(Marx, 1977). E finalmente, a expres-
so modo de vida empregada para designar
as condies naturais de existncia ou o mo-
do objetivo de exi stnci a das tri bos pastori s
nmades, funcionando como conceito de nvel
equivalente ao de modo de produo. Ali s, a
primeira utilizao do conceito, em A ideologia
alem(ver acima), obrigatoriamente remete a
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
876
esta equivalnci a ao defi ni -lo i mpli ci tamente
como modo de produo da vida. Posterior-
mente, esta concepo seria formulada de ma-
neira distinta, articulando-a com mais preciso
questo central do Capital (1984), atravs da
referncia aos meios de vida como elemento
estruturante da reproduo soci al, buscando
certa simetria em relao ao conceito de meios
de produo.
Pois bem, esse algo mais, que antecede
a atividade humana e no surge como simples
conseqncia, naturalmente evoludo porm
hi stori camente desenvolvi do e modi fi cado,
pr-condio da existncia humana como a
prpria pele, esse modo de vida no ser um
construto de nvel equivalente ao conceito an-
tropolgico de cultura?De fato, quando Marx
e Engels produzi ram alguns escri tos denomi -
nados econmico-filosficos, entre 1845-1846,
e quando Marx escreveu, em 1857-1858, as
anotaes que depois seriam publicadas como
os Grundrisse(Marx, 1973), a cincia antropo-
lgica encontrava-se ainda na sua pr-histria,
naquela fase nebulosa em que os conceitos fun-
damentais so objeto de definio e disputa.
Conforme comenta Hobsbawn (1964), a
dupla di nmi ca Marx e Engels mostrava-se
excepci onalmente bem i nformada sobre os
avanos dos estudos histricos, biolgicos, ar-
queolgicos e etnogrficos da poca, reportan-
do-se diretamente aos precursores da antropo-
logi a, como von Maurer, Spencer, Prescott e
Morgan. Nessa fase, a antropologia certamente
teve de produzi r consensos em torno de pro-
blemas e definies, superando dilemas e con-
trovrsias em relao natureza do seu objeto-
modelo: relaes de domi nao e de propri e-
dade como sugeriam o historiador von Maurer
e o advogado Morgan ou mitos, rituais e tabus
como propunham os insignes catedrticos Ty-
lor e Frazer?Morgan, oriundo de uma famlia
de comerci antes, vivera entre os i roqueses e
no escondi a suas si mpati as pelo soci ali smo;
Edward Burnett Tylor e Sir James Frazer eram
tpicos armchair scholarsempenhados na con-
solidao do imprio britnico. Nenhuma sur-
presa, portanto, que a noo reduci oni sta de
cultura prevalecesse, pelo menos na antropolo-
gia anglo-sax, tendo sido apresentada formal-
mente no captulo A cincia da cultura, aber-
tura do livro Primitive culturede Tylor (1977
[ 1871] ). Nesse senti do, a defi ni o tylori ana,
di ta clssi ca, efetivamente empi ri ci sta, di zi a
que cultura consi ste em li nguagem, costu-
mes, instituies, cdigos, instrumentos, tcni-
cas, conceitos, crenas, etc. de um povo (White
1978).
Da mesma forma que Engels em relao
epidemiologia, no era inteno de Marx fundar
a antropologia, e muito menos se tornar catedr-
tico de uma cincia colonial. A ironia reside no
fato de que Marx, por um lado, cunhou um con-
ceito que certamente daria densidade heurstica
s formulaes materialistas sobre a estrutura
das relaes comunais, e por outro lado, confor-
me assinala Fabregas (1979), teria sido um dos
primeiros a empregar, no volume I do Capital,
dez anos antes de Tylor, o termo cultura no
sentido moderno em oposio natureza.
Desafortunadamente, nem Morgan nem Tylor
foram leitores da obra marxista.
As exigncias das lutas proletrias no fi-
nal do sculo passado e nas primeiras dcadas
deste sculo determinaram quase um mono-
pli o teri co do concei to de classes soci ai s
para o entendimento da dinmica social. So-
mente nos anos 20, com Antonio Gramsci na
Itlia e Georg Lukcs na Hungria, inicia-se no
seio da teoria marxista uma retomada da pre-
ocupao com a dimenso do imaginrio e do
simblico, aquele algo mais das relaes so-
ciais na vida cotidiana.
A escola i tali ana, representada no campo
da antropologia particularmente pelo grupo de
De Martino (1961), surge diretamente do pen-
samento gramsciano, preocupado com a ques-
to nacional e com as culturas subalternas. Para
Gramsci (1978), a anlise concreta de uma con-
juntura histrica e social no pode reduzir-se a
um enfoque exclusivamente economi ci sta e
classista. Para compreender essa realidade sem
que seja atravs de um modelo abstrato,
necessri o i ncorporar outras di menses que
i mpli cam hi erarqui as e heterogenei dades, co-
mo, por exemplo, as diferenas tnicas, geracio-
nais e regionais. Assim, as questes lingsticas,
os resduos histricos, as condutas sociais, as re-
des de parentesco, os rituais, as manifestaes
religiosas, enfim, tudo que alm da economia e
da polti ca possam fazer melhor entender os
processos de construo da hegemonia, passam
a ser interesse primordial das anlises polticas
de conjuntura. Ainda na vigncia de um para-
digma estrutural-funcionalista na antropologia
e sem notcia dos avanos tericos da fase pr-
Capital da obra marxiana (dado que os Manus-
critos econmico-filosficos foram publi cados
somente em 1953 e os Grundrissetiveram maior
difuso somente aps a edio inglesa de 1973),
Gramsci se apropriou do conceito antropolgi-
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
877
co de cultura para aplic-lo s condies con-
cretas de exi stnci a das classes subalternas.
Com i sso, i ni ci ou no sei o do marxi smo uma
discusso sobre a cultura popular que ainda se
mostra frtil e atual.
O concei to de modo de vi da chegou a ser
fugazmente empregado no contexto de uma
antropologia sovitica, conforme definido por
Kelle & Kovalzon (1975):
El modo devida es la esfera del consumo indi-
vidual de bienes materiales y espirituales, es la
esfera de la vida cotidiana fuera del tiempo de
trabajo. (...) es una parteespecial dela vida soci-
al, vista la necesidad que tiene cada persona de
reponer sus fuerzas gastadas en el proceso de la
actividad laboral.
Entretanto, a Escola de Budapeste, cri ada
pelos herdeiros do pensamento de Lukcs, ser
certamente mais importante para a construo
concei tual que nos i nteressa, consi derando o
projeto coletivo de reintegrar as obras de juven-
tude de Marx ao sei o da fi losofi a polti ca do
materialismo histrico, resgatando categorias
essenci ai s para sua atuali zao. A mai s i lustre
representante deste grupo, a fi lsofa magi ar
Agnes Heller (1929-...), em dilogo permanente
com as cincias sociais contemporneas, consis-
tentemente desenvolve uma teoria do cotidia-
no, enfim abrindo perspectivas de construo
de uma antropologi a di alti ca de base no-
estruturali sta. Em duas i mportantes de suas
obras ori gi nalmente publi cadas na dcada de
1970, Sociologia da vida cotidiana(Heller, 1977)
e O cotidiano e a histria(Heller, 1989), a fil-
sofa apresenta reflexes sobre a cotidianidade
como categori a fundamental de uma teori a
microssocial marxista, analisando a determina-
o do modo de vida em articulao com a esfe-
ra restrita da produo econmica.
De acordo com Heller (1989), A vida cotidi-
ana , em grande medida, heterognea; (...)
sobretudo no queserefereao contedo e signi-
ficao ou importncia de nossos tipos de ativi-
dade. Todavi a, a si gni fi cao e o contedo da
vi da coti di ana no expressam apenas uma
i mensa vari edade de formas de viver a vi da,
mas tambm refletem formas concretas de uma
hierarquia que no eterna e imutvel, e que se
modi fi ca de modo especfi co em funo das
diferentes formaes econmico-sociais. Heller
(1989) assi m anali sa o contedo da vi da coti -
diana: So partes orgnicas da vida cotidiana: a
organizao do trabalho e da vida privada, os
lazeres eo descanso, a atividadesocial sistemati-
zada, o intercmbio ea purificao. (...). So tra-
os caractersticos da vida cotidiana: o carter
momentneo dos efeitos, a natureza efmera das
motivaes e, a fixao repetitiva do ritmo, a ri-
gidez do modo de vida (grifos da autora). Have-
r, nesta esfera da cotidianidade, uma hetero-
geneidade hierarquizada e articulada, com base
na repetio, como um modo de produzir a vi-
da cotidiana, porm nunca como estrutura ou
superestrutura.
Na concepo helleri ana, o modo de vida
no totalmente independente da vontade dos
sujeitos, na medida em que o prprio indivduo
(...) dispedeum certo mbito demovimento no
qual pode escolher sua prpri a comuni dade e
seu prprio modo de vidano interior das possi-
bilidades dadas(1989 gri fos da autora). Por
outro lado, o carter coti di ano da ativi dade
humana levada bastante a srio, posto que o
modo de vida reconstrudo diariamente. Em
suas prprias palavras (Heller, 1977):
No mbito deuma determinada faseda vida,
o conjunto das atividades cotidianas est caracte-
rizado por uma continuidade absoluta, ou seja,
tem lugar precisamentecada dia. Isto constitui
o fundamento respectivo do modo de vida dos
homens em particular.
No momento atual, ps-i nteraci oni smo
simblico e sua etnometodologia, com o adven-
to da nova histria e depois da virada foucaul-
ti ana, observa-se um renovado i nteresse pelo
estudo dos mi croprocessos soci ai s. No plano
epistemolgico, esta tendncia mostra-se con-
vergente com as novas aberturas paradigmti-
cas, indicando um esgotamento dos macromo-
delos estruturais e uma reavaliao das gran-
des teorias. Nesse contexto intelectual, temas
como o i ndivduo, a di nmi ca dos pequenos
grupos e a cotidianidade (em suma, o modo de
produo da vida social) retornam cena cien-
tfica, com o resgate inevitvel de contribuies
como a da Escola de Budapeste, alm de pensa-
dores de grande densi dade analti ca como
Habermas e de Certeau.
Modo de vida e sade
Vejamos agora como, pouco a pouco, o concei-
to de modo de vi da vem assumi ndo uma
posio de destaque na construo terica em
sade coletiva, revelando um grande potencial
heursti co que poder resultar em uma nova
vertente da epidemiologia crtica.
H quase vinte anos, ao apresentar a medi-
cina hipocrtica como precursora da integrao
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
878
entre antropologia e epidemiologia, James Trost-
le(1986) fez o seguinte comentrio: [Naquela
abordagem] as enfermidades eram discutidas co-
mo atributos depopulaes, com uma nfasecau-
sal particular dirigida para o modo devidados
habitantes deuma cidade. Um outro quase fun-
dador desta epidemiologia do modo de vida
foi Eduardo Menndez, reconhecido antrop-
logo mexicano dedicado s questes da sade.
Em uma coletnea sobre antropologia mdica,
Menndez (1990) publicou um captulo subti-
tulado Hacia la construccin de una epidemio-
loga sociocultural, que merece destaque aqui
por dois motivos. Em primeiro lugar, analisa cri-
ticamente a assimilao do pensamento gramsci-
ano na rea da sade como um ti po de mani -
quesmo ideolgico-cultural-microgrupal, des-
sa maneira conectando-se a uma das importan-
tes li nhas de apropri ao da questo cultural
pela teori a marxi sta, conforme apontado aci -
ma. Em segundo lugar, reconhecendo que no
s Marx e Engels, mas tambm M. Weber,
Durkheim e uma parte da antropologia mdica
constituem as referncias tericas e empricas
desta produo epi demi olgi ca, Menndez
(1990) chega a empregar as expresses los mo-
dos culturales e soci ales de enfermar e las
condiciones e modo de vida para referir-se a
questes epidemiolgicas. Notem que em am-
bos os casos o autor pe aspas justamente na
palavra-chave modo, sugerindo certa relutn-
ci a em i ncorpor-la em qualquer processo
explcito de conceitualizao. De fato, em segui-
da ele introduz estilo de vida como conceito
que trataria de unificar a base material e ideol-
gica que opera no desenvolvimento dos padeci-
mentos, e consti tui ri a um concei to medi ador
entre o nvel da classe soci al e ou dos grupos
intermedirios (grupos tnicos, grupos ocupa-
ci onai s, grupos de status, grupos fami li ares,
grupos de pares, etc.) (Menndez, 1990). Esta
posio ratificada em trabalho mais recente,
em que este autor comenta que enquanto para a
epidemiologia o estilo devidaconstituiria uma
varivel a mais, para a antropologia tal estilo
constitui uma forma global de vidada qual o ris-
co podeser parteconstitutiva(Menndez, 1995
grifos nossos).
Em 1987, escrevemos uma pequena bro-
chura sobre o tema, onde propusemos a oportu-
nidade deste tipo de enfoque na investigao
epidemiolgica em sade mental, j indicando
suas fontes na obra marxiana (nos termos
expostos acima) e identificando uma correspon-
dncia com a categoria analtica de modo de
produo (Almeida Filho, 1987). Em Epidemio-
logia esociedade, Cristina Possas (1989) faz refe-
rncia ao conceito de modo de vida como am-
pla e fundamental instncia determinante dos
processos sade-enfermidade, mediada por duas
dimenses intervenientes: estilo de vida e condi-
es de vida. Para Possas, as condies de vida se
referem s condies materiais necessrias
subsistncia, nutrio, convivncia, saneamen-
to, e s condies ambientais, que so feitas
essencialmente pela capacidade de consumo
social. O conceito de estilo de vida, por outro la-
do, remete s formas sociais e culturalmente de-
terminadas de viver, que se expressam em con-
dutas, tais como a prtica de esportes, dieta,
hbitos, consumo de tabaco e lcool. Dessa ma-
neira, Possas (1989) buscava articular o conjun-
to respeitvel de achados sobre a determinao
dos chamados riscos sociais na maior parte
das patologias a modelos explicativos fundados
em categorias do materialismo histrico, sem
comprometer a necessria consistncia terica.
No entanto, ainda fazia falta um tratamen-
to da questo simblica em relao ao processo
sade-enfermidade, ou seja, ao sistema de sig-
nos e significados relacionados distribuio e
percepo dos ri scos e seus fatores. Samaja
(1998) formula esta questo com maior preci-
so, aplicando-a com propriedade problem-
tica das relaes entre mtodo e objeto na epi-
demiologia, propondo-a como disciplina capa-
ci tada a li dar com as questes da sade no
mbito da reproduo social. Segundo Samaja,
no so as taxas que nos falam da sade-enfer-
mi dade das populaes, mas sua di stri bui o
na di scursivi dade da vi da coti di ana dessa
populao (1998). Por conseguinte, ademais da
distribuio diferencial dos riscos em populaes,
a epidemiologia ter como objeto-modelo um
objeto queimplica a produo desentido, esuas
variveis devero dar conta dessa produo ou
fracasso na gnesedesentido. (...) a fontemesma
da significao parece derivar da dinamicidade
das estruturas do mundo da vida(Samaja 1998
grifos nossos).
A questo fundamental da epidemiologia
do modo de vida j pode ser claramente expli-
citada: trata-se de problematizar a incorpora-
o de significado e sentido ao risco, seus fato-
res e seus efeitos. Isto implica abrir a epidemio-
logia ao estudo no s das situaes de sade,
mas tambm das representaes da sade e suas
determinaes, no mundo da vida, na cotidia-
nidade, nos modos de vida, atravs do conceito
particular de prticas de sade. Curiosamente,
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
879
o tratamento concei tual deste problema mai s
competente e mais promissor como fundamen-
tao para uma teoria do modo de vida e sa-
de sequer emprega a expresso modo de vida.
Trata-se da obra recente de Mrio Testa, sanita-
rista e pensador argentino, introdutor e depois
crtico do planejamento estratgico em sade,
particularmente em Saber em sade(1997).
Como pri ncpi o analti co de base, Testa
(1997) adota a perspectiva que chama de radi-
calismo antropolgico, como revalorizao da
cotidianidade das pessoas, apresentando-a em
referncia direta obra de Agnes Heller, antes
menci onada. Adota ai nda desta autora a se-
guinte definio de vida cotidiana: A vida coti-
diana o conjunto de atividades que caracteri-
zam a reproduo dos homens particulares, os
quais, por sua vez, criam a possibilidade da
reproduo social (Heller, 1977). importante
analisar as implicaes da seleo destas (e no
de outras, dentre as i nmeras) defi ni es de
cotidianidade na obra helleriana. Em primeiro
lugar, devemos notar aqui a dupla referncia
esfera da reproduo, tanto na di menso da
reproduo material dos sujeitos sociais quanto
no sentido da reproduo das relaes sociais
de produo que se estabelecem entre esses
sujeitos. Ou seja, o modo de vida como estrutu-
rador tanto da reproduo quanto, atravs des-
ta, da produo. Em segundo lugar, trata-se de
uma defi ni o derivada do concei to de modo
de vida, no sentido discutido acima. Realmente,
em segui da Testa refere-se equivalnci a ou
paralelo entre as mudanas na vi da coti di ana
com as mudanas no modo de produo.
Cui dadosamente buscando construi r um
quadro terico slido e rigoroso, Testa (1997)
se posiciona perante o debate Heller-Habermas
em torno do conceito lukacsiano de mundo da
vi da coti di ana. Nenhuma surpresa em reco-
nhecer que, nesta polmica, a posio de Heller
mais atraente, porque ela teria introduzido a
idia de constituio do mundo como produ-
o, em termos materialistas, nisto equivocada-
mente criticada por Habermas como idealista.
Isto porque a prxis (por ele definida como pr-
tica global) determina formas de prtica cultu-
rais ou prticas da vida que, por sua vez, con-
formam uma produo: a da vida social mesma
(Testa, 1997). Identifica-se a, em estado latente,
o conceito de modo de vida implcito no dis-
curso testiano, na medida em que, para a pro-
duo da vida mesma, h que existir um modo
de produo desta. Mais adiante, Testa (1997)
vai assinalar que ... as prticas culturais signifi-
cam a produo das relaes que constituem o
fundamento da sociedade e que podemos enten-
der como as relaes sociais desociabilidade, n
de um dos principais debates sociopolticos da
atualidade. Em uma analogia simtrica, as rela-
es sociais desociabilidadearticulam o modo de
vida assim como as relaes sociais deproduo o
fazem para o modo deproduo.
A fi m de cobri r um possvel hi ato entre a
coti di ani dade e a ao humana, Testa (1997)
recorre de Bourdieu (1980) a noo de habitus,
a definida como maneira singular, predetermi-
nada por uma estruturao das instncias ps-
qui cas, com que os i ndivduos i ncorporam
aes e valores do mundo e reagem com com-
portamentos. Para ele, trata-se de outro concei-
to fundamental, equivalente ao concei to de
usos, com o qual possvel entender de uma
nova manei ra as contradi es e confli tos nos
nveis individual e coletivo, ao propor uma sn-
tese dialtica dos efeitos integradores da prtica
da vida social. Segundo Testa, possvel identi-
fi car usos modai s para sujei tos i ndivi duai s e
usos positivos (portadores de positividade pu-
ra, como veremos adiante) para sujeitos coleti-
vos. Nas palavras de Testa (1997):
En basea esta concepcin podemos reconstruir
a nocin deusos reinterpretndola dela sigui-
ente manera: a contradiccin es la existencia de
por lo menos dos discursos interiores a um indi-
viduo o entregrupos queargumentan en cuan-
to al significado de alguna proposicin (...); el
conflicto no se expresa como discurso sino como
accin denuevo en el interior deun sujeto o en-
tredistintos grupos dela sociedad queimplica
el sentido de los sentimientos puestos em juego
durante la misma, que pueden ser identificados
medianteuna lgica do sentido (existe?) quenos
har recurrir al artedela hermenutica para su
consideracin.
O programa terico de Mrio Testa gradu-
almente toma forma, revelando-se como proje-
to de uma epi stemologi a capaz de arti cular a
ci nci a com a vi da coti di ana, buscando assi m
dar conta de duas i mportantes problemati za-
es contemporneas sobre o tema: a dupla
hermenutica de Boaventura Santos (1989) e a
arena transepistmica de Bourdieu (1983). Nes-
ta arti culao i nevi tavelmente ambi ci osa, en-
tram ento a objetividade, a subjetividade, a vi-
da cotidiana, a cincia, os indivduos, a socieda-
de, as teorias, as prticas, os significados, o sen-
tido, a constituio dos sujeitos e as determina-
es dos objetos, estruturados de manei ra a
permi ti r entender como e por que desapare-
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
880
cem, permanecem e conformam um todo que
expande nossas capacidades de entendimento e
ao sobre a realidade (Testa, 1997).
A proposta metodolgi ca esboada por
Mrio Testa, e que podemos adotar como linha
de base para o programa de investigao sobre
modo de vida e sade, particularmente no cap-
tulo referente aos modelos epidemiolgicos de
determi nao soci al das Doenas Crni cas
No-Transmi ssvei s, i ncorpora o repertri o
mais atualizado das cincias sociais contempo-
rneas, com um forte componente lingstico-
semiolgico. Assumindo as idias de Julia Kris-
teva (1969) de uma cincia do sentido e incor-
porando o instrumental heurstico da seman-
lise, Testa aponta para a investigao histrica
deum conjunto defatos sociais, prticas da vida,
formulaes crticas, procedimentos metodolgi-
cos, dirigidos a elucidar as relaes entrea lngua,
a fala, a escritura, os signos, as prticas semiti-
cas, a conscincia, a ideologia... (1997 gri fos
nossos). Desse modo, o objeto privilegiado des-
sa linha de investigao seria o corpusde discur-
sos que se transformam em textos mediante um
trabalho social, no processo de construo his-
tri ca de fatos soci ai s no mundo da vi da. O
conjunto desses textos conforma um discurso
soci al comum, que no referenci al ori gi nal da
teoria do modo de vida tem um nome, chama-
seideologia, suas razes como assinalamos com
freqncia so mticas, religiosas ou histricas
(...) porm qualquer queseja seu valor deverda-
de, fundamentam o saber fazerqueseencontra
nas prticas cotidianas (queincluem) as querea-
lizamos todos os dias denossas vidas, queconfor-
mam as atividades que podemos chamar legiti-
mamenteculturais (Testa, 1997).
Na proposta terica de Testa, a concepo
de i deologi a como conheci mento comum
chave para a construo de equivalncias com o
conceito antropolgico de cultura, superando
seu carter de construto esttico carente de his-
toricidade. A relao entre conscincia histrica
e ideologia constitui o fundamento permanente
das prticas (comportamentos sociais) na vida
coti di ana, que abarca tudo o que chamamos
cultura tcni ca (a manei ra com que um povo
ganha a vi da) e cultura sem apeli do (o que se
faz com a vi da que se ganha) (Testa, 1997). O
contedo concreto do mbito da vida cotidiana
ser ento dado por um conceito fundamental
para a compreenso do modo de vida, que o
de prti cas da vi da coti di ana, consti tui dora
dos mltiplos mundos da vida (Testa 1997).
Nas palavras de Testa:
Esta realidad, vida cotidiana, mundo dela vi-
da, mundo objetivo, mundo social de la vida,
para mencionar slo algunos delos trminos uti-
lizados por diversos autores, se constituye por la
relacin sealada con la praxis (la produccin, el
trabajo, la objetivacin, la accin) en lo que po-
dra definirse como um positividad pura, donde
no existen negatividades lo cual no significa que
no haya negaciones respecto dela vida en cuan-
to tal (Testa, 1997).
Esta positividade nada mais que a ideolo-
gia que aparece, na abordagem de Testa, como
uma das categorias insubstituveis da anlise da
cotidianidade (Testa 1977). A expresso positi-
vidade pura, de certo modo audaciosa, preten-
de implicar o carter de saber no questionado
da ideologia, no papel de base conceitual do
saber fazer como fundamento material das pr-
ticas culturais. Apesar da ousadia de Mrio Testa
ao propor, nestes tempos neoliberais, o resgate
do conceito marxista de ideologia para fundar
uma teoria do cotidiano, na sua formulao
observamos certa timidez terica, demasiado
respeitosa do antropologismo helleriano. Tal-
vez por esse motivo que, apesar de elaborar
um sofisticado repertrio de conceitos bem arti-
culados em um quadro terico, com a noo de
modo de vida na ponta da lngua, Testa
(1997) prefere falar de um espao das prticas
da vida cotidiana dentro do qual aparece um
conhecimento comum. Podemos faz-lo em
seu lugar, definindo modo de vida como con-
junto articulado das prticas da vida cotidiana.
Parte importante da teoria geral do modo
de vida e sade ser certamente uma teoria do
sujei to, presente e i mportante na abordagem
testiana, aqui apresentada de modo esquemti-
co. Para Testa, na coti di ani dade defi ne-se um
processo de constituio que implica o conjun-
to das transformaes do sujeito, de sujeito ori-
gi nri o para sujei to soci al e de sujei to i ndivi -
dual para sujeito coletivo. O sujeito coletivo o
resultado dos efeitos de estrutura e dos efeitos
da prti ca, atravs dos atos do drama (Testa
1995), enquanto o sujeito da vida um sujeito
ideologizado (Testa 1997). A constituio do
sujei to conforma ento um ci clo de transfor-
maes: sujeito da vida >> sujeito pblico >>
sujeito epistmico >> sujeito avaliador. Em um
primeiro momento, produz-se o sujeito epist-
mico, senhor da tcnica, atravs de um processo
de objetivizao do sujeito. Porm essa objetivi-
zao no completa a transformao do sujeito
da vida em sujeito epistmico; tambm muda a
lgica, que passa de uma lgica que tem ligao
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
881
com o sentido das coisas, caracterstica da vida
social, para uma lgica do significado das pala-
vras, concei tos e relaes, que adqui rem uma
preciso que carecem na vida cotidiana (Testa,
1997). Enfim, o desafio da emancipao do su-
jeito implica operar o processo de constituio
do sujeito da prtica para transform-lo em um
sujeito ps-epistmico.
Modelo terico de modo de vida
como determinante de DCNT
Vi mos aci ma como a soci ologi a funci onali sta
propiciou a estruturao de modelos psicosso-
ciais de sade, posteriormente incorporando a
questo do estilo de vida e das desigualdades
sociais e as teorias do capital social em sade.
Avaliamos tambm modelos baseados em con-
ceitos-chave do marxismo clssico: processo de
trabalho e estrutura de classes da sociedade. A
partir dessa anlise, identificamos importantes
lacunas tericas no que diz respeito aos dom-
nios simblico e da cotidianidade que deman-
dam uma alternativa concei tual que se pode
chamar de teori a do modo de vi da e sade
(Almei da Fi lho, 2000). Como subsdi o para a
construo terica proposta, mostramos como
o concei to modo de vi da se arti cula teori a
social marxista e discutimos propostas de con-
cei tuali zao anlogas e paralelas teori a do
modo de vida e sade, especialmente a teoria
dos signos, significados e prticas de sade de
Bibeau & Corin e a abordagem das prticas de
sade de Mrio Testa.
Um modelo terico da determinao soci-
al das Doenas Crni cas No-Transmi ssvei s
com base na relao modo de vida e sade no
se constri pela negao das contribuies das
diferentes teorias sociais da sade. Ao contr-
ri o, devemos buscar uma i ncorporao dos
principais elementos dos quadros tericos aqui
revisados para formar uma estrutura explicati-
va mais avanada. Assim, a partir da articulao
dos trs circuitos dialticos fundamentais para
a compreenso do processo sade-enfermida-
de-ateno nas sociedades concretas (o traba-
lho, a reproduo soci al e o modo de vi da)
apresentamos a seguir uma sntese de elemen-
tos dos modelos objeto desta reviso crtica. Is-
so permi te lanar as bases concei tuai s de um
enfoque teri co certamente mai s adequado
para a elaborao de modelos epidemiolgicos
de determinao social das Doenas Crnicas
No-Transmissveis.
Assi m, conforme a fi gura 5, mantm-se a
concepo original da formao econmico so-
cial como expresso concreta do modo de pro-
duo, destacando-se os dois processos funda-
mentais: o processo de trabalho (ciclos de pro-
Figura 5
Modelo etnoepidemiolgico (teoria do modo de vida & sade).
PRODUO
REPRODUO
MODO DE VIDA
BASE
MATERIAL
V
V V V
V
V
CONSUMO
DISTRIBUIO
SIGNOS &
SENTIDOS
CONFIGURAES DE RISCO
SADE-DOENA-CUIDADO
Doenas Crnicas No-Transmissveis
PROCESSO
LABORAL
TRABALHO
MAIS-VALIA
CLASSES
SOCIAIS
CONSTRUO
CULTURAL
PRTICAS
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
882
duo econmica) e o processo de reproduo
social. Dessa maneira, preserva-se o papel capi-
tal da dinmica das classes sociais e do processo
de trabalho propriamente dito como determi-
nantes das condies de vida e, indiretamente,
como condicionantes dos estilos de vida defini-
dos conforme a formulao de Possas (1989).
O processo da reproduo soci al efetiva-
mente informa melhor a construo terica da
relao modo de vida e sade (Samaja 2000). O
ciclo da reproduo social (produo-distribui-
o-consumo), que j compartilha a interface
da produo propriamente dita com o processo
de trabalho, articula-se aos ciclos produtivos da
vi da coti di ana atravs do consumo, como vi -
mos aci ma. As formas de produo da vi da
soci al, expresso concreta do modo de vi da,
tambm operam uma dinmica complexa arti-
culada aos si stemas de si gnos, si gni fi cados e
prti cas expressos no modelo de Bi beau &
Corin. Trata-se, enfim, dos processos (de prote-
o e promoo) da sade relaci onados aos
fatos sociais da vida, do crescimento, do sofri-
mento e da morte, ou seja, as prti cas da vi da
cotidiana de que fala Testa (1997).
Isso significa que a anlise da relao modo
de vida e sade passa necessariamente por uma
semi ologi a e uma pragmti ca dos processos
sade-enfermi dade-cui dado. Ambas se reali -
zam tomando-os como efei tos de um duplo
processo de construo social, tanto como pro-
duto de atos concretos de exposio-proteo a
fatores e configuraes de risco, efeito de estilos
de vida, quanto como processos de reconheci-
mento e designao de anormalidade e presen-
a de patologia, etapas prvias s respostas soci-
ais diante dos problemas de sade.
nesse sentido que o conceito de modo de
vida pode ser formulado como uma construo
terica basal, que no implica meramente con-
dutas individuais ante a sade. Tal proposio
vai mai s alm, i nclui ndo as di menses sci o-
hi stri cas, englobando a di nmi ca das classes
sociais e das relaes sociais de produo, sem-
pre considerando os aspectos simblicos da vi-
da coti di ana na soci edade. Consi derando a
natureza complexa, subjetiva e contextual da
relao entre sade-enfermi dade e processos
constituintes das iniqidades sociais, propomos
enfim substituir a clssica abordagem de fatores
de risco por modelos de vulnerabilidade, mais
sensveis s especificidades simblicas e ao car-
ter interativo da relao entre os sujeitos huma-
nos e seu meio (ambiente, cultural e scio-his-
trico).
Desse modo, podemos avanar a noo de
que qualquer evento ou processo soci al, para
representar uma fonte potencial de risco para a
sade, necessi ta estar em ressonnci a com a
estrutura epidemiolgica dos coletivos huma-
nos. No se trata exclusivamente da ao exter-
na de um elemento ambi ental agressivo, con-
forme indicado na metfora de fatores-produ-
zi ndo-ri scos, nem da reao i nternali zada de
um hspede susceptvel, mas sim de um sistema
complexo (totalizado, interativo, processual) de
efeitos patolgicos. A compreenso desta com-
plexidade interativa, instvel e dinmica se re-
vela particularmente importante para a questo
cientfica geral dos modelos epidemiolgicos de
determinao social das Doenas Crnicas No-
Transmissveis (Gonalves, 1990).
Cremos que a referncia apenas oblqua ao
conceito central de modo de vida na obra de
Mario Testa deve-se ao fato de que o seu proje-
to ori gi nal emi nentemente de construo
epistemolgica. A sntese de Testa funda-se em
uma teoria das prticas sociais na cotidianida-
de, articulada a uma teoria do sujeito, por sua
vez baseada em uma proposta metodolgi ca
derivada de teorias do sentido, do significado e
da ao. No obstante, talvez por causa da sua
origem intelectual no campo da sade coletiva,
trata-se de uma perspectiva orgnica ao progra-
ma de construo de modelos epidemiolgicos
de determinao social baseados no conceito de
modo de vida.
Em suma, a esperada e necessria teoriza-
o sobre as relaes complexas entre modo de
vida (ou prticas da vida cotidiana, na lingua-
gem testiana) e determinantes-processo-efeitos
sobre a sade individual e coletiva nesse caso se
encaixa como uma luva aos modelos de deter-
minao social da epidemiologia contempor-
nea. O desafio, neste momento inicial de cons-
truo teri ca, ser arti cular esse formi dvel
dispositivo terico, portador de uma potencia-
li dade heursti ca efetivamente totali zante,
produo conceitual mais localizada no campo
da Sade Coletiva, particularmente em relao
ao tema cruci al das Doenas Crni cas No-
Transmissveis.
C
i
n
c
i
a
&
S
a
d
e
C
o
l
e
t
i
v
a
,
9
(
4
)
:
8
6
5
-
8
8
4
,
2
0
0
4
883
Referncias bibliogrficas
Almeida Filho N 1987. Apuntes sobreel modo devida co-
mo determinanteepidemiolgico. Taller sobreCondi-
ciones deVida y Salud. Organizao Pan-Americana
da Sade. Braslia DF. (Documentos de Trabalho).
Almeida-Filho N 2000. A cincia da sade. Hucitec, So
Paulo.
Antonovsky A 1979. Health, stressand coping. Jossey-Bass,
So Francisco.
Arouca AS1975. O dilema preventivista: contribuio para
a compreenso ecrtica da medicina preventiva. Tese
de doutorado. Unicamp, Campinas.
Barger W 1977. Culture change and psychosocial adjust-
ment. American Ethnologist 4:471-95.
Bi beau G 1987. Rpres pour une approche anthropo-
logi que en psychi atri e, pp. 67-76. In E Cori n, S
Lamarre, P Mi ngneault & M Tousi gnant (eds.) R-
gardsanthropologiquesen psychiatrie. Editions du GI-
RAME, Montreal.
Bibeau G 1988. A step toward thick thinking: from webs
of si gni fi cance to connecti ons across di mensi ons.
Medical Anthropology Quarterly2:402-416.
Bi beau G 1994. Hay una enfermi dad en las Amri cas?
Otro camino de la antropologia mdica para nuestro
tiempo, pp. 44-70. In Cultura y salud en la construc-
cin delas Amricas. Insti tuto Colombi ano de Cul-
tura, Bogot.
Bi beau G & Cori n E 1994. Culturali ser lpi dmi ologi e
psychiatrique. Les systmes de signes, de sens et dac-
ti on en sant mentale, pp. 98-106. In P Charest, F
Trudel & Y Breton (dir.). Marc-Adlard Tremblay ou
la construction delanthropologiequbcoise. Presses
de L niversit Laval, Quebec.
Bibeau G & Corin E 1995. From submission to the text to
i nterpretative vi olence, pp. 3-54. In G Bi beau & E
Corin (eds.). Beyond textuality. Ascetism and violence
in anthropological interpretation. Approaches to Semi-
oticsSeries. Mouton de Gruyter, Berlim.
Bourdieu P 1980. Lesenscritique. ditions de Minuit, Paris.
Bourdieu P 1983. O campo cientfico, pp. 122-155. In R
Ortiz (org.) PierreBourdieu. Editora tica, So Paulo.
Breilh J1989. Epidemiologia: economia,medicina y poltica.
Fontamara, Mxico.
Breilh J1991. La epidemiologa (crtica) latinoamericana:
anlisis general del estado del arte, los debates y de-
safios actuales, pp. 164-214. In SFranco, E Nunes, J
Brei lh & AC Laurell. Debates en medicina social.
OPS/ALAMES, Ecuador. (Serie Desarrollo de Recur-
sos Humanos n. 92).
Brei lh J, Granda E, Campaa A & Betancourt O 1983.
Ciudad y muerteinfantil: la mortalidad infantil dife-
rencial en el area urbana deQuito. CEAS, Quito.
Breilh J& Granda E 1985. Os novos rumos da epidemiolo-
gia, pp. 241-253. In E Nunes (org.). Ascinciassociais
em sadena Amrica Latina. OPAS, Braslia. (Tendn-
cias e Perspectivas).
Breilh J, Campana A & Granda E 1991. Regionalizacin
de la calidad de vida y salud materno-infantil: aproxi-
macin a la geografia de las condiciones de salud-en-
fermedad en el Ecuador. Geografia Bsica del Ecuador
II(2):91-110.
Broadhead W & Kaplan B 1991. Soci al support and the
cancer patient. Cancer 67(3):794-799.
Broadhead W et al. 1983. The epidemiologic evidence for
a relati onshi p between soci al support and health.
American Journal of Epidemiology117(5):521-537.
Cassel J1967. Factors involving sociocultural incongruity
and change: appraisal and implications for theoreti-
cal development. Milbank Memorial Fund Quarterly
45:41-45.
Cassel J1974. Psychosocial processes and stress: theoreti-
cal formulation. International Journal of Health Ser-
vices4(3)471-482.
Cassel J1976. The contribution of the social environment
to host resistance. American Journal of Epidemiology
104:127-133.
Cassel J, Patri ck R & Jenki ns D 1960. Epi demi ologi cal
analysis of the health implications of culture change:
a conceptual model. Annalsof theNY Academy of Sci-
ences84: 938-49.
Cori n E 1993. Les dtours de la rai son. Rpres smi -
ologiques pour une anthropologie de la folie. Anthro-
pologieet Socits17(1-2):5-20.
Cori n E 1995. The soci al and cultural matri x of health
and disease, pp. 93-132. In RG Evans, ML Barer & R
Marmor (eds.). Why aresomepeoplehealthy and oth-
ersnot? Thedeterminantsof health of populations. Al-
dine de Gruyter, Hawthorn, NY.
Cori n E, Ucha E, Bi beau G & Harnoi s G 1989. Les ati-
tudes dans le champ de la sant mentale. Repres
thoriques et mthodologiques pour unetudeethno-
graphiqueet comparative. Centre Collaborateur OMS
(Centre Hospitalier Douglas), Montreal.
Corin E, Bibeau G, Laplante R & Martin JC 1990. Com-
prendrepour soinger autrement. Repres pour rgion-
aliser les services desantmentale. Presses de LUni-
versit de Montral.
Corin E, Bibeau G & Ucha E 1993. lments dune smi-
ologie anthropologique des troubles psychiques chez
les Bambara, Sonink et Bwa du Mali. Anthropologie
et Socits17 (1-2): 125-156.
De Martino E 1961. La terra del rimorso. Saggiatore, Milo.
Dohrenwend B & Dohrenwend B (eds.) 1974. Stressful life
events: their natureand effects. Wiley & Sons, Nova York,
Donnangelo MCF 1978. Sadeesociedade. Duas Cidades,
So Paulo.
Dressler W 1985. Psychosomati c symptoms, stress and
modernization: a model. Culture, Medicineand Psy-
chiatry9(3):257-288.
Engels F 1972. Theorigin of thefamily, privateproperty
and theState. International Publishers, Nova York.
Evans T, Whitehead M, Diderichsen F, Bhuiya A & Wirth
M (eds.) 2001. Challenginginequities in health: from
ethicsto action. Oxford University Press, Nova York.
Fbregas A 1979. Antropologa, marxi smo y prcti ca
poltica. Nueva Antropologa11:13-19.
Garcia JC 1972. La educacin mdica en Amrica Latina.
OPAS, Washington. (Publicacin Cientfica 255).
Garci a JC 1983. La categora trabajo en la medi ci na.
CuadernosMdico-Sociales23:5-18.
Gardell B 1982. Scandinavian research on stress in working
life. International Journal of Health Services12:1-12.
Gonalves RB 1990. Reflexo sobre a articulao entre a
i nvesti gao epi demi olgi ca e a prti ca mdi ca: a
propsito das doenas crnicas degenerativas, pp. 39-
85. In D Costa (org.) Epidemiologia: teoria eobjeto.
Hucitec-Abrasco, So Paulo-Rio de Janeiro.
A
l
m
e
i
d
a
-
F
i
l
h
o
,
N
.
884
Gramsci A 1978. Concepo dialtica da Histria. Civiliza-
o Brasileira, Rio de Janeiro.
Granda E 1976. Epidemiologa: instrumento dedominacin o
deliberacin. Universidad Central del Ecuador, Quito.
Heller A 1977. Sociologia dela vida cotidiana. Pennsula,
Barcelona.
Heller A 1989. O cotidiano ea Histria. Paz e Terra, Rio de
Janeiro.
Hinkle Jr. L 1973. The concept of stress in the biological
and social sciences. Science, Medicineand Man1:34-43.
Hobsbawn E 1977. Introduo, pp.13-64. In K Marx. For-
maeseconmicaspr-capitalistas. Paz e Terra, Rio de
Janeiro.
Ibrahim M et al. 1980. The legacy of John Cassel. Ameri-
can Journal of Epidemiology112(1):1-7.
James S1994. John Henryi sm and the health of Afro-
Americans. Culture, Medicineand Psychiatry18(2):
163-182.
James S& Kleinbaum D 1976. Socioecological stress and
hypertensi on related to mortali ty rates i n North
Caroli na. American Journal of Public Health66(4):
354-358.
Kaplan B 1992. Social health and the forgiving heart. Jour-
nal of Behavioral Medicine15(1):3-14.
Kaplan B & Cassel J1975. Family and health: an epidemio-
logical approach. UNC Institute for Research and So-
cial Science, Chapel Hill.
Kaplan B, Cassel J & Gore S1977. Soci al support and
health. Medical Care15(5): 47-58.
Kawachi I & Berkman L 2000. Soci al capi tal. In L Berk-
man & Kawachi I (eds.). Social epidemiology. Oxford
University Press, Nova York.
Kelle A & Kovalzn K 1975. Cultura y formacin social.
Editorial Progresso, Moscou.
Kristeva J1968. La semiologie: science critique et/ou cri-
ti que de la sci ence, pp. 80-93. In M Foucault et al.
TheorieDensemble. Seuil, Paris.
Laurell AC 1977. Algunos problemas teri cos y conce-
ptuales de la epi demi ologa soci al. Revista Centro-
Americana deCienciasdela Salud3(5):79-97.
Laurell AC 1981. Processo de trabalho e sade. Sadeem
Debate11:8-23.
Laurell AC 1987. Para el estudio de la salud en su relacin
con el proceso de produccin, pp. 61-94. In ALAMES.
Anales Taller Latinoamericano deMedicina Social.
Medelln.
Laurell AC 1991. Trabajo y salud: estado del conocimien-
to, pp. 249-321. In SFranco, E Nunes, JBreilh & Lau-
rell AC. Debates en medicina social. OPS/ALAMES,
Ecuador. (Serie Desarrollo de Recursos Humanos n.
92).
Laurell AC & Nori ega M 1989. Processo deproduo e
sade. Trabalho edesgasteoperrio. Hucitec, So Paulo.
Mackenbach JP2002. Income inequality and population
health. British Medical Journal 324:1-2.
Marmot M 2001. Economi c and soci al determi nants of
di sease. Bulletin of theWorld Health Organization
79(10):906-1004.
Marx K 1973. Grundrisse Foundations of thecritiqueof
political economy. Penguin, Londres.
Marx K 1984. O capital: crtica da economia poltica. Abril
Cultural, So Paulo.
Marx K & Engels F 1977. Thegerman ideology. Penguin,
Londres.
Marx K 1977. Economico-philosophical manuscripts. Pen-
guin, Londres.
Menndez E 1990. Antropologa mdica. Orientaciones, de-
sigualdades y transacciones. Casa Chata/CIESAS,
Mxico.
Menndez E 1995. Antropologa mdica y epidemiologa:
proceso de convergenci a o proceso de medi cali za-
cin?Anais do I Congresso Latinoamericano, II Con-
gresso Iberoamericano eIII Congresso Brasileiro deEpi-
demiologia. Salvador, Abrasco.
Morgan L 1977. La sociedad antigua [ 1877] , pp. 65-123.
In Darwin, Morgan, Tylor. Los orgenes dela antro-
pologa. Centro Editor de Amrica Latina, BuenosAires.
Possas C 1989. Epidemiologia esociedade. Heterogeneidade
estrutural esadeno Brasil. Hucitec, So Paulo.
Samaja J1998. Epistemologia e epidemiologia, pp. 23-36.
In N Almeida-Filho, R Barata, M Barreto & Veras R
(eds). Teoria epidemiolgica hoje: fundamentos, ten-
dncias, perspectivas. Fiocruz-Abrasco, Rio de Janeiro.
Samaja J2000. A reproduo social ea sade. Casa da Sa-
de, Salvador.
Santos BS1989. Introduo a uma cincia ps-moderna.
Graal, Rio de Janeiro.
Selye H 1956. Stress. Basic Books, Nova York.
Tambellini A 1976. Contribuio anliseepidemiolgica
dosacidentesdetrnsito. Tese de doutorado. Unicamp,
Campinas.
Testa M 1995. Pensamento estratgico elgica deprogra-
mao. O caso da sade. Hucitec-Abrasco, So Paulo-
Rio de Janeiro.
Testa M 1997. Saber en salud la construccin del cono-
cimiento. Lugar Editorial, Buenos Aires.
Trostle J 1986. Anthropology and epi demi ology i n the
twentieth century: a selective history of collaborative
projects and theoretical affinities, 1920 to 1970, pp.
59-94. In C Janes, R Stall & Gifford S(eds.). Anthro-
pology and epidemiology: interdisciplinary approaches
to thestudy of health and disease. Redle, Dordrecht.
Tylor EB 1977. La ci enci a de la cultura [ 1871] , pp. 125-
153. In Darwin, Morgan, Tylor. Los orgenes dela an-
tropologa. Centro Editor de Amrica Latina, Buenos
Aires.
Tyroler H & Cassel J 1964. Health consequences of cul-
ture change: II. The effect of urbanization on coro-
nary heart mortali ty of rural resi dents. Journal of
Chronic Diseases17:167-177.
Victora C, Barros F & Vaughan P 1989. Epidemiologia da
desigualdade. Hucitec, So Paulo.
White L 1978. O conceito desistemas culturais. Zahar, Rio
de Janeiro.
Wilkinson RG 1996. Unhealthy societies. Theafflictions of
inequality. Routledge, Londres.
Wilson R 1970. Thesociology of health. Random House,
Nova York.
Young A 1980. The Discourse on stress and the reproduc-
ti on of conventi onal knowledge. Social Scienceand
Medicine148:133-146.
Artigo apresentado em 20/4/2004
Aprovado em 10/5/2004
Verso final apresentada em 20/5/2004
You might also like
- Maya AngelouDocument35 pagesMaya AngelouG Munhu100% (2)
- Framework PDFDocument50 pagesFramework PDFCaroline Ferraz IgnacioNo ratings yet
- Making Fair Choices On The Path To Universal Report of Consultant WHODocument84 pagesMaking Fair Choices On The Path To Universal Report of Consultant WHORainer Danny Poluan MamahitNo ratings yet
- WHO Health Indicators PDFDocument130 pagesWHO Health Indicators PDFCaroline Ferraz IgnacioNo ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5782)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (890)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (265)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (399)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (838)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (587)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (72)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (344)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2219)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1090)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (119)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- Figures of Romantic Anti-Capitalism (Sayre & Löwy)Document52 pagesFigures of Romantic Anti-Capitalism (Sayre & Löwy)dfgsgstrhsrNo ratings yet
- AsicDocument2 pagesAsicImmanuel VinothNo ratings yet
- MKS Fourier Transform TutorialDocument50 pagesMKS Fourier Transform TutorialBhaski Madhappan100% (1)
- Promoting A Positive Health and Safety Culture PDFDocument31 pagesPromoting A Positive Health and Safety Culture PDFhamza abbasNo ratings yet
- DE KH O SÁT SO GDĐT BAC GIANG For StudentsDocument5 pagesDE KH O SÁT SO GDĐT BAC GIANG For StudentsGuen KitoNo ratings yet
- Global Developmental DelayDocument4 pagesGlobal Developmental DelayPaulina Kristiani BangunNo ratings yet
- MATERI RAN PASTI-Rencana Aksi Nasional Cegah Stunting 19 MEI 2022Document37 pagesMATERI RAN PASTI-Rencana Aksi Nasional Cegah Stunting 19 MEI 2022daldukdanpks dpppappkbNo ratings yet
- Volunteer and GivingDocument1 pageVolunteer and Givingvolunteer_spiritNo ratings yet
- SmartConnect-GenesysPS CapabilityDocument41 pagesSmartConnect-GenesysPS CapabilitySmartConnect TechnologiesNo ratings yet
- Moment Connection HSS Knife Plate 1-24-15Document31 pagesMoment Connection HSS Knife Plate 1-24-15Pierre du Lioncourt100% (1)
- Mathematics Upper Secondary4Document5 pagesMathematics Upper Secondary4fvictor1No ratings yet
- User S Manual: NAR-5060 Communications ApplianceDocument57 pagesUser S Manual: NAR-5060 Communications Appliancewayan.wandira8122No ratings yet
- CGR ProjectDocument22 pagesCGR Projectrushi matre83% (12)
- Marxist View of ColonialismDocument9 pagesMarxist View of ColonialismEhsan VillaNo ratings yet
- PHD Thesis Conversion To Islam in BritianDocument267 pagesPHD Thesis Conversion To Islam in BritianAlexander Sebastian Gorin100% (1)
- Bioethanol Production From Breadnut (Artocarpus Camansi) ProposalDocument46 pagesBioethanol Production From Breadnut (Artocarpus Camansi) ProposalIvan ArcenaNo ratings yet
- Frank, W. José Carlos MariáteguiDocument4 pagesFrank, W. José Carlos MariáteguiErick Gonzalo Padilla SinchiNo ratings yet
- Red Black Tree MaterialDocument5 pagesRed Black Tree MaterialAvinash AllaNo ratings yet
- Planning Scheduling Using PrimaveraDocument10 pagesPlanning Scheduling Using PrimaveraMohammedNo ratings yet
- Paper 62305-2Document6 pagesPaper 62305-2Jose Luis BarretoNo ratings yet
- H-P FEMDocument22 pagesH-P FEMGraham RobertsNo ratings yet
- CWDM Vs DWDM Transmission SystemsDocument4 pagesCWDM Vs DWDM Transmission Systemsdbscri100% (1)
- First Rating Summative Test No. 1Document3 pagesFirst Rating Summative Test No. 1Luz MahinayNo ratings yet
- RPH laNUn Amali Week 15 H1 P1Document1 pageRPH laNUn Amali Week 15 H1 P1shehdilanunNo ratings yet
- Indigenising Perspectives and Practices Toolkit: Teaching Residential Schools in A Grade 10 Academic Class Caitlin Kalynchuk Lakehead UniversityDocument37 pagesIndigenising Perspectives and Practices Toolkit: Teaching Residential Schools in A Grade 10 Academic Class Caitlin Kalynchuk Lakehead Universityapi-349085564No ratings yet
- Last Mile Distribution in Humanitarian ReliefDocument14 pagesLast Mile Distribution in Humanitarian ReliefHardik GuptaNo ratings yet
- Feder - Et Al 2012 - The Genomics of Speciation With Gene FlowDocument9 pagesFeder - Et Al 2012 - The Genomics of Speciation With Gene FlowFreddy Alexander Grisales MartinezNo ratings yet
- Inter Personal Skills-Delegation, Humour, Trust Expectations, Values, Status & CompatabilityDocument21 pagesInter Personal Skills-Delegation, Humour, Trust Expectations, Values, Status & Compatabilityakkie1987No ratings yet
- Analysing Data and Presenting Results for Physics ExperimentsDocument175 pagesAnalysing Data and Presenting Results for Physics ExperimentsMabrur Quaderi100% (1)
- TV OFF FOR STUDYDocument3 pagesTV OFF FOR STUDYTomi Todingan100% (1)