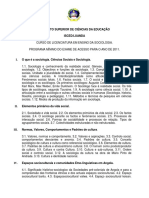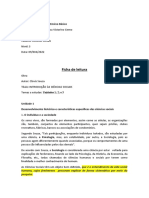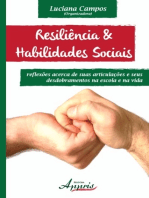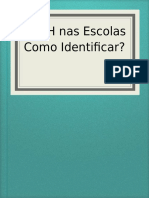Professional Documents
Culture Documents
162290por PDF
Uploaded by
Carla MachadoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
162290por PDF
Uploaded by
Carla MachadoCopyright:
Available Formats
Braslia, agosto de 2008
P A R A D I G M A S
D A E X C L U S O S O C I A L
G E R A L D O C A L I M A N
UNIVERSIDADE CATLICA DE BRASLIA UCB
Reitor
Jos Romualdo Degasperi
Pr-Reitor de Graduao
Jos Leo da Cunha
Pr-Reitor de Ps-Graduao e Pesquisa
Geraldo Caliman
Pr-Reitor de Extenso
Luiz Sveres
EDITORA UNIVERSA
Diretora
Marta Helena de Freitas
Conselho Editorial
Marta Helena de Freitas
Presidente do Conselho
Antnio de Moura Borges
Joo Jos Azevedo Curvello
Jorge Hamilton Sampaio
Nanci Maria de Frana
Nelson Gonalves Gomes
Renato de Veiga Guadagnin
Ricardo Arajo
Srgio Luiz Garavelli
Tnia Mara Campos de Almeida
Coordenadora Executiva
Angela Clara Dutra Santos
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS PARA A EDUCAO, A CINCIA E A CULTURA (UNESCO)
Vincent Defourny
Representante da UNESCO no Brasil
Coordenador Editorial
Clio da Cunha
P A R A D I G M A S
D A E X C L U S O S O C I A L
G E R A L D O C A L I M A N
P A R A D I G M A S
D A E X C L U S O S O C I A L
G E R A L D O C A L I M A N
Ctedra UNESCO de Juventude,
Educao e Sociedade
2008. Editora Universa e Organizao das Naes Unidas para a Educao, Cincia e Cultura
(UNESCO).
Reviso: Jeanne Sawaya
Capa: Edson Fogaa
Projeto grco: Paulo Selveira
Diagramao: Rodrigo Domingues
Caliman, Geraldo
Paradigmas da excluso social / Geraldo Caliman. Braslia: Editora Universa,
UNESCO, 2008.
368 p.
ISBN: 978-85-60485-18-5
1. Excluso Social 2. Delinqncia juvenil 3. Desigualdade Social 4.
Discriminao Social 5. Pobreza I. UNESCO II. Ttulo
O autor responsvel pela escolha e apresentao dos fatos contidos neste livro, bem como pelas opi-
nies nele expressas, que no so necessariamente as da UNESCO, nem comprometem a Organizao.
As indicaes de nomes e a apresentao do material ao longo deste livro no implicam a manifestao
de qualquer opinio por parte da UNESCO a respeito da condio jurdica de qualquer pas, territ-
rio, cidade, regio ou de suas autoridades, nem tampouco a delimitao de suas fronteiras ou limites.
Representao no Brasil
SAS, Quadra 5, Bloco H, Lote 6,
Ed.CNPq/IBICT/UNESCO, 9 andar
70070-914 - Braslia - DF - Brasil
Tel.: (55 61) 2106-3500 / Fax: (55 61) 3322-4261
Site: www.unesco.org.br
E-mail: grupoeditorial@unesco.org.br
Editora Universa - UCB
Q.S. 7 Lote 1 guas Claras
Taguatinga - DF 71966-900
Tel. : +55-61-3356-9157
Fax: +55-61-3356-3010
Site: www.ucb.br
E-mail: universa@ucb.br
Agradecimentos
Ao saudoso professor e socilogo italiano Giancarlo Milanesi (in memoriam)
de quem aprendi o amor Pedagogia Social.
SUMRI O
Introduo .................................................................................................................. 9
Captulo 1 - As necessidades humanas .................................................................. 27
Captulo 2 - A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza .......... 95
Captulo 3 - Marginalidade e excluso social ....................................................... 109
Captulo 4 - Conceitos de desvio e delinqncia ................................................ 129
Captulo 5 - Tipologias, funes e disfunes do desvio .................................. 169
Captulo 6 - Introduo ao quadro terico .......................................................... 183
Captulo 7 - Paradigma utilitarista: delinqncia como opo racional ....... 199
Captulo 8 - Paradigma positivista: delinqncia como patologia individual 209
Captulo 9 - Paradigma social: delinqncia que se desenvolve em ambiente
socialmente desorganizado ....................................................................................... 235
Captulo 10 - Paradigma cultural: aprendizagem e cultura ............................... 257
Captulo 11 - Paradigma funcionalista: integrao e anomia ........................... 269
Captulo 12 - Paradigma construtivista: rotulao e identidade ...................... 283
Captulo 13 - Paradigma fatorialista: categoria interpretativa do risco social .299
Captulo 14 - Observaes sobre a pesquisa sociolgica .................................. 321
Referncias bibliogrcas ......................................................................................... 343
9
A
lgumas teorias que interpretam o desvio social o vem como uma
maneira de as pessoas comunicarem o prprio mal-estar pessoal e
social. Como um modo de exprimir a fadiga de viver gerada pela
frustrao de muitas de suas necessidades fundamentais, sejam elas de nvel
individual que social, de nvel material que ps-material.
Sociologia do controle, sociologia da delinqncia e sociologia da diversidade
so alguns dos nomes que tratam do mesmo campo de conhecimentos: o desvio,
que tambm est contemplado na sociologia crtica, onde Marx
1
discute as
relaes de produo e classes sociais e na sociologia histrico-compreensiva,
em que Max Weber
2
discute a ao social.
Nos Estados Unidos, onde mais desenvolvida como campo de estudos,
a Social Deviance conta com tericos como Ronald Akers
3
, Robert King Mer-
ton
4
, David Matza
5
, Edwin Lemert
6
, Howard Becker
7
, Erving Goffman
8
, Earl
Rubington
9
e Erich Goode
10
entre outros.
1 MARX, K. ; ENGELS, F. Manifesto del partito comunista. Roma: Editori Riuniti, 1976. (Serie le idee; 18).
2 WEBER, M. Letica protestante e lo spirito del capitalismo. Firenze: Sansoni, 1965.
3 AKERS, R. L. Deviant behavior: a social learning approach. Belmont, Calif.: Wadsworth Pub. Co. [1973];
HAWKINS, R. (Org.). Law and control in society. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, [1975].
4 MERTON, R. K. Social theory and social structure. London: The Free Press of Glencoe, 1964.
5 MATZA, D. Becoming deviant. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.
6 LEMERT, E. M. Human deviance, social problems, and social control. Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall
1967.
7 BECKER, H. S. Outsiders: studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press, 1963.
8 GOFFMAN, E. Asylums: le istituzioni totali. Torino: G. Einaudi, 1970.
9 RUBINGTON, E.; WEINBERG, M. S. (Org.). Deviance. New York: MacMillan 1968.
10 GOODE, E. (Ed.). Moral panics: the social construction of deviance. Blackwell: [s.n.], 1994. p. xi + 265.
Introduo
10
Introduo
No Brasil, embora j desenvolvida tematicamente por Gilberto Velho
11
, e
mais recentemente por Luiz Ricardo Centurio
12
o desvio praticamente des-
conhecido como campo de estudos, ainda que parte signicativa das pesquisas
de carter antropolgico, sociolgico e etnogrco o considerem como uma das
cincias capazes de explicar os principais fatores relacionados delinqncia
infanto-juvenil e criminalidade.
Na obra Desaos, riscos, desvios
13
, publicado pela editora Universa em parceria
com o Unicef em 1998, denimos o desvio como
(...) um comportamento ou uma qualidade (caracterstica) da pessoa social
que, superando os limites de tolerncia em relao norma, consentidos em um
determinado contexto social espao-temporal, objeto de um processo de sano
e/ou de estigmatizao, que exprime a necessidade funcional do sistema social de
controlar a mudana cultural segundo a lgica do poder dominante.
A pedagogia do trabalho social estuda o desvio como sociologia crtica do
controle social. Atravs de um percurso histrico vemos como algumas concep-
es da sociologia do desvio j estavam embutidas na criminologia clssica, a
partir do paradigma utilitarista de Beccaria e positivista de C. Lombroso. Mas
pode-se dizer que nasce mesmo a partir das origens da cincia sociolgica de
E. Durkheim. Desenvolveu-se, posteriormente, no incio do sculo XX pelas
universidades americanas a partir dos estudos dos professores da Universidade
de Chicago (Escola de Chicago). No perodo que precede e se sucede Segunda
11 Gilberto Velho antroplogo, professor titular de antropologia social do Museu Nacional da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outros livros, publicou Desvio e divergncia. Uma crtica da
patologia social (7. ed., Zahar, 1999), A utopia urbana (Jorge Zahar, 1973), Individualismo e cultura (Jorge
Zahar, 1981), Subjetividade e sociedade (Jorge Zahar, 1986), Projeto e metamorfose (Jorge Zahar, 1994) e
Nobres e anjos (Fundao Getlio Vargas, 1998). Coordenou vrias coletneas e publicou 130 artigos
em revistas e captulos de livros.
12 CENTURIO, L. R. M.. Identidade & desvio social: ensaios de antropologia social. Curitiba: Juru,
2003. 150 p.
13 CALIMAN, G. Desaos, riscos, desvios. Braslia: Universa, UNICEF, 1998.
Introduo
11
Guerra desenvolveu-se em diversas perspectivas como a cultural, funcionalista e
a construtivista. A obra de referncia para compreenso da teoria e dos conceitos
em uma perspectiva construtivista, na qual o enfoque dado reao social
diversidade, Outsiders: studies in the sociology of deviance, escrito em 1963 por
Howard Becker.
Para compreender a sociologia do desvio a partir de um enfoque na norma
social til rever Peter Berger e Thomas Luckmann, especialmente os conceitos
de socializao primria e socializao secundria.
14
Hipteses sobre as razes da delinqncia
Todo esse estudo da sociologia do desvio e da marginalidade se contextualiza
aqui dentro de uma perspectiva pedaggica. Acreditamos, como educadores,
que a recuperao ou a retomada da qualidade de vida por parte de jovens
atingidos por fortes condicionamentos sociais negativos seja possvel. E seria
terrvel se no pudssemos acredit-lo.
Partimos de uma hiptese segundo a qual a insatisfao das necessidades
fundamentais da pessoa tende a provocar situaes de risco pessoal e social,
de mal-estar, de fadiga de viver. Partir de uma hiptese como a acima descrita
signica optar por impostar todo o projeto sob uma perspectiva educativa e
no criminalstica. Isso porque quando abordamos os problemas da adolescn-
cia e da juventude precisamos necessariamente partir do princpio segundo o
qual possvel no somente prevenir as carreiras delinqenciais como tambm
signica que acreditamos ser possvel a recuperao e conseqente reincluso
social de sujeitos j comprometidos com a delinqncia. Sobretudo quando
este sujeito social est numa faixa etria (adolescencial e juvenil) que demanda
apoio, cuidados e orientao no seu itinerrio formativo.
14 BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. A construo social da realidade. 24. ed. Petrpolis: Vozes, 2004.
12
Introduo
As pessoas que vivem em situao de risco tendem a dar respostas a tais
situaes pautadas pela transgressividade e pelo desvio, comportamentos
esses que causam perplexidade, reao social, iniciam processos de rotulao e
acabam se transformando em delinqncia no mbito da marginalidade, das
culturas e das subculturas alternativas. Comparativamente podemos dizer que
se algum pisa no seu calo o tempo todo, a certo momento espera-se da parte
da vtima uma comunicao do mal-estar a que est sujeita. Tal comunicao
varia segundo a capacidade das pessoas em administrar a prpria agressividade:
pode ser tanto uma reao de anuncia, e, portanto, o indivduo se retrai e tende
a agredir a si mesmo; ou pode ser, por exemplo, uma reao desproporcional
(em forma de acting-out) e violenta. De qualquer modo, os comportamentos
desviantes tendem sempre a comunicar um mal-estar gerado pela frustrao
de alguma ou de um conjunto de necessidades fundamentais ou direitos
fundamentais da pessoa humana.
A frustrao das necessidades humanas tende a provocar reaes de tipo
transgressivo, desviante, delinqencial: tal insatisfao tem o poder de inuen-
ciar estados de nimo dos indivduos, de modo que a resposta a tais situaes
provm na forma de agressividade, violncia, uso de drogas, pichaes, van-
dalismo, busca de proteo em gangues, estilos de vida capazes de provocar
sentimentos de perplexidade, embarao, intolerncia no senso comum. Tais
comportamentos divergentes, alternativos e que denominamos aqui desvian-
tes, cumprem, quase sempre, a funo de comunicar um mal-estar vivido no
dia-a-dia por quem se sente frustrado em suas necessidades fundamentais.
Muitas das teorias que se desenvolveram historicamente para explicar
comportamentos desde os comportamentos criminais aos comportamentos
delinqenciais e desviantes so de matrizes que podemos armar objetivistas.
So teorias que se alimentaram dentro de paradigmas utilitaristas, positivis-
tas, socioambientais, culturais, behavioristas, funcionalistas. As relaes entre
variveis tendem a ser de tipo linear de causa-efeito. A relao entre as causas,
Introduo
13
ora identicadas em contextos sociais problemticos os mais diversos, ora em
condies de patologia individual, e efeitos, em que o indivduo, imerso em
tais contextos visto ora como vtima, ora como culpado. Muitos deles so
superados, mas julgamos interessante fazer um estudo tambm dessas pers-
pectivas que, historicamente, interpretam o desvio e a marginalidade. Algumas
dessas interpretaes infelizmente permanecem nas anlises de certos setores
da sociedades.
As ltimas interpretaes dos comportamentos transgressivos da juventude
tendem a ser analisadas em uma linha de maior subjetividade. Deixam de lado as
interpretaes de causa-efeito, mas tambm aquelas que se baseiam em anlises
estruturais da sociedade como um todo. Renunciam s anlises da condio
juvenil de tipo macrossocial (estrutural) e se utilizam de anlises que buscam
as explicaes de comportamentos divergentes na dinmica microssocial (rela-
cional e cultural). O foco da interpretao no est mais no cdigo normativo
vigente, na norma social que decide o que certo e o que errado. Mesmo
porque torna-se impraticvel, em uma comunidade socialmente complexa, ousar
denir o certo e o errado, ou eleger um cdigo normativo consensual que
funcione como referencial para a sociedade inteira. O foco da interpretao
passa ento a ser a reao social aos comportamentos diversos, transgressivos,
diferentes, desviantes. No mais a norma social que dene quem e quem
no desviante, mas muito mais o senso comum atravs de sua percepo.
Tal percepo da diversidade de um comportamento ou de um estilo de vida
tende a agir dentro de uma dinmica impiedosa, capaz de estigmatizar,
rotular pessoas, construir novas identidades e inuenciar personalidades. Tal
interpretao, de origem interacionista, e tambm identicada como constru-
tivista, ter seu lugar na nossa reexo.
Mas, existem aqueles pesquisadores que, renunciando a todo tipo de ex-
plicao mais forte, explicaes que construam relaes quase automticas
entre causa-efeito, preferem fazer referncias, em suas explicaes, categoria
14
Introduo
interpretativa do risco social. Tal categoria interpretativa tende a declinar de
explicaes fortes, como j dito acima, em funo de explicaes menos for-
tes, porm mais abrangentes. Por isso referem-se a conceitos tais como risco
social, fatores de risco, correlaes entre situaes de risco e comportamentos
desviantes etc.
Outras interpretaes para o comportamento juvenil provm mais de fora
que de dentro das pessoas so de tipo macrossocial, ou se quisermos ampliar
a armao de tipo estrutural. Essas teorias tiveram seu lugar na interpretao
comportamental divergente enquanto podem exercer fortes condicionamen-
tos no mundo juvenil. Um exemplo o dos condicionamentos exercidos pela
desigualdade social sobre a qualidade de vida das pessoas e, particularmente,
dos jovens que se encontram num itinerrio formativo e de crescimento e so
portadores de decincia ligadas formao. No nos detemos tanto sobre
essas teorias: apenas as sugerimos adiante, pois elas podem representar um
grande quadro condicionante da situao juvenil.
As necessidades humanas
A ligao entre frustrao das necessidades, situao de risco e resposta
transgressiva ou desviante no se manifesta de maneira linear e simplista, mas,
pelo contrrio, complexa o bastante para que tenhamos que estudar a fundo
os seus vrios conceitos, como o de necessidade, de risco, de marginalidade e,
por m, o de desvio.
O primeiro desses conceitos o de necessidades humanas. um conceito
que se encontra no centro de interesse da pedagogia do trabalho social, pois
o trabalhador social se dedica especialmente s pessoas que tm negadas ou
frustradas suas necessidades bsicas. Por isso, conveniente apresentarmos uma
viso geral sobre as diversas formas de abordagem das necessidades humanas,
especialmente as possibilidades de abordagens histrica, losca, econmica,
psicolgica e sociolgica.
Introduo
15
Como armamos acima, o pressuposto bsico da Sociologia do Desvio
a de que a insatisfao das necessidades humanas tende a provocar situaes
de risco e de desvio comportamental
15
(CALIMAN, 1998), com a ressalva
de que esta denio inclui tanto os desvios primrios quanto os secundrios,
conceito que veremos mais adiante.
Pobreza, gravidez indesejada, separao conjugal, abandono de lhos, vivn-
cia de rua, prostituio, drogadio, delinqncia infanto-juvenil e criminalidade
so fatores inerentes e intrnsecos ao ciclo de formao da marginalidade social
e variveis estruturantes das condies de marginalidade, que podem assumir
formas manifestas de violao das normas de convivncia social, tanto como
desvio primrio quanto como desvio secundrio.
Em tese, essas variveis estruturantes da condio de marginalidade con-
duzem o indivduo a situaes de risco pessoal e causam mal-estar social, que
se traduz em preconceito, estigma e rejeio, potencializando a iminncia do
desvio comportamental.
A sociologia do desvio, um instrumento para a pedagogia social?
Notamos com satisfao a riqueza da ao sociopedaggica vivida no mo-
mento atual pelo Brasil. Tal diversidade de metodologias e de projetos cou
patente, por exemplo, por ocasio do 1 Encontro Nacional de Educao Social
realizado no Anhembi, SP, em junho de 2001. Mas, sobretudo a realizao
dos Congressos Internacionais de Pedagogia Social (2006 e 2008)
em um
ambiente to signicativo como a USP. Tal riqueza emerge com intensidade
em todos os recantos do Brasil, mas no pode permanecer para sempre como
uma riqueza: ela deve ser estudada, sistematizada e difundida. Ela tem como
15 CALIMAN, 1998. op. cit.
16
Introduo
o condutor a pedagogia social, disciplina de crescente importncia em tempos
de aguar-se das desigualdades sociais em contextos urbanos.
A importncia hoje da pedagogia social est no fato de que ela se empenha
diretamente no aprofundamento de perspectivas tericas e de propostas me-
todolgicas nalizadas ao bem-estar social, analise e avaliao das situaes e
condies sociais que regulam a educao e delineiam uma orientao com base
na qual seja possvel intervir em termos formativos no mbito da diversidade
social, do desvio e da marginalidade, e da eqidade dos recursos sociais
16
.
Concepes da pedagogia social
Os precursores da pedagogia social tm suas origens na ao caritativa do
cristianismo e em pedagogistas como Pestalozzi e Froebel, antes ainda que se
sistematizasse como disciplina. A ao socioeducativa supera o mbito das
instituies caritativas e passa a se desenvolver no mbito das polticas assis-
tenciais e sociais. O termo de origem alem e foi utilizado inicialmente por
K. F. Magwer em 1844, na Padagogische Revue, e mais adiante por A. Diesterweg
(1850) e Natorp (1898), que a analisa como disciplina pedaggica. Foram as
problemticas sociais que emergiram da industrializao, a partir da metade
do sculo XIX, especialmente na Alemanha, que motivaram tal sistematizao
da pedagogia social como cincia e como disciplina.
Da literatura podemos destacar diversos endereos dentro dos quais a
pedagogia social se desenvolve e articula
18
.
16 BECCEGATO, L. S. Pedagogia sociale: riferimenti di base. Brescia: La Scuola, 2001. p. 20.
17 AGAZZI, A. (Ed.). Educazione e societ nel mondo contemporaneo. Brescia: La Scuola. 1965; QUINTANA
CABANAS, J. M. Pedagogia social. Madrid: Dykinson, 1984; FERMOSO, P. Pedagogia social: funda-
mentacin cientca. Barcelona: Herder, 1994.
18 CALIMAN, G. Pedagogia sociale. In: PRELLEZO, J. M. ; NANNI, C. ; MALIZIA, G. Dizionario
di Scienze dellEducazione. Milano: Elle Di Ci ; LAS ; SEI, 1997. p. 802-803.
Introduo
17
1. Como reexo da educao em geral, a pedagogia social tem dois ob-
jetivos: elaborar o conceito de educao em chave social e de contribuir para
a concordncia e integrao das nalidades expressas pelas vrias instituies
sociais. Tal perspectiva analisa: a) os fatores sociais da educao presentes
nas instituies que demonstram intencionalidade declaradamente educativa;
b) os fatores sociais da educao presentes nas instituies que, por si s, no tm
intencionalidade educativa, mas podem estar carregadas de potencialidade educa-
tiva; c) as nalidades educativas nos seus signicados e na sua magnitude social.
2. Uma segunda aproximao a entende como doutrina da educao poltica
e nacionalista do indivduo: o sujeito da educao se torna ento o Estado,
em relao ao qual os ns e objetivos dos indivduos deveriam se conformar e
sintonizar. A pedagogia social, assim entendida, torna-se pedagogia nacionalista,
voltada para a formao cvica da juventude. Formao essa que, em geral,
norteada por ideologias polticas que se difundem dentro de regimes polticos
preferencialmente totalitrios.
3. Como educao na sociedade, por meio da sociedade e para a sociedade
(P. Natorp). O homem se torna homem somente na sua interao com a socie-
dade humana. As instituies sociais podem ser, como construo do homem,
oportunidade para o homem, a favor do homem. Cresceu muito, nos nossos
tempos, o compromisso com a formao e a cultura. O empenho alastra-se
por outros conceitos como de comunicao, de intercultura, de participao,
de cooperao etc. Tal inuxo educativo da sociedade ocorre, mais que nas
relaes individuais (com pais, mestres e grupos de pares), na cultura do
grupo social de pertena, do ambiente social, dos meios de comunicao e na
educao informal. Neste sentido, o meio mais vlido para a socializao no
uma sociedade indistinta, mas os corpos intermedirios, as comunidades ou
as instituies que a compem (por exemplo, a famlia, a igreja, o sindicato,
as comunidades de recuperao). uma pedagogia que educa, de preferncia
dentro de ambientes institucionais educativos, ao senso de pertena, respon-
sabilidade social, cidadania, solidariedade social etc.
18
Introduo
4. Como pedagogia para os casos de necessidade, no sentido seja de ajuda que
de preveno. A pedagogia uma cincia prtica. O pedagogista um homem
imerso na realidade social: percebe a realidade com a sensibilidade educativa e,
premido por ela, responde s demandas emergentes. So exemplos os educadores
So Joo Bosco, Henrique Pestalozzi, Paulo Freire: homens de convico. Em
outras palavras, a fase da pedagogia social na qual o pedagogo social concorre
fortemente pela recuperao da dignidade humana. Essa aproximao acentua
a interveno preventiva e de recuperao nos casos em que vem a faltar uma
adequada socializao. Tal interveno foi inicialmente concebida como
educao da infncia e da juventude em situao de desvantagem social, para,
posteriormente, se expandir para a educao de adultos, da terceira idade, das
famlias em situao de risco. Trata-se, particularmente, da educao no-
formal, refere-se no mais das vezes aos servios sociais e polticas pblicas,
desde que esses tenham funo educativa e no somente assistencial.
5. Como ajuda para a vida: em um ltimo estdio, a pedagogia social no
responde somente a necessidades emergentes, mas as supera. Essa fase responde
necessidade de solidariedade social que j est presente no Estado, mas tambm
na sociedade civil: voluntariado, instituies de acolhida, preveno, recupera-
o e reinsero social etc. a pedagogia do compromisso. o momento da
responsabilidade social em resposta s necessidades sentidas no somente por
parte dos socialmente excludos, mas tambm de quem ajuda.
A pedagogia social foi denida no Dizionario di Scienze dellEducazione como
uma cincia prtica, social e educativa, no-formal, que justica e compreen-
de em termos mais amplos, a tarefa da socializao e, em modo particular, a
preveno e a recuperao no mbito das decincias da socializao e da falta
de satisfao das necessidades fundamentais
19
.
19 BECCEGATO, 2001, op. cit., p. 10.
Introduo
19
De fato, ela compreendida por outros estudiosos tambm como uma
articulao e especializao do discurso pedaggico, como o so tambm a
pedagogia comparada, a histria da pedagogia, a pedagogia experimental e
especial
20
. A tica da pedagogia social parece mesmo estar concentrada nos
processos conexos com a socializao dos indivduos, o crescimento da iden-
tidade, da personalidade humana nos vrios contextos onde ela se insere e os
condicionamentos que tais contextos impem formao de atitudes, valores,
crenas etc. Neste sentido, est ligada de modo particular s necessidades
humanas de sujeitos sociais contextualizados.
Atualmente, a pedagogia social parece orientar-se sempre mais para a
realizao prtica da educabilidade humana voltada para pessoas que se en-
contram em condies sociais desfavorveis. O trabalho do educador social
emerge, pois, como uma necessidade da sociedade industrializada, enquanto
nela se desenvolvem situaes de risco e mal-estar social que se manifestam nas
formas da pobreza, da marginalidade, do consumo de drogas, do abandono
e da indiferena social. A pedagogia social se realiza especialmente dentro de
intervenes educativas intencionais e no-formais, e organizada fora das
normais agncias educativas como aquela escolar e familiar, embora no exclua
essas duas instituies de sua metodologia. Diferencia-se da educao formal
que se desenvolve diretamente na escola, e daquela informal, caracterizada pela
falta de intencionalidade educativa e que se desenvolve na convivncia familiar,
do grupo de pares e nos meios de comunicao.
20 SOUZA CAMPOS, M. C. S. Educao: agentes formais e informais. So Paulo: EPU, 1985.
20
Introduo
Identidade da pedagogia social
Naturalmente que a pedagogia social distingue-se da pedagogia escolar por
diversas razes. Entre elas pela evidncia dos fatos, ou seja, na medida em que a
pedagogia social tende a suprir os casos que a pedagogia escolar no consegue
atender. Mas essa seria uma identidade que partiria de um fato negativo. Na
verdade, a pedagogia social tem sua identidade ligada como veremos mais
adiante a objetivos, objetos de pesquisa, nalidades, mtodos caractersticos,
no confundveis com os de outros campos da cincia social e pedaggica.
As distines servem para construir identidades e limites. Uma dessas dis-
tines est na diferenciao entre a dimenso formal e no-formal de educao.
Outra distino aquela entre a pedagogia social e pedagogia escolar.
Por instituio formal de educao entendemos aquela que atua tendo
como base os currculos ociais que respondem s exigncias de um percurso
formativo normal e cujos ttulos so reconhecidos pelo governo. Pertencem a
esta categoria, por exemplo, os colgios e centros de formao prossional.
Por instituio no-formal de educao podemos entender aquela que se
desenvolve para responder s exigncias das necessidades das categorias em
desvantagem social, de modo particular dos jovens pobres e abandonados. A
tais instituies no so exigidas formalidades curriculares como acontece para
as escolas; e, muitas vezes, no oferecem um ttulo reconhecido ocialmente
pelo estado. Exemplos dessas instituies so os centros juvenis e as formas
cooperativas para a formao de adolescentes no e para o trabalho, os projetos
socioeducativos mais variados localizados nas comunidades e bairros. Essas ins-
tituies e programas se exprimem de vrias formas e tm bastante exibilidade
para responderem de maneira mais adequada s necessidades dos destinatrios,
s limitaes e exigncias especcas das comunidades e dos bairros e apontam
para uma populao infantil e adolescencial em situao de risco.
Introduo
21
A educao informal, por sua vez, entra no mbito da socializao primria
e secundria, entendida como educao no-intencional, exercida dentro da
sociedade e certos grupos, a famlia, os meios de comunicao social etc. No
parece existir um limite estanque entre a informalidade e a no-formalidade
da educao. Muitas vezes, certas intervenes dos meios de comunicao e da
famlia podem ter um carter educativo intencional e, portanto, se situariam
teoricamente dentro do mbito da educao no-formal
21
.
Uma segunda distino derivada da anterior e diz respeito diferena entre
pedagogia escolar e pedagogia social. A pedagogia escolar tem toda uma histria
e amplamente desenvolvida pela didtica, cincia ensinada nas universidades.
A segunda, a pedagogia social, desenvolve-se dentro de instituies no-formais
de educao. uma disciplina mais recente que a anterior. Nasce e desenvolve-
se de modo particular no sculo XIX como resposta s exigncias da educao
de crianas e adolescentes (mas tambm de adultos) que vivem em condies
de marginalidade, de pobreza, de diculdades na rea social. Em geral, essas
pessoas no freqentam ou no puderam freqentar as instituies formais
de educao. Mas no s: o objetivo da pedagogia social o de agir sobre a
preveno e a recuperao das decincias de socializao, e, de modo especial,
l onde as pessoas so vtimas da insatisfao das necessidades fundamentais
22
.
Podemos rearmar, portanto, que no Brasil atual a pedagogia social vive um
momento de grande fertilidade. um momento de criatividade pedaggica
mais que de sistematizao dos contedos e dos mtodos. Em outras palavras,
mais que pedagogos, temos no Brasil educadores que colaboram com o nas-
cimento e o desenvolvimento de um know how com identidade prpria, rica de
intuio pedaggica e de contedos. Ao mesmo tempo, nos damos conta de
21 CALIMAN, 1997, op. cit., p. 802-803; CALIMAN, G. Normalit devianza lavoro. Roma: LAS, 1997. p. 460.
22 Rero-me ao programa de pedagogia social na Universit Pontifcia Salesiana de Roma (UPS), onde
ensinei e tive a honra de dirigir por alguns anos.
22
Introduo
que chegado o momento no qual precisamos sistematizar toda essa gama de
conhecimentos pedaggicos para compreender e interpretar melhor a realidade
para projetar intervenes educativas efetivas.
Uma dimenso privilegiada da pedagogia social aquela dos espaos de
transformao da educao no-intencional, ou no declaradamente inten-
cional, em educao intencional; de espaos deseducativos ou potencialmente
educativos em espaos declaradamente educativos por meio de uma interveno
direta no ambiente. Exemplo disso a abertura das escolas como espaos de
cultura, educao e tempo livre nos ns de semana.
Sociologia do desvio na perspectiva da pedagogia social
Um prestigiado programa de formao de educadores prossionais
italianos
23
tem como objetivo a formao de especialistas, pesquisadores, do-
centes e operadores com competncia sociopedaggica no setor da educao,
da preveno e da reeducao de sujeitos em idade evolutiva, com problemas
de marginalizao, desadaptao social e comportamento desviante
24
.
Sua for-
mao se d dentro de uma Faculdade de Cincias da Educao. Em outros
casos, na Itlia, tal formao se d dentro de uma Faculdade de Cincias da
Formao.
Para formar seus prossionais na rea da pedagogia social a Faculdade de
Educao da USP distribui assim a sua grade disciplinar: 20% so disciplinas
sociolgicas, 18% de pedaggicas, 16% de psicolgicas, 16% de humansti-
cas, 14% so tcnicas e de animao cultural, 5% jurdicas, 2% biolgicas e
histricas, respectivamente.
23 Pedagogia social. Roma: 12 de dezembro de 2005. Disponvel em: <http://www.unisal.it/index.
php?method=section&id=91&id_subsection=&action=&pag=2>. Acesso em: 12 dez. 2005.
24 IZZO, D. Manuale di pedagogia sociale. Bologna: CLEUB, 1997, p. 24.
Introduo
23
A rea sociolgica compreende a leitura e interpretao da realidade social,
utilizando-se seja de referenciais tericos mais amplos (sociologia da educao)
como daqueles mais especcos ligados aos destinatrios da ao prossional
do educador social: sociologias focalizadas na juventude, na marginalidade e
no desvio social, nas toxicodependncias, na delinqncia juvenil, na famlia,
no tempo livre, nas instituies escolares. A sociologia da educao nas suas
diversas matizes disciplinares pretende fazer a ponte entre os fenmenos e os
condicionamentos sociais que eles comportam, para iluminar a prtica e a me-
todologia, na construo de solues segundo a cincia pedaggica. A razo da
extenso maior do campo sociolgico parece estar no fato de que o prossio-
nal da pedagogia social deva, necessariamente, ter razovel compreenso das
dinmicas e dos processos que incidem sobre os sujeitos que pertencem ou se
relacionam com os grupos sociais e com a sociedade em geral. De fato, parece
ser na interao social que acontecem os maiores problemas relacionados
assuno de culturas alternativas e desviantes, ao iniciar-se um processo de
rotulao, estigmatizao e formao de identidades marginalizantes; como
tambm mediante a interao social que a pedagogia colhe os recursos para
a recuperao e reinsero social dos indivduos.
A segunda rea mais extensa no currculo a da cincia pedaggica. A
pedagogia geral e a pedagogia social esto na base e so aprofundadas nas
dimenses da pedagogia familiar, pedagogia especial, educao de adultos,
metodologia pedaggica evolutiva. A formao se complementa tambm por
seminrios e estgios ligados ao tema.
Acredito que no possamos listar de uma vez por todas os espaos de pesquisa
e de interveno da pedagogia social. O que parece permanente so os critrios
com os quais reconhecemos esses diversos mbitos de atuao: a educao em
funo social com pesquisa e intervenes orientadas a esse m.
24
Introduo
Podemos, no entanto, dizer que existem alguns mbitos de atuao que
atualmente correspondem a tais critrios: a educao de adultos, a educao de
adolescentes em situao de risco, a recuperao e reinsero social de sujeitos
toxicodependentes, a orientao escolar de alunos atingidos por fortes condi-
cionamentos sociais (pobreza, excluso social, desagregao familiar), o agir
educativo dentro dos ambientes familiares, a inuncia dos meios de comuni-
cao social e das associaes e grupos juvenis (grupo de pares, gangues etc).
Podemos identicar, de maneira bastante ampla, como nalidade educativa
da pedagogia social, a elucidao de signicados prprios e que caracterizam a
dimenso social, o estudo de conformismos (consensos) e inconformismos (dis-
sensos), e os condicionamentos provenientes de tais contextos, com o objetivo
de individuar modalidades de interveno e de metodologias que recuperem
condies de qualidade de vida para os indivduos e de desenvolvimento humano
para as comunidades. Neste sentido, a pedagogia social tem como nalidade
de pesquisa a promoo de condies de bem-estar social, de convivncia, de
exerccio de cidadania, de promoo social e desenvolvimento, de superao
de condies de sofrimento e marginalidade. Tem a ver com a construo,
aplicao e avaliao de metodologias de preveno e recuperao.
A sociologia do desvio e da marginalidade, incluindo aqui tambm a so-
ciologia da delinqncia juvenil e a sociologia da toxicodependncia, tendem
a claricar os fenmenos que envolvem violncia, mal-estar social e compor-
tamentos transgressivos. Pretendemos que esse texto seja um instrumento que
fornea aos estudantes e pesquisadores algumas categorias interpretativas de
tais fenmenos sociais que condicionam e afetam a situao juvenil.
Sabemos que muitos dos comportamentos e dos estilos de vida que carac-
terizam a condio juvenil de hoje so fenmenos no facilmente explicveis.
Da a necessidade de um olhar histrico a partir de teorias que os interpre-
taram, cada uma em coerncia com uma tradio de pesquisa ou paradigma
Introduo
25
especco. Podemos dizer que cada teoria, mesmo as mais distantes no tempo,
conseguiram explicar a realidade a partir de um ponto de vista. Se partirmos
desse princpio, podemos armar que cada ponto de vista interpretado por
tais teorias a viso a partir de um aspecto. Existem pontos de vista mais
ou menos esclarecedores, segundo a abrangncia, a atualidade, a perspectiva
disciplinar do qual partem.
27
1 Na lngua italiana o mal-estar denido como desgio, um termo emprestado das cincias cont-
beis e que se refere ao desconto que se faz num ttulo de crdito ou desvalorizao e depreciao da
moeda; e por gio entende-se a diferena que o comprador paga a mais sobre o valor nominal de um
ttulo (cf. Dicionrio Aurlio). Num sentido ou no outro ele signica algo que o indivduo paga,
pelo fato de estar em desvantagem social em relao a outros sujeitos que teoricamente possuem os
mesmos direitos de cidadania. Tal desvantagem provoca sentimentos de mal-estar. A analogia com
o mal-estar est no fato de que tambm neste caso existe uma depreciao dos direitos e um gio a
ser pago para reconhec-los. O resultado a frustrao e o mal-estar. O indivduo em situao de
desgio tem que pagar mais caro para conseguir o que precisa, ou pela moeda interativa e social,
mesmo tendo os mesmos direitos dos outros. Na sociologia, o desgio utilizado para determinar
situaes de mal-estar e de insatisfao provenientes da percepo da prpria privao. Ns o uti-
lizamos como sinnimo de mal-estar social.
D
e uma anlise da condio juvenil brasileira emerge uma realidade
profundamente caracterizada pela desigualdade social, cujos sintomas
se manifestam em formas diversas de mal-estar ou desgio: situaes
de pobreza extrema, analfabetismo, condies habitacionais precrias, baixa
qualidade do ensino, alta incidncia de falncias escolares, trabalho precoce,
desestruturao familiar, trabalho ilegal e abandono. So problemas que en-
volvem a populao infanto-juvenil. Na esfera do tempo livre, encontramos
algumas faixas de populao juvenil que reagem ao senso de mal-estar social
1
,
Captulo I
Necessidades Humanas
28
Capitulo 1 Necessidades Humanas
integrando as gangues e consumindo drogas. No mbito familiar esse mal-estar
tem suas origens na desestruturao do ncleo familiar e nos conitos entre
seus membros; no mbito formativo ele provocado pela falta de referenciais
de valores.
Estes e outros problemas juvenis nos estimulam o aprofundamento terico
da sua interpretao, considerando-os nas suas diversas dimenses: a pobreza,
como condio particular de frustrao das necessidades materiais e matriz
de outros desgios; a marginalidade como categoria de anlise de grupos e de
inteiras classes sociais particularmente atingidas pela frustrao das neces-
sidades fundamentais; e o risco social como categoria de anlise til para a
observao e a vericao de xitos problemticos, em chave probabilista, das
diversas formas de mal-estar.
As necessidades humanas foram sempre objeto de constante pesquisa por parte
das diversas disciplinas. Propomo-nos tomar em considerao a contribuio
de algumas dessas disciplinas, privilegiando aquelas que, no nosso modo de ver,
oferecem uma base de reexo sobre as necessidades em perspectiva losca,
econmica, psicolgica e sociolgica.
A losoa foi uma das primeiras disciplinas a procurar esclarecer o conceito
de necessidades humanas, identicando-as como originrias ora da natureza, ora
da cultura. Os economistas procuram conceber as necessidades como o motor
principal do crescimento do bem-estar das sociedades avanadas. Outras tendn-
cias econmicas analisaram as necessidades enquanto estas so manipuladas pela
sociedade capitalista em funo do lucro e em detrimento dos reais interesses
do homem. A psicologia, por sua vez, procurou a origem das necessidades ora
na natureza instintual do homem, ora na sua natureza social, atribuindo a busca
de sua realizao como pessoa humana natureza humana aberta. Da psico-
pedagogia emergem tambm as necessidades formativas prprias do perodo
evolutivo adolescencial. Os pesquisadores e os planejadores sociais, por sua vez,
Capitulo 1 Necessidades Humanas
29
serviram-se das contribuies multidisciplinares para o estudo da condio de
vida das populaes, avaliando as necessidades humanas ora na perspectiva do
desgio, da falta de recursos, ora sob a perspectiva positiva da qualidade de
vida, da tenso orientada a um padro aceitvel de vida.
No campo socioeducativo a referncia s necessidades indispensvel para
a avaliao do perodo formativo. O objetivo a ser alcanado, em senso posi-
tivo, o de obter respostas s novas demandas dos adolescentes e dos jovens
em formao, e descobrir novas tendncias e novas necessidades que emergem
da sociedade complexa. Em senso negativo mas sempre objetivando uma
melhor qualidade de vida parte-se da vericao das necessidades que no
momento atual so constantemente frustradas na vida quotidiana dos jovens;
as necessidades que a sociedade consegue criar mas que no d condies aos
jovens para que eles as satisfaam; as necessidades induzidas pelo sistema so-
cial, intrinsecamente vido diante da urgncia de criar, a qualquer custo, novas
necessidades orientadas prpria sobrevivncia.
A condio dos adolescentes e jovens demanda a satisfao de necessidades
particulares que dizem respeito, sobretudo, formao da personalidade,
integrao na sociedade e no grupo de coetneos e ao contato com adultos
signicativos. A frustrao dessas necessidades formativas, materiais, re-
lacionais e existenciais na adolescncia provoca situaes de risco as mais
diversas: a condio juvenil considerada em si mesma um perodo sujeito
marginalizao e ao risco social. Alguns segmentos juvenis sofrem mais que
outros os desgios provocados pela frustrao das prprias necessidades; basta
pensar, por exemplo, na juventude dos pases tecnologicamente avanados,
constrangida a permanecer durante um longo perodo estacionada na ex-
pectativa de entrar no mundo adulto, na espera por trabalho e pela assuno
de papis mais precisos. Por outro lado, imaginamos tantos jovens dos pases
em desenvolvimento constrangidos a sofrer a frustrao das suas necessidades
30
Capitulo 1 Necessidades Humanas
fundamentais, sobretudo de alimentao, de instruo, de integrao social,
de habitao e de segurana. Os sintomas de mal-estar demonstrados pelos
jovens dos pases como o nosso manifestam-se de maneiras diversas por meio
da fome, do analfabetismo, do baixo nvel de instruo, da excluso do mercado
de trabalho e de tantas formas de privao conexas com a pobreza econmica.
O mal-estar originrio da insatisfao das necessidades materiais ainda uma
realidade para tantos jovens dos pases pobres, determinada particularmente
pela pobreza econmica. Visto que a racionalidade do sistema social exclui dos
benefcios os sujeitos que no produzem, a pobreza se amplica em formas
diversas que no conjunto preguram as premissas para situaes de margina-
lizao e de desvio comportamental. Cresce assim a probabilidade de que o
adolescente atingido pela insatisfao crnica das prprias necessidades possa
desenvolver determinados dcits na evoluo de sua personalidade ou assumir,
conscientemente ou no, culturas redutivas a alguns valores ou pseudovalores
ou, ainda, aceitar passivamente a prpria condio de marginalidade.
Num segundo momento, focalizamos as perspectivas segundo as quais a
pobreza analisada, tanto nos pases tecnologicamente avanados, como nos
pases com baixo desenvolvimento socioeconmico. Enquanto os pases tec-
nologicamente avanados esto ocupados com a satisfao das necessidades
emergentes, frutos do desenvolvimento do welfare state, os pases pobres encon-
tram-se ainda s voltas com a velha pobreza, a marginalizao proveniente dos
escassos recursos materiais e a falta de meios (como, por exemplo, o trabalho)
para garantir o incremento de tais recursos. O processo de marginalizao pode
manifestar-se em tipos diversos de marginalidade, conforme a condio social
de pertena e o grau de desenvolvimento da sociedade.
Num terceiro momento, nos concentramos na anlise das diversas formas de
marginalidade, segundo duas perspectivas: das sociedades desenvolvidas e com-
plexas e das sociedades em desenvolvimento e menos complexas. A juventude
Capitulo 1 Necessidades Humanas
31
dos pases em desenvolvimento est sujeita a formas de marginalidade presentes
tanto nos pases desenvolvidos como nos subdesenvolvidos. Se pobres, encon-
tram-se em constante confronto com o mundo da riqueza; se ricos, a integram
plenamente, e assumem facilmente determinadas atitudes que a caracterizam,
como o consumismo, a discriminao e a indiferena social.
Num quarto momento, propomos a anlise do risco social nas suas con-
cepes, manifestaes e metodologias de avaliao. Tal anlise se insere no
contexto que chamamos paradigma fatorialista (cap 13). Os riscos so, em
princpio, tantos quantas so as privaes e frustraes sofridas pelo sujeito.
Esto presentes em todas as faixas da sociedade, sendo reconhecidos como
tais na medida em que a sua acumulao e sobreposio com outras formas
de risco conguram uma premissa para resultados problemticos na vida dos
envolvidos. Ns nos propusemos a identicar os diversos fatores de risco que
coexistem na condio juvenil e que, na literatura cientca e nos resultados
de pesquisas, tm manifestado resultado negativo comprovado, provocador de
marginalidade e desvio.
1. AS NECESSIDADES HUMANAS
O conceito de necessidade desenvolve-se historicamente entre uma pers-
pectiva naturalista e uma socializante. Em alguns momentos histricos as
necessidades so explicadas predominantemente como tendo a sua origem
na natureza humana e, em outros, na cultura. As conceituaes se alternam
tambm dependendo da perspectiva disciplinar em que so analisadas: lo-
sca, psicolgica, econmica e sociolgica. Uma concepo sociolgica das
necessidades, de matriz funcionalista, reconhece, por exemplo, as manifesta-
es culturais como um prolongamento do organismo humano e, portanto,
elas emergem de um processo de aprendizagem e socializao; outras matrizes
32
Capitulo 1 Necessidades Humanas
interpretativas acentuam o carter social das necessidades e referem-se sua
construo e historicidade. A revisitao das vrias teorias pretende analisar os
conceitos dentro das diversas perspectivas e identicar aqueles que emergem
da reexo do sculo corrente.
Na reexo atinente s vrias disciplinas, tivemos naturalmente que fazer
algumas opes. O fato de privilegiar determinados autores dentro da ampli-
tude das teorizaes e pesquisas objetiva focalizar as correntes cuja reexo
nos pareceu relevante para a interpretao da condio juvenil. Tais opes se
orientam tambm com base na exigncia de salientar as necessidades formativas
relativas ao perodo da adolescncia.
1.1. As necessidades em perspectiva losca
A reexo especca sobre o tema das necessidades em mbito losco
comea a se manifestar, sobretudo, no perodo helenstico, no qual os epicureus,
os esticos e os cnicos, na busca da sabedoria e da felicidade, desenvolvem a
mxima buscar o prazer e fugir da dor. Num segundo tempo repassamos
o lo de reexes sobre o utilitarismo na losoa moderna, a partir do pr-
socialismo francs. O pensamento utilitarista assume importncia particular,
pois continua a inuir ainda hoje sobre os critrios de escolha e de valorizao
das necessidades.
Da losoa contempornea nos referimos particularmente a Hegel, na
medida em que o seu pensamento sobre a formao da sociedade coloca as
bases do racionalismo e da cincia como referncias centrais para a sociedade
capitalista. Seguimos nossa reexo focalizando a concepo das necessidades
em K. Marx. O estudo das necessidades em perspectiva losca tem a na-
lidade de reconstruir a primeira fase da reexo, concentrando-nos em duas
tendncias loscas do sculo XIX, o racionalismo e a crtica do capitalismo.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
33
Entendemos que essas duas correntes tenham contribudo para a maior parte
das reexes sobre as necessidades durante o nal do sculo XIX e em boa
parte do sculo XX.
1.1.1. A losoa helenstica
Da losoa helenstica emergem contribuies que no se restringem ao
conceito de necessidade, mas se referem, particularmente, busca da felicidade e
da sabedoria. Esticos, epicureus e cnicos entendiam que a felicidade podia ser
alcanada por meio da prtica da mxima buscar o prazer e evitar a dor.
Os esticos privilegiam a sabedoria como um bem que deve ser perseguido
pelos homens, os quais devem virtuosamente saber controlar os desejos e
os prazeres, procurar a frugalidade e a simplicidade de vida e sintonizar seu
comportamento com a ordem csmica: o ideal o homem de poucas necessi-
dades
2
. A verdadeira liberdade, segundo os esticos, est na rejeio das coisas
desse mundo e na crena nas coisas espirituais; devem ser tambm reduzidas
ao mximo possvel as necessidades fsicas, visto que elas so fonte de dor. O
mtodo para conseguir a simplicidade de vida o da ataraxia, a tranqilidade
e a paz da mente. Para alcanar a ataraxia o homem deveria destacar-se dos
aspectos externos da vida que ele no consegue controlar, como o corpo, a
propriedade e o trabalho. O homem deve, ao invs, concentrar-se nos aspectos
internos da vida que ele pode controlar mediante a sua vontade, como a
moral, os desejos, a averso. O distanciamento das preocupaes externas,
dos seus desejos e das necessidades incontrolveis faz com que o homem se
torne menos vulnervel s frustraes e dor
3
.
2 SPRINGBORG, 1981, p. 21, 23.
3 Idem, p. 28.
34
Capitulo 1 Necessidades Humanas
Os epicureus por sua vez problematizam a relao entre necessidades e
desejos
4
. O homem tem uma tendncia natural a evitar a dor e a procurar o
prazer. O prazer a idia mxima que o homem deve perseguir, fruto da paz
e da tranqilidade da mente e contrrio proliferao das necessidades que
geram somente dor e inquietao
5
. Para conseguir a felicidade por meio do
prazer o homem deve viver uma vida de acordo com a natureza, contentar-se
com poucas necessidades e manter distncia da luxria, da fama e da riqueza. A
proliferao das necessidades e dos desejos resulta somente em fonte de dores.
a civilizao quem arrasta consigo a riqueza, multiplica as necessidades e as
modalidades de satisfaz-las, mesmo que tais necessidades sejam, na maioria
das vezes, articialmente induzidas.
Os cnicos, por ltimo, elaboraram uma tica da simplicidade de vida pela
reinterpretao do ideal socrtico da auto-sucincia. A felicidade consiste em
controlar a multiplicao irracional dos desejos e a aquisio insacivel dos
bens e objetos. O homem deve liberar-se da dependncia dos bens supruos,
procurar a satisfao das necessidades naturais e eliminar as necessidades arti-
ciais: as verdadeiras necessidades so primrias, universais e espontneas. Da
losoa helenstica, em sua reexo sobre a busca de felicidade e de sabedoria,
nasce o princpio do conseguimento da felicidade: a busca do prazer e a evita-
o da dor. A procura do prazer, porm, no coincide com o livre arbtrio dos
desejos, que, ao contrrio, gera falsas necessidades. Existem, pois, necessidades
verdadeiras e falsas, naturais e articiais. So consideradas verdadeiras as ne-
4 O ingls utiliza normalmente o termo wants, que me parece no conforme ao correspondente bra-
sileiro vontade. Parece mais adequado o termo desejo, usado no sentido de vontade, como
utilizado para exprimir um desejo: Estou com vontade de comer.., de beber.. etc.
5 De rerum natura (LUCRETIUS CARUS, 1955). O autor latino estuda o desenvolvimento da
civilizao a partir do estado natural no qual o homem se encontrava, vivendo em harmonia com a
natureza, satisfeito com poucas necessidades. Com o aparecimento da riqueza, multiplicaram-se as
necessidades articiais e as maneiras de satisfaz-las. Sua reexo serviu como base para o discurso
de J. Rousseau sobre as verdadeiras e as falsas necessidades.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
35
cessidades que, em consonncia com a natureza, tm um carter universal; as
falsas necessidades por sua vez, enquanto motivadas pelos desejos, so articiais
e causam a dor.
1.1.2. As necessidades segundo a teoria utilitarista
Na sociedade moderna prevalece uma orientao utilitarista que considera
o governo dos homens unicamente pela lgica egosta do clculo do prazer e
da dor, dos seus interesses e de suas preferncias
6
. O utilitarismo concebido
como um mecanismo que, antecipando as conseqncias do prazer e da dor,
leva as pessoas a escolherem uma determinada ao em vez de outra
7
. Os
sculos XVII e XVIII foram um perodo de especial rejeio da metafsica
e da losoa platnica e aristotlica e dos seus ulteriores desenvolvimentos
medievais na escolstica e na doutrina das causas nais. Os lsofos do
iluminismo europeu procuraram elaborar as bases do novo pensamento no
materialismo determinista, inspirando-se na losoa helenstica representada,
sobretudo, pelo epicurismo. Desenvolve-se a psicologia sensista com base
numa teoria naturalista do comportamento humano, cuja motivao principal
encontrada nas constantes presses das necessidades. Da psicologia sensista
desdobram-se, de um lado, o socialismo dos materialistas franceses e, de outro,
o utilitarismo lockiano
8
. O socialismo francs rejeita as idias inatas, atribui
ao ambiente uma inuncia ilimitada sobre o homem, o qual experimenta o
mundo atravs dos sentidos e com base neles desenvolve as prprias idias. O
homem deve controlar os desejos, colocando-os em linha com as verdadeiras
necessidades (derivadas da natureza e no dos hbitos), eliminando as razes
6 CATTARINUSSI, 1991, p. 13.
7 Reciprocit, scambio, solidariet (GALLINO, 1978).
8 Entre os quais os principais expoentes so: Condillac, Helvtius, DHolbach e La Mettrie.
36
Capitulo 1 Necessidades Humanas
econmicas das falsas necessidades, ou seja, daquelas necessidades criadas
pelo prprio homem como a propriedade, o capital, o consumismo etc. Uma
sociedade politicamente organizada, segundo as necessidades naturais, seria o
nico modo de produzir criaturas racionais e de eliminar os conitos e os con-
frontos de interesse entre os indivduos. Em consonncia com esta perspectiva
o comportamento humano explicado deterministicamente, em termos de
estmulo e resposta, e revelia do poder dos impulsos instintuais
9
. O espao
da liberdade humana bastante limitado: a ao governada pela vontade,
mas a vontade determinada pelas motivaes e pelas necessidades, as quais
reetem a atrao exercida pelos objetos
10
.
Condillac, um dos representantes do socialismo francs, distingue as neces-
sidades naturais das articiais. As primeiras fazem parte da natureza corprea
do homem (o alimento, o sono etc.); as segundas so conseqncia dos hbitos.
Os hbitos criam sempre novas necessidades que se distanciam sempre mais
das necessidades naturais, chegando ao ponto em que se manifesta a pura os-
tentao e o luxo
11
. Para explicar a emergncia de necessidades articiais por
meio dos hbitos, Condillac compara as necessidades dos animais com as dos
homens: enquanto os animais manifestam poucas necessidades e contraem
s um pequeno nmero de hbitos, ns, os humanos, ao contrrio, temos
muitos hbitos
12
que nos obrigam a adquirir sempre novas necessidades,
distanciando-nos gradualmente das necessidades naturais.
O princpio da felicidade baseado na busca do prazer e na fuga da dor
retomado pela losoa moderna, e em particular por J. Locke, principal
expoente do utilitarismo. Este autor, diversamente dos franceses Condillac,
9 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 23.
10 Idem, p. 30.
11 BISOGNO, in Enciclopedia Einaudi, 1977, v. 2.
12 Idem.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
37
DHolbach, Helvtius e La Mettrie, que concebiam uma relao mecanicista
entre liberdade e determinismo, reconhece que entre o estmulo e a resposta h
a interveno da vontade e do juzo, recuperando ao sujeito a relativa liberdade
de mudar o curso do prprio comportamento
13
e reconhecendo-lhe um espao
para impor a prpria escolha diante da presso das necessidades.
A partir do utilitarismo moderno emergem novas reexes sobre a origem
das necessidades: alm de conceb-las como tendo origem no princpio da
busca de prazer e da fuga da dor, passa-se a evidenciar:
a) que os interesses individuais tm suas origens nas motivaes;
b) que a elaborao de uma teoria da motivao demonstra que as necessi-
dades so a razo das aes humanas;
c) que a presso das necessidades sobre os indivduos, concebida seja deter-
ministicamente (socialismo francs) ou com um certo grau de autonomia
proveniente do juzo (utilitarismo de Locke), limitada pela liberdade;
d) que necessrio controlar os interesses individuais, uma vez que o
indivduo no sabe controlar-se sozinho; e disso se ocupa a sociedade
politicamente organizada, que deve colocar o indivduo em linha com as
verdadeiras necessidades.
A necessidade de controlar as motivaes e os interesses individuais retomada
por Hegel, que elabora uma reexo sobre a regulamentao das necessidades
individuais por parte da sociedade civil e do Estado.
1.1.3. As necessidades como princpio fundamental da sociedade civil
A contribuio de Hegel teve grande inuncia sobre o pensamento lo-
sco ocidental. Ela delineia dois princpios fundamentais da sociedade civil.
13 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 54.
38
Capitulo 1 Necessidades Humanas
O primeiro constitudo pelo indivduo e pela sua individualidade como
conjunto de necessidades e misto de necessidades naturais e de arbtrio
14
em
busca de satisfao. O segundo princpio o Estado, que se origina a partir da
universalidade das idias e das representaes presentes nas individualidades.
O primeiro princpio reconhece a origem das necessidades no indivduo.
Como portador de necessidades naturais, ele no pode satisfaz-las seno por
meio dos outros. Para satisfazer as prprias necessidades ele impelido a dirigir-
se aos outros, criando as bases da sociedade civil (a famlia e as classes sociais)
e do Estado: so as necessidades naturais que motivam o interesse egostico do
indivduo, constituindo a raiz, mediante a qual o egosmo se entrelaa com o
universal, ou seja, com o segundo princpio, o Estado
15
.
Entre as instituies que constituem a sociedade civil consideradas pelo
autor a famlia e a classe social , a segunda faz referncias ao trabalho e s
necessidades. O trabalho serve como intermediao para a satisfao das ne-
cessidades. A diviso do trabalho e a desigualdade na distribuio de talentos
pessoais, da propriedade e do capital produzem a diviso da sociedade em
classes sociais.
O conceito de necessidades sociais nasce do entrelaamento entre as ne-
cessidades naturais do indivduo, a sociedade civil, que representa os interesses
das classes sociais, e o Estado, que os controla e organiza. Elas so o fruto
da concordncia entre necessidades naturais do indivduo e necessidades
espirituais provenientes do arbtrio do Estado
16
. As necessidades sociais
se desenvolvem na interao entre indivduos, so por eles reconhecidas e
conrmadas como tais, tm o poder de libert-los da tirania da natureza ou
das necessidades externas a eles. Alm do mais, elas: a) obedecem ao governo
14 HEGEL, 1913, p. 165.
15 Idem, p. 101.
16 Ibidem, p. 173; KRISCHKE, 1989a, p. 80.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
39
da razo, so; b) limitadas pela capacidade do indivduo de possuir o universal e
c) pelas contingncias do bero e da fortuna
17
.
Quanto dinmica das necessidades, Hegel sublinha que elas sofrem
constantes transformaes, visto que: a) se multiplicam indenidamente e
provocam tambm a multiplicao dos modos de responder ou de mediar a
sua satisfao; b) perdem em elementaridade e constrio e se tornam sempre
mais abstratas. O Estado social supe o incessante emergir e diversicar-se
das necessidades, das tcnicas e das satisfaes: as necessidades se multiplicam
entre elas e se distanciam sempre mais do estado natural
18
,
mas ao mesmo
tempo geram o luxo e, conseqentemente, a sua contraposio: a desigualdade
social e a misria.
Hegel reconhece a importncia da vontade humana e da capacidade do ho-
mem de julgar e de deliberar. A liberdade se realiza por meio da concordncia
entre necessidades e interesses individuais e a universalidade dos interesses dos
outros. Quanto mais as necessidades se difundem, tanto maior o campo de
ao da vontade, que deve guiar a motivao, a escolha e a ao
19
.
A crtica contribuio de Hegel acusa um paradoxo entre o contnuo cresci-
mento das necessidades, fruto dos interesses individuais, e a impossibilidade de
satisfaz-los: de tal paradoxo constitui-se a base da marginalidade estrutural
20
,
e origina-se a pobreza, a qual no possui um carter residual, mas inerente
ao sistema capitalista. Esta via sem sadas ameaa a sntese poltica proposta
por Hegel para o Estado moderno no sentido de que este, baseando-se nas
necessidades do indivduo, seria incapaz de estancar a propagao da pobreza
e da marginalidade. E deste ponto que partem as crticas de K. Marx, que
acusa a economia poltica de Hegel de dar cobertura ideolgica para o Estado
burgus alemo.
17 HEGEL, 1913, op. cit., p. 98.
18 ALBOU, 1975, p. 203; SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 81.
19 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 80.
20 KRISCHKE, 1989a, p. 80-81.
40
Capitulo 1 Necessidades Humanas
1.1.4. As necessidades humanas e a crtica ao capitalismo
A crtica ao capitalismo adquire sua importncia no somente pelo amplo
espao que ocupa na reexo losca do sculo XIX, mas, sobretudo, por-
que provocou conseqncias prticas no mbito poltico e social, atravs do
socialismo de estado. Em segundo lugar, a contribuio de Marx, principal
expoente da crtica ao capitalismo, enriquece o conceito de necessidade com
novos elementos: o homem, concebido como potencialmente rico de necessi-
dades, expropriado no somente dos bens necessrios sua sobrevivncia mas
tambm da capacidade de percepo das prprias necessidades, at o momen-
to em que nele se desencadeiam as necessidades radicais, ou seja, a tentativa
extrema de superao da misria e da pobreza. O autor reete tambm sobre
as necessidades do capitalismo: voltado para a gerao de lucro, ele induz os
indivduos adeso e busca de novas necessidades. Essas, no podendo ser
satisfeitas pela maioria das pessoas, geram a desigualdade social.
Na sua crtica da losoa hegeliana do direito pblico, Marx reconhece
a importncia do conceito de necessidade. A sua anlise das necessidades
desenvolvida principalmente nos escritos da juventude, dentro da temtica do
humanismo e da alienao
21
.
Em seu humanismo, no que diz respeito s necessidades humanas, Marx
reete sobre o problema do homem e de sua relao com a natureza. O
homem vive um conito constante com a natureza, se encontra ao mesmo
tempo dentro da natureza e fora dela. Tal relao nasce a partir da dialtica
das necessidades, uma vez que os homens, para construir a histria, devem
sobreviver e, conseqentemente, tm necessidade de alimento, de repouso, de
casa etc. A ao de busca dos meios para satisfazer tais necessidades constitui
21 MARX, [1963], p. 282.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
41
a primeira ao histrica do homem: a atividade humana, histrica na sua raiz,
a precondio para a sobrevivncia, se realiza no mundo material pela da
mediao das capacidades pessoais
22
.
As necessidades, para o autor, tm uma intencionalidade e um dinamismo
prprios que as induzem procura dos objetos susceptveis de satisfaz-las.
Na procura comum dos objetos aptos a satisfazer as diversas necessidades se
manifesta um sistema de anis materiais entre os homens que condicionado
pelas necessidades e pelos modos de produo [...]: a necessidade est na origem
da sociedade e da histria
23
.
No seu humanismo, o autor utiliza os conceitos de alienao das neces-
sidades e do homem como rico de necessidades. O conceito de alienao
se refere ao processo por meio do qual, no capitalismo, o homem privado
da sua riqueza humana em benefcio da riqueza material
24
. O homem ideal-
mente concebido como rico de necessidades , no humanismo marxiano, uma
construo eminentemente losca. Tal homem rico de necessidades no
existe em ato, mas serve, para o autor, como referncia principal para a crtica
ao capitalismo, e como pregurao da condio humana sob o domnio do
socialismo. A sociedade capitalista, segundo o autor, reduz as necessidades dos
operrios e da classe dominante nica necessidade de dinheiro, privando-os
da sua potencial riqueza humana. Contrapondo a riqueza material riqueza
humana, inverte a ordem das coisas, colocando o lucro em lugar da riqueza
humana.
Na temtica da alienao o autor afronta a problemtica da separao entre
o homem e o produto de seu trabalho. O trabalho, para Marx, uma atividade
cultural e no um fenmeno natural como as necessidades que o motivam;
22 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 98, 107.
23 ALBOU, 1975, p. 206.
24 HELLER, 1980, p. 41.
42
Capitulo 1 Necessidades Humanas
conseqentemente a alienao no tem sua causa nas necessidades em si, mas na
separao entre o homem e o objeto que ele produz. No processo de alienao,
a necessidade destituda de seu signicado original, uma vez que o capita-
lismo se serve dela para o lucro, privando o homem de sua prpria natureza.
Os objetos das necessidades se tornam sempre mais abstratos e estranhos ao
homem, separados dele por de um processo que Marx chama alienao
25
,
chegando ao ponto em que se reduzem simples necessidade de dinheiro.
Este processo de alienao das necessidades considerado intrnseco ao
capitalismo, uma vez que no tem como objetivo a satisfao das pessoas, mas
a produo do lucro. O autor no rejeita o progresso tecnolgico e o domnio
do homem sobre a natureza, mas sim o processo pelo qual tal progresso con-
duzido dentro do sistema capitalista, onde a produo d a precedncia ao lucro
em vez de satisfazer as necessidades. Dando precedncia ao lucro, o capitalismo
gera riqueza para aqueles que esto de posse dos meios de produo, e pobreza
para os operrios que devem trocar sua fora de trabalho pela sobrevivncia
26
.
Da crtica ao capitalismo o autor passa proposta do socialismo.
Na reexo de Marx encontramos outros conceitos de necessidade, dividi-
dos entre necessidades naturais, necessidades essenciais, necessidades sociais
e necessidades radicais:
a) Por necessidades naturais Marx entende as necessidades bsicas da pessoa
humana dirigidas ao seu sustento e sua sobrevivncia. No se confunde, porm,
com o conceito de drives, ou de instintos animais, que no possuem o carter
histrico e cultural prprio das necessidades humanas.
b) O conceito de necessidades essenciais compreende aquelas que surgem
historicamente e no so direcionadas mera sobrevivncia, aquelas cujo
elemento cultural, moral e o costume so decisivos e cuja satisfao faz parte
25 Idem, p. 48.
26 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 94.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
43
constitutiva da vida normal dos homens que pertencem a determinada classe
ou sociedade
27
. Este conceito implica uma mdia das necessidades indispen-
sveis para que os membros de determinada sociedade se sintam em situao
normal de vida.
c) O conceito de necessidades sociais assume vrios signicados, mas se
assemelha principalmente ao conceito precedente de necessidades essenciais:
(1) como necessidade socialmente produzida, ou seja, produzida por homens
singulares no mbito social; (2) como categoria positiva de valor, pregurando
as necessidades projetadas pelo socialismo; (3) como mdia das necessidades
individuais essenciais: um tal homem, de uma tal classe, de uma determinada
poca, nasce em um sistema e em uma hierarquia de necessidades preconsti-
tudas (...). Ele introjeta (...) mesmo que individualmente tal sistema
28
; (4) e,
por ltimo, so consideradas s vezes como necessidades comunitrias, ou seja,
necessidades que podem ser satisfeitas por meio das instituies sociais.
d) No mximo da alienao capitalista, segundo Marx, despertam-se nas
massas as necessidades radicais, encarnao do dever de superar o capitalismo.
Elas so despertadas pela conscincia de classe compreendida como um dever
coletivo de superao do capitalismo
29
. Por um certo perodo de tempo o
capitalismo consegue sustentar as foras produtivas, mas tal equilbrio momen-
tneo quebrado pela inconciliabilidade entre foras produtivas e as relaes
de produo. Juntamente com o capitalismo crescem a misria e a pobreza
absoluta, motivo que faz desencadear as necessidades radicais.
Os marxistas explicam a sobrevivncia e a longevidade do capitalismo na
sua capacidade de induzir os indivduos a novas necessidades. J. P. Sartre, H.
Marcuse e E. Fromm, entre outros, estudaram o processo de produo das
27 HELLER, 1980, op. cit., p. 34.
28 Idem, p. 77-78.
29 Ibidem, p. 81, 87, 97.
44
Capitulo 1 Necessidades Humanas
novas necessidades, ora na reexo losca, ora na reexo psicolgica. Os
autores se perguntam como o indivduo pode desejar aquilo de que no tem
necessidade. Reetem sobre a fora persuasiva do mercado e da produo, que
so capazes de induzir os indivduos a novas necessidades, s vezes at contra os
seus prprios interesses. Entre esses autores, interessa-nos de modo particular
a contribuio de Erich Fromm, pela sua reexo no campo psicolgico sobre
as necessidades existenciais, que estudaremos depois de discorrermos sobre a
perspectiva econmica.
1.2. As necessidades em perspectiva econmica
O termo necessidade aparece no sculo XI e parece vinculado idia de
trabalho rduo: a relao do motivo ao ato, do impulso ao sedativa (...)
fortemente estabelecida. Mas at aquele momento o termo se referia somente
necessidade, ou seja, privao e misria
30
. Com as mudanas sociais e
histricas, e com o impulso da Revoluo Industrial, o termo necessidade,
no primeiro momento relativo carncia e misria, evolui para o conceito
de necessidades como exigncias que nascem da natureza e da vida social.
O conceito no mais se refere a uma condio objetiva de pobreza e misria,
mas especicamente s necessidades que emergem com o advento de novas
oportunidades de aquisio de bens de consumo; a necessidade assim entendida
torna-se o fundamento terminolgico da economia poltica do sculo XVII.
No parece pertencer ao mbito da economia nem pesquisa do processo
de formao das necessidades, nem avaliao de uma provvel escala; a
cincia econmica, de fato, as considera principalmente do ponto de vista das
necessidades de bens e de consumo e como um dado emprico
31
.
30 ALBOU, 1975, op. cit., p. 199.
31 BISOGNO, in Enciclopedia Filosoca: economia politica. apud DUCHINI, 1982.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
45
So duas as principais aproximaes ao tema das necessidades no mbito
econmico: elas se diferenciam, segundo a prevalncia da oferta ou da demanda
de bens de consumo, na identicao e na gerao de novas necessidades.
Uma primeira aproximao reconhece na demanda de bens de consumo o
motor da atividade econmica (demanda solvvel) e, conseqentemente, iden-
tica no consumo o principal conselheiro da produo na indicao dos bens
destinados satisfao das necessidades. Esto de acordo com essa perspectiva
os autores pertencentes corrente do liberalismo econmico.
Uma segunda aproximao promove a crtica da precedente e acusa a
produo (a oferta) como sendo, no sistema capitalista, a bssola que acaba
orientando a gerao de novos objetos destinados satisfao de novas necessi-
dades. As foras produtivas so reconhecidas, portanto, como matriz geradora
das necessidades.
1.2.1. O consumo como matriz das necessidades
A atualidade dessa corrente provm do revigoramento do liberalismo; o
neoliberalismo econmico defende a economia de mercado, livre da constrio
do Estado. Vrios pases assim chamados em desenvolvimento encontram-se
hoje inseridos na economia de mercado, e so denominados pases de economia
emergente. Por um lado, a difuso da economia em nvel mundial constri
a interdependncia dos mercados internacionais e faz com que toda a eco-
nomia mundial esteja presente em todas as partes do mundo, oferecendo os
seus produtos seja aos ricos ou aos pobres. Por outro lado, diculta ou torna
impossvel a certas faixas da sociedade a participao no mercado de trabalho
e, conseqentemente, nos benefcios auferidos por ele. Nasce assim uma nova
categoria de pobres, caracterizados pela excluso do sistema produtivo e consu-
mista: os desocupados, os subocupados no mercado negro e informal, os sem-
qualicao prossional, os doentes etc. Os excludos no contam realmente
46
Capitulo 1 Necessidades Humanas
na elaborao das polticas sociais; so abandonados prpria sorte ou, no
mximo, contemplados no mbito da assistncia social, a qual se caracteriza
em grande parte pelo assistencialismo.
Ponto comum entre os liberais
32
o postulado segundo o qual a demanda
pelos bens de mercado que determina a produo dos bens de consumo. A escola
liberal postula uma ordem natural que consente aos interesses particulares
sintonizarem-se harmoniosamente com o interesse geral
33
. O indivduo, diante
dos objetos de consumo, considerado livre para julgar as prprias necessidades,
o preo do objeto e a convenincia que o objeto tem para ele
34
. As necessidades
so o motivo para os interesses dos indivduos, ou seja, elas os obrigam a buscar
no mercado os objetos aptos a satisfaz-las
35
, indicando, dessa maneira,
produo quais objetos ela deve produzir. Os economistas liberais no fazem
um estudo particular do conceito de necessidade, mas o utilizam para indicar
carncias e dcits, sem fazerem distines entre necessidades e termos ans
36
.
A temtica das necessidades se associa ao estudo da oferta e da procura, do
mercado e do consumo, da produo e da distribuio de mercadorias.
A economia, segundo a corrente liberalista, segue uma lei natural conforme
a qual os interesses individuais se colocam em sintonia com os interesses
gerais da sociedade. Existe uma mo invisvel
37
que conduz o indivduo a
sintonizar-se com os interesses gerais da sociedade; tal determinismo faz com
32 O liberalismo econmico dos sculos XIX e XX pode ser dividido entre o clssico (A. Smith,
Jean-Baptiste Say, Ricardo e Stuart Mill) e o marginalista (W. S. Jevons, L. Walras, C. Menger, A.
Marshall e J. M. Keynes). A teoria marginalista no muda a maneira de conceber as necessidades, mas
o modo de conceber o valor das mercadorias e a admisso da interveno do Estado na economia
com o m de assegurar o consumo e a ocupao.
33 BISOGNO, in Enciclopedia Einaudi, 1977, op. cit., v. 2., p. 252.
34 PROUDHON, 1846. apud BISOGNO, in Enciclopedia Einaudi, 1977, op. cit., v. 2.
35 BROCHIER, 1985, p. 533.
36 ALBOU, 1975, op. cit., p. 200.
37 SMITH, [1977].
Capitulo 1 Necessidades Humanas
47
que os interesses individuais terminem por contribuir ao bem-estar de todos:
com base em tal princpio o liberalismo concebe a liberdade de mercado. As
leis da produo dos bens de consumo so concebidas como leis da natureza de
modo que a mo invisvel do mercado consegue estabelecer o equilbrio entre
necessidades, produo e consumo. Da que no se deve intervir na produo. As
leis de distribuio dos bens de consumo, ao contrrio, dependem da vontade
humana, e para que prevalea a justia social na gesto da distribuio dos bens,
ento sim, o Estado chamado a intervir
38
.
As necessidades so consideradas ora como naturais ou articiais
39
, ora como
absolutas ou relativas
40
. As necessidades absolutas tm um carter obrigatrio,
enquanto as relativas so entendidas como aquelas que provocam a ostentao
consumista, cuja satisfao no provm da posse do objeto de desejo em si,
mas do status que ele produz. A distino das necessidades entre naturais e
articiais considera as primeiras como arraigadas na natureza biolgica do ho-
mem e as segundas como criadas pelo homem. As necessidades quando criadas
pelo homem, e portanto, histricas, se distanciam sempre mais da natureza
biolgica e constituem novas necessidades, muitas delas geradoras da distino
social, do luxo e da ostentao.
Da anlise do processo de satisfao das necessidades do ponto de vista
econmico, emergem, segundo J. Freund
41
, alguns elementos que a compem:
as necessidades, os desejos, os valores (costumes e normas ambientais), a
escolha do objeto, a busca do objeto (a ao e o comportamento) e a satisfao.
Descreveremos brevemente esses elementos, situados no processo de satisfao
das necessidades:
38 RIGOBELLO, 1974, p. 387.
39 BISOGNO, in Enciclopdia Einaudi, 1977, op. cit., v. 2, p. 253.
40 BROCHIER, 1985, p. 533. O autor refere-se a Keynes.
41 FREUND, 1971, p. 13-64.
48
Capitulo 1 Necessidades Humanas
a) As necessidades so entendidas originariamente como uma fora biol-
gica e, nesse sentido, so um dado da natureza; o dado natural, historicamente
elaborado, se transforma em dado cultural. A necessidade, para o autor, uma
realidade no-econmica que fundamenta a economia.
b) Os desejos se caracterizam como um dado subjetivo, uma representa-
o da carncia e da antecipao da satisfao: o desejo a representao e
antecipao que valoriza o mundo externo, distingue e opera prioridades
42
visando escolha do indivduo.
c) Os valores procedem das representaes, dos costumes e das normas
compartilhadas dentro de uma cultura; servem de parmetro, de referencial e
de critrio para a escolha do objeto apto a satisfazer as necessidades.
d) A escolha do objeto pressupe a conscincia do desejo e a vontade do
sujeito, elementos da sua subjetividade.
e) O desejo motiva a ao e provoca os comportamentos, como uma sucesso
de atos endereados posse do objeto escolhido pelo indivduo. A ao como
sucesso de procedimentos reconhecidos pela cultura constitui um know-how
culturalmente compartilhado. A partir das experincias (comportamentos)
e do conhecimento das modalidades de aes destinadas satisfao das
necessidades no mbito societrio se desenvolvem as tcnicas, os costumes, as
regras da sociedade.
f) A satisfao, por sua vez, constitui o sentimento de bem-estar experimen-
tado pelo sujeito; as suas caractersticas so a intermitncia e a capacidade de
motivar novas necessidades; e a sua organizao em nvel societrio se d atravs
da mediao institucional. As instituies polticas, religiosas, econmicas etc.
regulam, facilitam e disciplinam o acesso aos recursos considerados essenciais
para a satisfao das necessidades dos indivduos.
42 Idem, p. 28.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
49
Em outras palavras, o processo segundo o qual as necessidades so satisfeitas
interpretado a partir de uma teoria da motivao. A motivao inicial parte
das necessidades que, como dados da natureza, evocam os desejos; os desejos
se confrontam, na conscincia do indivduo, com as normas, as representaes,
os costumes e os valores do ambiente cultural oferecendo-lhe o referencial para
a busca e a escolha dos objetos aptos a satisfazer as prprias necessidades.
Essa concepo considera as necessidades originariamente como dados
da natureza e valoriza a mediao da conscincia e do juzo subjetivo entre
as necessidades, os desejos e a cultura. A conscincia do indivduo lugar de
confronto entre a motivao dos desejos e as prioridades sugeridas pelos valores
e pelas normas sociais; tambm lugar de interveno educativa desde que os
sujeitos saibam confrontar os prprios desejos com uma escala de valores que
sejam representativos de todas as dimenses do homem: econmica, social,
religiosa, poltica etc.
Tal concepo pode ajudar a explicar tambm a hiptese segundo a qual a
ausncia de um consistente referencial de valores provoca em tantos jovens a
assuno de propostas prescritas pelos meios de comunicao. A mdia prope,
muitas vezes, uma escala de valores que induz escolha de objetos de consumo
presumivelmente aptos a satisfazer as necessidades. Na falta de um referencial
individual de valores, ou no vazio das propostas valoriais, cresce a inuncia
das indues.
Freund considera tambm o papel das instituies na sociedade, quando
elas organizam a satisfao das necessidades em nvel societrio. Servios na
rea educacional, da sade, da assistncia social, com os quais os jovens esto
constantemente em contato, so mediados pelas instituies e organizados pre-
valentemente pela esfera pblica, no mbito do Estado.
50
Capitulo 1 Necessidades Humanas
1.2.2. A produo como matriz das necessidades
Centrada sobre a economia poltica, essa perspectiva privilegia o plo produ-
tivo (da oferta) como matriz das necessidades. No sistema capitalista, o motor
das relaes sociais e da economia no provm das necessidades dos indivduos
expressas na demanda do mercado, mas principalmente da produo
43
. Sendo
o lucro a nalidade da produo, a satisfao das necessidades somente um
meio
44
para decidir a extenso e as fronteiras da produo
45
.
O homem produz os meios de subsistncia para satisfazer as prprias
necessidades, as quais se multiplicam entre si: as relaes sociais, o aumento
da populao, o advento de novas necessidades, a exigncia de crescimento da
produo criam a diviso do trabalho
46
. E o trabalho organizado em funo
do lucro, e portanto alienado, constri relaes sociais que legitimam uma
determinada estrutura econmica, a qual condiciona as outras estruturas
(poltica, social, religiosa etc.). As necessidades, como produto da histria e
contextualizadas em uma determinada cultura, acabam elas mesmas por serem
condicionadas pelo modo de produo da vida material.
Segundo tal perspectiva, todas as formaes sociais tm o seu sistema de
necessidades que, sendo relativas e histricas, variam de cultura para cultura.
Essa concepo crtica distingue as necessidades entre:
a) naturais, como de nutrio, vesturio, aquecimento, moradia etc.;
b) indispensveis, ou que devem ser satisfeitas para que os membros de
uma dada sociedade ou classe social tenham a sensao de que as suas vidas
so normais;
43 HELLER, 1980, op. cit., p. 38.
44 Idem, p. 53.
45 ALBOU, 1975, op. cit., p. 207.
46 REALE; ANTISERI, 1992, p. 147.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
51
c) sociais, entendidas como a mdia dos bens materiais aptos a satisfazer
os componentes de uma sociedade ou de uma classe social.
Essa perspectiva cria a base para a reexo, durante o sculo XX, sobre
necessidades induzidas pelo sistema produtivo. Autores como E. Fromm
e W. Reich baseiam suas pesquisas na relao entre o sistema capitalista e o
sistema produtivo, e demonstram como o primeiro confere ao segundo a criao
de novas necessidades materiais. Reich analisa o consumismo como resposta
represso da libido no mbito familiar e societrio, provocando a busca de
graticaes e de compensaes. Retomaremos estes autores mais adiante, na
anlise das necessidades numa perspectiva psicolgica
47
.
1.2.3. As polticas de desenvolvimento e
as necessidades fundamentais
Na perspectiva do desenvolvimento
48
, a pesquisa sobre as necessidades
adquire signicado especial, particularmente para os pases em via de desen-
volvimento. So consideradas como necessidades fundamentais aquelas que,
variando de pas a pas, segundo o grau de desenvolvimento atingido, fazem
referncia:
a) s necessidades mnimas de consumo das famlias: alimentao, habitao,
vesturio e mobilirio domstico;
b) ao acesso aos servios essenciais de higiene pblica, de gua, de servio
sanitrio e educacional;
c) ao trabalho produtivo e remunerado necessrio para a manuteno da
renda familiar;
47 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 143.
48 Povert e bisogni fondamentali: le dimensioni del problema (GRITTI, l985c, p. 97-100).
52
Capitulo 1 Necessidades Humanas
d) s liberdades democrticas e s outras necessidades no-materiais que
emergem do processo de desenvolvimento das instituies democrticas.
As avaliaes das necessidades fundamentais baseiam-se nos nveis de qua-
lidade de vida atingidos por determinado pas e so realizadas com o m de
desenvolver polticas internacionais para o desenvolvimento. Fundamentalmen-
te, so consideradas as necessidades materiais (como alimentao e habitao)
e as sociais (como educao, servio mdico-sanitrio, trabalho).
Tanto o plo produtivo quanto o do consumo parecem direcionados
estrategicamente para motivar a satisfao de um nmero sempre maior de
necessidades que tm sua origem no mais na natureza humana, mas no
prprio desenvolvimento tecnolgico. Atualmente o plo produtivo mostra-
se sempre mais dependente do sistema de consumo, uma vez que consegue
sintonizar-se com o plo consumista, e programado de maneira que responda
s novas demandas pelos bens de consumo. As novas demandas de consumo,
por sua vez, so sustentadas pelos meios de comunicao e pela propaganda,
que difundem modelos que so indicados como imitativos e de sucesso. A
faixa juvenil parece ser aquela que mais focalizada pela propaganda dirigida
difuso de modelos e de bens de consumo que lhe so associados. Muitos
jovens que vivem em condies de pobreza procuram assumir identidades
propostas por tais modelos que lhes do a sensao de estarem integrados,
mesmo que marginalmente, imagem de juventude difundida. A interpretao
da moda, por exemplo, proposta por G. Simmel, a entende como imitao de
um determinado modelo que responde necessidade de um apoio social;
de coeso e de diferenciao
49
. A tendncia valorizao da moda parece
inserir-se em tal quadro interpretativo.
49 La moda (SIMMEL, 1985, p. 13, 21).
Capitulo 1 Necessidades Humanas
53
1.3. As necessidades em perspectiva psicolgica
Nossa exposio sobre a perspectiva psicolgica prope-se, em um primeiro
momento, a esclarecer o conceito de necessidade segundo alguns autores, dife-
renciando-o de outros conceitos correlativos, como o de instinto, de impulso e
de motivao. As correntes representadas so o behaviorismo, o cognitivismo
e a psicanlise.
Focalizamos em um segundo momento a concepo das necessidades que
emergem da psicologia do profundo, e que tende a ir alm dos conceitos j
vistos at aqui (necessidades fundamentais, necessidades sociais, necessidades
materiais) e a alargar a reexo em direo ao sentido da vida, s necessidades
existenciais e de auto-realizao. Partindo do princpio de que o homem traz
consigo a vocao de realizar as prprias potencialidades humanas, contem-
plamos alguns autores que reetem, embora de pontos de vistas diversos, sobre
as necessidades humanas: E. Fromm com sua reexo sobre as necessidades
existenciais
50
, A. Maslow e a sua hierarquia das necessidades fundamentais
51
,
V. Frankl e a necessidade de sentido da vida
52
, W. Reich e o problema das
necessidades induzidas
53
.
A orientao da nossa pesquisa para a anlise da condio dos jovens
motivou-nos a focalizao das necessidades psicolgicas na perspectiva da
psicologia evolutiva e das necessidades especcas que decorrem do perodo
evolutivo adolescencial
54
.
50 FROMM, 1981.
51 MASLOW, 1948, p. 433-436; 1973, p. 174-179; 1954, p. 327; SPRINGBORG, 1981, op. cit.,
p. 184.
52 FRANKL, 1974, p. 61-84.
53 REICH, 1971.
54 POLETTI, 1988, p. 81-86; ARTO, 1990, p. 157-160.
54
Capitulo 1 Necessidades Humanas
O conceito de necessidade na teoria da motivao humana utilizado prin-
cipalmente, junto com os conceitos de estmulo, de motivao, de instinto, de
impulso (os drives). Estes ltimos, mesmo que muitas vezes confundidos com o
de necessidade, no lhe correspondem exatamente.
Algumas correntes psicolgicas associam o conceito de necessidade com o de
estmulo (behaviorismo); outras correntes o associam aos conceitos de instinto
e impulso (psicanlise); outras ainda, aos processos cognitivos, os quais guiam
as necessidades e orientam o indivduo em direo a um m (cognitivismo).
Na corrente behaviorista as necessidades so concebidas como um dado
natural e, portanto, siolgico que, produzindo uma tenso, motiva a ao
orientada busca da satisfao. O homem reage estimulao que recebe do
ambiente ou de foras psicosiolgicas impessoais
55
por causa dessa caracte-
rstica essa corrente denominada como teoria reativa.
Na psicologia do profundo as necessidades se confundem com o instinto,
uma energia de origem inconsciente, associada aos conceitos de pulso e de
desejo. As correntes cognitivistas, por sua vez, focalizam a intencionalidade
das necessidades guiadas pela inuncia que os processos cognitivos exer-
citam sobre a motivao
56
. Nas duas ltimas correntes a pessoa humana
concebida como ativa, governada pelas foras internas pessoais, que nascem
do conhecimento, (...) de um futuro em direo ao qual orientar-se; , pois,
governada por um projeto
57
neste sentido, essas correntes so reconhecidas
pela sua interpretao proativa das necessidades.
A perspectiva comportamentalista identica as necessidades no estmulo
ativado por uma falta de elementos internos ou externos ao indivduo e con-
siderados e sentidos como necessrios para a sobrevivncia individual ou da
55 RONCO, 1980, p. 27.
56 PETRACCHI, 1990, p. 31.
57 RONCO, 1980, op. cit., p. 27.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
55
espcie: falta de alimento, de ar, de gua, de calor. Quando passa a faltar algum
desses meios ou dessas condies necessrias para a sobrevivncia individual ou
da espcie, ou quando tais condies se distanciam de um nvel normal, diz-se
que existe um estado de necessidade primria
58
. Esse conceito de necessidades
primrias consegue explicar as aes e os comportamentos motivados pela
busca da sobrevivncia, mas no explica ainda a motivao e as necessidades
especicamente derivadas da existncia humana.
As correntes da psicologia do profundo e o cognitivismo desenvolvem
tambm uma concepo das necessidades que as considera como tendncia
instintual do homem em busca da realizao de si mesmo. O homem, justamente
na qualidade de homem, tende a realizar o seu ser; depois de ter satisfeito as
necessidades que lhe garantem a estreita margem da sobrevivncia, ele motivado
pelas necessidades especicamente humanas. Neste caso, trata-se de necessidades
ps-materiais. Elas podem ser identicadas de modos diversos dependendo
da perspectiva dos autores, mas geralmente incluem aquelas necessidades que
derivam da condio humana, que motivam o homem a realizar na existncia o
seu ser
59
: necessidades de relao com os outros, de amor, de transcendncia, de
criatividade, de enraizamento e de pertena, de identidade e de individualidade,
de orientao, de devoo e de sentido da existncia.
Uma tipologia das necessidades emerge de tais correntes, distinguindo as
necessidades em materiais e ps-materiais. As necessidades materiais e primrias
so consideradas mais dentro das teorias behavioristas, e as ps-materiais e
secundrias dentro da psicanlise e do cognitivismo.
As necessidades materiais, como mencionado acima, se relacionam falta
de elementos externos indispensveis sobrevivncia individual ou da espcie
58 HULL, 1978, p. 18.
59 FROMM, 1981, op. cit., p. 36.
56
Capitulo 1 Necessidades Humanas
(alimento, gua, calor etc.) e ao conforto do organismo (sono, repouso, mo-
vimento, excrees etc.)
60
.
So diversos os autores que se referem a uma tipologia das necessidades
ps-materiais
61
. Tais conceitos so contextualizados dentro da teoria psicol-
gica que desenvolvem e da corrente que seguem, mas particularmente daquelas
que consideram o homem no como reativo s foras externas a ele, mas como
proativo ou governado por convices internas.
Da teoria da motivao de A. Maslow emergem: a) as necessidades funda-
mentais, que resultam da profunda exigncia do sujeito na construo de seu
ser (self-actualization). O autor ordena as necessidades segundo uma hierarquia
dinmica e progressiva: necessidades siolgicas, de segurana, de pertena e
afeto, de estima e de auto-realizao
62
. Da reexo de E. Fromm emergem: b)
as necessidades existenciais que se relacionam, segundo o autor, necessidade
de amor, de transcendncia, de criatividade, de enraizamento e pertena, de
identidade e individualidade, de orientao e de devoo. V. Frankl, por sua
vez, desenvolve a reexo sobre: c) a necessidade de signicado da vida. Outros
autores, como W. Reich, falam de: d) necessidades induzidas, derivadas da
predisposio do carter dos indivduos, plasmadas pela ideologia burguesa e
pela inuncia da sociedade consumista
63
.
60 HULL, 1978, op. cit., p. 64.
61 Lacan identica as necessidades ps-materiais como intelectuais, morais e estticas; de distrao; de
realizao, de superao de si mesmo, de ideal, de crena; e identica vinte necessidades consideradas
como fundamentais (SILLAMY, 1983). H. A. Murray distingue particularmente trs: a) necessidade
de segurana; b) necessidade de resposta afetiva ou de ser reconhecido e considerado pelos outros e
c) necessidade de novidade ou de novas experincias. Ele as classica tambm segundo a direo ou
segundo a atividade que provocam: mentais, viscerognicas e sociorrelacionais. Mc Clelland parte
dos estudos de Murray e de variveis ambientais que condicionam as necessidades fundamentais e
identica trs necessidades fundamentais: a) de aliao; b) de poder; e, c) de realizao ou achievement.
The achievement motive (McCLELLAND, A. et alii, s. d., p. 83).
62 MASLOW, 1973, op. cit., p. 88-89.
63 REICH, 1971, op. cit.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
57
Passaremos a uma anlise mais detalhada de cada um desses autores, partin-
do dos contedos, na seguinte ordem: necessidades existenciais, necessidades
fundamentais, necessidade de signicado e necessidades induzidas. Como
complementao especca focalizamos as necessidades formativas, ligadas ao
perodo adolescencial evolutivo: a necessidade de participao e de avaliao
positiva, de segurana, de compreenso, de independncia, de conhecimento, de
senso, de amor e de coerncia
64
.
1.3.1. Necessidades existenciais
E. Fromm, utilizando em parte a teoria marxista e em parte a teoria freu-
diana sobre a origem instintiva das necessidades, estuda o processo segundo
o qual o indivduo pode ser induzido a assumir papis que lhe so atribudos
pelo sistema capitalista. A dinmica da cultura explicada com base na teoria
freudiana dos instintos e na teoria marxiana da prevalncia da estrutura eco-
nmica sobre as outras estruturas. O autor adverte uma conitualidade entre
essas duas teorias: ele parte da pergunta se o determinismo instintual ou
o econmico o condicionante da formao e do dinamismo da cultura. No
confronto dessas duas possibilidades, vistas segundo um critrio de maior ou
menor exibilidade de uma em relao a outra, o autor encontra mais rigidez
na estrutura econmica em condicionar a cultura, que nos instintos em con-
dicionar a estrutura econmica. Os instintos se mostram exveis a diversas
formas de satisfao: o desejo de afeto, por exemplo, pode ser satisfeito tanto
por uma relao de amizade quanto pode ser sublimado com uma caixa de
bombons. A estrutura econmica, portanto, revela-se mais rgida e estvel e
tem primado na gerao da cultura ou, em outras palavras, a estrutura psquica
64 ARTO, 1990, op. cit., p. 157-1 60; POLETTI, 1988, op. cit., p. 157-160.
58
Capitulo 1 Necessidades Humanas
exvel aos condicionamentos da estrutura econmica. Sob a presso das
necessidades, o instinto, caracterizado por grande exibilidade e dotado de uma
multiplicidade de mecanismos substitutivos para a prpria satisfao (desejos,
impulsos instintuais, interesses e necessidades), acaba colocando-se a servio do
sistema econmico. A estrutura econmica consegue mais facilmente colocar
as necessidades e os desejos a servio dos prprios interesses, e para isso se
serve da estrutura ideolgica.
Enquanto S. Freud desenvolveu uma teoria da natureza humana em termos
de instintos e impulsos inatos, E. Fromm reconhece na racionalidade humana
uma sada para o determinismo instintual, pois essa se situa em um meio
termo, entre natureza biolgica-instintual e condies ambientais. A natureza
humana possui, por um lado, uma constituio instintual imanente, mas, por
outro, depende das condies favorveis do ambiente para que possa realizar
as prprias potencialidades
65
.
E. Fromm distingue entre as necessidades siolgicas orientadas sobre-
vivncia e as necessidades existenciais orientadas realizao humana. Essas
ltimas so por ele subdivididas em: 1) necessidade de relaes sociais; 2)
necessidade de transcendncia; 3) necessidades de pertena e de segurana; 4)
necessidade de identidade e de sentir-se sujeito dos prprios atos; 5) necessi-
dade de orientao, de razo e de objetividade
66
.
As necessidades, quando existenciais, cessam de ser prevalentemente um
estado de carncia ou uma necessidade puramente orgnica, e se tornam uma
exigncia do ser humano que se manifesta em estado de tenso orientado
realizao das prprias potencialidades. As necessidades siolgicas e primrias
fazem referncia ao conceito de homestase, ou aos esforos automticos que o
corpo realiza para manter um estado constante e normal de uxo sangneo
67
.
65 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 157.
66 Idem, p. 150-151.
67 MASLOW, 1973, op. cit., p. 84.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
59
A homestase o objetivo da satisfao das necessidades siolgicas; as
necessidades secundrias e existenciais privilegiam o plo da tenso do homem
orientado realizao de seu ser; o homem no pode viver estaticamente
porque as suas ntimas contradies o impelem busca (...) de uma nova
harmonia
68
. Na tica das necessidades existenciais o homem concebido
como um ser em construo, em um dinmico e contnuo tornar-se um ser
humano
69
.
1.3.2. Necessidades fundamentais
Expoente da psicologia humanista, A. Maslow, referindo-se especicamente
s necessidades existenciais de E. Fromm, desenvolve uma hierarquia das
necessidades. Une o conceito de self-actualization teoria freudiana dos instintos
de base e, partindo deste conceito, desenvolve a sua teoria da motivao
70
. O
conceito de self-actualization deriva do postulado segundo o qual o homem tem
condies de agir por si (...), que a sua prpria natureza guarnecida de um
conjunto de ns, objetivos ou valores
71
. Na presena de condies ambientais
favorveis, culturais e educacionais, o indivduo tem disposio os recursos que
lhe permitem desenvolver as prprias potencialidades humanas. Tal conceito
se aproxima do conceito de proatividade.
Maslow fundamenta a sua teoria da motivao sobre um conceito de
natureza biologicamente dada e fundamentalmente boa. A natureza humana
68 FROMM, 1981, op. cit., p. 36, 13.
69 MASLOW, 1973, op. cit., p. 20.
70 Maslow encontra na self-actualization um denominador comum a diversos autores como Aristteles
e Bergson, psiquiatras, psicanalistas, psicologistas como Goldstein, Rank, Jung, Horney, Fromm,
Rogers, May. The instinctive nature of basic needs (MASLOW, 1954, op. cit., p. 327); I valori
difcili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia (TULLIO-ALTAN,
1974, p. 60-61).
71 MASLOW, 1954, op. cit., p. 328.
60
Capitulo 1 Necessidades Humanas
contm em si uma ecincia biolgica ou sabedoria
72
, um sistema de valores
humanos intrnsecos e uma hierarquia de valores que pertencem prpria
essncia da natureza humana
73
. Uma sabedoria intrnseca ao organismo
guia o sujeito na busca daquilo que bom para ele; ele motivado, em um
primeiro momento, pelas necessidades siolgicas, e uma vez que estas estejam
relativamente garantidas, outras necessidades mais altas ocupam o seu lugar
e emergem como preferenciais. Mesmo que o sujeito esteja potencialmente
em condies de advertir todas as necessidades, o seu interesse se concentra
sobre aquelas sucessivas que, situando-se em um lugar mais alto na hierarquia,
adquirem a prioridade motivacional. O sujeito conseqentemente motivado de
modo particular pelas necessidades que emergem de um determinado perodo
evolutivo e que se revelam imperativas.
A hierarquia das necessidades concebida por Maslow se caracteriza por:
a) progressividade entre um plo e outro da hierarquia, ou entre necessidades
siolgicas (que ele chama de lower needs) e as necessidades de auto-realizao
(que ele chama de higher needs);
b) escala de prioridade que vai das necessidades mais baixas s mais altas;
c) escala de imperatividade: quanto mais alta uma necessidade, tanto menos
importante ela para a mera sobrevivncia e tanto mais pode ser postergada
a sua graticao;
d) critrio de precedncia ou emergncia das necessidades mais baixas:
somente quando as necessidades prioritrias (mais baixas) so relativamente
atendidas que as necessidades mais altas como as cognitivas e estticas so
ativadas
74
.
72 Idem, p. 328.
73 MASLOW, 1973, op. cit., p. 13.
74 MASLOW, 1948, op. cit., p. 433-436; 1973, op. cit., p. 174-179; SPRINGBORG, 1981, op. cit.,
p. 184.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
61
Essa hierarquia, baseada no critrio da prepotncia e da precedncia de
certas necessidades sobre as outras, ou, como ele mesmo arma, no princpio
de fora relativa, concebida e ordenada da seguinte maneira: (1) necessida-
des siolgicas: de alimento, de abrigo, de respirao, de reproduo etc.; (2)
necessidade de segurana, de estabilidade, de dependncia, de proteo, de
ordem e estrutura, de sentir-se livre do medo; (3) necessidade de pertena e
de afeto; (4) necessidade de estima, de sucesso, de prestgio e de respeito por
parte dos outros; e, por ltimo, (5) necessidade de auto-realizao
75
.
A crtica que usualmente feita hierarquia das necessidades de Maslow
diz respeito prepotncia das necessidades mais baixas e sua conseqente
precondio para a satisfao das necessidades mais altas. A crtica dirige-se
rigidez interna da hierarquia, segundo a qual o sujeito que no satisfaz as
necessidades mais baixas (por exemplo: de alimentao) no se sente motivado
busca e satisfao de outras necessidades consideradas mais altas (por exemplo:
de transcendncia). Visto que existe uma escala de prioridades, as necessidades
mais sentidas so tambm aquelas mais ligadas base siolgica do indivduo;
o prprio autor reconhece que a sua hierarquia pode dar a impresso errada
de que certas necessidades devam ser satisfeitas inteiramente para que as ou-
tras mais altas se desenvolvam
76
. A satisfao das necessidades de base no
determina automaticamente o aparecimento das necessidades mais altas, mas
as condiciona: como as necessidades em geral so menos sensveis motivao
pessoal, tm precedncia na motivao as necessidades que manifestam maior
grau de urgncia. A urgncia provoca a prioridade dada pelo sujeito: mesmo
que ele esteja potencialmente em condies de advertir as necessidades mais
altas, no consegue ser sucientemente motivado por elas, visto que se encontra
ainda ocupado com necessidades hierarquicamente mais baixas.
75 MASLOW, 1973, op. cit., p. 83-101, 174.
76 Idem, p. 110.
62
Capitulo 1 Necessidades Humanas
O conceito de motivao no se confunde com o de necessidade; podemos,
no entanto, considerar a motivao em relao tanto s necessidades primrias
ou siolgicas quanto s necessidades secundrias ou existenciais. As necessi-
dades quando siolgicas so de ordem natural e se caracterizam pela busca
de equilbrio por parte do organismo humano, comprometido pela carncia
de um objeto (interno ou externo), que provoca no sujeito uma reao ou um
comportamento direcionado sua satisfao. A motivao vem usualmente
denominada como energia que, no tendo origem em si mesma, mas na
condio de necessidade, provoca a ao
77
. A motivao ativada tambm pelas
necessidades secundrias ou ps-materiais, elaboradas pelo sujeito. A provoca-
o motivacional que se origina das necessidades existenciais, por exemplo, no
provm necessariamente de um estado de carncia de ordem biosiolgica,
mas de um estado de tenso que, s vezes, provocado e alimentado pelo
prprio sujeito, na tentativa de superar o estgio atual de realizao, em busca
de um novo passo na realizao de si mesmo.
As necessidades, sobretudo as primrias, mais baixas na hierarquia,
motivam na sociedade os diversos servios institucionais orientados sua
satisfao. A sociedade organiza servios orientados satisfao das neces-
sidades no campo da sade, da alimentao, da informao. Tais servios
se concretizam em instituies como a previdncia e assistncia social
para garantir um mnimo de sustento, o trabalho como fonte de renda,
a escola como reproduo da cultura etc. Diversamente das necessidades
primrias, que respondem aos nveis de urgncia das necessidades de ma-
triz biosiolgica, as necessidades mais altas se associam principalmente
ao incremento do bem-estar e ao desenvolvimento da pessoa humana: o
sujeito pode criativamente desenvolver as prprias capacidades humanas
utilizando os recursos que a cultura coloca a sua disposio.
77 ARTO, 1990, op. cit., p. 152.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
63
O conceito de necessidade em Maslow nos permite a ligao entre o
momento estrutural dos servios institucionais dirigidos satisfao das
necessidades bsicas da sociedade, e o momento cultural desenvolvido pela
tendncia do sujeito humano criatividade e ao crescimento em resposta s
suas necessidades mais altas.
Por um lado, o plo das necessidades primrias permite-nos desenvolver a
anlise da dimenso estrutural da sociedade orientada satisfao das necessi-
dades bsicas, como de instruo de base, de habitao, de servios sanitrios,
de estrutura familiar etc. Por outro lado, o plo das necessidades secundrias e
mais altas permite-nos a anlise da dimenso individual e cultural
78
: os jovens
podem ser estudados na sua demanda por necessidades mais altas, como de
afeto, de pertena, de estima e de auto-realizao.
1.3.3. A necessidade de sentido da vida
Victor Frankl
79
quem d ateno especial necessidade de signicado
e s conseqncias de sua frustrao. O homem dotado de uma vontade
de signicado que motiva a sua busca de sentido da existncia e constitui-
se como uma necessidade fundamental. Uma das evidncias da importncia
para o homem da vontade de signicado pode ser observada nos sintomas de
sua negao. A frustrao da necessidade de sentido da vida leva ao vazio
existencial, sentimento de absoluta falta de signicado que, num crescente
de gravidade, acompanha momentos como a crise adolescencial, os estados
depressivos, as condutas suicidas
80
. A resposta ao vazio existencial consiste
na busca de compensaes, na procura da felicidade nos meios em lugar de nos
78 TULLIO-ALTAN, 1974, op. cit., p. 65.
79 MASLOW, 1973, op. cit.; FRANKL, 1974, op. cit., p. 61-84.
80 FIZZOTTI; GISMONDI, 1993, p. 134.
64
Capitulo 1 Necessidades Humanas
ns. Essa maneira de conceber a felicidade, e as atitudes e comportamentos que
dela decorrem, reproduzem-se nos diversos mbitos de vida e, conseqente-
mente, o estudo, o trabalho, a relao com o outro, o desejo de independncia,
a liberdade, adquirem valor instrumental para o conseguimento do prazer
(gozar a vida), mediante alternativas como o consumo, a carreira e a busca
de bem-estar. A frustrao da necessidade de sentido da vida evidencia-se na
potenciao dos meios (dinheiro, o outro, a moda, a aparncia, o corpo) como
ns em si mesmos e como substitutivos da felicidade. O efeito problemtico
de tal fator de risco pode manifestar-se por reaes irracionais e desviantes: em
casos mais intensos com a autodestruio (o suicdio), mas tambm no desejo
de evaso que se revela no consumo de drogas, de lcool, na busca de sensaes
na velocidade e na losoa do gozar a vida a qualquer custo
81
.
1.3.4. As necessidades induzidas
W. Reich explica as necessidades como oriundas de um processo de utiliza-
o das foras da libido (instintos, desejos, interesses, necessidades) a servio
do sistema capitalista. Utilizando contribuies da psicologia freudiana
82
, o
autor conclui que a famlia patriarcal, por meio do seu estilo educativo carac-
terizado pela represso da libido, consegue imprimir no carter dos lhos a
performance das relaes sociais como essas so vividas no capitalismo. Como
81 FRANKL, 1974, op. cit., p. 65-66.
82 Na reexo sobre ideologia e alienao W. Reich parte das principais descobertas de S. Freud: a)
a conscincia s uma pequena parte da vida psquica, mas isso no signica que a experincia
fsica seja aleatria, mas causada por processos conscientes e inconscientes; b) em segundo lugar,
que o mecanismo causal provm da libido, que no est connada procriao ou genitalidade,
mas constitui uma energia sexual; c) a terceira descoberta de Freud, segundo o autor, relaciona-se
com o complexo de dipo ou com a modalidade de relaes entre pais e lhos na nossa cultura: a
sexualidade infantil (...) normalmente removida por medo da punio dos atos e dos pensamentos
sexuais (REICH, 1971, op. cit., p. 58), e subtrada do domnio da conscincia, sem porm tirar-lhe
a fora; e enm d) o autor sustenta que, em conseqncia, o cdigo moral no tem origens sobre-
naturais, como sustentam as classes dirigentes, mas deriva de medidas educativas e contingenciais.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
65
resultado, tal estilo educativo legitima, em nvel individual, as relaes de pro-
duo e, em nvel societrio, a ideologia que sustenta a estrutura econmica e
poltica. Segundo o autor, a represso da libido ou a frustrao das necessidades
sexuais na infncia, vividas sobretudo na famlia burguesa patriarcal, induzem
o indivduo a representar um papel ao qual ele deve se adaptar. Como conse-
qncia ele desenvolve um carter conservador e reacionrio, o que constitui
a forma material da ideologia; segundo o autor, a famlia burguesa reprime
as necessidades sexuais removendo-as para o inconsciente e a frustrao das
necessidades materiais leva rebelio. A represso liberada pela busca de
graticaes substitutivas, de necessidades articiais
83
e induzidas: em outras
palavras, as necessidades induzidas produzem graticaes substitutivas das
necessidades reprimidas.
Reich acredita que por meio da ideologia a alienao ganha espao e que
o consumo uma graticao substitutiva para liberar e controlar a agressi-
vidade, visto que as verdadeiras necessidades, aquelas removidas durante a
infncia, vm sublimadas: existem poucas necessidades verdadeiras e innitas
necessidades falsas que alimentam o sistema capitalista.
Essas concepes psicanalticas que consideram excessivamente as foras
da libido, como a de Reich, vm redimensionadas pela anlise sociolgica
84
:
a capacidade de escolha e de deciso do indivduo tem mais peso do que as
foras primrias do instinto.
83 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 143, 145.
84 SIDOTI, 1989, p. 45.
66
Capitulo 1 Necessidades Humanas
1.3.5. As necessidades formativas
A idade adolescencial e juvenil, perodo peculiarmente delicado da forma-
o humana, demanda algumas necessidades que devem ser consideradas na
sua especicidade. Partindo da literatura cientca
85
pudemos identicar sete
necessidades que so requisitadas durante o perodo evolutivo e que podem
ser denominadas formativas:
- Necessidade de participao e de ser avaliado positivamente, que comporta
o desenvolvimento da sociabilidade e da percepo de si nas opinies dos
outros.
- Necessidade de segurana (ou de reduo da incerteza), identicada so-
bretudo na seleo e eleio que o adolescente faz de determinadas pessoas
signicativas que lhe servem de suporte afetivo.
- Necessidade de compreenso (de ser aceito e compreendido).
- Necessidade de independncia, que se manifesta em um ambivalente mo-
vimento de aproximao e distanciamento da famlia e da gura paterna,
na tentativa de aquisio de uma identidade pessoal.
- Necessidade de conhecimento, de explorao do ambiente e de situaes
novas para medir as prprias capacidades e situar-se no mundo.
- Necessidade de signicado ou de encontrar um sentido na vida, assumindo
e em coerncia com determinados valores compartilhados com o grupo e
com a sociedade.
- Necessidade de amor, que demanda investimento afetivo e, em parte, inte-
resse sexual.
Tais necessidades ultrapassam os limites das necessidades siolgicas e se
situam no mbito relacional, de desenvolvimento da prpria identidade e de
crescimento humano.
85 POLETTI, 1988, op. cit., p. 81-86; ARTO, 1990, op. cit., p. 157-160.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
67
1.4. As necessidades em perspectiva sociolgica
A inteno do presente tpico colher as principais reexes sobre o con-
ceito de necessidade no mbito sociolgico. As vrias perspectivas sociolgicas
so geralmente correlacionadas com outras disciplinas.
Seguindo uma lgica que respeita o desenvolvimento histrico do conceito
dentro da reexo sociolgica, partimos do conceito funcionalista de necessi-
dade. Oriundas da natureza siolgica e entendidas como prolongamento das
necessidades do organismo humano, as necessidades se desenvolvem por meio
da cultura e conquistam uma dimenso social.
Em um segundo momento, tratamos de algumas perspectivas sociolgi-
cas que constituem uma crtica da civilizao moderna: esta fundamenta na razo,
na cincia e na tecnologia as suas bases de desenvolvimento, orientada produo
de bens de consumo, e gera uma relao perversa entre a liberdade humana e a
oferta de modalidades e objetos para a satisfao das necessidades.
O terceiro momento da reexo sociolgica recolhe as contribuies mais
recentes, que apresentam as necessidades emergentes dos processos de trans-
formao da sociedade ps-moderna. Essas contribuies identicam as novas
necessidades partindo no tanto dos parmetros negativos da privao ou da
falta de recursos, mas dos parmetros positivos proporcionados pelo conceito
de qualidade de vida.
1.4.1. Concepes funcionalistas das necessidades
As concepes de tendncia funcionalista se assemelham reexo no m-
bito econmico, tm em comum a preocupao pelas necessidades de ordem
orgnica e material, e emergem principalmente nas pesquisas de B. Malinowski
68
Capitulo 1 Necessidades Humanas
sobre as necessidades orgnicas, de M. Halbwacks
86
sobre as necessidades
sociais, de R. Merton e C. de Lauwe
87
sobre necessidades e aspiraes, e se
encontram tambm no campo da psicologia social, onde G. Tarde
88
desenvolve
o estudo sobre necessidades e crenas.
a) As necessidades como prolongamento do organismo
A perspectiva funcionalista das necessidades tem o seu expoente principal
em B. Malinowski. O autor se refere a um organismo societrio semelhante
ao organismo humano caracterizado por uma complexidade de variveis que
vo do nvel biolgico ao psicolgico, social e cultural
89
. O autor parte de
dois axiomas: 1) que toda cultura deve satisfazer o sistema biolgico de ne-
cessidades; 2) que a manifestao cultural uma intensicao instrumental
da anatomia humana e se refere diretamente ou indiretamente satisfao de
uma necessidade do organismo
90
. As instituies sociais representam as res-
postas culturais endereadas satisfao das necessidades em nvel societrio;
a crtica mais forte dirigida ao autor e aos funcionalistas em geral diz respeito
ao reducionismo, ou aplicao de uma nica medida cultural universalmente
aplicvel
91
(a cultura ocidental) para a avaliao de toda a sociedade.
b) Necessidades sociais
M. Halbwachs um socilogo da linha durkheimiana, mas de orientao
86 HALBWACHS, 1955, p. 167.
87 CHOMBART DE LAUWE, 1971, p. 46; 1973, p. 31-32.
88 TARDE, 1976, p. 190.
89 DONATI, 1981, p. 8.
90 MALINOWSKI, 1971, p. 177.
91 BISOGNO, in Dizionario di sociologia (GALLINO, 1978, p. 75); Enciclopedia Einaudi, 1977, op. cit.,
p. 258.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
69
psicossocial. A sua publicao de 1912, La classe ouvrire et les niveaux de vie
92
teoriza
sobre a forma, a matria e os princpios da necessidade. Tomando como base a
forma ou a freqncia da solicitao das necessidades, o autor as distingue em
trs categorias: a) necessidades de nutrio; b) de alojamento; c) de vesturio
93
.
Como critrio de reconhecimento do carter social das necessidades, conclui
que quanto mais prolongada a previso de decadncia de uma determinada
necessidade, tanto mais ela pode ser reconhecida como social. As presses
coletivas aumentam a sensibilidade psquica, criam novas necessidades e novos
modos de satisfaz-las, esvaziando as necessidades do seu contedo orgnico
primitivo e substituindo-as com outras, criadas pela representao social.
Para o autor a pertena a uma classe social condiciona a emergncia de novas
necessidades e tal condicionamento tanto mais forte quanto mais o indivduo
se eleva na escala social
94
as necessidades conseguem tambm estruturar as
classes sociais. O conceito de necessidade em M. Halbwachs, concebido para
investigar as necessidades das classes operrias, se atm s necessidades materiais
e aos aspectos mais quanticveis do consumo familiar.
c) Necessidades: uma lacuna entre recursos disponveis e aspiraes
Identicamos tambm a contribuio de C. de Lauwe ao conceito de
necessidade dentro de uma sociologia das aspiraes. O autor entende por
necessidade uma lacuna, um estado provocado por uma lacuna entre aquilo
que necessrio ao sujeito e aquilo que ele possui atualmente
95
, entre as ne-
cessidades advertidas e os recursos disponveis para satisfaz-las. Em sentido
mais objetivo, trata-se de um elemento externo indispensvel seja ao funcio-
92 HALBWACHS, 1970; ALBOU, 1975, p. 214.
93 HALBWACHS, 1955, op. cit., p. 167.
94 ALBOU, 1975, op. cit., p. 215; BISOGNO, in Enciclopedia Einaudi, 1977, op. cit., p. 260.
95 CHOMBART DE LAUWE, 1975, p. 170.
70
Capitulo 1 Necessidades Humanas
namento de um organismo, como a nutrio, seja vida social (...) tal como o
alojamento conveniente, e em sentido subjetivo como um estado de tenso
no qual se encontra um indivduo ou um grupo quando se sente privado de
tal elemento
96
objetivo.
De Lauwe concebe uma tipologia em dois nveis para explicar as necessidades
presentes em determinado momento histrico, ele as distingue entre objetos de
necessidade e estado de necessidade; e para indicar o dinamismo com o qual
as necessidades se transformam na histria, ele distingue entre necessidades-
aspiraes e necessidades-obrigaes
97
.
O primeiro nvel da sua tipologia entende por objetos de necessidade os
elementos externos indispensveis seja ao funcionamento do organismo (por
exemplo: nutrio, habitao), seja vida social e obteno de status (por
exemplo: instruo, roupas convenientes, grupo social de referncia). Por es-
tado de necessidade o autor entende um estado de tenso (de preocupao e
de nsia) advertido pelo sujeito privado dos objetos de necessidade (seja um
objeto concreto ou uma posio social): a conscincia que o indivduo tem
desse estado de tenso constitui propriamente o desejo. Num segundo nvel,
o autor faz distino entre necessidades-aspiraes e necessidades-obrigaes,
para exprimir o carter dinmico das necessidades quer na esfera individual,
quer na grupal e societria. A aspirao o desejo ativado nas imagens, nas
representaes e nos modelos presentes em uma cultura
98
que se tornou uma
necessidade. A realizao das necessidades-aspiraes no se pode efetuar no
momento presente e a sua satisfao depende da organizao, por parte da
sociedade, dos meios disponveis para satisfaz-las (como, por exemplo, a es-
cola para realizar a aspirao em nvel cultural). medida que a realizao das
96 CHOMBART DE LAUWE, 1973, p. 15-16.
97 Idem, p. 31-32; ALBOU, 1975, p. 217.
98 CHOMBART DE LAUWE, 1971, op. cit., p. 28.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
71
aspiraes torna-se possvel a todos, elas se transformam progressivamente em
uma obrigao do Estado (necessidades-obrigaes), e correspondem quelas
necessidades que o indivduo no pode dispensar, se quiser sobreviver em uma
determinada sociedade. Por exemplo, a necessidade de educao fundamental e
de educao universitria: a primeira j se tornou uma necessidade-obrigao,
enquanto a segunda ainda uma necessidade-aspirao. Na realidade brasileira
atual a escola fundamental regulamentada por lei e (teoricamente) colocada
disposio de todos, enquanto a instruo universitria ainda uma necessidade-
aspirao e privilgio de poucos.
O autor identifica duas atitudes do sujeito diante das necessidades:
uma atitude de preocupao e uma atitude de interesse livre. O nvel de
satisfao das necessidades situado abaixo de determinado limite cria um
estado de preocupao provocado geralmente pela insatisfao das necessidades
siolgicas, cujos sintomas so a fome, a precariedade habitacional, a falta de
segurana para o futuro da famlia, as tenses nas relaes sociais e afetivas etc. A
atitude de interesse livre, por sua vez, caracterizada por relativa disponibilidade
de recursos; nesse caso o nvel de tenso (estado de necessidade) se reduz, e o
sujeito passa de um comportamento de preocupao a um comportamento
de interesse livre; as aspiraes mudam de nvel e de natureza
99
, uma vez que
outras necessidades passam a ser progressivamente motivadas e liberadas. A
atitude de interesse livre permite ao sujeito que ele mude a orientao das suas
motivaes: elas passam a concentrar-se naquelas necessidades que, mesmo
que advertidas pelo sujeito, se encontravam ainda fora das suas possibilidades
de realizao.
A teoria das aspiraes se desenvolveu dentro das pesquisas sociolgicas sobre
as necessidades materiais. Valoriza a matriz cultural da gerao das necessidades
e supera uma concepo simplesmente consumista. Essa ltima concepo,
99 Idem, p. 46, 61.
72
Capitulo 1 Necessidades Humanas
concentrando-se somente nas necessidades materiais, facilita a manipulao
das necessidades por parte dos grupos dominantes da sociedade, que se fazem
os intrpretes das necessidades dos outros grupos sociais mais pobres. Os
grupos dominantes, ao identicar as necessidades com o consumo, freiam a
conscincia das classes baixas e controlam as necessidades dos outros com base
nos prprios interesses. A propaganda se utiliza desse mecanismo, criando
uma falsa conscincia dentro do sentido que lhe interessa
100
.
A abordagem de C. de Lauwe das necessidades e aspiraes til por-
quanto:
a) permite a pesquisa das necessidades dentro de culturas as mais diversas,
onde podem ser consideradas no somente as necessidades atuais (objetos de
necessidades e estados de necessidade), mas tambm o dinamismo das necessida-
des enquanto elas se transformam progressivamente de aspiraes a obrigaes
sociais (de necessidades-aspiraes a necessidades-obrigaes);
b) consente a considerao das necessidades radicais e indispensveis natu-
reza humana (objetos de necessidades e estados de necessidades) e a vericao
das necessidades que emergem no mbito da vida social (necessidades-aspiraes
e necessidades-obrigaes); e, por ltimo,
c) o conceito de necessidade, entendido como lacuna entre os recursos
disponveis e as necessidades advertidas, focaliza o estado de tenso e de
ansiedade a que esto sujeitos os indivduos pressionados por altos nveis de
aspirao social.
Uma perspectiva semelhante, que considera as necessidades como fruto
de uma lacuna entre recursos e aspiraes, foi desenvolvida tambm por E.
Durkheim e, posteriormente, por R. Merton
101
: nos referimos particularmen-
te teoria da anomia. O conceito de anomia tem origem na reexo de E.
100 CHOMBART DE LAUWE, 1975, op. cit., p. 168.
101 MERTON, 1977, p. 208, 211.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
73
Durkheim e concebido como um estado de desordem causado por um conito
no qual se encontra o indivduo sujeito a uma dupla pertena: aos grupos nos
quais prevalece uma solidariedade mecnica e tradicional, e aos grupos nos
quais prevalece um estilo de solidariedade orgnica emergente a partir da
nova diviso do trabalho. Na transformao e no deslocamento da sociedade
tradicional em direo ao estilo de solidariedade orgnica manifestam-se
lacunas na velocidade de desenvolvimento dos subsistemas estrutural e cultural.
O sistema estrutural no consegue administrar adequadamente o processo de
satisfao das necessidades: nascem problemas de comunicao entre os sub-
sistemas estrutural e cultural devido rapidez das mudanas econmicas e
sucesso de fenmenos naturais (catstrofes) e histricos (guerras).
E. Durkheim observa que o suicdio mais freqente nos momentos tanto
de forte depresso econmica quanto de prosperidade inesperada. Depresso e
prosperidade podem provocar a desiluso de expectativas e o enfraquecimento
dos sistemas de apoio e de referncia; o indivduo, destitudo de suas referncias
anteriores (normas e valores), acaba por entrar em crise de identidade.
Tambm o conceito de necessidade em R. Merton desenvolve-se dentro da
teoria da anomia. Para ele, as necessidades so os ns estabelecidos pela sociedade
e perseguidos necessariamente pelo indivduo. Os meios so prometidos teori-
camente a todos os cidados, mas na realidade esto disposio de poucos:
verica-se uma lacuna entre os ns que o indivduo persegue e os meios que
lhe so colocados disposio para atingir os ns. Os meios para a satisfao
das necessidades de cada um no so disponveis a todos, de modo que existem
pessoas que se utilizam de meios considerados desviantes, como uma maneira
de responder s presses exercidas pelos ns. A anomia, para o autor, no um
problema conjuntural, mas estrutural, e deriva da pertena de classe. Ela nasce
como fruto de processos ideolgicos por meio dos quais as classes dirigentes
tendem a impor os prprios valores que espelham os prprios interesses.
74
Capitulo 1 Necessidades Humanas
Entre meios e ns, criam-se fenmenos de carter reativo ou de adaptao:
a) o conformismo, como adaptao aos ns e aos meios;
b) o ritualismo, como rejeio dos ns e aceitao dos meios;
c) a rebelio, como rejeio dos ns e dos meios;
d) a fuga, como renncia s aspiraes e procura dos meios;
e) inovao, como aceitao dos ns e procura de meios mais adaptados
e legais. As reaes de rebelio, de fuga e de inovao podem levar ao
desvio mediante a negao dos ns socialmente compartilhados e a
busca de meios ilegtimos para a realizao das necessidades.
d) Necessidades e interao social
A interpretao de G. Tarde representa uma contribuio vlida ao con-
siderar a importncia das interaes sociais na produo das necessidades. O
processo de origem e de difuso das necessidades liga-se prevalentemente s
inuncias sociais que ocorrem nas interaes; portanto a origem das necessi-
dades no depende somente da inuncia da produo e do consumo. O autor
analisa os fenmenos econmicos em perspectiva psicolgica e indaga sobre a
inuncia recproca que os seres humanos exercem uns sobre os outros. A ao
psicolgica provoca uma reao do indivduo; este, por sua vez, modica sua
conduta: tais aes se repetem por efeito de imitao, originando o que Tarde
identica como crenas na conscincia coletiva
102
. O autor identica na
necessidade orgnica a origem das necessidades. A necessidade orgnica no
mais que um terreno de cultura sobre a qual as necessidades sociais, os mais
diversos e volveis moventes econmicos se desenvolvem
103
.
O autor distingue as necessidades em orgnicas (identicadas nos hbitos) e
102 ALBOU, 1975, op. cit., p. 210.
103 TARDE, G. La psychologie economique, Paris: Alcan, 1902, p. 55 apud ALBOU, 1975, op. cit.,
p. 211; BISOGNO, in Enciclopedia Einaudi, 1977, op. cit., p. 258.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
75
as claramente sociais (identicadas nos costumes). Mesmo que, se em primeira
instncia, e por causa de sua natureza orgnica, as necessidades se revelem o
principal motor da vida econmica, a sua anlise deve levar em considerao
a interao que acontece entre os indivduos.
As necessidades sociais encontram suas origens na dinmica interativa
entre crenas e desejos. Por crenas se entendem as representaes que
fornecem ao indivduo uma conscincia coletiva das necessidades. Os desejos,
por sua vez, constituem o nvel individual da conscincia das necessidades.
Os desejos so confrontados com as representaes coletivas desenvolvidas na
conscincia do indivduo, criando um campo de foras
104
entre necessidades
coletivas e individuais cuja interao gera outros desejos, outras necessidades
e motiva as aes direcionadas sua satisfao.
G. Tarde oferece uma vlida contribuio interpretao das necessidades
sobretudo no que diz respeito interao entre os indivduos como lugar de
formao das necessidades sociais. A interao que se desenvolve no grupo de
coetneos, por exemplo, pode levar o sujeito consolidao de uma escala de
valores e ao reforo de necessidades induzidas pela sociedade consumista. A
teoria, porm, limita-se interpretao da conduta econmica.
1.4.2. Abordagem crtica civilizao
Entre as tendncias no funcionalistas encontramos algumas abordagens
que seguem uma linha crtica civilizao moderna. Uma primeira
abordagem, desenvolvida por autores como W. Leiss e I. Illich, segue uma
tendncia crtica: para eles, o consumo funciona como matriz das necessidades
e como sustentao do sistema capitalista. Uma segunda corrente, deno-
minada semiolgica, analisa os processos segundo os quais as necessidades
104 TARDE, 1976, op. cit., p. 190.
76
Capitulo 1 Necessidades Humanas
ultrapassam a lgica econmica e entram na lgica do smbolo e da linguagem,
criando e alimentando as diferenas sociais. Por m, as teorias fenomenol-
gicas acentuam a capacidade das relaes humanas de produzir e construir
necessidades, determinando o valor e os modos de satisfaz-las.
a) A construo social das necessidades
Algumas teorias
acentuam o carter social (relacional) e simblico do termo. Na sua for-
mulao mais radical, tal abordagem sociolgica evidencia o fato de que no
existem necessidades em si e por si, mas usualmente existem relaes sociais que
produzem necessidades, determinam o valor (simblico e material) e os modos
para satisfaz-las
105
.
Especicamente para A. Schutz, a necessidade uma conscincia subjetiva
das carncias que o sujeito experimenta ao relacionar-se com o mundo; dessa
relao derivam mal-estar e sofrimento.
b) A construo econmica das necessidades
J. Baudrillard, autor de La gense idologique des besoins, critica a abordagem
de De Lauwe como sendo puramente doutrinal
106
, ou uma busca de suporte
ideolgico para o sonho consumista.
Segundo Baudrillard, os conceitos de objeto, consumo, nec essidades,
aspiraes
107
devem ser eliminados, pois fazem parte de uma lgica
i nconsciente da ideologia consumista. De inspirao marxista, o autor ten-
ta demonstrar como o sistema social capitalista no procura satisfazer as
necessidades dos indivduos, e sim obter o lucro. O capitalismo reprime certas
necessidades e ativa outras, particularmente aquelas de cunho cultural e de
desenvolvimento, que lhe interessam para criar o consumidor como tal. O
105 DONATI, 1981, op. cit., p. 5.
106 BAUDRILLARD, 1969, p. 54; ALBOU, 1975, op. cit., p. 219.
107 BAUDRILLARD, 1969, op. cit., p. 54.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
77
sistema tem necessidade das necessidades culturais.
J. Baudrillard distingue quatro lgicas na relao homem-objeto de consumo:
(1) lgica da utilidade; (2) lgica econmica (objeto como mercadoria); (3)
uma lgica do dom (o objeto como smbolo); (4) lgica do valor-sinal (que
produz a diferena social e o status)
108
. Na sociedade consumista prevalece a
lgica do sinal ou da distino. O objeto adquire seu valor no da utilidade,
ou do valor de mercado, mas do valor que lhe vem determinado pela moda ou
por uma grife. Segundo esta lgica, no so as necessidades que determinam
o consumo, mas a sociedade nas suas representaes simblicas coletivas que
determinam as necessidades
109
.
Mesmo que bastante criticada, a contribuio de Baudrillard
110
torna-se til
visto que o conceito de necessidades no denido tanto em relao a um objeto
ou a um bem que as possa satisfazer, como em funo da produo coletiva
do sinal por meio da moda, da marca, da grife, e, portanto, uma necessidade
de consumo. Tal produo social das necessidades colabora tambm para a
construo da diferena de status, das distines sociais e, conseqentemente,
da estraticao social.
G. Simmel, por sua vez, estuda a moda, que entendida como manifestao
coletiva de imitao, por meio da qual se exprime a necessidade de aprovao e
de diferenciao social. Ela o campo especco dos indivduos que no so
intimamente independentes e que tm necessidade de sustentao
111
e exprime,
de um lado, a necessidade de coeso com outras pessoas que se encontram no
mesmo nvel social e no mesmo grupo e, por outro, responde a uma necessidade
de diferenciao em relao a quantos no pertencem mesma classe social
ou ao mesmo grupo.
108 Idem p. 48.
109 DONATI, 1981, op. cit., p. 10.
110 ALBOU, 1975, op. cit., p. 220; DONATI, 1981, op. cit., p. 10-12.
111 SIMMEL, 1985, op. cit., p. 31.
78
Capitulo 1 Necessidades Humanas
Outros autores reconhecem a construo social da diferena de classe e das
distines de classe: para T. Veblen existe, por exemplo, um condicionamento
social das necessidades. As pessoas que pertencem s classes mais altas se carac-
terizam pela extravagncia no consumo e pelo desperdcio dos recursos; nesse
processo a lgica do consumo no se baseia na satisfao individual, mas na
armao de prestgio e ostentao
112
.
A sociedade do consumo, de fato, pode tambm ser estudada como um
sistema cultural no qual tudo se reduz a smbolo de comunicao e de dife-
renciao, como uma linguagem
113
. Uma leitura das necessidades dos jovens
marginalizados na perspectiva da lgica da distino que se efetua por meio
da moda pode ajudar a interpretar determinados comportamentos dos adoles-
centes. At que ponto um adolescente trabalhador pobre, que gasta todo o seu
salrio para adquirir um tnis da moda, quer dizer aos seus companheiros de
trabalho e queles que o observam que no pertence mais a um determinado
grupo social? Ou mesmo que pertence a um determinado grupo (de coetneos,
uma gangue)? Ou teria talvez assimilado uma necessidade induzida intencio-
nalmente pelo sistema produtivo?
c) Perda da noo das necessidades
Na dcada de 1970 surgiram reexes que criticavam o modo pelo qual a
civilizao moderna sustentava o consumo como matriz do sistema capitalista.
Visto que as necessidades so reconhecidas como uma funo do sistema
consumista, estabelece-se uma relao perversa entre o sistema de mercado e a
diagnose das necessidades da populao. O sistema de mercado programa-
do para criar novas necessidades de modo que no pregurem limites para a
112 VEBLEN, 1971, p. 60, 84; BISOGNO, in Dizionario critico di sociologia apud BOUDON;
BOURRICAUD, 1991.
113 ARDIG; CIPOLLA, 1985, p. 310.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
79
satisfao humana. W. Leiss, em The limits to satifaction
114
, rejeita a hiptese da
ligao social entre os interesses do indivduo que quer maximizar as prprias
necessidades e os interesses da sociedade que demanda pelo crescimento da
produo.
Em sua teoria negativa das necessidades
115
o autor considera que o indi-
vduo submisso e fortemente condicionado pelo mercado perde a noo das
verdadeiras necessidades. O mercado torna-se o plo gerador e administrador
das necessidades do indivduo; mas o verdadeiro problema que a multipli-
cao das necessidades e o alto ndice de consumo no conseguem produzir
satisfao. O que acontece realmente uma objeticao patolgica do de-
sejo: o indivduo acredita que a felicidade possa ser satisfeita pelo consumo de
objetos engenhosamente preparados para atiar a sua vontade. A maneira para
conseguir a felicidade, que segundo o liberalismo econmico seria dada pela
capacidade do indivduo de julgar quais os produtos que melhor respondem
s suas necessidades, mostra-se comprometida por diversos fatores: a) pela
complexidade da apresentao dos objetos; b) pela real possibilidade de que
o indivduo possa escolher tambm objetos que possam prejudic-lo fsica e
psiquicamente; c) pela real limitao de tempo que as pessoas tm para escolher
os objetos aptos a responder s suas presumveis necessidades; d) pela confuso
na identicao das necessidades, dos desejos e dos objetos
116
.
Outro aspecto da anlise de Leiss liga-se ao precedente, e se relaciona
incapacidade da sociedade de consumo em garantir a todos os indivduos
os recursos demandados por um alto padro de vida e a satisfao das suas
necessidades. Mesmo que tal padro de vida fosse poltica e economicamente
possvel, tal crescimento do nvel de vida ocorreria em prejuzo dos recursos
114 LEISS, 1976, p. 141.
115 Idem, p. 101; SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 237.
116 Idem, p. 14; Ibidem, p. 228.
80
Capitulo 1 Necessidades Humanas
naturais e da qualidade de vida de todos. W. Leiss entra no mrito da contex-
tualizao das necessidades dentro do tema ecolgico e da qualidade de vida:
As necessidades humanas fundamentais foram concebidas e hierarquicamente
ordenadas em uma vasta gama de perspectivas, porm o mais amplo contexto
das necessidades humanas (...) foi consistentemente ignorado
117
ele se refere
no somente s necessidades humanas mas tambm s necessidades e aos
direitos no-humanos, isto , queles que dizem respeito natureza e que, se
respeitados, cooperam para uma melhor qualidade de vida.
Esta preocupao est presente tambm em I. Illich
118
, que, sublinhando
a questo ecolgica e cultural, critica a moderna sociedade industrial, tecno-
logicamente avanada e orientada para o consumo. O homem, em nome do
crescimento tecnolgico, espolia a natureza; ele deveria, sim, resignar-se com
um nvel relativo de vida, se quisesse sobreviver como espcie. Illich enfrenta
tambm a problemtica da inuncia corruptora da civilizao sobre os indi-
vduos e as conseqncias geradas pelo crescimento da diferena entre ricos e
pobres; mas fala sobretudo da criao de novas pobrezas, o que comporta a
impossibilidade de satisfao de novas necessidades. O homem tem necessidade
de regular a produo das necessidades articiais, volta-se s necessidades na-
turais, recordando J. J. Rousseau e a sua distino entre necessidades naturais e
articiais. Illich entende por necessidades naturais (...) aqueles valores de uso
culturalmente produzidos que correspondem s nossas funes essenciais, de
sobrevivncia e de auto-realizao; por necessidades articiais, a aceitao de
objetos prossionalmente criados
119
pelo sistema produtivo.
117 LEISS, 1976, op. cit., p. 69, 102.
118 ILLICH, 1974, p. 172).
119 SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 213.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
81
1.4.3. A emergncia de novas necessidades
a) Necessidades ps-materiais
Novas pesquisas identicam novas categorias de necessidades: secundrias,
relacionais, ps-materiais e existenciais
120
. A sociedade moderna sofreu diversas
mudanas:
i) o crescimento dos nveis de instruo, com conseqente crescimento da
participao poltica de amplos setores da populao;
ii) o deslocamento, durante os ltimos sculos, da concepo dos valores
de uma orientao prevalentemente materialista a uma ps-materialista: de uma
nfase precedentemente centrada na segurana fsica e econmica se deslocou
em direo nfase no sentido de pertena, de auto-realizao, de satisfao
intelectual e esttica;
iii) a acentuao da qualidade de vida como centro das preocupaes em
lugar das preocupaes de ordem materialista;
iv) maior ateno da poltica s necessidades ps-materiais, como pela
defesa do ambiente, a liberao da mulher, a defesa da vida.
b) Necessidade de signicado e os sistemas de signicado
O conceito de signicado assume aqui o sentido de uma hierarquia de va-
lores, com base na qual a pessoa orienta as prprias decises; associa-se assim
ao sentido da vida, busca de uma direo pela qual se orientar e s metas a
serem perseguidas.
Quando se debilitam os referenciais de valor, outros motivos, gerados pela
situao presente ou pelas necessidades mais urgentes, passam a orientar o
processo decisrio do sujeito. Os referenciais de valores constituem os sistemas
120 INGLEHART, 1983, p. 9-17.
82
Capitulo 1 Necessidades Humanas
de signicado
121
, dimenses que se referem s atitudes fundamentais, ou o
modo de os jovens colocarem-se diante da realidade
122
. Tais motivaes podem
funcionar como centro, como referencial e como orientao do indivduo
diante das prprias opes e decises. A falta de um sistema de signicado
pode induzir o indivduo a tomar decises, a assumir atitudes e a fazer opes
motivadas pela esfera dos impulsos, e tende a motivar solues endereadas
para o momento presente, e a satisfazer as necessidades sentidas com base em
critrios contraditrios e sem referenciais precisos.
Os sistemas de signicado so cultivados dentro das diversas culturas
e so o fruto de uma congurao de diversas necessidades e valores que
inuenciam a preferncia do indivduo. So um referencial, uma matriz de
valores, e contribuem assim para a formao de culturas as mais diversas:
i) Cultura da privacidade: comporta uma indiferena em relao esfera da
vida pblica e uma ateno acentuada vida privada. Tal cultura interpretada
segundo duas modalidades: como privacidade vivida individualisticamente ou
personalisticamente. No primeiro caso, o sujeito tende a dirigir as prprias
necessidades no mbito do consumo e da evaso; no segundo, o indivduo se
preocupa particularmente com a construo da prpria personalidade, com o
investimento no social, nas relaes (por exemplo, no grupo de coetneos) e
nas atividades associativas.
ii) Cultura do consumo: que pode, por um lado, tornar-se substitutivo
para a felicidade como instrumento para a obteno de graticaes por parte
do indivduo e, por outro, ser instrumento de controle nas mos do sistema
social que, nas graticaes consumistas, oferece aos indivduos oportunidades
para descarregar as tenses e os conitos pessoais e sociais.
121 THOMAE, 1964, p. 69-79.
122 MION, 1992a, p. 145.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
83
iii) Cultura da irracionalidade: a desiluso, a frustrao das necessidades,
a percepo de impotncia para superar a marginalizao e a pobreza podem
provocar reaes negativas como a assuno da marginalidade, a difuso de
ideologias de crise, de losoas irracionais e de sensibilidades de estilo niilista.
Tais reaes assumem formas diversas na fuga, na apatia, na agressividade, na
anarquia e no catastrosmo.
iv) Cultura da nova racionalidade: emerge da sensibilidade s novas
necessidades e s necessidades ps-materiais, e representa o empenho na busca
de novas formas de relaes sociais, de difuso e valorizao da dimenso
comunitria da vida quotidiana e de cuidado com as relaes interpessoais.
v) Cultura da religiosidade: emerge a partir da conjuno entre a valo-
rizao das necessidades de f e de solidariedade humana e a exigncia de dar
um sentido para a vida. Os adeptos dessa cultura assumem na vida quotidiana
atitudes endereadas sensibilidade social (por exemplo: solidariedade com os
pobres e necessitados) ou pessoal (por exemplo: a experincia de crescimento
pessoal na f, participao em grupos eclesiais).
Os sistemas de signicado podem funcionar como matriz de outras tendn-
cias culturais; so uma categoria de anlise que, tomando em considerao as
necessidades assumidas pelas pessoas, propulsiona a orientao de suas aes em
direes especcas: e neste sentido que eles podem ser considerados referenciais
de valores e matriz de culturas diversas.
1.4.4. Necessidades e qualidade de vida
A reexo sobre a qualidade da vida se desenvolve a partir dos anos 60, quando
a sociedade norte-americana interroga-se sobre a qualidade do bem-estar
123
, ou
123 GADOTTI, 1987, p. 1674.
84
Capitulo 1 Necessidades Humanas
seja, sobre o fato de que o nvel de bem-estar econmico no conseguia resolver
os problemas ligados pobreza e marginalizao.
A investigao sobre os nveis de desenvolvimento e de bem-estar social,
antes baseada somente nos indicadores econmicos e quantitativos, adota
outros indicadores no mais baseados nos bens materiais e de consumo. O
conceito de bem-estar se desloca da satisfao derivada do consumo em direo
a fatores alternativos, como os nveis de participao pessoal, de envolvimento
comunitrio, de co-responsabilidade na gesto dos problemas coletivos, e, enm,
prpria qualidade da vida. Valorizam-se, de modo particular as necessidades
denominadas ps-materiais ou superiores e sobretudo em relao satisfao
dessas necessidades que os sujeitos avaliam a prpria realizao
124
. Vejam-
se, por exemplo, as novas necessidades criadas em torno da corporeidade, da
educao do corpo e do esporte
125
. Ao lado de necessidades signicativas
criam-se, ao mesmo tempo, outras, induzidas, provenientes da oferta de
concepes diversas de auto-realizao, potencialmente desviantes, como a
cultura da privacidade
126
. Esta ltima, acentuando formas individualistas,
tende a transformar-se em matriz de desorientao, de fechamento e de falta
de referencial dentro de uma sociedade complexa.
O conceito de qualidade de vida foi inicialmente denido a partir de
uma concepo mais negativa que positiva. Na acepo negativa o conceito
faz referncias a tudo aquilo que constitui ameaa qualidade de vida: a
superpopulao, a proliferao atmica, o consumismo, a agresso ao ambiente.
At o conceito de necessidade, til para avaliar a qualidade de vida, denido
negativamente
127
, acentua as contradies, as incoerncias e aquilo que falta s
polticas sociais para a satisfao das necessidades.
124 LANZETTI, 1990, p. 25.
125 SHILLING, 1991, p. 653-672).
126 MION, 1986, p. 142; LANZETTI, 1990, op. cit., p. 26.
127 LEISS, 1976, op. cit., p. 101-102. Leiss refere-se a uma teoria negativa das necessidades.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
85
Com o tempo este conceito se desloca em direo a um referencial mais
positivo, balizado na felicidade, na satisfao e no bem-estar das pessoas.
Uma ulterior denio, veiculada durante o IX Congresso Mundial de So-
ciologia (Uppsala, Sucia), concebe a qualidade de vida como um grau de exce-
lncia, relativo natureza do viver (...); que se refere somente vida humana
128
,
considerado o homem como um ser relacionado com outros homens e com
as coisas. A qualidade de vida deveria ser compreendida como uma avaliao
da graticao que os indivduos recebem em funo do grau de satisfao das
suas necessidades materiais e psicolgicas
129
.
A partir da reexo sobre a qualidade de vida emergem duas aproximaes
distintas: uma primeira, mais tcnica e metodolgica, direcionada para a de-
nio dos indicadores sociais da qualidade de vida; e uma segunda, mais terica
e cultural, que parte das variveis ligadas ao crescimento econmico e dos seus
efeitos sociais sobre as necessidades e novas necessidades humanas.
A primeira aproximao desenvolveu-se por volta da metade dos anos 60
130
inicialmente nos Estados Unidos. Teve como objetivo medir os efeitos das
mudanas da sociedade por meio de instrumentos operativos e metodolgicos
adequados e visava ao desenvolvimento de polticas mais seguras de interveno
no mbito social. Tais pesquisas, conduzidas sobretudo por organismos ociais,
utilizam mltiplas metodologias, adaptadas investigao dos indicadores
objetivos da qualidade de vida.
No Congresso Mundial de Uppsala foram privilegiados indicadores objeti-
vos e subjetivos do bem-estar. Ao lado das tradicionais investigaes baseadas
128 GADOTTI, 1987, op. cit., p. 1.676. O autor se refere a F. M. Andrews e S. B. Withey, Social
indicators of well-being: Americans perceptions of life quality. New York: Plenum, 1978.
129 Idem. Ver tambm (ARDIG, 1988, p. 138; ARDIG; CIPOLLA, 1985, p. 297; INGHEHART,
1983, p. 34; LEELAKULTHANIT; DAY, 1992, p. 42).
130 Sobre o desenvolvimento da temtica dos indicadores sociais: La conoscenza sociologica (MON-
GARDINI, 1984, p. 117-118).
86
Capitulo 1 Necessidades Humanas
em indicadores objetivos utilizados prevalentemente por economistas e pla-
nicadores desenvolve-se a investigao das percepes, das avaliaes, das
atitudes e dos sentimentos subjetivos da populao com relao ao prprio
bem-estar.
Podem-se ainda identicar nessa aproximao tcnico-metodolgica duas
tendncias que variam entre a acentuao do plo objetivo e do plo subjeti-
vo
131
. A primeira tendncia mais propensa a evidenciar os aspectos objetivos,
tais como o ambiente fsico, a renda, a sade, a habitao, o consumo, a mobi-
lidade social etc., a partir dos quais so construdos ndices ideais de qualidade
de vida. Estes, no entanto, se aplicados indistintamente para a avaliao de
culturas diversas, arriscam seriamente cair no etnocentrismo e julgar todas as
culturas segundo os critrios da sociedade industrializada ocidental
132
. O plo
subjetivo, ao contrrio, privilegia o grau de satisfao, de bem-estar subjetivo,
de sentimentos dos sujeitos diante de sua vida privada e social.
A segunda aproximao, mais terica, nasce em conseqncia da percepo
da persistncia, dentro das sociedades industrializadas, de bolses de margi-
nalizao, pobrezas antigas e novas, de desvio e de anomia. Parte da consta-
tao de que a concepo individualista de felicidade e a concepo privada
de bem-estar podem ser contrrias s exigncias da vida coletiva; passa-se
assim de um estudo do standard de vida ao estudo dos estilos de vida.
O conceito de qualidade de vida passa a ser enriquecido pela considerao
das novas necessidades emergentes e das metanecessidades
133
, as quais nem
o bem-estar material nem a interveno do welfare sute conseguem satisfazer.
Individualiza-se um modelo de desenvolvimento baseado sobre o bem-estar
131 LANZETTI, 1990, op. cit., p. 32.
132 Um exemplo pode ser consultado em Measuring the quality of life across countries. A multidimensional analysis
(SLOTTJE, SCULLY, HIRSCHBERG, 1991, p. 91).
133 INGLEHART, 1983, op. cit., p. 25; BISOGNO, 1981, p. 23-25; ARDIG, CIPOLLA, 1985,
op. cit., p. 307-308; LANZETTI, 1990, op. cit., p. 195.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
87
econmico
134
, mesclado s alternativas que consigam canalizar as necessidades
emergentes e as novas aspiraes endereadas promoo da pessoa humana.
Tal concepo, alm de ser uma proposta de um novo modelo de vida, ao
mesmo tempo uma crtica tanto ao welfare state como tambm a uma escala de
valores determinada pela civilizao industrial ocidental. Esta crtica permanece
atual uma vez que no somente consegue frear em tempo nos pases em via de
desenvolvimento uma concepo unilateral de bem-estar, mas pode tambm
servir como sugesto para a gerao de outros modelos de desenvolvimento
que respeitem as antigas e novas necessidades e uma qualidade de vida prpria
para as populaes autctones.
As necessidades humanas so vinculadas com a temtica da qualidade de vida
enquanto esta pode ser uma funo das relaes entre necessidades-recursos;
abaixo de determinado limite da satisfao das necessidades fundamentais
a qualidade de vida se encontra comprometida. Constata-se, por um lado,
uma relao entre necessidades e recursos para a sua satisfao e, por outro,
entre necessidades e desaos provocados na luta por mais qualidade de vida.
Entre a pobreza e o bem-estar entendido como vida vivida em qualidade, as
necessidades so satisfeitas em nveis distintos: os conceitos de pobreza e de
bem-estar parecem ser colocados nas extremidades de um continuum, em que o
seu relacionamento no parece ser de tipo linear, mas de tipo circular
135
. Hoje
se fala no tanto da pobreza tradicional, mas de novos tipos de pobreza ou
pobreza multidimensional, enquanto o que est em perigo no a satisfao
das necessidades materiais, mas a satisfao de novas necessidades.
134 LEISS, 1976, op. cit., p. 57-70, 92, 101-102; SPRINGBORG, 1981, op. cit., p. 227; LANZETTI,
1990, op. cit., p. 34-35.
135 Idem, p. 37; MALLMANN, 1981, p. 117. Por circularidade nos referimos aqui ao carter mul-
tidimensional da pobreza e s conguraes de tais dimenses no tempo de vida dos indivduos e
dos grupos que a experimentam.
88
Capitulo 1 Necessidades Humanas
A pobreza, como condio de no disponibilidade dos recursos e m distri-
buio dos mesmos, representa, ora contingentemente, ora estruturalmente um
obstculo satisfao das necessidades (materiais e ps-materiais) e qualidade
de vida. Enquanto no Hemisfrio Norte assiste-se a um deslocamento dos
valores culturais para alm dos limites das necessidades materiais em direo s
necessidades ps-materiais
136
e ao crescimento da qualidade de vida, no He-
misfrio Sul as naes encontram-se ainda numa situao em que devem se
preocupar
137
constantemente com a superao dos nveis de pobreza absoluta e
relativa, e com a satisfao das necessidades materiais de alimentao, habitao
e educao elementar.
1.4.5. Por uma opo conceptual
As concepes das necessidades humanas, s vezes, so polarizadas
como expresso da natureza e denotam um modelo naturalista ou, s
vezes, tambm refletem o sistema das relaes nas quais os indivduos
se encontram e denotam um modelo socializante
138
. Alguns autores
ainda dividem o estudo das necessidades segundo trs concepes:
objetivista, subjetivista e realista
139
.
A perspectiva objetivista ou naturalista reconhece forte conexo entre a
natureza humana e as necessidades; encontra-se vinculada principalmente a
correntes positivistas e funcionalistas. Alguns psiclogos do comportamento
explicaram a natureza humana com base no modelo E-R, ou seja, estmulo
e resposta, seguindo a mxima epicuria do buscar o prazer e evitar a dor.
136 INGLEHART, 1983, op. cit., p. 10.
137 Preocupao resultante da luta pelas necessidades materiais: CHOMBART DE LAUWE, 1971, op. cit.,
p. 46.
138 MELUCCI, 1989, p. 119.
139 FISCHER, 1992.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
89
Segundo tal concepo, a liberdade humana limitada, enquanto reforada
a idia de comportamento humano fortemente determinado e reativo diante
da multiplicidade dos estmulos.
A perspectiva subjetivista ou socializante concebe as necessidades como o
produto das relaes humanas, elaboradas na interao. representada dentro
das correntes interacionistas e da etnometodologia.
A perspectiva realista procura unir os plos objetivista e subjetivista, reco-
nhecendo que a realidade social existe por si mesma, pode ser objetivamente
estudada, mas produzida pelos atores sociais: a estes ltimos reconhecida
uma autonomia na elaborao da cultura e na mudana da estrutura social.
Podem ser reconhecidos como pertencentes a tal perspectiva as concepes
humanistas das necessidades (A. Maslow, H. Thomae, V. Frankl) que concebem
o homem em contnua busca de realizao das prprias potencialidades, seja
como indivduo ou como pessoa, criando e reencontrando o senso da realidade
social. Tal perspectiva focaliza-se com maior ateno nas potencialidades espe-
cicamente humanas do homem e no tanto nas necessidades que ele partilha
com o mundo animal. Neste sentido, o conceito de necessidade sugere uma
motivao em direo a qualquer coisa, orientada teleologicamente a certos
ns. O ideal para o homem no a realizao de suas prescries instintuais,
mas particularmente das mais altas propenses cognitivas e espirituais: uma
melhor qualidade de vida, a realizao de suas metanecessidades; a superao
das necessidades siolgicas, animais ou inatas. O homem visto como pro-
ativo no sentido de que o que o motiva no so as necessidades biolgicas,
materiais ou meramente instintuais, mas as necessidades mais altas como as
de signicado, de construo da existncia, de realizao.
90
Capitulo 1 Necessidades Humanas
1.4.5.1. Elementos que compem o conceito de necessidade
Dentro das trs perspectivas acima descritas encontramos elementos comuns
que dizem respeito ao conceito de necessidade. So eles: a subjetividade, em
cuja origem encontra-se o sujeito; a exigncia, devida a que as necessidades
constituem uma carncia acusada pelo sujeito; a plasticidade, ou a capacidade
de adaptao aos diversos contextos histricos e individuais; a proatividade,
derivada de que as necessidades impelem realizao do ser homem; a orga-
nizao, entre hierarquia e tipologia.
a) A subjetividade: associada ao conceito de necessidade como imanente
e no exterior ao homem; a necessidade implica um sujeito que a reconhece e a
prova, mesmo se nem todas as necessidades so identicadas ou sentidas pelos
sujeitos. Diante de uma carncia advertida pode-se dizer que o indivduo tem
necessidade de alguma coisa; deve-se, porm, distinguir entre a sensao de
necessidade e os modos de satisfaz-la, visto que o objeto que pode satisfaz-la
varia de acordo com o contexto e com a pessoa que a adverte.
b) A urgncia e a tenso: a necessidade, entendida em sua concepo bsica,
impe-se ao sujeito como exigncia, um apelo que deve ser aplacado. Neste caso,
o indivduo busca antes de tudo um equilbrio perdido, condio para a sua
sobrevivncia, e o referencial a busca de homestase. Este critrio de urgncia
encontra-se no somente nas necessidades originrias da natureza, mas de um
certo modo tambm naquelas da vida social. Quando se fala de necessidades que
representam os ns no-materiais buscados pelo sujeito, como os existenciais,
de signicado, de transcendncia, os ps-materiais, no se fala mais de busca
de equilbrio (homestase), mas de tenso em direo s metas ditadas no
mais pelo organismo em si, mas pelo sujeito, pela sua liberdade de escolha e de
valorizao dos ns. Esta caracterstica das necessidades leva a conseqncias
prticas no mbito da ao pedaggica: a interveno preventiva deve visar
Capitulo 1 Necessidades Humanas
91
satisfao das necessidades como exigncias, sem no entanto deixar de lado a
tenso orientada aos ns, aos valores e realizao da pessoa humana.
c) A proatividade: a tenso orientada realizao da pessoa humana cons-
titui uma tendncia da natureza humana; ela dotada de intencionalidade
prpria voltada perseguio de objetivos, ns e valores que a levam reali-
zao do ser humano. Maslow entende tal tendncia como self-actualization, ou
proatividade.
Poderamos explicar a mudana das necessidades seja a partir do princpio
de homestase (ou da busca de satisfao no equilbrio), seja a partir da tenso
ou da necessidade de crescimento. Enquanto o princpio da homestase
leva estagnao e no se d conta da constante mudana das necessidades, o
princpio da tenso contempla o dinamismo e a necessidade de superar deter-
minadas situaes por parte dos indivduos
140
.
d) A plasticidade: entendida como a contnua, mas gradual mudana das
necessidades e das modalidades de satisfao das mesmas. Considerando as
necessidades humanas, pode-se armar que no existe conexo entre uma
necessidade especca e uma determinada resposta. Conquanto histricas, as
necessidades podem ser satisfeitas por uma gama de modalidade de respostas
141
;
por exemplo, o sujeito pode satisfazer a prpria necessidade de afeto pela de
sua relao com as outras pessoas, mas pode tambm compens-la mediante
o afeto dedicado aos animais domsticos.
e) A organizao: como dado natural, as necessidades manifestam um
dinamismo orientado ao fornecimento de recursos para a sobrevivncia do
organismo humano. Emerge deste dinamismo uma organizao que d mais
importncia s necessidades indispensveis sobrevivncia, como: de ar, de
140 Idem, p. 235.
141 ETZIONI, 1968, p. 871; HELLER, 1980, op. cit., p. 44; o autor se refere aqui ao pensamento
de K. Marx.
92
Capitulo 1 Necessidades Humanas
alimento, de gua, de calor etc. Como fator cultural, orientado para a realizao
da natureza humana, as necessidades so histricas, multiplicam-se e mudam
de acordo com a cultura, a qual oferece modelos, valores, normas e ns que,
interiorizados pelo indivduo, so por ele compartilhados e hierarquicamente
organizados. A congurao dos valores e das normas produz verdadeiros sis-
temas de signicado que se tornam o referencial e a matriz das necessidades.
A hierarquia que nasce da assuno de um sistema de signicado o produto
das normas sociais interiorizadas e dos valores compartilhados por uma dada
sociedade
142
.
A organizao das necessidades compreendida por A. Maslow em uma
hierarquia sustentada por um princpio de emergncia, segundo o qual, quando
uma necessidade satisfeita, outras emergem em virtude do dinamismo proativo
do sujeito. Tambm outros autores adotam hierarquias: R. Inglehart
143
divide
as necessidades entre materialistas e ps-materialistas; C. Mallmann
144
agrega
tambm indicadores de satisfao; Tullio-Altan indica trs tipos fundamentais
de necessidades: biolgicas, necessidades dos sistemas sociais e necessidades
superiores, as quais so dispostas em uma hierarquia de precedncia segundo a
qual da satisfao necessria das primeiras torna-se possvel a manifestao das
sucessivas
145
; Doyal e Gough concebem uma hierarquia dinmica, sistemtica
tecida como uma rede
146
. C. de Lauwe analisa o modo como a superao
das necessidades materiais ou da preocupao pela sobrevivncia vivida na
condio de pobreza provoca mudana na hierarquia das necessidades e de
certo modo tambm na percepo dos valores
147
.
142 ALBOU, 1975, op. cit., p. 230-23!.
143 INGLEHART, 1983, op. cit., p. 46.
144 MALLMANN, 1981, op. cit., p. 115.
145 TULLIO-ALTAN, 1974, op. cit., p. 68-69.
146 DONATI; DOYAL; GOUGH, 1984, p. 11.
147 CHOMBART DE LAUWE, 1971, op. cit., p. 46.
Capitulo 1 Necessidades Humanas
93
A organizao hierrquica e dinmica das necessidades tambm contes-
tada. Para alguns estudiosos o princpio de tal estruturao desconhecido
148
,
enquanto para outros tais classicaes so empricas, no podem ser provadas
e no se mostram produtivas
149
; ou mesmo so uma funo induzida nos in-
divduos pela lgica interna do sistema social ou da produo e consumo, a
servio da diferena social
150
.
1.4.6. Tipologia das necessidades
Uma tipologia das necessidades apresenta-se problemtica pelo fato de que
existem tantas abordagens quantas so as perspectivas segundo as quais elas
so analisadas (losca, psicolgica, sociolgica etc.), assim como diversas
so as correntes das quais provm ou os objetivos para os quais tais tipologias
so utilizadas (por exemplo: para a anlise das necessidades materiais, ps-
materiais, ou segundo a faixa de idade).
Necessidades materiais:
- A nvel pessoal faz-se referncia s necessidades de base provenientes
da natureza humana biolgica, como as necessidades de comer, de beber, de
dormir etc.
- Em nvel social, temos as necessidades de alimentao, de habitao, de
vesturio, de higiene, de gua, de energia, de sade, de transporte, de educao,
de trabalho, de crena e de pertena.
Necessidades ps-materiais:
- Em nvel social tem as necessidades ps-materiais, que ultrapassam os
limites das necessidades siolgicas, materiais e fundamentais, dando origem
148 ALBOU, 1975, op. cit., p. 237.
149 ETZIONI, 1968, op. cit., p. 871.
150 BAUDRILLARD, 1969, op. cit., p. 63.
94
Capitulo 1 Necessidades Humanas
a novas necessidades, ligadas responsabilidade social e realizao da pessoa
humana na qualidade de participante da sociedade. Sintomas da emergncia
dessas novas necessidades so, por exemplo, no mbito da qualidade de vida,
os movimentos ecolgicos, pela paz, pela solidariedade social, pela liberao da
mulher, contra o apartheid racial e social etc.
- Em nvel pessoal, em relao natureza humana aberta auto-realiza-
o, emergem as necessidades mais altas, um prolongamento das precedentes:
as necessidades existenciais, de afeto, de estima, de auto-realizao, de sentido
da vida, de transcendncia.
As duas primeiras categorias, as necessidades bsicas e as sociais, podem ser
denominadas necessidades materiais, ou seja, motivadas pelas foras primrias
da natureza e do organismo humano. As ltimas duas categorias, as necessidades
ps-materiais e as necessidades existenciais, referem-se demanda da sociedade,
no primeiro caso, e da pessoa humana, no segundo. So ps-materiais visto
que a sua motivao no provm primordialmente do organismo humano,
mas do sujeito, que se torna ativo, em situao de tenso voltada realizao
pessoal e social.
Parece-nos importante esclarecer aqui uma outra categoria de necessidades
que se sobrepe presente distino: trata-se das necessidades formativas,
especcas do perodo evolutivo. Elas pertencem tanto ao mbito social (ne-
cessidade de conhecimento, de formao prossional, de segurana) quanto
ao existencial (necessidade de participao, de independncia, de sentido da
vida, de amor)
151
. A satisfao das necessidades formativas garante o percurso
formativo em direo vida adulta, caso contrrio pode provocar um fali-
mento do percurso evolutivo com conseqentes reaes marginalizantes, de
agressividade, de fuga da realidade, de aceitao da condio marginalizante.
Tais frustraes funcionam como situao de risco, terreno frtil para o cres-
cimento do desvio social.
151 POLETTI, 1988, p. 84-85.
95
A
ligao entre necessidades humanas e pobreza, na sua concepo eco-
nmica
1
manifesta-se l onde no existem condies para a satisfao
de determinadas necessidades consideradas, dentro de uma certa
cultura, indispensveis para a sobrevivncia dos indivduos.
A pobreza que caracteriza a condio de muitos adolescentes e jovens
brasileiros, nos motiva a claricar o conceito de pobreza, suas causas e mani-
festaes. A considerao das diversas perspectivas de anlise da pobreza tem
por objetivo contextualiz-la na condio juvenil.
O fenmeno pobreza pode ser estudado nas suas diversas causas, nas suas
manifestaes e tambm na sua extenso; para a nossa pesquisa nos interessam,
sobretudo, as duas primeiras perspectivas que explicam as causas e as modali-
dades nas quais ela se manifesta.
Consideramos, em um primeiro momento, as concepes que historicamente
analisam as causas da pobreza, entre: a) tendncia funcionalista que identica
no avanar da industrializao e da modernizao o modo para a erradicao
Captulo 2
A frustrao das necessidades
fundamentais e a pobreza
1 SARPELLON, 1992, p. 12.
96
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
da pobreza; b) corrente crtica que considera a pobreza uma conseqncia do
avano do capitalismo; c) corrente denominada desenvolvimento sustentado,
que busca novas vias de desenvolvimento, considerando a pobreza como con-
seqncia de uma relao perversa entre ela mesma, o aumento populacional
e a degradao ambiental.
Num segundo momento, focalizamos a tipologia da pobreza. Mesmo que
ela seja considerada prevalentemente nos seus aspectos econmicos e objeti-
vos, manifesta-se, nas sociedades desenvolvidas, mediante novas formas, como
privao no mbito educativo, da sade, da participao sociocultural; fala-se,
neste caso, de pobreza multidimensional, de pobreza relativa e de pobreza
subjetiva.
1. EXPLICAES HISTRICAS
Fundamentalmente a causa da pobreza foi individualizada em duas pers-
pectivas. De acordo com a primeira perspectiva, a pobreza teria suas origens na
ndole dos indivduos e, neste sentido, as condies de pobreza so procuradas
nos atributos de raa, de cor da pele, de personalidade, de pertena cultural. Tal
perspectiva
2
parece j ter tido seu tempo, estando, portanto, j superada. Uma
segunda perspectiva considera a pobreza conseqncia de variveis estruturais
como a instruo, a renda, as condies de sade etc.
Visto que nossa pesquisa contextualiza-se num pas em via de desenvol-
vimento, mencionaremos algumas aproximaes que conduzem a anlise da
pobreza a partir das teorias do desenvolvimento.
Uma primeira aproximao, de tendncia funcionalista, sustenta que a po-
breza estrutural dos pases subdesenvolvidos seria conseqncia de um grau de
2 Representantes mais notveis dessa perspectiva so: J. Bentham, T. Chalmers, T. Malthus. Segundo
Malthus, quem vive em condies de misria recolhe s os frutos da prpria indolncia.
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
97
desenvolvimento pr-industrial. Os pases subdesenvolvidos, apenas sados do
perodo colonial, deveriam percorrer a mesma estrada segudia pelos pases ricos.
O remdio para a erradicao da pobreza estaria, segundo tal aproximao, no
incremento da industrializao para recuperar o tempo perdido; a erradicao
se d de modo natural, segundo um percurso
3
que se inicia com a unicao
do pas, prossegue com o incremento da industrializao, com o desenvolver-se
do welfare state e se conclui com o advento da abundncia.
Uma segunda aproximao, denominada crtica
4
,
identica no avano do
capitalismo a verdadeira causa geradora de pobreza. Tal tendncia considera,
de modo particular, as relaes de dependncia dos pases subdesenvolvidos (de
periferia) em relao aos pases desenvolvidos (de centro), que se reproduzem em
todos os nveis (organizacional, governamental, social, econmico e cultural), e
ao mesmo tempo nega as reais possibilidades para um desenvolvimento aut-
nomo, adaptado s circunstncias e s particularidades histricas de cada um
dos pases dependentes. A principal conseqncia da dependncia a pobreza
estrutural, ou seja, a pobreza gerada pelo prprio modelo de desenvolvimen-
to que privilegia aqueles que participam dos benefcios da modernizao (a
burguesia aliada ao capital estrangeiro e os trabalhadores qualicados) e exclui
aqueles que no participam (os excludos, os desocupados, os culturalmente
destitudos).
Uma terceira aproximao prev o desenvolvimento sustentado, emergindo
como busca de solues para o desenvolvimento nos pases pobres
5
.
De um
lado, supe-se insustentvel o alargamento da modernizao do jeito que
3 BIANCHI; SALVI; 1987, p. 1553. Esta concepo representada particularmente por G. Myrdal,
que considera o ideal de modernidade como referncia para a anlise do subdesenvolvimento.
4 Esta crtica procede de tendncias lomarxistas, representadas aqui, entre outros, por (FRANK,
1969; CARDOSO; FALETTO, 1971). Cardoso e Faletto desenvolveram a teoria da dependncia,
j mencionada no primeiro captulo.
5 GRANT, 1994, p. 23-38.
98
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
ela aconteceu nos pases desenvolvidos para todos os pases pobres; por
outro, torna-se igualmente impossvel manter a atual espiral da pobreza
6
. As
causas da pobreza nos pases subdesenvolvidos reforam-se por meio de uma
interao perversa entre o crescimento desordenado da populao, a degra-
dao ambiental e a prpria pobreza. Entre as mltiplas causas interativas
da pobreza so identicados o crescimento irracional da fora de trabalho, a
demanda desordenada pelos recursos ambientais, o aumento da demanda pelos
j escassos recursos governamentais na rea social e o crescimento desordenado
das megalpoles o qual implica o estabelecimento de uma baixa qualidade de
vida nas favelas e nas periferias.
Um tema muito atual ligado a esta ltima aproximao diz respeito s rela-
es entre o Norte e o Sul do mundo: os habitantes do Norte, j satisfeitos em
suas necessidades siolgicas de sobrevivncia, passam a se preocupar com as
necessidades ps-materiais, enquanto os habitantes do Sul encontram-se ainda
preocupados com a sobrevivncia fsica e a segurana econmica e social
7
. Foi
principalmente o Relatrio Brandt que convidou as naes subdesenvolvidas
a mudar de estratgia: a no contar mais com o modelo de desenvolvimento
construdo pelos pases desenvolvidos, mas a contar com as prprias foras e
a procurar outras solues que, infelizmente, no so ainda muito claras. Uma
proposta de soluo decorrente do desenvolvimento sustentado foi projetada em
trs nveis: 1) a soluo do crculo vicioso da pobreza: eliminar as suas manifes-
taes mais intensas, com a reduo do ritmo de crescimento da populao e o
investimento em ambientes rurais e urbanos onde vivem as populaes pobres;
6 A espiral PPA (pobreza, populao, ambiente) constitui um crculo vicioso em que a pobreza co-
labora com a manuteno do crescimento da populao e aumenta a degradao ambiental, fatores
esses que contribuem para a perpetuao da pobreza (GRANT, 1994, op. cit., p. 31).
7 Nesta linha esto sobretudo os relatrios do Banco Mundial e da Organizao Internacional do
Trabalho. Relatrio Brandt, Nord-Sud: un programma per la sopravvivenza. Milano: Mondadori,
1980.
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
99
2) a realizao de novas vias de progresso para os pases industrializados, de
maneira que se mantenha a qualidade de vida e reduza o impacto ambiental do
progresso; 3) o apoio aos pases em via de desenvolvimento, por meio de uma
poltica que respeite as demandas das populaes autctones, sem ultrapassar
os limites dos recursos ambientais. A considerao de tais polticas internacio-
nais relevante, pois elas so determinantes das modalidades e das estratgias
de ajuda s populaes pobres, tanto por parte dos vrios pases quanto por
parte dos organismos internacionais. Organizaes como o Unicef seguem esta
poltica na ajuda infncia dos pases pobres e apontam para a satisfao das
necessidades fundamentais (sade, nutrio, educao, planejamento familiar)
como estratgia para inverter a espiral da pobreza.
2. AS MANIFESTAES DA POBREZA
Os estudos sobre as causas da pobreza nos pases desenvolvidos destacam
o conceito de pobreza relativa, de pobreza subjetiva e de pobreza multidi-
mensional: os conns da pobreza continuam a deslocar-se para o alto
8
. Em
vez de antigas necessidades ligadas segurana econmica ou a um padro
mnimo de vida que garanta a sobrevivncia, fala-se de desigualdades criadas
pela no satisfao das novas necessidades. Emergem as novas pobrezas como
conseqncia de grandes mudanas na estrutura da desigualdade social
9
e,
neste sentido, a pobreza econmica torna-se, entre as desigualdades, a forma
mais macroscpica e visual
10
. Mesmo se correlacionados, os conceitos de
pobreza e de desigualdade divergem entre si: a desigualdade recorda uma dife-
rena aceitvel, no necessariamente produzida pela ausncia de renda; assume
8 SARPELLON, 1992, op. cit., p. 11.
9 ZAJCZYK, 1990, p. 36.
10 GALLINO, op. cit., 1978.
100
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
signicado poltico, pois um fenmeno ligado distribuio dos recursos,
base dos conitos de classe; refere-se situao de sujeitos que de um modo
ou de outro tm uma participao poltica. A pobreza econmica, no entanto,
mostra-se como algo no aceitvel, sobretudo quando abaixo de um certo nvel
caracterizado pela condio de misria; tem implicao assistencial em relao
aos sujeitos, os quais so geralmente excludos da participao poltica
11
.
a) Pobreza absoluta e pobreza relativa
um conceito desenvolvido por B. S. Rowntree, que analisa o contexto de
misria na qual se encontravam vrias populaes inglesas no sculo XIX. O
conceito de pobreza absoluta refere-se a um nvel de pobreza vericado na base
da renda familiar, que parece insuciente para prover um mnimo necessrio
sobrevivncia fsica. Outro conceito de pobreza absoluta, muito semelhante
ao precedente, refere-se no simples sobrevivncia, mas a um padro mnimo
de vida tido como aceitvel.
Um dos problemas, de ordem metodolgica, suscitados pelo conceito de
pobreza a determinao das necessidades indispensveis sobrevivncia ou
manuteno de um padro mdio de vida. O conceito mostra-se varivel
de cultura para cultura, de sociedade para sociedade e, portanto, tem suas
limitaes. Em primeiro lugar, a referncia a um padro de vida mdio rela-
tiviza a medio da pobreza ao longo do tempo e de acordo com a cultura
analisada. Em segundo lugar, o conceito de pobreza, limitado mera falta de
renda para sustentar a sobrevivncia fsica, no leva em considerao outras
necessidades sociais e existenciais
12
e neste sentido que nasce o conceito de
pobreza relativa.
11 SARPELLON, 1984, p. 38.
12 Idem, p. 46.
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
101
A pobreza relativa denida fazendo referncia s condies de vida
mdia da sociedade examinada
13
. Esta teoria prev um termo de confronto
signicativo que sirva de referncia para denir a condio de pobreza; um dos
tericos de tal concepo, W. O. Runciman, baseia-se sobretudo no conceito
de privao relativa e de grupos de referncia
14
. Assim, a comparao com o
Primeiro Mundo faz com que o Terceiro se dena como subdesenvolvido.
Os grupos de referncia, por sua vez, so geralmente as famlias, os grupos
tnicos e as classes sociais: as pessoas se consideram menos ou mais ricas em
relao a tais grupos.
A acentuao da relatividade comporta o risco de no distino entre
verdadeiras necessidades (a pobreza real, objetiva) e as necessidades subjeti-
vamente percebidas
15
e convencionalmente reconhecidas pelas referncias a
grupos ou pessoas. Para Townsend, devemos estar atentos a trs dimenses:
a privao objetiva; a privao socialmente percebida; e a privao subjetiva,
para colher a pobreza de uma maneira mais ampla. Essa metodologia, de fato,
utilizada tambm por outros pesquisadores para investigar a qualidade de
vida e as necessidades sociais
16
.
b) Pobreza objetiva e pobreza subjetiva
Uma outra tipologia distingue a pobreza em objetiva e subjetiva. Por
pobreza objetiva entende-se aquela que medida por observadores externos
com base em critrios preestabelecidos, enquanto a pobreza subjetiva medida
com base na percepo das populaes que se julgam mais ou menos pobres.
O primeiro mtodo de medio aquele mais freqentemente utilizado pelos
pesquisadores.
13 SARPELLON, 1992, op. cit., p. 16.
14 RUNCIMAN, 1971, faz referncia a S. A. Stouffer e R. Merton (DOISE; DESCHAMPS; MUG-
NY, 1980, p. 63-64).
15 ZAJCZYK, 1990, op. cit., p. 41.
16 II dovere, il piacere e tutto il resto. Gli indicatori oggettivi della qualit della vita infantile (NICOLA, 1989).
102
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
c) Pobreza econmica e pobreza multidimensional
A concepo de pobreza econmica desenvolve-se a partir dos anos 60 nos
Estados Unidos, quando L. Johnson lana uma poltica de ateno pobreza.
Ela se focaliza, sobretudo, na desigualdade de renda, visto que a baixa renda
determina muitas vezes a insatisfao de outras necessidades (educao, sa-
de, habitao etc.), identicam-se outros tipos de pobreza que denominamos
multidimensional. Na individualizao da pobreza multidimensional o critrio
de renda permanece central, mas assume somente a funo de indicador de um
quadro mais amplo em meio a outros indicadores que compreendem tambm
as necessidades sociais fundamentais.
Na Europa e nos pases desenvolvidos do ps-guerra, a introduo do sis-
tema do welfare state diminui a dependncia da renda e facilita a satisfao das
necessidades fundamentais. Entra em cena tambm o conceito de qualidade
de vida, alargando a concepo de pobreza qualidade das relaes pessoais,
polticas e ecolgicas: o indivduo pode ser pobre, mesmo que provido de ren-
da. Muitas necessidades sociais tornam-se direitos necessidades-obrigaes,
segundo De Lauwe , e passam a fazer parte de uma concepo alargada de
disponibilidade e utilizao de recursos tidos como essenciais, como a renda
para a sobrevivncia social.
O desenvolvimento tecnolgico e a industrializao nos pases desenvol-
vidos no foram capazes de resolver o problema da pobreza. M. Harrington,
em pesquisa sobre a pobreza nos Estados Unidos, descobriu que, ao lado da
1) pobreza econmica clssica, emergem outros tipos de pobreza, como 2) a
pobreza dos intelectuais: os burgueses rebeldes, os bomios, os beats, os radicais
polticos, os drogados etc.; 3) a pobreza derivada do alcoolismo; 4) a pobreza
derivada da expulso dos agricultores sem uma paritria absoro da sua fora
de trabalho por parte da indstria; 5) a pobreza dos excludos do processo
produtivo, dos marginalizados em trabalhos precrios e desclassicados; 6) a
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
103
pobreza originria de uma espiral que envolve as diversas dimenses da vida
familiar, projetando-a em uma trajetria descendente. Por ltimo, a depresso
psicolgica devida ao gap entre aspiraes e reais possibilidades de ascenso
social implica, segundo o autor, uma indigncia to grande quanto a misria
material.
A revoluo tecnolgica junto com a crise econmica aumenta a polaridade
entre as classes sociais. A categoria de trabalhadores diversica-se entre os que
trabalham com alta tecnologia e os que trabalham com as prosses tradi-
cionais
17
. Para agravar ainda mais tal situao, associam-se a crise econmica
e a conseqente reestruturao da organizao industrial e do estado social.
neste contexto que, junto s velhas formas de pobreza, emergem outras,
caracterizadas pela falta de recursos em determinados mbitos de vida, como
da educao, da ocupao, da sade, da pertena cultural. Pode-se falar assim
de pobreza multidimensional.
Esta nova concepo de pobreza multidimensional o resultado da conse-
qncia nal da interao de seus componentes, tomando-se assim a expresso
da sntese de um amplo processo denido por R. Nurske como o crculo
vicioso da pobreza, ou por O. Myrdal como o princpio da causao circular
e cumulativa
18
. Alguns componentes da pobreza so considerados no intento
de colher as vrias dimenses do problema: o mercado de trabalho (trabalho
ilegal, precrio, subemprego); a segurana social (falta de proteo civil e
criminalidade); a sade (doenas); a instruo (falta de instruo e de escolas
adequadamente equipadas); a habitao (inadequada, superpovoada).
Ao conceito de pobreza multidimensional referem-se tambm os conceitos
de formas especcas de pobreza, ou de novas pobrezas identicadas seja
na condio dos imigrantes, dos toxicodependentes e doentes de aids, dos
17 ZAJCZYK, 1990, op. cit., p. 42.
18 SARPELION, 1984, op. cit., p. 52.
104
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
mendigos, dos ancios solitrios, dos menores com problemas com a justia,
dos doentes mentais etc
19
.
, seja por causas relacionadas com a no satisfao
de singulares necessidades essenciais de trabalho, de segurana, de servios de
sade, de instruo e de habitao
20
. Tal conceito de pobreza multidimensional
associa-se freqentemente com condies de marginalizao e fala-se, ento,
de pobreza-marginalidade.
d) Pobreza-marginalidade
Se consideramos a marginalidade como fruto de um sistema social baseado
no antagonismo de classes, o conceito de pobreza resultante se refere idia
de um ncleo central e de grupos sociais caracterizados por uma relao de
dependncia-distanciamento do centro do sistema social. As relaes de produ-
o tm um lugar central nesta conceituao, e tm a capacidade de condicionar
as relaes sociais. O trabalho, na sociedade industrializada, fornece a renda
que permite aos grupos familiares terem acesso aos recursos, e se transforma
em instrumento de relao com os outros, criando simbolicamente a diferena
de status. O acesso ao trabalho torna-se importante meio de participao na
renda e nos recursos e, ao mesmo tempo, discrimina os grupos privados de
ocupao.
A categoria analtica da pobreza-marginalidade estuda as populaes
especialmente em algumas de suas caractersticas: de reproduo da espiral
de pobreza; de participao marginal no sistema produtivo, na economia
informal composta pelas massas sobrantes
21
; de percepes subjetivas da
fatalidade da condio vivida; de dependncia de um grupo de referncia, que
classica e estigmatiza as populaes pobres.
19 SALVINI. 1991, p. 244-256; ZAJCZYK, 1990, op. cit., p. 39-40.
20 Idem, p. 34, 39.
21 CALIMAN, 1992, p. 23; NEUTZLING. Dimenso scio-transformadora: os grandes desaos para a
Igreja na sociedade brasileira, hoje. [s.l]: [s.n.], 1992. p. 110.
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
105
A pobreza e a misria tornam-se um elemento de controle enquanto po-
dem servir de referncia ou de fator de dissuaso para aqueles que trabalham,
advertindo-os do perigo de, sem trabalho, tornarem-se tambm pobres ou
miserveis. Estas hipteses tornam-se mais reais nos pases subdesenvolvidos
em virtude da falta de mo-de-obra qualicada, da disponibilidade de traba-
lhadores no-qualicados, da debilidade dos sindicatos e da disparidade de
renda
22
. Tal modalidade de controle social dirigida s populaes mais po-
bres, identicando-as como grupos perigosos e intensicando as intervenes
assistenciais e de segurana pblica. Outras pesquisas, referindo-se distncia
entre cidados ricos e pobres, falam mesmo de um apartheid social
23
que divide a
sociedade em cidados de primeira e cidados de segunda categoria.
Alguns estudos correlacionam o fenmeno da pobreza com o tema do
desvio de comportamento. Nesta linha move-se a pesquisa de Salisbury em
The shok-up generation, sobre a relao entre gangues juvenis nova-iorquinas e os
extratos mais pobres; tambm a de C. Cohen sobre rapazes delinqentes
24
.
As pesquisas mais recentes, porm, distinguem entre pobreza econmica e
desvio, e entre pobreza relativa e desvio; reconhecem que no existe uma relao
determinista entre pobreza econmica e desvio. Ao contrrio, a pobreza foi
vista como a melhor garantia de conservao: se as pessoas no tm razo de
esperar mais do que podem obter, sero menos descontentes com aquilo que
possuem, ou sero mais gratas de conseguir conserv-lo
25
. Na relao entre
22 Idem, 1992, p. 112.
23 CHIERA, 1994, p. 224. O autor testemunha a condio de vida das crianas e adolescentes das favelas do
Rio; evidencia, particularmente, a atitude de rejeio por parte da sociedade e a violncia da polcia contra os
meninos de rua. A expresso apartheid social deriva de uma analogia entre o apartheid racial sul-africano e o contexto
brasileiro que discrimina as populaes mais pobres. Trata-se da atribuio de uma cidadania de segunda categoria
s populaes mais pobres por parte dos cidados social e economicamente garantidos, atravs de atitudes de
indiferena ou mesmo de superioridade e de rejeio: tal atribuio manifesta-se particularmente em relao aos
meninos de rua.
24 BIANCHI; SALVI, 1987, op. cit., p. 1558.
25 RUNCIMAN, 1971, op. cit., p. 19 apud SIDOTI, 1989, op. cit., p. 69.
106
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
pobreza e desvio de comportamento, o indivduo, confrontando a sua condio
com a de outros mais afortunados, tende a sentir-se insatisfeito; a pobreza,
concebida como senso de privao relativa, tornou-se um componente da
insatisfao socialmente difusa e do aumento da criminalidade
26
. Por um
lado, as graves situaes de pobreza econmica derivam da insatisfao das
necessidades fundamentais (habitao, sade, instruo) e se manifestam em
formas de marginalizao estrutural: os underclass, os excludos. Por outro, a
satisfao das necessidades fundamentais d espao a outras no necessaria-
mente correlacionadas com a satisfao das necessidades materiais, mas das
chamadas ps-materiais, criando uma rea que G. Sarpellon dene como rea
de mal-estar social. Assim se exprime o autor sobre os sintomas da insatisfao
das necessidades ps-materiais:
Este conjunto de necessidades compreende, entre tantas manifestaes
possveis, a solido dos ancios, a diculdade dos no auto-sucientes, os
problemas das pessoas atingidas por defeitos fsicos ou psquicos, a institucio-
nalizao dos menores; e a essas podemos acrescentar os problemas derivantes
da toxicodependncia, da insegurana pessoal, do desvio, da marginalizao de
grupos sociais especcos; em relao insatisfao das novas necessidades
podemos, enm, identicar outras ainda mais imateriais, cuja frustrao leva
frustrao, perda do sentido da vida, incapacidade de auto-realizao, e
falta de relaes sociais
27
.
A partir das aproximaes ao conceito de pobreza apenas mencionadas,
podemos deduzir, para a nossa pesquisa, diversos modos de consider-la: como
pobreza econmica, relativa, multidimensional e como marginalidade. A pri-
meira distino diz respeito falta de satisfao das necessidades materiais, e
neste sentido recorda as velhas formas de pobreza, particularmente a econmica,
26 SIDOTI, 1989, op. cit., p. 69.
27 SARPELLON, 1992, op. cit., p. 23-24.
Capitulo 2 A frustrao das necessidades fundamentais e a pobreza
107
caracterizada pela falta de recursos para a satisfao das necessidades materiais,
como de alimento, de educao bsica, de ocupao etc. A pobreza relativa
focaliza os aspectos subjetivos da condio de mal-estar e de desigualdade e
baseia-se no conceito de privao relativa, segundo o qual a sensao de pobreza
o produto de um confronto provocado pelo sujeito entre sua condio e aquela
de outros sujeitos que ele elegeu como referencial. A pobreza multidimensional
corresponde predominantemente falta de recursos em um determinado mbito
da vida, caracterizada pela privao especca tal como a privao cultural, de
servios de sade, de relaes, de solidariedade familiar etc. A pobreza como
marginalidade relaciona-se com situaes especcas vividas por determinadas
categorias sociais, atingidas por problemas objetivos de marginalizao (men-
digos, meninos de rua, doentes de aids), e por problemas subjetivos, como a
perda do sentido da vida, frustraes, solido e abandono.
O conceito de pobreza relativa, como j referido precedentemente,
carregado de componentes subjetivos e pode comportar, mais que a pobreza
econmica, insatisfaes, sensao de mal-estar e risco de desvio. Ele mais
til para analisar as condies dos jovens nos pases mais desenvolvidos, nos
quais as necessidades materiais so relativamente garantidas e criam situaes
de desigualdade na distribuio dos recursos. A pobreza econmica, por sua
vez, refere-se ao mbito das necessidades materiais da busca de recursos para
a sobrevivncia. Emerge assim a hiptese segundo a qual a pobreza relativa,
carregada de elementos subjetivos, mais intensamente correlacionada com
o desvio e a criminalidade do que a pobreza econmica, que tende a gerar
sobretudo situaes objetivas de privao
28
.
28 SIDOTI, 1989, op. cit., p. 67, 69.
109
A
temtica da marginalidade mostra-se, em determinadas dimenses,
correlacionada com a questo das necessidades e da pobreza. Consiste
na excluso parcial ou total do acesso dos indivduos aos recursos dis-
ponveis em um determinado sistema social, que no consegue integrar sujeitos
ou grupos sociais, ou que os mantm em um estado de dependncia funcional.
O conceito de marginalidade nem sempre se refere a um nico sistema social,
mas remonta ao conceito de sociedade complexa e de subsistema social.
dentro desta perspectiva que a analisamos em um primeiro momento.
Num segundo momento, passamos em resumo algumas interpretaes da
marginalidade, entendida em primeiro lugar como um modo de as pessoas ou
de grupos sociais situarem-se em relao ao sistema social. A marginalidade
diversamente concebida de acordo com o ponto de vista sob o qual analisada:
na perspectiva dos pases em via de desenvolvimento, dos pases desenvolvidos
e de algumas teorias interpretativas do desvio social. Por ltimo, vericamos as
manifestaes da marginalidade em uma sociedade complexa, com referncia
especial marginalidade juvenil.
Captulo 3
Marginalidade e excluso social
110
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
Fig. 1 Diversidade de vises de sociedade
MODELOS DE SOCIEDADE
Organismo Acentua o carter de totalidade da sociedade.
Positivismo de A. Comte, o evolucionismo de Spencer, o
materialismo histrico de Karl Marx, o organismo de E.
Durkheim.
Mecanismo Sociedade como um conjunto de tomos individuais:
a pesquisa se concentra sobre os interesses, as aes,
as motivaes dos indivduos singularmente.
(Lazarsfeld, Boudon...)
Processo Em primeiro lugar est a cultura como produo
e troca de signicados que ocorre na interao
social.
(Sociologia compreensiva de Weber, Interacionismo sim-
blico de Blumer e Goffman, a sociologia fenomenolgica
de Peter Berger...)
Sistema Economia (os recursos); Poltica (tenses e con-
itos), Cultura (identidade cultural); Afetividade
(satisfao das necessidades individuais)
(Parsons e a teoria da ao; Merton e o funcionalismo; Niklas
Luhmann e a teoria dos sistemas auto-referncias...)
111
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
1. MARGINALIDADE E MARGINALIZAO
O conceito de marginalidade e o de marginalizao referem-se a um siste-
ma (ou a sistemas sociais) em relao ao qual o sujeito ou o grupo social so
colocados ou considerados como tais. Neste sentido, o conceito denido da
seguinte maneira:
Situao de quem ocupa uma posio localizada nos pontos mais externos e
distantes, seja de um distinto sistema social, seja de mais sistemas pertencentes
mesma sociedade, em uma posio considerada fora de um dado sistema de
referncia, mas em contato com ele, cando o sujeito excludo tanto da partici-
Fig. 2 Sistemas e subsistemas sociais e cdigos normativos
Sociedades agrcolas de tipo pr-industriais. A passagem de uma cultura
a uma outra, de um ambiente a um outro no tende a provocar deso-
rientao ou traumas, enquanto existe uniformidade de cdigos.
Sociedades atuais de tipo ps-industriais, onde a sociedade dividida no
seu interior em vrios subsistemas. Quando um sujeito vive uma expe-
rincia social dentro de um subsistema e passa a um outro subsistema,
se sente desorientado, pois a bagagem experiencial que ele acumulou no
primeiro subsistema pode no lhe servir no segundo, pois o tecido social
no mais nico e integrado, e o cdigo normativo diversificado em
cada subsistema.
A fragmentao das experincias se acentua e se torna sempre mais difcil
que o indivduo se oriente no somente entre um sistema e outro, mas
dentro de um mesmo subsistema. Cada subsistema torna-se auto-referen-
cial, ou seja, faz referncia somente aos prprios procedimentos internos
e s suas regras especcas. O cdigo normativo auto-referencial. Cada
subsistema tem condies de gerar uma rbita gravitacional de normas
e valores, de criar uma cultura especca.
112
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
pao nas decises que governam o sistema nos seus diversos nveis decises
essas que so tomadas geralmente a partir das posies centrais , quanto do
gozo dos recursos, das garantias, dos privilgios que o sistema assegura para a
maior parte de seus membros, mesmo tendo (o indivduo marginal) anlogo
direito formal e/ou substancial a ambas as coisas do ponto de vista dos valores
mesmos que orientam o sistema
1
.
Tal denio diga-se de passagem, longa e complexa refere-se a um
sistema social e aos seus aspectos correlatos: o sistema desenvolve-se dentro
da sociedade e mais restrito que ela. O sistema social o setor da sociedade
caracterizado por uma organizao e legitimao que constituem a sua prpria
racionalidade interna. Por sociedade entende-se, ao contrrio, o conjunto das
pessoas ou grupos, independentemente da organizao e da racionalidade do
sistema social.
Uma segunda referncia diz respeito posio do sujeito fora ou dentro
do sistema social. Tal posio permite tambm a distino entre condies de
marginalizao e de marginalidade; enquanto a marginalidade um status fora
dos conns do sistema (...), a marginalizao um processo no qual indivduos
e grupos so expulsos e se encontram isolados no sentido negativo dentro do
sistema social ao qual pertencem e do qual continuam a depender
2
. O primeiro
conceito, de marginalidade, refere-se a uma posio fora do sistema; o segundo,
de marginalizao, a um deslocamento em direo s posies marginais.
A terceira referncia diz respeito ao objeto da marginalidade: a excluso dos
direitos, das decises, dos recursos e dos privilgios. Ela tem origem na escassa
possibilidade de participao: mesmo que os direitos sejam iguais para todos,
as reais possibilidades de participao mostram-se seletivas para determinados
grupos e indivduos mais integrados ao centro do sistema; a excluso evoca a
1 Marginalit (GALLINO, 1978, op. cit., p. 422).
2 Marginalit (CATELLI, 1987, p. 1.170; MION, 1990, p. 140).
113
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
condio de pobreza daqueles que so excludos do acesso aos recursos e aos
quais negada a satisfao das necessidades fundamentais.
Algumas pesquisas analisaram a marginalidade: a) segundo perspectivas que
consideram a sociedade composta por um sistema social dividido entre centro
e periferia; b) segundo a complexidade, ou seja, quanto composta por mlti-
plos sistemas dentro de um determinado sistema; c) segundo as modalidades,
as causas, o processo e as conseqncias da excluso (teorias sociolgicas do
desvio); d) e segundo as categorias de necessidades negadas.
2. TEORIAS INTERPRETATIVAS
As vrias escolas tm interpretado a marginalidade segundo perspectivas
diversas; consideramos aqui aquelas perspectivas sociolgicas que julgamos
teis nossa pesquisa: a perspectiva do desenvolvimento, a multidimensio-
nalidade da marginalidade, as relaes entre marginalidade e desvio.
2.1. Perspectiva do desenvolvimento
Na tica das teorias do desenvolvimento, particularmente na reexo latino-
americana, a marginalidade considerada como produto estrutural do sistema
capitalista. Este ltimo exclui no somente os indivduos (como, por exemplo,
os mendigos, os andarilhos) mas tambm conna grupos sociais inteiros em
determinados espaos sociais (os pobretes, os meninos de rua, os sem-
terra) e geogrcos (nas favelas, e nas invases). Essa perspectiva, proposta
inicialmente por G. Germani, v nos favelados no somente os pobres, mas os
excludos pelo sistema social de matriz capitalista. A. Quijano
3
segue o mesmo
lo, desenvolvendo o conceito de marginalidade como um modo limitado e
3 Notas sobre o conceito de marginalidade social (QUIJANO, 1978).
114
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
estruturado de pertena e de participao na estrutura global da sociedade. A
pertena e a participao ocorrem em condies de desvantagem, como um plo
marginal e em situao de dependncia em relao ao plo central do sistema
produtivo. Ao contrrio do que se poderia pensar, a condio de plo marginal
complementar, funcional e vital para o mesmo sistema capitalista.
Desenvolvido por outros estudiosos
como F. H. Cardoso
4
nos primeiros
momentos de sua reexo sociolgica , o conceito de marginalidade estru-
tural interpretado dentro da teoria da dependncia, que divide o sistema
capitalista em centro e periferia. De acordo com tal teoria, o desenvolvimento,
entendido como progresso e como modernizao, advm segundo um modelo
de desenvolvimento com marginalidade, enquanto aumenta a populao
colocada s margens do sistema econmico e poltico
5
. A marginalizao
tida como funcional ao sistema e integra a sua estrutura interna; a marginali-
dade estrutural comporta uma modalidade de excluso tanto do sistema social
quanto da diviso de classes.
2.2. Marginalidade multidimensional
O status marginal implica a idia de um centro signicativo da sociedade
e de uma periferia como lugar social dos excludos. A idia de centro carrega
uma interpretao prevalentemente funcionalista da sociedade, entendida como
corpo coerente e coexistente. A interpretao muda quando o corpo social
mostra-se fragmentado em diversos centros, constituindo assim uma socieda-
de complexa, com sistemas gravitacionais potentes o bastante para conceber
outras relaes de consenso, de dissenso e de excluso social. A excluso, seja
de um nico sistema como de outros sistemas paralelos, gera marginalidade
em graus e dimenses diversas.
4 CARDOSO; FALETTO, 1978, op. cit.
5 Idem, p. 135.
115
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
A sociedade moderna caminha em direo a um sistema sempre mais
complexo: congura-se com muitos centros em relao aos quais o sujeito
pode assumir uma identidade e um papel. Em certos mbitos de sua vida, o
sujeito participa de um estado de marginalidade enquanto em outros ele no
se sente de maneira nenhuma excludo
6
. A sociedade complexa policntrica,
pluralista, sem um centro de hegemonia estrutural e cultural que sirva como
referencial para os valores. Os modelos culturais e de valores que se sobressaem
na sociedade nem sempre esto em condies de oferecer aos sujeitos uma base
consistente que lhes permita assumir uma identidade pessoal e social slida.
Alargam-se assim os limites da norma social, que, diga-se de passagem, j se re-
velam pouco denidos, sobretudo para os jovens. Como conseqncia da perda
de centralidade do sistema social, nasce um novo signicado para o conceito
de marginalidade: podem existir tantos tipos de marginalidade quantos so os
ncleos do sistema em condies de oferecer um modelo de identicao e de
polarizao para os interesses do sujeito.
De qualquer maneira, permanece a importncia da dimenso econmica como
reguladora da excluso social. Mas no a nica. Existem outras dimenses por
meio das quais podemos analisar determinadas manifestaes da marginaliza-
o
7
: a dimenso social diz respeito ao quadro dos direitos e da participao
na sociedade; a dimenso ecolgica refere-se organizao ou no do habitat
urbano como, por exemplo, o crescimento desorganizado das grandes cidades
provocando o fenmeno das favelas; a dimenso cultural focaliza a aceitao
das normas universalmente compartilhadas e a posse das informaes neces-
srias para sobreviver na sociedade moderna; a dimenso poltica considera
a possibilidade ao menos de uma participao excelente e a indiferena dos
sujeitos com relao esfera poltica. Partindo da dimenso econmica po-
6 Marginalit versus partecipazione (BIANCHI, 1986, p. 28).
7 MION, 1990, p. 145.
116
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
demos ainda distinguir outras manifestaes do processo de marginalizao
8
:
a marginalidade em relao ao mercado de trabalho, a marginalidade como
privao de status e, enm, a marginalidade como condio de excluso social.
Outras dimenses da marginalidade sero discutidas mais adiante, no mbito
da condio juvenil: a marginalidade por pobreza, por desemprego, por falta
de perspectiva de mobilidade social, por imigrao e por desvio.
2.3. Marginalidade sob a tica da sociologia do desvio
A concepo da sociedade como dotada de um centro e de periferia implica
a considerao da centralidade, na sociedade industrial e ps-industrial, do an-
tagonismo das classes, das relaes de produo e da organizao da sociedade.
O trabalho e as competncias culturais, tcnicas e prossionais teis insero
no mercado de trabalho tornam-se essenciais ao cidado para a aquisio da
renda, para a participao na sociedade; e a falta dessas competncias provoca a
sua excluso social. Os sujeitos ou grupos sociais que conseguem ou no seguir
a organizao e a nova mentalidade moderna caracterizada pela ecincia,
pela racionalidade e pela competncia cultural ou rejeitam a aquisio de tais
valores e so considerados diferentes: diferente fsico, racial, sexual, mental,
prossional, desviante etc.
Nem todas as condies de marginalidade desembocam necessariamente
no desvio. Algumas podem desencadear reaes negativas e problemticas,
enquanto outras provocam reaes positivas cujo primeiro sintoma a neces-
sidade de super-las. a capacidade de resilincia presente no indivduo, ou
de superao da marginalidade o sujeito conta com recursos internos muitas
vezes desconhecidos. Podemos formular a hiptese segundo a qual o mal-
8 Marginalit (CATELLI, 1987, p. 1.176).
117
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
estar que acompanha a condio de marginalidade tenha uma probabilidade de
desencadear reaes problemticas em diferentes nveis: a assuno consciente
do estado de marginalidade, as doenas mentais, o uso de substncias txicas,
o comportamento criminal. No mbito da sociologia do desvio encontramos
aproximaes de tendncias diversas que contemplam a relao entre margina-
lidade e desvio. Veremos a seguir algumas dessas tendncias.
a) Tendncia positivista
As teorias de tendncia positivista (psicofsicas) concebem a desigualda-
de, a pobreza e a marginalizao como fenmenos naturais, conseqncias
de causas hereditrias e de degradao humana. A teoria dos elitistas
9
de
matriz darwiniana, por exemplo, considera a marginalizao como um valor
por selecionar os mais capazes dos outros. O marginal identicado como
criminoso, homem selvagem e ao mesmo tempo doente
10
, cujos traos ca-
racteriais e comportamentais demonstram, entre outras caractersticas, o uso
de tatuagem, sensibilidade menor dor, grande acuidade visual, o mancinismo,
o carter atvico, a grande insensibilidade moral e afetiva, as paixes (lcool,
jogo, libido, vaidade) etc.
Tal perspectiva tem valor explicativo do modo como muitas vezes, ainda
hoje, segmentos da sociedade interpretam o fenmeno da marginalidade
11
.
Os miserveis, os doentes de aids, os drogados, os meninos de rua so iden-
ticados e etiquetados como marginais, no sentido moral e mdico. Essa
tendncia persiste e no momento de intervir na realidade social prioriza a
defesa da sociedade por meio de estratgias segregacionistas: o menor de rua
como doente social, delinqente, um caso perdido. A interveno tpica dessa
9 Como PARETO, 1923.
10 LOMBROSO, 1977, p. 154.
11 CHIERA, 1994, op. cit., p. 85-86.
118
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
tendncia a de preservar a sociedade contra o perigo de contgio represen-
tado pelos presumveis doentes sociais, connando-os em prises ou fazendas,
de preferncia o mais longe possvel da sociedade. um modo til de fugir
do problema e de evitar que a conscincia dos bons cidados seja questionada
pela presena incmoda dos meninos de rua. evidente que os adolescentes
no se encontram na rua porque so delinqentes, mas porque so pobres. O
problema central ento a pobreza e no a delinqncia. No serve de nada
trat-lo como um caso de polcia ou de segregao social, como se as crianas
fossem os leprosos de um tempo. O remdio no se situa na mera represso via
controle social ou policial, por mais importante que ele seja, mas no trabalho
preventivo, curativo e responsabilizante, que depende de polticas sociais e de
assistncia social, srias e articuladas.
b) Tendncia funcionalista
A concepo da sociedade como corpo social unitrio tende a interpretar a
marginalidade como fruto da no integrao social ou de uma falta de socializa-
o. Uma interveno na realidade social voltada supresso da marginalidade
privilegia, neste caso, meios coercitivos e funcionais o reforo do controle
social, enm. A utilizao de meios coercitivos se d quando a marginalidade
se revela destrutiva para o sistema. A utilizao funcional da marginalidade
promovida pela criao de mecanismos de culpa (marginais como bodes
expiatrios) ou referenciais negativos para que os grupos integrados
12
tenham
bem denidos os limites entre integrao e marginalidade. Essa perspectiva de
tendncia funcionalista tem suas origens em T. Parsons, R. Merton e Davis.
Na teoria da anomia, R. Merton sustenta que os sujeitos pertencentes a
certos grupos sociais encontram diculdade para atingir as metas (teoricamente
prometidas a todos) utilizando os meios sociais ociais. A marginalidade
12 MILANESI, 1988, p. 64.
119
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
explicada como um mal-estar causado pela impossibilidade de certos indivduos
de encontrarem meios aptos ao conseguimento dos ns compartilhados pela
sociedade. A motivao do ato delinqencial proporcional discrepncia entre
as aspiraes do sujeito e os meios de que ele dispe para satisfaz-las; quem
sofre mais com esse tipo de discrepncia ou de presso so os mais pobres.
Como conseqncia essa interpretao descarrega a culpa da marginalidade
nos pobres. O desvio seria um fenmeno tpico das classes sociais inferiores,
visto que so elas que sofrem mais freqentemente o mal-estar provocado pela
discrepncia entre metas (aspiraes) e meios para atingi-las.
Cohen, na sua teoria da privao de status, partindo da discrepncia entre
aspiraes e meios pregurada por R. Merton, acrescenta que os meios so dis-
tribudos de modo desigual: os jovens das classes inferiores so formados dentro
da prpria cultura, mas no perodo da formao escolar entram em contato com
a cultura da classe mdia, que serve para eles como base de confronto com a
prpria. Cria-se uma situao de conito quando o sujeito descobre que est
em desvantagem em relao aos outros de classe mdia; o mal-estar conseqente
pode desembocar em comportamentos coletivos, subculturais, particularmente
dentro das gangues. um modo de os jovens enfatizarem os prprios valores e
de reagirem coletivamente aos valores impostos pela classe mdia. A teoria da
privao de status ajuda a interpretar a autoconscincia da marginalidade: as
gangues so consideradas uma maneira de se comunicar e uma busca de segu-
rana no grupo. Hoje, alm da socializao escolar como elemento provocador
da conscincia de privao, devemos considerar tambm a inuncia dos meios
de comunicao na criao da conscincia da privao de status.
Uma teoria do controle social a nvel microssocial, desenvolvida sobretudo
por T. Hirschi, atribui o desvio carncia de socializao normal e inexistncia
de um controle social ecaz. O controle distinguido entre interno (desen-
volvimento do autocontrole) e externo (dos pais, da sociedade). Ele ecaz,
segundo o autor, quando o sujeito tem boas relaes afetivas com os pais, tem
120
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
sucesso na escola, empenha-se em atividades extra-escolares, tem aspiraes
altas e conana na validade das normas sociais
13
. A teoria do controle social
considera o grupo dos coetneos e as gangues como o lugar de maior mani-
festao do desvio. A participao no grupo de coetneos, em determinadas
circunstncias, facilita o comportamento desviante: jovens com problemas
em comum, com diculdades em manter verdadeiras amizades, com baixo
autocontrole, quando integrados em determinados grupos (turmas, gangues),
tendem a cometer atos delinqenciais com mais freqncia do que os que no
manifestam tais problemas.
c) Sociologia urbana
A Escola de Chicago identica como maior a ocorrncia de marginalidade
nas reas geogrcas caracterizadas pela desorganizao urbana e social. Tais
agregaes sociais so funcionais presena de grupos delinqenciais, os quais
transmitem culturalmente um conjunto de valores que servem como matriz
dos comportamentos. Se no incio a aprendizagem dos comportamentos
desviantes tem motivaes ldicas, num segundo momento eles so susten-
tados por motivaes de carter utilitarista (C. R. Shaw e H. D. McKay). E.
Sutherland, na sua teoria das associaes diferenciadas, interpreta o desvio
como um comportamento que se aprende na interao seja com o ambiente
familiar, seja com o grupo de coetneos; aprendem-se no somente as tcnicas,
mas tambm as motivaes, as racionalizaes, as atitudes e opinies prprias
da marginalidade.
Os territrios urbanos problematicamente estruturados (por exemplo: as
favelas e as invases) produzem a marginalidade ecolgica
14
que, junto com
a marginalidade econmica, contribui para a emergncia da cultura criminal,
13 GOTTFREDSON; HIRSCHI, 1990, p. 98-108, 158.
14 ALBUQUERQUE, 1994, p. 136.
121
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
sendo que os grupos sociais no integrados so mais vulnerveis inuncia
e s presses do crime organizado. Quando as respostas s presses so ca-
racterizadas pelo temor, pela cumplicidade, pela tolerncia e pela indiferena,
nascem as premissas para o desenvolvimento do desvio: um terreno frtil de
cultura no qual se instala, cria razes e prospera o crime organizado
15
.
d) Tendncia marxista
A perspectiva marxista no desenvolve uma teoria especca do desvio, que,
por sua vez, pode estar integrada a uma teoria da marginalidade. Marx considera
o processo de marginalizao como produto e conseqncia intrnsecos ao
capitalismo, potencialmente eliminvel mediante uma interveno de ordem
estrutural que se inicia com a conscincia do proletariado e desemboca na
revoluo, at a eliminao da propriedade privada e a organizao do comu-
nismo. O neomarxismo no apresenta o conceito de marginalidade em termos
de integrao ou no ao sistema, mas como uma conseqncia produzida no
e a partir do desenvolvimento, por motivos de interdependncia entre centro
e periferia, entre plo moderno e plo marginal, entre estratos centrais e es-
tratos residuais
16
. O desvio investigado tanto nas classes inferiores como
nas superiores; estas ltimas consideram desviante o comportamento que na
competio social prejudica os seus interesses de classe. Visto que a classe do-
minante o referencial do sistema, ela se encontra, de partida, em condies
privilegiadas para julgar aquilo que desviante e o que no , ou o que constitui
ou no a marginalidade. Os pobres so facilmente considerados desviantes na
sua exasperada tentativa de satisfazer as necessidades negadas.
Uma teoria do controle social, com tendncia crtica e, portanto, diferente
daquela desenvolvida no mbito do funcionalismo, avana a partir dos anos 60,
15 Idem, p. 136.
16 MION, 1990, op. cit., p. 138.
122
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
quando a sociedade ps-industrial, envolvida com problemas de governabilidade
da complexidade social, tenta legitimar a exigncia de um controle capilar. A
marginalidade avaliada como resultado de um acesso diferenciado aos recursos
e ao poder que se encontra no centro do sistema; ela tende a gerar nos grupos
sociais uma conscincia da contradio vivida que se traduz nos vrios movi-
mentos sociais, aos quais o sistema responde com formas de controle persuasivo,
cooptativo e coercitivo
17
.
e) Tendncia interacionista
O desvio e a marginalidade so produtos da construo social, nascem
dentro de um processo interativo no qual tomam parte quatro elementos: o
sujeito que comete a ao desviante, a norma que a sanciona, a reao social
e o controle social. Mais que a ao desviante em si, o interacionismo se con-
centra no estudo do signicado que ela assume por parte do indivduo que a
comete, e por parte do senso comum que a percebe. A perspectiva interacio-
nista
18
indaga sobre a formao do self do indivduo quando enfrenta a reao
de estigmatizao por parte da sociedade: a assuno da prpria diferena o
constringe a interiorizar um conceito de si como desviante, em consonncia
com as expectativas provenientes da sociedade. Daqui advm a aceitao passiva
da marginalidade: o indivduo assume as expectativas do controle social, sendo
o desvio o modo que ele encontra para comunicar o novo papel que lhe foi
atribudo pela sociedade.
Lemert, na teoria do estigma, distingue entre desvio primrio: distancia-
mento ocasional, mas no signicativo, da norma, sem srias conseqncias; e
desvio secundrio: estruturao do comportamento desviante em um processo
17 MILANESI, 1988, op. cit., p. 77.
18 BECKER, 1963, p. 9. Ver tambm (LEMERT, 1981).
123
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
no qual o sujeito interioriza uma identidade negativa motivada pela reao
social aos seus comportamentos (a estigmatizao).
D. Matza
19
desenvolve tal teoria, aprofundando o processo mediante o qual
o sujeito se torna desviante; ele distingue trs etapas, graduais e integradas,
desse processo: a anidade, ou a percepo por parte do sujeito de uma incli-
nao para o desvio entre mal-estar e condio social; a aliao ou a adeso ao
modelo desviante como soluo para a assuno de uma identidade que lhe
atribuda pelo estigma; e, por ltimo, a estigmatizao por parte da sociedade,
que o considera e o trata como desviante. O processo gradual, crescente e
integrado, e revela maior probabilidade de desencadear-se em situaes de
mal-estar e de marginalidade.
3. MARGINALIDADE E CONDIO JUVENIL
A anlise da condio juvenil, nos anos 60, atribua a marginalidade a toda
a faixa juvenil. A condio marginal tem um potencial reativo que poderia ser
politicamente utilizado para provocar a mudana de toda a sociedade; segundo
essa concepo os marginalizados so aqueles que esto em maiores condies
de desenvolver uma participao conitante, uma presso determinante no
plano econmico, poltico, ideolgico, por meio de movimentos e grupos mais
ou menos estavelmente organizados, at o ponto de comprometer o prprio
equilbrio do sistema
20
.
Segundo tal interpretao, de matriz neomarxista, a marginalidade nas
sociedades capitalistas em elevado estgio de industrializao determinada
pela prpria estrutura do capitalismo. A marginalidade no considerada como
falta de integrao de alguns grupos ao sistema social, mas prevalentemente
19 MATZA, 1976.
20 BIANCHI, 1986, p. 20. A citao refere-se a um comentrio do autor sobre os anos 60.
124
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
como um produto do capitalismo maduro, o qual gera uma massa que se
consolida em um plo do sistema produtivo e constitui um sistema perifrico
de produo, a economia informal. Nesta categoria entram o proletariado (tra-
balhadores dependentes precrios e subempregados); os trabalhadores indepen-
dentes (vendedores ambulantes, agricultores pobres); os grupos potencialmente
marginalizados (as mulheres, os menores, os jovens, os ancios aposentados, os
doentes, os invlidos e os decientes); os sujeitos estigmatizados (drogados,
criminosos, vagabundos), e tambm os grupos de trabalhadores garantidos
dos estratos de renda mais baixos
21
.
A partir de 1970, aps o Congresso de Varna, comea-se a aplicar a ca-
tegoria marginalidade condio juvenil em geral, por causa da dependncia
forada e prolongada dos jovens em relao s agncias de socializao, e de
sua excluso dos direitos essenciais e dos processos produtivos e decisrios.
Nessa categoria enquadram-se tambm os jovens que, mesmo parcialmente
inseridos no processo produtivo, demonstram falta de recursos para suprir as
prprias necessidades. As causas da marginalidade so procuradas no fato de
que o perodo prolongado de socializao se revela funcional para o mercado
de trabalho em crise. A categoria interpretativa da marginalidade associa-se
sempre a outras categorias de anlise, como a da fragmentao, da mudana
cultural, do excesso de oportunidades, da luta pela identidade
22
.
Considerar toda a condio juvenil como imersa em uma situao de mar-
ginalidade certamente no ajuda a compreender as manifestaes especcas de
mal-estar e de marginalizao. Da a necessidade de fazer distines. De fato,
a interpretao da condio vivida pela juventude nas sociedades complexas
permite a identicao de traos consistentes de mal-estar e de marginalidade
23
21 SCHNEIDER, 1982, p. 43.
22 MION, 1986, op. cit., p. 518-527; MILANESI, 1989, p. 41-53.
23 MION, 1990, op. cit., p. 150-155.
125
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
que se manifestam nas formas da pobreza, do desemprego, da imigrao, do
desvio, da frustrao das necessidades emergentes.
A marginalidade por pobreza comporta uma gama de problemas corre-
lacionados, como a alimentao insuciente, a habitao de m qualidade, a
deteriorao das condies de sade, a explorao dos membros inativos da
famlia (mulheres e crianas) no mercado de trabalho. Para os jovens dos pases
pobres, ela comporta a insero precoce no mercado de trabalho e o conse-
qente agravamento das falncias na carreira formativa escolar. A associao
dessas diversas variveis alimenta o crculo vicioso da pobreza e o crescimento
da marginalidade.
A marginalidade por desocupao registrada, sobretudo, nos pases indus-
trializados; so muitos os jovens que permanecem estacionados entre uma
primeira formao prossional e escolar e uma ocupao que lhes permita a in-
tegrao no mercado de trabalho. O perodo de desocupao torna-se funcional
explorao, ao trabalho ilegal, ao subemprego e ao incremento dos problemas
gerados pela dependncia prolongada dos jovens dentro da famlia.
A marginalidade por imigrao: considerando a realidade europia, foram
milhares as famlias acolhidas pela Comunidade Europia provenientes, sobre-
tudo, do Leste Europeu e de outros pases norte-africanos e latino-americanos.
Entre os extracomunitrios
24
so advertidos problemas de: a) trabalho: lhes
so reservados servios humildes e pesados, rejeitados pelos trabalhadores locais;
b) habitao: falta de condies habitacionais, com utilizao de dormitrios
pblicos, penses e barracas, especialmente nas reas rurais; c) aspecto sani-
trio: as ms condies habitacionais, a diculdade de expresso das prprias
necessidades, a prostituio etc.; d) problemas psicolgicos: provocados muitas
vezes pelo desenraizamento cultural e social.
24 SARPELLON, 1992, op. cit., p. 90; a expresso extracomunitrio refere-se aos imigrantes no-
europeus presentes na Comunidade Europia.
126
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
A marginalidade por desvio comportamental: caracteriza-se principalmente
pelo consumo de droga, pela participao na criminalidade, pelo alcoolismo. A
marginalidade cria condies para a manifestao de comportamentos desvian-
tes, principalmente dentro de agregaes do tipo grupos de coetneos e gangues
juvenis e delinqenciais. No caso brasileiro, a maior parte das gangues juvenis
cresce nos bairros perifricos das metrpoles e composta principalmente de
jovens pobres que se sentem vtimas de discriminao social e racial.
A marginalidade por frustrao das necessidades emergentes, tambm
identicada como nova marginalidade, no est ligada insatisfao das
necessidades materiais, mas frustrao das necessidades emergentes e ps-
materiais
25
Trata-se basicamente do mal-estar que nasce de situaes como:
a falta de comunicao interpessoal, a solido e o isolamento que atinge os
jovens sem pertena social, os alienados e os culturalmente desenraizados; a
decincia e o mal-estar psquico e fsico; a privao cultural; a impossibilidade
e a incapacidade de certos jovens em ter acesso s instituies (famlia, igreja,
associaes, movimentos) para a satisfao de novas necessidades. Imaginemos,
por exemplo, as frustraes devidas impossibilidade dos jovens pobres em
participar das mais diversas modalidades esportivas, uma demanda juvenil que
se manifesta particularmente forte nos ltimos tempos.
A anlise da condio juvenil nos pases em via de desenvolvimento deve
considerar a situao particular dos jovens que no vivem em plenitude o per-
odo juvenil. A estrutura social de subdesenvolvimento determina as condies
de vida de setores absolutamente majoritrios da populao latino-americana
e impede a constituio da juventude no seu sentido social.
26
Se considerar-
mos a juventude como um perodo da vida no qual os jovens conquistam as
competncias sociais por meio de percursos formativos, de apropriaes, em
25 INGLEHART, 1983, op. cit., ; MION, 1990, op. cit., p. 153.
26 RODRIGUEZ, 1988, p. 72.
127
Capitulo 3 Marginalidade e excluso social
vista da aquisio de responsabilidades e papis a serem desenvolvidos pelo
adulto
27
, conclumos que o perodo juvenil encontra-se, na especca realidade
brasileira, fortemente caracterizado por uma preparao diversa e alternativa,
conseqentemente diferente daquela concebida nos pases desenvolvidos. A
maior parte dos jovens mais pobres devem integrar-se rapidamente no mercado
de trabalho e isso comporta a assuno precoce de papis adultos e de uma carreira
formativa escolar intercalada com o trabalho. A modalidade de integrao no
mercado no mnimo problemtica, marcada muitas vezes pela explorao, por
experincias de falncias, pela desocupao e pelo trabalho ilegal.
O liberalismo econmico gerou uma situao na qual o processo de margina-
lizao exclui sempre mais as faixas que no lhe so funcionais. Para adaptar-se
nova ordem econmica internacional, os pases em desenvolvimento, ou de
economia emergente, assumiram um novo modelo de desenvolvimento eco-
nmico regulado por leis de mercado. Tal modelo tende a excluir os sujeitos
e os grupos sociais que no lhe so funcionais, e em primeiro lugar esto os
analfabetos, os culturalmente privados. s populaes em condies de po-
breza sobra o acesso limitado assistncia social que, sobretudo nos pases
em desenvolvimento, no dispe de recursos para garantir-lhes um mnimo
de dignidade humana. Frustraes das necessidades fundamentais, pobreza e
marginalidade so faces diversas da excluso social, que se intensica sempre
mais nas economias liberais dependentes.
27 Idem, p. 46; RODRIGUEZ, 1987, p. 162-163.
129
1. CONCEITO
U
m primeiro passo para a compreenso do fenmeno do desvio de
comportamento requer uma aproximao descritiva e denitria para
delimitar, ao menos de maneira provisria, o campo de anlise. A
propsito, encontramos na literatura cientca, trs reas de interesse, articuladas
cada uma a seu modo e ligadas s teorias gerais do desvio comportamental:
- denio de desvio, cujas referncias encontram-se dentro do sistema relacional
do papel e do status que as pessoas assumem na vida quotidiana;
- tipologia das diversas formas de desvio comportamental;
- discusso sobre o carter funcional e/ou disfuncional do desvio compor-
tamental na sociedade.
A ttulo de exemplicao expomos aqui algumas denies de desvio que
documentam a ampla rede de referenciais entre os quais o conceito se situa:
Captulo 4
Conceitos de desvio e delinqncia
130
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
O desvio social pode ser delineado em dois modos relativamente simples. Em um
sentido, desvio um comportamento que vai contra as normas, ou seja, um padro de
comportamento que ns esperamos que os outros (e ns mesmos) sejamos concor-
des. Em outro sentido, desvio tem uma dimenso estatstica. um comportamento
fora da normalidade, pouco comum, comportamento que ns raramente vemos as
outras pessoas fazendo
1
.
Tradicionalmente o campo de estudo do desvio compreende no somente os
atos e os comportamentos reprimidos ativamente pelo sistema social, e que em geral
se conguram como crimes ou doenas mentais, mas tambm todos aqueles
comportamentos diversos, como alguns estilos de vida juvenis, a homossexualidade
e, em geral, os costumes sexuais menos conformistas, o uso de drogas, as culturas
alternativas etc. Ultimamente tende a se avizinhar da noo de diversidade
2
.
Os grupos sociais criam o desvio medida que criam regras cuja infrao
constitui-se em desvio; aplicam tais regras a determinadas pessoas, rotulando-as
como diversas. Deste ponto de vista, desvio no uma qualidade do ato que a
pessoa comete, mas mais uma conseqncia da atribuio por outras pessoas de
regras e sanes a um transgressor
3
.
Cada comunidade humana tem seu conjunto especial de limites, sua identidade
nica; sendo assim, presumimos que cada comunidade tambm tenha seus prprios
estilos caractersticos de comportamento desviante
4
.
o processo atravs do qual alguns sujeitos fogem ao controle social
5
.
O desvio uma violao de normas socialmente construdas e, por isso, su-
jeitas a sanes socialmente construdas; o desvio relativo; e o desvio normal e
necessrio
6
.
Alguns socilogos assumem a noo baseada na rotulao para denir o desvio,
mostrando a importncia do poder: eles observam como pessoas relativamente po-
1 VANDENBURGH, 2004, p. 4.
2 PITCH, 1986, p. 5.
3 BECKER, 1973, op. cit., p. 9.
4 ERIKSON, 2005, p. 19.
5 FICHTER, 1961, p. 347.
6 HEITZEG, 1996, p. 3.
131
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
tentes so capazes de evitar a sina sofrida pelos menos potentes, de serem falsamente,
erroneamente ou injustamente rotulados como desviantes
7
.
desviante o comportamento que viola as expectativas institucionalizadas de
uma determinada norma social
8
.
Da exemplicao acima, difcil extrair uma denio de desvio, a me-
nos que tenhamos de fazer uma colcha de retalhos composta por elementos
estranhos entre eles; pode-se, no entanto, tentar isolar alguns elementos que
apresentam aspectos problemticos:
1. O desvio refere-se a uma violao da norma. No se trata somente da
violao intencional de um modelo de comportamento institucionalizado,
mas tambm de uma deformao das caractersticas normais em um deter-
minado contexto social. Neste sentido, considera-se como desviante seja o
furto, em uma sociedade que sanciona a propriedade particular, como pode ser
tambm desviante (porque diversa) uma pessoa claramente mais alta ou
mais baixa da mdia, um doente mental, um deciente fsico. A distino acima
prope que o desvio no seja tanto uma qualidade inerente a um determinado
comportamento ou caracterstica, mas que ele seja muito mais uma qualidade
atribuda pelos outros, nas relaes sociais. uma maneira de ser ou de agir
no conforme com os padres aceitos como normais pela sociedade.
2. Alm do problema da denio do desvio em termos de objetivo/sub-
jetivo e de conformidade/no-conformidade, colocamos tambm a questo
da extrema relatividade de qualquer denio de desvio. Na realidade, como
veremos mais adiante, o desvio, prprio porque relativo e dependente da mu-
dana das normas sociais, coloca-se em dimenses espao-temporais muito
exveis. De fato, mudam no somente as normas sociais, mas mudam tambm
os limites de tolerncia em torno da norma e os critrios de avaliao que
7 THIO; CALHOUN, 2004, p. 2.
8 GENNARO, 1993, p. 9.
132
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
permitem dizer que um comportamento negativo ou positivo ou que uma
caracterstica de uma pessoa seja mais ou menos estranha.
3. O fenmeno do desvio tem a ver com os processos de formao e de
manuteno do poder, quando colocado como alternativa para o controle
social ou, ao menos indiretamente, exprime a necessidade de mudanas, em
contraposio necessidade de ordem social. Da uma conseqncia bvia, que
nenhuma sociedade, por pouco que seja interessada na prpria sobrevivncia,
pode ignorar a realidade do desvio: geralmente toda comunidade com problemas
de transgresso e desvio e todas o so procura compreender teoricamente os
mesmos (e, portanto, os interpreta prpria maneira) e control-los do ponto
de vista prtico. Da as vrias modalidades de conteno, de estigmatizao e
de sano, conceitos que sero a seu tempo aprofundados.
4. O desvio, ao menos nos casos em que se trata de um comportamento
desviante, est em estreita relao, obviamente, aos processos de socializao,
pelos quais se realiza a interiorizao das normas. Os motivos para essa relao
so vrios: os diferentes resultados da socializao em indivduos diferentes
explicam como cada um esteja em condies de exercitar um controle das
decises e comportamentos, seja controle interno ou externo. Eles exercem
controle interno em relao aos prprios comportamentos, orientando-se
ao conformismo; exercem controle externo em relao ao comportamento
dos outros (pela estigmatizao do comportamento e da diversidade dos
outros).
Com base nessas observaes possvel chegar a uma denio provisria
de desvio, a partir da qual poderemos detalhar e explicar ao longo do texto os
vrios conceitos correlacionados:
133
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
Um comportamento ou uma qualidade (caracterstica) da pessoa social que,
superando os limites de tolerncia em relao norma, consentidos em um determi-
nado contexto social espao-temporal, objeto de um processo de sano e/ou de
estigmatizao, que exprime a necessidade funcional do sistema social de controlar
a mudana cultural segundo a lgica do poder dominante.
2. PROBLEMA COMPORTAMENTAL:
QUESTO DE POLCIA, DE SADE OU RELACIONAL?
Algumas normas so prescritivas e nos indicam aquilo que devemos fazer:
Devemos cuidar das crianas; Devemos cumprimentar os outros... Outras
normas so proscritivas e indicam aquilo que no devemos fazer: Homens no
devem usar chapu dentro da igreja; No devemos perturbar o repouso dos
outros... Essas normas so acompanhadas por suas respectivas sanes que
tendem a ser aplicadas a quem as transgride. O autocontrole (ou o controle
social interno), por sua vez, constitui-se no primeiro passo para a sano de tais
normas; se ele vem a faltar, intervm ento o controle social externo.
As normas sociais em uma sociedade, em condies normais, so interio-
rizadas por seus membros por meio do processo de socializao, que se d
inicialmente no mbito familiar e, posteriormente, nas diversas agncias de
socializao secundria, como a escola, o grupo de pertena, a igreja etc. A
socializao prov otimizao do autocontrole, transmite um set de valores e
de hbitos que se espera, tenham condies de sustentar o consenso em torno
de uma cultura e de suas normas; cria, alm disso, a conformidade a normas e
a comportamentos de modo a diminuir a necessidade de intervir por meio do
controle externo. Este ltimo, no entanto, necessrio para garantir o papel
desenvolvido pelas normas e pelas suas respectivas sanes.
Nem todas as normas sociais, porm, tm um mesmo nvel de gravidade;
nesse sentido, tambm o desvio que resulta eventualmente da sua transgresso.
Algumas manifestaes transgressivas (desviantes) so tidas como formais;
outras entram no mbito da assistncia sade, e outras ainda no das normas
informais.
134
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
3. NORMAS E SANES FORMAIS
So aquelas descritas claramente no ordenamento jurdico criminal, civil e
administrativo. As normas so escritas na forma de lei, so controladas pelas
foras da ordem e prevem sanes especcas.
As normas descritas no ordenamento jurdico criminal so controladas pelos
agentes do controle social (polcia, ministrio pblico, advogados, juzes), os
quais, em nome do Estado, responsabilizam o sujeito por determinados delitos
cometidos contra a humanidade e contra o Estado. Compreende, pois, amplo
leque de delitos: contra a propriedade (vandalismo, latrocnio, fraude...); contra
a ordem pblica (vagabundagem, embriaguez em pblico, desordem...); contra
a moralidade (prostituio, possesso, trco e uso de droga, venda de material
pornogrco a menores, apostas...). As sanes so especialmente de natureza
penal e de limitaes da liberdade.
As normas descritas no ordenamento civil so orientadas soluo de
conitos entre disputas privadas. So, em geral, os sujeitos em desacordo a
disputar no tribunal. Trata-se de um tipo de delito diferente do criminal e
diz respeito ruptura de contratos, ao preconceito contra pessoas, a danos
causados a propriedades, difamao, negligncia, ao divrcio, aos direitos
de autor, a vendas etc. As sanes so de natureza monetria e orientadas ao
ressarcimento de danos.
As normas descritas no ordenamento administrativo tm uma funo
de proteo dos indivduos contra o poder das grandes corporaes. Como
exemplo, podemos citar as normas que protegem o consumidor (Cdigo de
Defesa do Consumidor).
O desvio no mbito do ordenamento jurdico resulta em delito e delin-
qncia, e integra o estudo da Sociologia da Delinqncia mais que do Desvio.
135
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
4. NORMAS E SANES NO MBITO MDICO-SANITRIO
As normas e sanes no mbito da sanidade so diferentes das normas for-
mais e informais. No campo mdico, o desvio comportamental torna-se uma
questo de doena, uma condio no intencional que pode ser objetivamente
denida mediante sintomas observveis. Os diversos organismos do sistema
sanitrio denem como uma situao em que o sujeito deve ser medicado:
o uso desordenado de substncias psicoativas, o comportamento obsessivo,
o estado manaco-depressivo, a parania, a esquizofrenia, as diversas formas
de doena mental. Todas elas so condies que violam a expectativa de um
normal estado mental.
Estas modalidades de desvio requerem tratamentos especiais e no exa-
tamente sanes e punies. Elas se do atravs da institucionalizao, da
terapia individual, do tratamento psicossomtico. O paciente liberado de
toda responsabilidade ou culpa pela prpria condio, desenvolve diante da
sociedade um papel especco de doente e convidado a colaborar aceitando
o prprio tratamento.
Um caso tpico no qual observamos a necessidade de tratamento o da
dependncia de substncias psicoativas: droga, lcool etc. A reduo do
dano um exemplo de interveno medicalizante voltada ao controle dos
danos sofridos pelo toxicodependente. A reduo do dano funciona tambm
como mecanismo de defesa da sociedade que quer minimizar, por sua parte,
os problemas sociais gerados pela toxicodependncia. bvio que a toxico-
dependncia no somente uma questo mdica: no podemos cair na iluso
de que a droga seja o problema central e que, portanto, a resposta possa
consistir em uma desintoxicao fsica e psquica em um centro de tratamento.
O problema central e verdadeiro o homem
9
. No basta, portanto, recorrer
9 MASINI, 1987, p. 54.
136
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
aos centros de terapia mdica, mas preciso abrir espao e tempo para a re-
cuperao da pessoa que, tende a ser feita dentro de comunidades de acolhida
e teraputicas.
Conrad e Schneider fazem um estudo especco da forma como a sociedade
norte-americana transformou as transgresses em problemas a serem medicali-
zados: apresenta uma anlise da transformao histrica das denies de des-
vio, de maldade para o mbito da doena, e discute as conseqncias de tais
mudanas. Focaliza a medicalizao do desvio na sociedade americana
10
.
O desvio no mbito mdico-sanitrio diz respeito especialmente toxico-
dependncia, e pode ser estudado na Sociologia da Toxicodependncia.
5. NORMAS E SANES NO MBITO INFORMAL
Entramos aqui no mbito da profuso de normas e de sanes mais ou
menos compartilhadas pelas culturas e pela sociedade. Elas no so codica-
das no ordenamento jurdico, no pertencem exatamente ao mbito do desvio
medicalizado, mas constituem variaes, divergncias e dissensos acerca de
determinados comportamentos e costumes. Essas normas geralmente no esto
escritas em nenhum lugar, a no ser nos costumes e nos hbitos: dizem respei-
to, por exemplo, maneira de as pessoas comportarem-se em uma cerimnia
fnebre, de se vestirem para um compromisso ocial, de procederem dentro
de uma igreja. Podemos distingui-las como
11
:
- estigmatizao: processo mediante o qual uma pessoa passa a ser
denida como desviante com base nas caractersticas externas como
aparncia, raa, idade, pertena cultural etc.;
- assuno de um estilo de vida no modo de se vestir e de se apresentar;
10 CONRAD; SCHNEIDER, 1992, p. 1.
11 HEITZEG, 1996, op. cit., p. 11.
137
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
- maneira de viver o prprio tempo livre: no esporte, na msica;
- assuno de um estilo de vida em que o sujeito revela-se diverso por
sua losoa de vida, por modos de viver o quotidiano (por exemplo:
os hippies, os punks, os mods, os skinheads...).
As sanes ao desvio informal provm em primeiro lugar do crculo in-
terpessoal e podem, ulteriormente, provocar uma reao das instituies do
controle social. Mas , em primeiro lugar, a interao interpessoal que controla
e sanciona o desvio informal. Os familiares, os amigos podem aplicar sanes
as mais diversas como reprovao, olhares de desaprovao, ameaa de retirada
de privilgios e da amizade. At mesmo as instituies podem controlar e san-
cionar, enquanto dentro delas criam-se normas que, uma vez compartilhadas
pelo grupo social, representam a referncia para as sanes dos seus membros
quando esses manifestam o dissenso: da reaes conjuntas de desaprovao, a
retirada de privilgios, o aumento do controle sobre os membros dissidentes.
O campo do desvio informal compreende a maior parte dos casos de desvio,
especialmente daqueles que permanecem no nmero obscuro, no submerso
e que pertencem ao mbito mais restrito dos grupos sociais como o ambiente
familiar, o grupo de coetneos, a comunidade religiosa, a escola, o bairro...
6. DESVIO E SISTEMA NORMATIVO
As relaes entre comportamento ou qualidade normal e comportamento
e qualidade desviante so extremamente utuantes, devido ao carter varivel
da norma:
1. Varia a rea da permissividade ou tolerncia consentida em relao
norma. Na realidade, a norma somente uma abstrao; um modelo de
comportamento correspondente a uma conduta mdia, ou seja, normal,
em relao a um considervel e mutvel nmero de variveis. Assim sendo, em
138
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
relao a um certo modelo de comportamento social (por exemplo: a corte
pr-matrimonial) so permitidas certas variaes segundo a idade e o sexo
dos indivduos, da pertena de classe, do contexto ambiental etc. Vale a pena
ainda observar que as oscilaes podem variar tambm no tempo, segundo a
necessidade funcional do sistema (em nvel micro ou macrossociolgico) tais
oscilaes podem alargar-se ou restringir-se dentro da rea, dentro da legiti-
midade e da normalidade consentidas.
2. Varia o grau de interiorizao da norma segundo as diversas modali-
dades de socializao, que caracterizam os diferentes sujeitos e que explicam
a presena de um consenso mais ou menos profundo em relao ao quadro
normativo. Um processo de socializao rgido parece favorecer a formao
de um controle interno eciente, que impede o surgimento do desvio; vice-
versa, as carncias de socializao (inconsistncia, contraditoriedade, falta de
motivaes para o consenso, inadequao dos meios de transmisso do quadro
normativo) parecem diminuir as resistncias ao desvio.
Processos rgidos de socializao parecem estar relacionados a formas de
superconformismo, derivadas de prxis autoritrias e manipuladoras da edu-
cao familiar, escolar, grupal. Carncias de socializao referem-se a vazios de
socializao tpicos dos perodos de transio rpida e desorgnica, transversais
aos sistemas sociais e a determinadas reas dos sistemas sociais.
3. Varia, enm, o grau de consistncia, organicidade, legitimidade do mesmo
sistema normativo em relao ao quadro global de determinada sociedade.
Winslow
12
(1970) observa como os sistemas normativos so conjugados
de modo diferenciado, segundo as estruturas da sociedade e dos tipos de
organizao institucional presentes em certo contexto. Assim, s estruturas oli-
grquicas, anmicas e pluralistas correspondem organizaes de tipo coercitivo,
utilitrio e normativo, caracterizadas por diversas taxonomias e por diversas
12 WINSLOW, 1970.
139
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
conotaes qualitativas do desvio. No primeiro tipo (oligrquico-coercitivo)
as normas aparecem organizadas em um quadro rgido, sustentado por sanes
prevalentemente punitivas (tambm de modo fsico) e produzem um tipo de
conformismo alienante (o sujeito se adapta a um comportamento ritualizado
ou se distancia renunciando participao). No segundo tipo (anmico-
utilitrio) as normas parecem sem organicidade e fundamento, recebem sanes
do tipo prmio-castigo, favorecendo o oportunismo e o clculo, ocasionando as
diversas formas de desvio inspiradas nos acertos de conta pessoais. No terceiro
tipo (pluralista-normativo) as normas se organizam segundo as diferentes
hegemonias de poder emergentes na sociedade, recebem forte sano moral e
simblica qual se subtraem, porm, os sujeitos que no concordam com a
hegemonia e que almejam (mediante a rebelio e a inovao) a elaborao de
outros quadros normativos.
A aproximao estrutural-institucional de Winslow no explica, no
entanto, a presena de alguns tipos de desvios presentes em todos os tipos de
sociedades catalogadas. No d conta tambm das muitas formas de desvio
independentes da organizao institucional, mas ligadas, segundo o autor, a
fatores estreitamente individuais. No destituda de crticas nem a tentativa
de Dinitz e colaboradores
13
(1969, 4 e ss.) que tenta precisar a estruturao
diferenciada do quadro normativo em dois tipos opostos de sociedade: a
sociedade tradicional-popular e a sociedade moderna-industrial, como resulta
do seguinte quadro comparativo:
A contribuio de Dinitz importante porque introduz uma relao essencial
entre quadro normativo (e desvio) e mudana social. Em outras palavras, ele
arma que nas sociedades estticas, o desvio assume um carter mais limitado
justamente porque as normas so simples, facilmente identicveis, pois so
13 DINITZ; DYNES; CLARKE, 1969.
140
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
mais orgnicas e pacicamente interiorizadas, as sanes so dispostas de
maneira a no estigmatizar a personalidade global do desviante, mas somente
um aspecto setorial de seu comportamento. Nas sociedades modernas ao
contrrio, os fatores que produzem mudana social
14
produzem tambm maior
desvio, justamente porque as caractersticas do quadro das normas que delas
resultam, encorajam mais ainda as infraes e tornam mais incisivas as rotulaes
do desviante. til levar em considerao, de maneira mais analtica, alguns
modelos recorrentes de mudana normativa, originrios de situaes tpicas
das sociedades em rpida transio.
6.1. Ruptura do cdigo normativo (norm breakdown)
o processo pelo qual os cdigos normativos perdem a sua validade por
obsolescncia, por falta de legitimao, por desintegrao sob o impacto de
novas formas emergentes. Isto cria problemas quando se produzem vcuos e
passam a faltar os pontos de referncia para um comportamento normal. Um
exemplo tpico desta situao a condio juvenil que no pode mais adequar-
se ao velho modelo de adolescncia, criada pela sociedade pr-industrial, mas
que no pode ainda inspirar-se nos novos modelos tpicos da idade adulta.
14 Idem. Dinitz cita, sobretudo, a Revoluo Industrial, a maior mobilidade, o desenvolvimento da
cincia, a necessidade de organizao.
141
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
6.2. Conito de normas (norm conict)
Quanto mais as sociedades modernas se articulam em uma pluralidade de
elementos estruturais (instituies, grupos, organizaes etc.) entre eles indepen-
dentes, competitivos ou conitantes, tanto mais se torna possvel a hiptese de
uma discrepncia ou diferenciao entre os seus cdigos normativos. Esse processo
agrava-se mais ainda quando as velocidades das mudanas nos diversos subsis-
temas normativos so diferentes, ou quando eles se cristalizam em subculturas
independentes e isoladas. Nestes casos os comportamentos so fragmentados por
exigncias de lealdade institucional e por expectativas contrastantes de papel: as
pertenas plurais (ou para ns no homogneos) revelam-se freqentes fontes de
conito que suscitam situaes de anomia e, conseqentemente, de desvio.
6.3. Inatingibilidade das metas prescritas normativamente
(unreachable goal norms)
Em muitas sociedades existe uma notvel divergncia entre as metas
prescritas ou inculcadas e as reais possibilidades ou oportunidades de
atingi-las por vias normais. Na verdade, as metas so elaboradas por grupos
de poder que as impe a todos os outros grupos, sem fornecer-lhes os meios
adequados para o seu conseguimento. Da a tentativa desviante operacionali-
zada pelos excludos, de utilizar quaisquer meios considerados ilegtimos pelo
grupo hegemnico, para o conseguimento das metas prescritas. Este um tema
desenvolvido por alguns teorizadores funcionalistas do desvio, como Merton
e Cohen, na tentativa de explicar certos comportamentos no conformes dos
membros das classes subalternas.
142
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
6.4. Descontinuidade das normas (discontinuous norms)
Trata-se de carncia de homogeneidade e progressividade das normas que
acompanham um determinado processo evolutivo das pessoas sociais e dos
grupos. O caso mais evidente representado pelas contradies que conguram
o conjunto de normas em torno da maturao sexual do indivduo ou do casal
ou aquele referente ao comportamento social do adolescente ou dos jovens na
passagem para a idade adulta.
A descontinuidade , pois, identicvel como falta de aprendizagem ade-
quada das normas que facilitam a passagem de um estgio ao outro da vida,
ou de um setor ao outro.
6.5. Impotncia ou falta de sanes da norma
So duas situaes ans. A primeira se verica quando uma norma progres-
sivamente perdeu seu valor por causa de uma consistente carncia de consenso.
Nesse caso existe uma certa convergncia em no considerar ilegal ou ilegtima
a sua violao. tpico, guisa de exemplo, o caso da violao das leis sobre
impostos. Em muitos contextos a desobedincia a tais leis no somente no
tida como desvio, mas, ao contrrio, considerada como exemplo de inte-
ligncia, esperteza e capacidade. A segunda situao se verica quando cessa
a aplicao de uma sano em relao violao de determinada norma. Isso
pode acontecer seja em relao a certas classes de pessoas (privilegiadas ou
potentes), seja em geral. Em ambos os casos o resultado um debilitar-se da
norma, que perde o vigor e a credibilidade. Em todas as legislaes existem
normas no mais vlidas porque as relativas sanes foram pouco ou nada
aplicadas. Em geral por falta de consenso e de legitimao.
143
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
6.6. Normas de evaso (evasive norms)
Em todas as sociedades existem normas, mais ou menos legais, mas no
por esse motivo menos aceitas e legtimas, que encorajam comportamentos
de evaso, que funcionam como vlvulas de escape, aptas a amortizar certas
tenses do sistema ou a facilitar o comportamento em outros setores de vida.
Assim, por exemplo, pagar propinas formalmente considerado ilegal, mas
universalmente percebido como normal em algumas as transaes comerciais
de um certo nvel. Tambm comportamentos como a prostituio, o jogo do
bicho, as apostas etc., mesmo sendo considerados normais do ponto de vista
dos costumes, enquanto favorecem uma certa evaso mais ou menos incua ao
sistema. Apesar de incentivarem um clima de desvio.
6.7. Normas estressantes (stressful norms)
Em toda sociedade existem normas que demandam do ator social um esforo
exigente. Verica-se isso especialmente nas sociedades modernas que aceitam
o modelo da competitividade, que encorajam em todos os modos o achievement,
o sucesso, a produtividade. Realmente, nem todos os sujeitos esto em con-
dies de galgar patamares superiores em uma carreira prossional. O desvio,
nesses casos, explica-se como necessidade (s vezes imposta s minorias) de
subtrair-se ao estresse provocado por normas muito exigentes e, eventualmente,
inatingveis. Pode ser o caso que se verica entre os imigrantes das grandes
cidades que, com freqncia, no tm condies de se adaptar s exigncias
da nova cultura que lhes circunda e regridem em direo a comportamentos
tidos como arcaicos, disfuncionais e desviantes, mas que para eles representam
a segurana e a garantia de sobrevivncia.
Tudo o que dissemos acima conrma claramente o carter particularmente
relativo dos processos de rotulao do comportamento diferente e demonstra
144
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
mais uma vez a tendncia a fazer do desvio um problema moral (no sentido
mais vasto do termo). De fato, se verdade que o desvio social em si (ou seja,
a simples infrao da norma estatstica) no sempre um comportamento
avalivel com um metro tico, tambm verdade que o juzo da rotulao, que
desvenda a diversidade como fato negativo, parte de uma avaliao moral: a
norma considerada um valor e a sua infrao um pecado social. Realmente
o desvio tem uma interface com os signicados do sistema social e algumas
de suas articulaes que, implicitamente, tende a neg-lo e a super-lo. Por este
motivo, no tem mais sentido uma sociologia do desvio como aquela estrutural-
funcionalista que procura evitar todo envolvimento ideolgico.
Parece, ao contrrio, importante assumirmos como problemticos os pres-
supostos morais que fundamentam o juzo de desvio, para evitarmos de, em
vez de desenvolvermos a obra de socilogos, cairmos no moralismo ingnuo.
7. RELATIVIDADE DA NORMA
O desvio criado pela sociedade. Os grupos sociais criam o desvio insti-
tuindo normas cuja infrao constitui o desvio em si mesmo
15
. E se ele uma
criao da sociedade tambm amplamente relativo cultura qual pertence.
Alguns fatores podem mudar as referncias s normas e, portanto, as suas mo-
dalidades de sano e de transgresso. A relatividade deve-se particularmente a
determinados fatores como o tempo, o contexto, o grupo de pertena e o papel
que as pessoas desenvolvem na sociedade.
a) Fator tempo
Um comportamento considerado desviante no sculo passado pode no ser
mais nos tempos de hoje. Um exemplo o uso de calas compridas por parte
15 BECKER, 1987, p. 22.
145
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
das mulheres. Outros comportamentos so relacionados a certos perodos da
vida: o abuso sexual, a delinqncia juvenil, o uso de drogas...
b) Fator contexto social
A nossa conduta varia de acordo com o contexto no qual estamos inseridos
em determinado momento histrico: uma igreja, uma festa de carnaval, um
ambiente de trabalho ou familiar.
c) Fator pertena cultural
A sociedade constituda por diversas tendncias culturais: cada uma delas
em condies de oferecer um referencial de valores, de normas e de sanes.
Em uma sociedade complexa, composta por uma congurao de subsistemas
os mais diferenciados, o sujeito tem que se adaptar s circunstncias culturais,
deve saber interagir e se comunicar com pessoas e grupos em contextos caracte-
rizados pelos mais diversos sets de valores e de normas. Em alguns grupos por
exemplo, entre os membros de uma gangue , aquilo que na sociedade alargada
considerado transgressivo, dentro de uma gangue tido como normal e
digno de louvor.
d) Fator papel social
O desvio tambm relativo ao papel desenvolvido pelos membros de um
grupo social. Caractersticas como idade, status social, gnero, determinam a
atribuio de um carter transgressivo a certos comportamentos. O papel re-
presentado pelo policial o permite de portar uma arma; o de padre de usar seus
sinais distintivos (batina, crucixo, estola); o de criana de fazer molecagem, e
assim por diante. Por outro lado, pode ser considerada como transgresso social
o porte de armas por parte de um padre, o uso da batina por parte de um policial
e molecagens feitas por um adulto.
146
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
8. CONTROLE SOCIAL
Existe estreita relao entre desvio social e controle social. Para explicitar
melhor tal relao torna-se til relembrar algumas noes elementares sobre
o conceito de controle.
O controle social um processo ou mecanismo que tende a manter a
conformidade dos elementos singulares de um sistema social aos modelos
de comportamento, aos papis, s relaes, s instituies culturalmente
relevantes
16
. O controle social um fenmeno diretamente relacionado com
o desvio: ele consiste na ao de todos os mecanismos que contrabalanam as
tendncias desviantes, ora impedindo o desvio, ora o que mais importan-
te , controlando ou ressignicando os elementos que tendem a produzir o
comportamento desviante.
Pela denio dada, parece que o controle social algo que tem substancial-
mente uma funo antagonista em relao ao desvio. Como se o desvio fosse
um processo pelo qual as pessoas fogem ao controle
17
; e que o controle fosse
o nico remdio para sanar desvios e transgresses. Na realidade, no difcil
demonstrar como, em certas situaes, o controle social quem provoca, pro-
duz, estabiliza, dene o desvio. Existem teorias, como a teoria do estigma, para
a qual o controle social provoca saltos qualitativos que se sucedem qualitativa
e progressivamente por um processo pelo qual as pessoas acabam se tornando
desviantes: um comportamento simples como o uso ocasional de maconha
por parte de um jovem (desvio primrio) que, punido pelas foras do controle
social (polcia) pode provocar reaes em cadeia de outros comportamentos
desviantes como a deteno, a marcao em cima do sujeito por parte da
polcia (estigmatizao), outras detenes e o desvio secundrio.
16 FICHTER, 1961; 1960, p. 328, Loc. 20-C-975 20-C-558 67-B2.
17 Idem, 1960, p. 347.
147
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
As formas pelas quais o controle social se manifesta so variadas, como
demonstram algumas distines tericas. Podemos assim falar, entre outras
distines, de controle positivo e negativo; controle formal e informal; controle
interno e externo.
O controle positivo aquele que exercitado pela persuaso, pela sugesto,
pelo sistema de graticao-recompensa, pela educao. O controle negativo
realizado por meio de ameaas, de ordens, de proibies, de sanes. As duas
modalidades, em geral, so aplicadas quase sempre contemporaneamente.
Uma outra distino diz respeito ao controle formal, expresso por regu-
lamentos, estatutos, normas ociais; e informal, que consta de chamadas de
ateno, gestos, presenas diretas ou indiretas, implcitas ou explcitas, algumas
vezes de cunho meramente simblico. O controle formal, por sua vez, parece
mais difundido nas estruturas complexas e diferenciadas, identicando-se
muitas vezes com os meandros estruturais da organizao e da burocracia. O
controle informal se encontra muito mais presente nas estruturas simples, como
nos grupos primrios nos quais prevalecem relaes face a face.
Uma ulterior distino pode ser feita entre o controle interno e externo. O
controle interno dene-se como efeito da interiorizao das expectativas de
papel e aquisies das habilidades e das motivaes sucientes para responder
adequadamente s expectativas de papel. Ele est estreitamente relacionado com
a socializao: quanto mais as pessoas interiorizarem determinadas normas
sociais, menos probabilidade tero de se desviarem das mesmas. O controle
externo refere-se noo mais comum de controle social e a soma das pres-
cries ou normas adotadas por uma unidade social para assegurar um mnimo
de funcionalidade e de consenso em defesa da sua unidade interna.
As diversas formas de controle so exercitadas de maneira diversicada nos
vrios nveis da estrutura e das formas de agregao social: pela sociedade global,
pelas centrais do poder (grupos e associaes hegemnicas), pelas instituies
especializadas, pelos grupos de presso ou de interesse minoritrio, pelos lderes
mais ou menos carismticos.
148
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
9. DESVIO E EXPECTATIVAS DE FUNO
A denio de desvio em relao aos sistemas normativos implica uma srie
de consideraes sobre relaes entre desvio e expectativas de funo.
1. bvio que uma violao da norma constitui, paralelamente, tambm
uma infrao das expectativas de papel que determinado grupo de observadores
sociais foi construindo em relao ao sujeito. Este fato no pode produzir certa
frustrao no grupo, que percebe na violao uma ameaa rede de relaes
recprocas, previsveis e estandardizadas, sobre as quais se baseia a segurana
das pessoas. A reao a esta percepo de uma infrao das expectativas de
papel pode ser extremamente variada. Ela pode incluir desde hostilidades
difusas dirigidas ao desviante, tentativas de bloqueio, tendncias recuperao
dos comportamentos normais pelo uso do sistema de recompensa-castigo
etc. De qualquer maneira o desvio no corrigido/reconsiderado provoca um
repensamento radical do sistema de expectativas de funo que no fcil de
ser reconstrudo em tempos breves.
2. Alm dessas consideraes globais, sublinhamos o fato de que geralmente
as pessoas se tornam desviantes devido a uma infrao objetiva de uma norma
e em relao a papis especcos, que acontecem dentro de determinados grupos
ou contextos. Todavia, nas sociedades modernas industrializadas assiste-se ao
fenmeno da amplicao do papel social, com base no qual se tende a ampliar
o juzo de desvio a toda a personalidade do diverso, que, dessa maneira, acaba
sendo estigmatizada de maneira global. Isso no acontece nas sociedades pr-
modernas, nas quais a estigmatizao permanece muito mais restrita aos setores
realmente marginalizados e no engloba um juzo sobre todo o comportamento.
Realmente, o desviante sempre conforme, ao menos em relao a alguns se-
tores do seu ser ou agir: ele se amolda geralmente a muitas normas do viver
comum e se conforma aos modelos do grupo desviante ao qual se refere.
149
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
3. difcil encontrar uma pessoa social perfeitamente conformista. Todos
so desviantes, ao menos em alguns papis, como j notamos anteriormente
a respeito do pluralismo de pertenas e de lealdade institucional. Por mais
conituoso que seja, tal pluralismo provoca a opo por alguns modelos e
deformidades em relao ao senso comum. Tal caso parece vericar-se nas
sociedades que manifestam alto grau de complexidade, que implicam alto risco
de escassa integrao social ou mesmo de desintegrao. O resultado de uma
inelutvel no integrao dos papis se reete e se transforma na necessidade
de ativar limites mais amplos da tolerncia ao desvio: exatamente o meca-
nismo que detona, alternativa e conjuntamente ao processo de estigmatizao,
quando o grupo ou o sistema, aceitando a insuperabilidade da ao desviante,
procura aliviar ou prevenir seus eventuais efeitos contraproducentes. Exem-
plo de tal mecanismo o representado pelo modo como alguns anos atrs
a sociedade ocidental de modelo capitalista conseguiu, com excelentes
resultados, neutralizar o protesto hippie, alargando progressivamente os limites
da permissividade em relao aos poucos papis desviantes (cabelos, vestidos,
msica, droga) e encapsul-los por meio de uma manipulao consumista
(comercializao da moda hippie etc.).
4. Sempre em relao s expectativas de papel nota-se, ainda, como o desvio
assume relevncia social diferente, dependendo da referncia que ele faz a papis
relativos a grupos-instituies centrais ou perifricas do sistema social.
Assim, por exemplo, em um sistema caracterizado por avanado grau de
secularizao, os desvios atinentes a papis especcos de comportamento re-
ligioso (prtica religiosa, obedincia s autoridades religiosas etc.) podem ser
tolerados com muito mais permissividade que em outras sociedades caracte-
rizadas por uma persistente sacralizao dos comportamentos coletivos. Mais
especicamente, os desvios referentes a setores comportamentais perifricos
podem ser at encorajados, promovidos e remunerados, justamente porque
geralmente so pouco perigosos para o sistema e podem ser insidiosamente
150
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
convertidos em funcionais ao mesmo (como vlvula de escape, falsos objetivos,
ns diversivos etc.).
Durkheim, socilogo precursor e fundador da sociologia, considera o
desvio social como um fato normal e necessrio. Para ele o desvio no uma
aberrao social: uma dimenso normal e necessria da ordem social e est
presente em qualquer sociedade. Uma grande contribuio de Durkheim
foi ter percebido, j no seu tempo, uma funo positiva para o desvio. Toda
sociedade, no seu entender, tem sua quota de desvio, pois necessita dele para
denir os conns entre a normalidade e a anormalidade: para prover aos seus
membros de senso de pertena e de coeso, e repelir as aes desviantes. Neste
sentido, os desvios sociais tm a funo de mostrar os limites (os conns) alm
dos quais os membros de determinado grupo social no deve superar, sob pena
de receberem as relativas sanes por parte das agncias do controle social.
Para Durkheim, determinado sujeito desviante , muitas vezes, eleito como
representante de toda uma categoria de transgressores; ele assume, para a
sociedade, o papel de bode expiatrio, com funes de amainar a culpa
de todos (efeito Pilatos) e, ao mesmo tempo, sinalizar para todos quais so
os limites que no convm ultrapassar. Enm, Durkheim concebia os com-
portamentos desviantes como funcionais ao sistema social, principalmente
por duas razes: primeiro porque acreditava que os comportamentos no
duram por longo tempo a no ser que tenham funo social; segundo que os
comportamentos desviantes so uma entidade persistente. Suas funes so
de: manuteno dos conns entre a normalidade e a anormalidade (desvio),
denindo os limites da reta conduta; como conrmao da solidariedade da
sociedade, no sentido que, reforando determinadas normas e valores, provo-
cam sentimentos coletivos e alimentam a coeso social; como provocaes que
conduzem transformao social.
151
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
10. TORNAR-SE DESVIANTE: POR QUE, COMO E QUEM
Ns colocamos trs perguntas fundamentais que nos ajudam a entender, em
um momento inicial, a amplitude e complexidade do conceito de desvio social.
A primeira diz respeito ao por que algum se torna desviante. A resposta
a esta pergunta est no mbito da explicao e da razo cientca, evoca uma
relao de causa-efeito ou, pelo menos uma correlao entre variveis condi-
cionantes e comportamentos desviantes. Uma segunda est centralizada sobre
o como algum se torna desviante e diz respeito a um processo capaz de
construir o desvio. A terceira diz respeito a quem e, portanto, concentra-se
sobre o sujeito, que se encontra na centralidade do estudo do desvio social e
comportamental, justamente porque ele o alvo da reao social rotuladora
de identidades e carreiras desviantes.
10.1. Por que algum se torna desviante?
Essa pergunta diz respeito s razes e s circunstncias que condicionam os
primeiros passos de uma carreira desviante. Alguns desvios so no-intencionais
e outros, intencionais.
Na sociedade complexa em que vivemos mais provvel que algum trans-
grida as normas, visto que existem tantos cdigos normativos quantos so os
subsistemas, as subculturas, os contextos que a integram. O controle social
tende a ameaar, mais que punir, os desvios no-intencionais. Algumas pessoas
so consideradas desviantes no por aquilo que fazem ou deixam de fazer, ou
pela inteno ou no de fazer o que zeram, mas por aquilo que represen-
tam em si mesmos: aqui entra a questo do estigma. As pessoas podem ser
estigmatizadas com base nas caractersticas fsicas e psquicas que portam: a
cor da pele, a aparncia cultural, a loucura. O processo de estigmatizao que
152
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
consegue criar esteretipos, pode facilmente ser advertido na vida quotidiana
quando nos referimos, por exemplo, aos alemes como nazistas, aos jovens
que freqentam discotecas como maconheiros, aos ciganos como ladres
e assim por diante.
O centro da preocupao dos socilogos, no entanto, e das agncias de
controle social so os desvios intencionais, ou seja, aes que acontecem quando
algum transgride consciente e voluntariamente as normas sociais. De fato, a
vontade de transgredir constitui o primeiro passo no processo do tornar-se
desviante, e denida por Matza como anidade (Cf. cap. 13). Os motivos
que induzem as pessoas a se desviarem da norma social so tantos: desde os
conitos familiares, a desesperada busca de identidade, o desejo de pertencer
a um grupo rebelde, a falta de sentido da vida, as condies sociais de privao
em relao pertena a uma raa, idade, ocupao, nvel de escolaridade. Esses
e outros motivos que revelam mais profundamente uma frustrao das ne-
cessidades fundamentais da pessoa humana e que dizem respeito diretamente
nossa hiptese inicial podem disparar a mola da deciso, mais ou menos
clara, voluntria, intencional, de transgredir as normas sociais.
No basta, porm, somente o desejo de transgredir. Muitos querem
transgredir, mas no tm a coragem de assumir os riscos do autocontrole (o
senso de culpa) e do controle social. preciso tambm ter a possibilidade, a
oportunidade e a coragem de transgredir as normas.
153
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
10.2. Como algum se torna desviante?
Essa pergunta diz respeito possibilidade verdadeira e prpria de desviar, e
esse segundo passo denido por Matza
18
como processo de aliao. Tal
processo constitui-se em uma ponte entre a simples vontade e a verdadeira pos-
sibilidade de desviar. o momento da aquisio do know how: o conhecimento
das tcnicas, dos valores, das habilidades associadas aos diferentes tipos de
desvio. No basta a vontade de drogar-se. necessrio saber como fazer para
drogar-se. Comportamentos desviantes podem ser assumidos individualmen-
te, mas, com freqncia, o processo de aprendizagem desses conhecimentos
acontece sempre em associao com os outros j aliados e quando de posse
de um determinado know-how.
Neste momento, o grupo sofre grande inuncia dos grupos de pertena,
de referncia ou de circunstncia.
Os grupos de pertena tm sua inuncia enquanto esse pode constituir-se
em uma subcultura em conito com as normas e os valores da sociedade mais
ampla. A nossa sociedade composta por mltiplas subculturas. O exemplo
mais evidente o das subculturas que envolvem a msica punk e rap, dentro das
quais acontece uma partilha de estilos de vida, de vesturio, de aparncias, de
vises de mundo, de modo que somente aqueles que pertencem a tal subcul-
tura conseguem interagir e participar, enquanto os outros so considerados
somente curiosos.
Outros grupos so de referncia, real e imaginria. Na modalidade real
permitem a interao direta, e na modalidade imaginria correspondem a uma
representao alimentada pela fantasia e pelos meios de comunicao. Neste
ltimo caso, os modelos que so apresentados tendem a impelir as pessoas
18 MATZA, 1969, p. 145-160.
154
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
imitao pela experincia substitutiva, ou seja, da vontade de fazer e compor-
tar-se como sugerido por eles.
Alguns grupos so considerados de circunstncia, ou near-groups (por exem-
plo: uma multido, um night club, uma torcida de futebol), caracterizados pela
falta de organizao e de interao entre os membros e por um objetivo comum
(por exemplo: a evaso, a torcida, uma manifestao, o uso de drogas). Nestes
ambientes impessoais, muitas vezes, o desvio coletivo dispara por causa de um
motivo ligado e um objetivo comum.
O processo do tornar-se desviante no tem sucesso quando o comporta-
mento no adquire visibilidade. A visibilidade se d entre comportamentos e
qualidades da pessoa secretos, visveis e voluntariamente visveis. O primeiro
caso diz respeito a transgressores que vivem o prprio comportamento em off.
o caso, por exemplo, da toxicodependncia vivida em segredo e revelada a
outros somente de maneira seletiva. No segundo caso se distinguem aqueles que
no podem esconder as caractersticas pessoais e, portanto, esto expostos por
fora das circunstncias, ao estigma, por razes de estatura, de peso, de raa, de
idade. Os comportamentos & qualidades voluntariamente visveis so prprios
dos transgressores por opo pessoal: o desvio torna-se ento uma maneira
de dizer, de comunicar, um smbolo quem, muitas vezes, transmitido pelo
modo de se vestir, do corte dos cabelos, da tatuagem etc.
A dinmica da construo do desvio e da delinqncia depende tambm do
xito de um processo de estigmatizao ou de etiquetamento. Esse, por sua vez,
pode variar de acordo com a gravidade, da permanncia, da salincia, da fonte e
da conotao do ato & qualidade da pessoa desviante.
A gravidade: a muitos comportamentos desviantes so atribudas sanes
menos fortes. o caso daqueles que dizem respeito s normas informais. O
desvio dentro do modelo sanitrio mais forte. Uma pessoa que leva a etiqueta
de doido, de esquizofrnico, de doente mental, de manaco depressivo etc., tem
mais probabilidade de permanecer segregado permanentemente pela sociedade.
155
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
At mesmo os comportamentos que se afastam da norma formal so muitas
vezes sancionados com intensidade. o caso dos assassinos, dos raptores, dos
molestadores de crianas e dos traidores. Alguns desses comportamentos contra
a norma formal, porm, podem ser tambm reforados dentro da cultura, ou de
determinadas subculturas, desde que seja um comportamento compartilhado.
Por exemplo, em certos casos so elogiados pelas pessoas os comportamentos,
claramente contra a norma formal, de no pagar os impostos ao governo.
A durao do esteretipo no tempo: alguns so apenas transitrios, outros
so permanentes. Alguns comportamentos so aplicados no momento do ato
desviante, sancionados e logo esquecidos. Por exemplo, quando um motorista
avana o sinal vermelho e considerado como maluco ou coisa semelhante.
Tal fato isolado logo esquecido. Outros esteretipos duram no tempo. o
caso, por exemplo, dos estigmatizados por causa das caractersticas fsicas e do
alcoolismo. Mesmo anos e anos depois que pararam de beber. Os esteretipos
gerados no mbito judicirio tendem a permanecer praticamente para sempre:
uma vez criminoso, sempre criminoso.
A salincia do esteretipo: diz respeito aceitao, por parte do desviante,
da prpria qualidade de desviante. A aceitao e, conseqentemente, a estru-
turao de uma identidade desviante. Consideremos, por exemplo, o caso de
uma pessoa que, em uma condio de forte privao e fome, se encontra na
necessidade de roubar alimento. Ele poder ser etiquetado como ladro,
mas isso no passar facilmente a fazer parte integrante de sua identidade,
visto que as circunstncias tendem a provocar a compreenso do fato como
conseqncia desesperadora de quem est nas raias da sobrevivncia. Na outra
margem, encontram-se aqueles que assumem, aceitam e vivem uma identidade
e um status de desviante no momento em que conseguem conciliar um estilo
de vida e a ser, nessas condies, mais aceitos na condio de alcolatras, de
toxicodependentes, de prostitutos e/ou prostitutas etc.
A fonte do esteretipo: provm da sociedade e termina na sociedade por
meio da ao do controle social. Os agentes do controle social, no entanto,
so mltiplos: as foras da ordem social, o senso comum, o grupo de pertena,
156
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
a famlia, a escola etc. Mas , sobretudo, a polcia aquela que consegue alar
a ateno das pessoas sobre o desviante de maneira a provocar o esteretipo.
E, em certos casos, a fonte do esteretipo o prprio desviante. So eles
mesmos que iniciam o processo, mesmo porque assim o querem, por razes
as mais diversas. o caso, por exemplo, dos skinheads, dos rappers, dos bloods, dos
que pertenceram Ku Klux Klan etc. Eles todos querem exprimir, mediante o
smbolo, a assuno de uma identidade especca, desde que a mesma garanta
a eles um status na sociedade.
O sentido do esteretipo varia entre positivo, negativo e neutro. O senso
negativo o que mais freqentemente est presente no senso comum e funciona,
muitas vezes, como principal agente de controle social. A sociedade em geral
procura dissuadir os desviantes dos seus dissensos da norma social, pela sano
s suas aes transgressivas. E os desviantes normalmente tm conhecimento
da desaprovao do prprio comportamento. Outros comportamentos so
considerados neutrais, ou seja, por meio da justicao e da racionalizao da
ao desviante e da negao do carter desviante do comportamento. A outros
comportamentos desviantes podem ser atribudas avaliaes positivas e os
desviantes considerados corajosos, intrpidos, pessoas que devem ser imitadas.
Neste caso, os desviantes conseguem virar a mesa: aquilo que era desviante
torna-se normal e desejvel.
10.3. Quem tende a se tornar mais facilmente desviante?
Propomo-nos a responder trs questes: por que as pessoas se tornam
desviantes; como se tornam desviantes; a ltima pergunta diz respeito a quem
se torna desviante, e estreitamente ligada s anteriores.
consenso entre os socilogos que no possvel prever quem se tornar
desviante. Todos podem comportar-se de maneira transgressiva ou tornarem-
157
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
se desviantes. Devemos xar de uma vez por todas que no podemos falar
de determinismo entre variveis tipolgicas de pessoas (por exemplo, status
socioeconmico, raa e gnero) e desvio ou delinqncia. A nica possibilidade
a de considerar que possa existir, sim, uma relao de probabilidade entre
uma varivel e outra.
11. ESTRUTURA SOCIAL E DESVIO
O desvio social, nas suas duas acepes de comportamento e de qualidade
da pessoa, conforme vimos na nossa denio de desvio, est freqentemente
ligada condio social, particularmente ao status socioeconmico, raa, sexo
e idade.
a) Status socioeconmico: Alguns tipos de desvio social esto ligados ao
status socioeconmico. E nessa equao so os pobres que esto em mais
desvantagem. Porm, a correlao entre pobreza e desvio complexa e, se existe,
ela parte de um emaranhado de variveis intervenientes
19
. Entre tais variveis
est uma maior oportunidade para cometer delitos e a maior probabilidade de
os pobres serem etiquetados.
Alguns tipos de desvio so, muitas vezes, encontrveis nos ambientes de
classe mdia. Dependem da posio social, do poder, do prestgio das pessoas.
Nessa categoria encontram-se, por exemplo, alguns comportamentos tais como
descarga ilegal de lixo atmico, poluio da atmosfera, imbrglios nanceiros
na bolsa de valores e nos sistemas de informao. So delitos assim chamados
dos colarinhos brancos. So mais dicilmente sancionados e punidos. Tm
mais facilidade de acesso aos meios protetores como dinheiro, privacidade, se-
gredos, vantagens nas defesas penais. Alm do mais, os crimes cometidos pelos
cidados de colarinhos brancos so freqentemente cometidos em ambientes
19 CALIMAN, 1998, p. 216-218.
158
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
protegidos e privativos, como nas suas manses e nos clubes reservados e quase
nunca nas vias pblicas. Eles so punidos pela justia administrativa, mais que
pela justia criminal. Os desvios e delitos cometidos na rua, por sua vez, so
mais caractersticos da populao pobre: no pagar os meios de transporte, a
aquisio de objetos piratas ou contrabandeados, o furto em supermercados,
assaltos, prostituio etc. A condio de pobreza, seja no seu conceito de po-
breza absoluta que relativa, pode provocar nas pessoas a vontade de encontrar
meios ilcitos para chegar aos objetivos no facilmente encontrveis pelos
meios legais e normais. Os pobres so mais desafortunados na relao com a
justia: tm mais probabilidade de serem rotulados tanto por comportamentos
desviantes no mbito sociossanitrio ou mdico, quanto no mbito criminal
ou delinqencial. So mais controlados pelos policiais de rua que pela po-
lcia federal, pelos policiais civis que pelos escritrios de investigao. Alguns
motivos da rotulao so: as ms condies em que vivem os pobres, que en-
corajam certos comportamentos desviantes; o cdigo normativo criminal que
tende mais a controlar a violao das normas por parte dos pobres, enquanto
o cdigo normativo administrativo tende a controlar mais os ricos; as agncias
do controle social tendem a vigiar mais os pobres que os ricos
20
.
Tudo que armamos acima no quer dizer que necessariamente os pobres so
mais desviantes que os ricos, mas que o desvio e a delinqncia entre a populao
pobre mais vigiada, visvel e, portanto, sancionada
21
.
b) Raa: Tambm as minorias de determinados grupos raciais so vti-
mas do estigma. o caso de crianas negras que, no Brasil, podem ser mais
facilmente identicadas como desviantes e consideradas elas mesmas como
um risco a ser evitado. Outros grupos tnicos e sociais tendem a aumentar o
20 HEITZEG, 1996, p. 34. A referncia feita pelo autor diz respeito s pesquisas de R. Quinney,
Coleman e Reiman.
21 CALIMAN, 1997, p. 9-10.
159
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
nvel de guarda do controle social e pessoal, como os ciganos, os migrantes,
os meninos de rua, os mendigos de semforo. Em alguns casos parece no ser
tanto o componente racial que chama mais a ateno, mas sim a pertena a
alguma subcultura considerada desviante, como a dos rappers, skinheads etc. Parece
no ser tanto o componente racial a comportar uma tendncia desviante, mas
sim a pertena a certas minorias socialmente em desvantagem que criam mais
probabilidade de serem considerados suspeitos, de serem presos, de sofrerem
processo de rotulao social.
c) Gnero: Determinados comportamentos prevalecem entre os sujeitos
do sexo masculino: aes violentas, delitos contra o patrimnio, formao de
quadrilha, desordens psquicas. Outros esto ligados mais ao sexo feminino:
prostituio, delitos contra os costumes, furto no comrcio, ansiedade. So
diferenas devidas principalmente a uma socializao diversicada; mais fcil
que o homem tenha uma educao em ambientes marcados pela fora e pela
violncia, enquanto mais provvel que a mulher seja habituada a esconder as
prprias transgresses. Os homens so, em relao s mulheres, submetidos a
normas mais rgidas quanto ao vestir-se (menos escolhas de cor e de estilo). Mas
a grande diferena se manifesta, sobretudo, nas estatsticas de condenao por
transgresses do cdigo normativo formal: a maioria da populao carcerria
pertence ao sexo masculino.
d) Idade: A maior parte das normas na nossa sociedade est muito relacio-
nada idade das pessoas. Basta olhar os esteretipos orientados terceira idade:
velho, gag; e os orientados aos jovens: desenfreados, irresponsveis,
maconheiros, baderneiros...
Realmente os jovens esto no centro dos estudos do desvio social. A ju-
ventude representa uma faixa etria em relao qual as pessoas toleram mais
facilmente os comportamentos transgressivos. Freqentemente o senso comum
diminui e tolera os comportamentos irresponsveis dos jovens. A juventude
160
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
, porm, uma idade de risco de assuno de uma identidade desviante, visto
que os jovens se encontram, por um lado, em uma fase muito instvel e, ao
mesmo tempo, de importantes passos em direo a uma formao da identidade
e da personalidade. Por outro lado, as estatsticas do consumo de droga nas
discotecas demonstram como esse um comportamento que acontece muito
mais entre os jovens e quase nada entre as pessoas adultas e menos ainda entre
as pessoas da terceira idade.
12. SOCIALIZAO E AUTOCONCEITO
Se, por um lado, as variveis estruturais como o status social, a pertena
cultural, o sexo e a idade podem explicar certas condies e ocasies para o
desvio, certamente no podem explicar o comportamento dos sujeitos que
livremente escolhem desviar. Esta ltima pertence a um mbito de anlise que
podemos chamar de cultural, pois as explicaes no so encontrveis fora dos
sujeitos, mas dentro deles. Muitas pessoas desviam intencionalmente, ou seja,
porque podem e querem faz-lo. E a psicologia social que melhor consegue
explicar este aspecto, muito ligado predisposio e liberdade pessoal. Para
explicar os componentes culturais levamos em considerao duas variveis: a
socializao e a formao do autoconceito.
a) A socializao: Por socializao, tout court, entendemos o processo atra-
vs do qual as normas, os valores e os conhecimentos de uma sociedade so
transmitidos aos seus novos membros
22
. pela socializao que as normas so
interiorizadas, os comportamentos so aprendidos e as atitudes de conformidade
consolidadas. Grande parte das respostas pergunta quem se torna desviante
consegue ser encontrada na falta de socializao ou na socializao de atitudes,
valores, normas e crenas dentro de uma subcultura alternativa.
22 HEITZEG, 1996, op. cit., p. 38.
161
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
A conformidade e o consenso so os principais resultados da interiorizao
da norma. Hirschi se pergunta sobre o que signica dizer que uma pessoa
internalizou as normas da sociedade? Ele mesmo responde que tais normas
da sociedade so, por denio, compartilhadas pelos seus membros. Vio-
lar a norma , portanto, agir contrariamente aos desejos e expectativas dos
outros
23
. Este reforo da conformidade, como arma T. Hirschi, provm da
vinculao que a pessoa tem s pessoas e s instituies e constitui a principal
garantia contra o desvio e a delinqncia: vnculo com os pais, com a escola,
o consenso com as normas, o envolvimento em atividades convencionais e o
consenso com os valores compartilhados com a sociedade. A falta de vnculos
tem correlao direta com a ocorrncia de transgresses, desvios e atos de-
linqenciais. Sem a sustentao da conformidade, a porta ca aberta para a
ocorrncia de desvios.
Outros desviam no pelas razes acima descritas, ou seja, pela falta de
vinculao s pessoas e aos valores, mas porque foram socializados dentro de
culturas desviantes que sustentam o desvio: o grupo de coetneos, as gangues,
os territrios problemticos e socialmente desorganizados. J em 1955, Cohen
assinalava como
na linguagem da sociologia contempornea, diz-se que a delinqncia juvenil
uma subcultura. O conceito de cultura parece familiar demais para um leigo moderno.
Ele se refere a conhecimentos, crenas, valores, cdigos, gostos e preconceitos que
so tradicionais em grupos sociais e que so adquiridos atravs da participao em
tais grupos
24
.
A socializao alternativa inclui, com freqncia, no somente a aprendi-
zagem de normas, mas tambm de valores, de estilos de vida, de atitudes e de
tcnicas alternativas e/ou desviantes. E tudo se refora por meio das crenas
23 HIRSCHI, 2005, p. 18-19.
24 COHEN, 1955, p. 12.
162
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
que se aprendem e se vem ao nosso redor: se os tracantes ganham um monte
de dinheiro no devem ser assim to maus; se todos fumam maconha,
certamente isso no ser algo errado; se tantas pessoas detentoras de cargos
pblicos roubam, porque esse um comportamento normal no ramo.
por meio do processo de socializao que o desvio aprendido como
opo de vantagem e via preferencial revelia da conformidade.
b) O autoconceito: A adoo de subculturas (valores, estilos de vida, ati-
tudes, tcnicas) contribui tambm para a formao de uma identidade: ser
membro de certos grupos contribui para solidicar uma identidade desviante
25
.
O conceito de si se relaciona a um conhecimento pessoal de si, formao da
identidade e avaliao de si. claramente uma das variveis que distingue
o desviante e o no desviante: o primeiro tem freqentemente conscincia da
diversidade dos comportamentos, das opes que fez e da carreira que escolheu.
a conscincia de agir e, muitas vezes, de estar por fora da normalidade
(outsider). E aqueles que se sentem subjetivamente outsiders com maior probabi-
lidade se tornam efetivamente outsiders.
O fato de sentir-se um outsider depende mais do processo de rotulao. O
primeiro encontro com a justia pode ser um fator condicionante na assuno
de um autoconceito desviante ou delinqencial. O jovem que preso pela
primeira vez porque roubou um objeto no supermercado freqentemente
etiquetado em primeira instncia pelo policial como delinqente, desviante,
marginal ou coisa parecida. A avaliao dos outros sobre o comportamento
desse jovem pode integrar-se sua identidade a partir do momento em que ele,
subjetivamente, passa a assumir a etiqueta e o status que lhe foram atribudos.
Tanto Cohen (de tendncia funcionalista), Matza e Becker (construtivis-
tas) acentuam o grupo como uma base no qual os indivduos compartilham
25 BECKER, 1963, op. cit., p. 38; CENTURIO, 2003, p. 149.
163
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
os mesmos sentimentos de mal-estar social e de anidade, fatores que lhes
do coragem para a transgresso. O grupo representa, sobretudo para os pr-
adolescentes, adolescentes e jovens, um grande fator de impulso tanto para a
conformidade social (adeso ao consenso social) quanto para a transgresso
ou desvio social. Dada essa importncia do grupo, aprofundamos seu signi-
cado no prximo item.
13. COESO DE GRUPO E DESVIO SOCIAL
Podemos armar, com R. Merton (1957), que existe um grupo quando este
se compe de um certo nmero de pessoas em recproca interao, de maneira
tal que aqueles que o constituem percebam-se e sejam tambm percebidos pelos
outros como membros do mesmo.
Considerando o perodo adolescencial e juvenil, o desvio comportamental
acontece quase sempre em companhia dos outros ou do grupo de coetneos.
Pode-se dizer que, tendo o consenso do grupo, o adolescente se sente mais
motivado a cometer transgresses.
O grupo pode encorajar e sustentar o membro, quer em direo a um confor-
mismo quer em direo transgresso. A tendncia a ser conformista ou desviante
depende da coeso de grupo, ou seja, das opinies, das atitudes e dos valores que
so compartilhados pelos membros do grupo, e tambm da intensidade com a
qual os membros acreditam em tais valores.
Veremos a seguir: a) o grupo como modelo a ser seguido (grupo de per-
tena e grupo de referncia); b) a inuncia recproca entre os membros de um
grupo; c) a presso sofrida pelos membros para conformarem-se s regras de
um grupo (tendncia uniformidade); d) a tendncia dos sujeitos desviantes a
se juntarem entre si (aliao); e) e, por ltimo, a diferenciao entre relaes
de companheirismo e relaes de amizade.
164
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
13.1. Grupo como modelo a ser seguido
Podemos distinguir dois tipos de grupo e, para ilustrar, apresentamos a
anlise de um exemplo:
Joo um estudante brasileiro. Est na Itlia para fazer os seus estudos
universitrios de cultura artstica. A sua grande aspirao a de se tornar,
no Brasil, professor de cultura artstica. Podemos dizer que atualmente ele
pertence a um grupo que pode ser identicado como dos estudantes univer-
sitrios. Realmente ele conseguiu desenvolver muitas amizades no ambiente
acadmico, tanto entre colegas quanto entre os professores. Mas para o seu
futuro, ele tem sempre presente o seu pas de origem. Dever retornar ao Brasil
logo que terminar os estudos. Ele faz questo de cultivar os valores do seu
povo, seguir o esporte, as notcias e a msica do Brasil e, mesmo estando no
exterior, quer se tornar um tpico jovem brasileiro. Mesmo pertencendo ao
grupo dos estudantes universitrios, ele aspira ser um competente professor
universitrio no Brasil.
Joo tem como grupo de pertena o grupo dos estudantes universitrios
brasileiros que estudam no exterior. O grupo de referncia, porm, ele o
encontra na sua cultura, a cultura brasileira. Tende a seguir especialmente o
modelo oferecido pelo grupo dos professores universitrios e a assumir de-
terminados valores e atitudes que o ajudaro a integrar-se mais facilmente ao
grupo universitrio.
Portanto, por grupo de pertena entendemos o grupo ao qual a pessoa
pertence como membro. E na maioria dos casos ele funciona tambm como
grupo de referncia. Por grupo de referncia entendemos aquele que fornece
ao indivduo um set de valores e dene quais as normas ele deve seguir se quiser
pertencer ao referido grupo. O indivduo procura ser aceito, regula as prprias
atitudes com base naquilo que ele percebe como sendo um consenso entre os
membros do grupo.
165
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
Os adolescentes e os jovens tendem a associarem-se entre os coetneos.
Alguns tipos de associao so largamente conhecidas: associaes esportivas,
grupos de escola, grupos de formao, grupos polticos...
Existem agregaes informais: os grupos que se formam em uma praa,
num bar, num iperama ... Existem tambm grupos problemticos como,
por exemplo, uma gangue, um grupo de skinheads, de torcedores violentos, de
naziskins etc.
A pertena a um grupo, de qualquer tipo que ele seja, tende a inuenciar o estilo
de vida, os valores, as atitudes e as opinies de seus membros.
13.2. As inuncias do grupo
A sociedade em geral tem pouca inuncia na mudana de nosso modo de
pensar e nas nossas atitudes. De fato, os valores culturais que compartilhamos
com os outros membros da sociedade, antes que cheguem a ser coisa nossa,
que sejam interiorizados por ns, passam prioritariamente atravs de um ltro:
o ltro da famlia, do grupo de amigos, e das pessoas que nos so caras e nas
quais acreditamos. As pessoas (familiares e amigos) que interagem conosco so
mediadores das normas e dos valores da sociedade qual pertencemos.
E essa inuncia se d especialmente na interao entre uma pessoa e ou-
tra, ou entre uma pessoa e os membros de um grupo. Na interao, o sujeito
confronta as prprias atitudes, opinies e comportamentos, com as atitudes,
opinies e comportamentos dos outros; e percebe a reao dos outros e redi-
mensiona as prprias opinies.
166
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
13.3. A presso para a uniformidade
Em todos os grupos sociais vericam-se presses uniformidade das
opinies e das atitudes. Segundo uma pesquisa
26
dos anos 90, o tempo livre
vivido pelos adolescentes italianos sinnimo de liberdade, de espao para os
interesses pessoais. Nas amostras, 44,3% dos jovens representados declaram
que durante o tempo livre se ocupam dos interesses que tm no momento;
23,9% armam que para ele o tempo livre consiste em fazer aquilo que me
passa pela cabea. Mas tambm dentro deste contexto que 26,9% armam
que no conseguem dizer no aos compromissos com outros: um modo
de reconhecer o peso do condicionamento externo na organizao do prprio
tempo livre.
Mas, de que maneira acontece essa presso? Encontramos fundamental-
mente trs resultados da presso recproca entre os membros de um grupo:
a) a conformidade: quando o membro do grupo procura aceitar e se
conformar do melhor modo possvel norma dominante; ele aceita
os valores, as atitudes, os modos de se comportar que so comparti-
lhados pela maioria dos membros do grupo. E faz isso por diversos
motivos: porque quer ser aceito pelos outros, ou porque tem medo
de ser reprovado pelos colegas.
b) a inovao: se d quando uma minoria, por meio da prpria consistncia
(resoluo e perseverana), quer mudar os valores, os comportamentos
e as atitudes que so compartilhados pela maioria, e substitui-las por
outros. Os membros so constantemente convidados a aderir ao novo
modelo de comportamento.
26 TONOLO; DE PIERI, 1995.
167
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
c) a normalizao: em situaes em que no existem ainda normas
precedentes que regulem os comportamentos, os sujeitos tendem a
colocar-se de acordo sobre uma norma comum.
E tal presso tanto mais forte: 1) quanto mais coeso existe entre os
membros do grupo; 2) quanto mais um membro do grupo se comporta de
maneira diferente dos outros.
13.4. A aliao ao grupo desviante
Os indivduos desviantes, temendo ser perseguidos ou maltratados pelos
outros por causa da prpria diversidade, procuram evitar os contatos com os
membros no desviantes do grupo e da sociedade. Para fugir ao confronto ou
ao conito, preferem se aliar a outros indivduos desviantes.
13.5. A relao de amizade
Quando falamos de um grupo nos referimos, em geral, ao grupo social
de pertena, que pode ser uma classe prossional, a famlia, a turma, o grupo
de amigos etc. Entre eles este ltimo assume uma importncia especial para o
perodo adolescencial.
O grupo de coetneos responde s necessidades tpicas da fase de transio,
entre infncia e a construo de uma identidade adulta. O grupo de coetneos
ajuda a construir a ponte entre a vida infantil vivida dentro da famlia e a
vida social requisitada pela vida adulta. Requer, portanto, o abandono dos
costumes infantis e a progressiva assuno de capacidades de autonomias
adultas. nele que se desenvolvem particulares relaes de amizade.
As relaes de grupo e de amizade so diferentes uma da outra. As relaes
dentro de um grupo so muito mais de companheirismo e no requerem neces-
sariamente um vnculo afetivo. As relaes de amizade, por sua vez, baseiam-se
168
Capitulo 4 Conceitos de desvio e delinqncia
sobre o vnculo de afetividade. Dentro do grupo de pertena, a amizade tem
uma funo especial. Por meio da freqncia a amizades, os jovens denem a
prpria individualidade, e tornam-se sempre mais conscientes de si, aprendem
a avaliar o impacto positivo ou negativo do ambiente sobre a prpria perso-
nalidade, alimentam atitudes e comportamentos, tornam-se mais proativos
em relao aos outros, vericam as prprias aspiraes e projetos pessoais e
assumem valores.
169
1. TIPOLOGIAS
F
ornecemos nas pginas que se seguem algumas classicaes e distines
referentes a diversos tipos de desvio. Outras tipologias sero analisadas
no contexto das teorias interpretativas do desvio. Aqui nos limitamos
a apresentar algumas tipologias particularmente teis e conhecidas, sem pre-
tenses de exaustividade, dada a complexidade do fenmeno.
1.1. Segundo o comportamento: no-conformista/aberrante
Uma distino foi avanada por R.K. Merton
1
(MERTON e NISBET,
1962, 808-811) que fala de comportamentos no-conformistas e compor-
tamentos aberrantes, sem entrar em ulteriores subdivises. Em sntese, os
comportamentos no-conformistas e aberrantes podem ser descritos por
contraposio, como segue:
Captulo 5
Tipologias, Funes e
Disfunes do Desvio
1 MERTON; NISBET, 1966.
170
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
Visibilidade do comportamento: mxima no no-conformista que procura
comunicar ao ambiente social os motivos do seu dissenso, mediante protestos,
manifestaes, publicaes etc. Mnima no aberrante que age na clandesti-
nidade, evitando ao mximo o confronto com os detentores do poder e do
controle social.
Legitimidade das normas: contestada pelo no-conformista, aceita de
modo bastante passivo e acrtico pelo aberrante, o qual viola as normas tanto
quanto o no-conformista, com a diferena que o faz por motivos utilitrios
e no por um ideal.
Reformismo: mximo no no-conformista, que tende, explicitamente, a
projetos alternativos e a aes revolucionrias, e mnimo nos aberrantes, que
perseguem prioritariamente objetivos pessoais, utilitrios e conservadores.
Interesses: de tipo social, coletivo, amplamente humanista e revolucionrio
no caso do no-conformista; de tipo banal, individual, egocntrico no aberrante.
Em sntese, podemos considerar como no-conformistas os comportamentos
que exprimem um projeto de mudana social como as rebelies, os dissensos
ideolgicos, a desobedincia civil etc., enquanto os comportamentos aberrantes
so aqueles caracterizados por atividades criminais ou ilegais sem perspectivas
sociopolticas.
1.2. Segundo o desvio positivo ou negativo
Fichter
2
fala, por sua vez, de desvio positivo e negativo. A distino se fun-
damenta sobre a diferente funo dos modelos ideais e reais de comportamento.
O desvio positivo uma tentativa de aproximao com os modelos ideais dentro
da normalidade estatstica: neste sentido, podemos considerar desviantes posi-
2 FICHTER, 1961, op. cit.
171
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
tivos os santos, os reformadores, os radicais, os heris, os entusiastas. O desvio
negativo compreende, ao invs, os comportamentos que se colocam abaixo das
expectativas de papel (ou contra elas, em outra direo). Exemplos de desvio
negativo so a ampla gama de comportamentos criminais, ilegais etc.
1.3. Segundo a atividade e a passividade
Talcott Parsons
3
havia j, em 1951, contribudo para que as classicaes
dicotmicas se tornassem mais analticas, inserindo um critrio triplo de dis-
tribuio dos comportamentos conformes & desviantes (Cf. Fig. 1):
Fig.1 - Tipologia de Parsons segundo variveis de atividade & passividade, conformismo & alienao.
3 PARSONS, 1951a; PARSONS, 1951b; PARSONS, 1955.
172
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
O primeiro critrio o da atividade-passividade que distingue os compor-
tamentos segundo a prevalncia de um comportamento orientado iniciativa
ou anuncia. O segundo critrio o do conformismo-alienao que sublinha
a direo conservadora-inovadora do comportamento. O terceiro se refere
dicotomia entre objeto social & norma e signica o alvo em direo ao qual
os comportamentos se orientam. A combinao dos trs critrios d lugar a
doze tipos de conduta, das quais seis so de orientao conformista: orientao
compulsiva para uma performance, anuncia compulsiva dominncia do objeto,
reforo compulsivo das normas, submisso ao objeto, observncia perfeccionista
das normas; e seis de orientao alienante: rebelio, agressividade em direo aos
objetos sociais, incorrigibilidade, retirada, independncia recorrente e evaso.
A tipologia parsoniana apresenta-se, de certa forma, rica em contedo e no
somente de forma. E entra no mrito, embora timidamente, de modalidades de
desvio que outros autores aprofundaro de modo mais analtico
4
.
1.4. Segundo o critrio do conformismo e no-conformismo
Uma distino anloga de Fichter, porm mais analtica e mais descritiva,
a tipologia de R. Cavan
5
que coloca sob uma distribuio normal (curva
de Gauss) as seguintes categorias:
- Contracultura criminosa: trata-se de uma forma de desvio organizada
e radical, que persegue agressivamente um projeto revolucionrio e
que, geralmente, apia-se sob um grupo bem identicado.
- No-conformismo extremo: compreende o desvio sistemtico, acom-
panhado por uma forte ambivalncia em confronto com os valores
fundamentais do sistema social.
4 Por ex. Merton com a sua teoria da anomia, que prev os tipos: inovadores, ritualistas, renunciatrios
e rebeldes (MERTON, 1977, op. cit.).
5 CAVAN, 1962.
173
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
- No-conformismo moderado: implica a presena de desvios ocasionais
que, porm, no atrapalham um consenso substancial sobre os valores
do sistema.
- Conformismo mdio: a forma de adaptao mais difusa, que se
encontra na maioria mais consistente da distribuio.
- Superconformismo moderado: apresenta uma consistente atividade
dos sujeitos no sentido da observncia rgida das normas e hbitos
sociais.
- Superconformismo extremo: engloba formas j ritualizadas de compor-
tamento e acentua o carter patolgico na observncia das normas.
- Superconformismo contracultural: compreende os comportamentos
superestruturados de fanticos, reformadores, idealistas, radicais, em
certo sentido isolados dentro de grupos sub e contraculturais, fechados
dentro de uma lgica de extremismo.
A tipologia de R. Cavan funda-se sobre uma premissa estatstica e permite
quanticar os diversos tipos, mesmo que isso valha somente para grandes
nmeros.
1.5. Segundo a natureza do desvio
Dinitz e colaboradores
6
seguem uma linha parsoniana, assumindo o critrio
da natureza da ordem normativa violada e da natureza do desvio, como
mostra a seguinte tabela:
6 DINITZ; DYNES; CLARKE, 1969, p. 12.
174
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
Sem dvida que a tipologia de Dinitz se qualica pela sua maior completeza
e solidez. Ela recorda um quadro de teorias e concepes do desvio que se
desenvolveram na reexo sociolgica.
1.6. Uma tipologia integrativa
Heckert e Heckert
7
constroem uma tipologia do desvio que pretende ser
integrativa de ao menos duas perspectivas ao estudo do desvio: a aproximao
normativa e a reativa ao desvio. Para a perspectiva normativa ao desvio a nor-
ma social encontra-se no centro da avaliao da existncia ou da gravidade do
desvio manifesto em um comportamento ou qualidade da pessoa. As pessoas
so avaliadas segundo o nvel de conformidade em relao s normas sociais:
a) baixa conformidade, inconformismo e b) superconformismo. Para a apro-
ximao reativa a reao social a um comportamento ou qualidade da pessoa
que denem em primeira instncia se existe ou no um desvio. Tal reao, na
percepo das pessoas, tende a ser avaliada como: c) positiva ou d) negativa.
Do cruzamento dessas quatro variveis (a, b, c e d) resultam quatro tipologias
do desvio (Cf. Quadro 1):
7 HECKERT; HECKERT, 2002, p. 449-479.
175
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
1. Desvio negativo: fruto do cruzamento entre as variveis: avaliao negativa
(varivel d) e inconformismo (varivel a). O desvio constitudo por uma baixa
conformidade (ou falta de conformidade) s normas e tende a produzir uma
avaliao negativa ou poderia produzir avaliaes negativas se detectado. um
tipo de comportamento ou condio que a maioria de um determinado grupo
considera inaceitvel e que evoca uma resposta coletiva negativa. Um exemplo
pode ser representado pela avaliao negativa que a maioria das pessoas fazem da
condio dos toxicodependentes e dos tracantes de droga.
2. Desvio por excesso de zelo: denominado pelos autores como rate-busting:
o exagero do cruzamento entre as variveis: avaliao negativa (varivel d) e su-
perconformismo (varivel b) resulta no tipo de comportamento exagerado, que
acaba por ser negativamente avaliado pelas pessoas. Refere-se a comportamentos
e qualidades da pessoa que ultrapassam, extrapolam as normas, por razes de
superconformidade e evocam uma resposta coletiva de tipo negativo. Exemplo
de superao das expectativas que provocam reao negativa: estudantes de tipo
caxias; fundamentalismos religiosos, o comportamento ritualista etc.
3. Desvio que causa admirao: nasce do cenrio no qual comportamentos
ou qualidades de pessoas no-conformes (varivel a) so avaliados positiva-
mente (varivel c). Ou seja, dizem respeito a comportamentos ou condies
que a maioria de um grupo social considera inaceitvel e que acaba evocando
uma resposta de tipo positivo e simpatizante dentro do tal grupo. Exemplos
deste tipo de desvio esto representados por Lampio e Maria Bonita, Che
Guevara, Al Capone, Robin Hood, bad boys, certos tipos de hacker, rebeldes e
revolucionrios.
4. Desvio positivo: nasce da interseco entre as variveis: avaliao positiva
(varivel c) e superconformismo (varivel b). Sugere a avaliao positiva de
comportamentos ou qualidades superconformes das pessoas. Mais precisa-
mente refere-se a qualquer tipo de comportamento ou condio que excede
176
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
os padres e evoca respostas coletivas de tipo positivo. So condies em que
atividades so exercitadas com notas de herosmo, de resilincia, de altrusmo.
Exemplos podem ser representados por Madre Teresa de Calcut, Martin
Luther King, Gandhi.
Quadro 1- Uma tipologia integrativa
2. FUNES E DISFUNES DO DESVIO
O interesse pelos aspectos funcionais e disfuncionais do desvio social anti-
go, mesmo porque um lo consistente de estudos sobre o argumento nutriu-se
(de Durkheim a Merton e colaboradores)
8
, das premissas funcionalistas. Mas
o problema assume hoje dimenses novas, no momento em que se superou uma
concepo patolgica do desvio, que via nele prevalentemente e somente os
aspectos disfuncionais, destrutivos e desagregantes. Hoje procuramos distinguir
os efeitos funcionais dos disfuncionais.
8 DURKHEIM, 1969; WEBER, 1976.
177
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
2.1. Aspectos funcionais do desvio
Vimos nas pginas anteriores como o desvio social nem sempre um
fenmeno avaliado como negativo. Ele tem funes precisas na sociedade. Sem
algum que pensa diferente, que se comporta diferente, que assume valores
diferentes, a sociedade no se transformaria no tempo. Em sntese, podemos
armar que o desvio opera em sentido positivo ao menos de duas maneiras:
favorecendo, reforando e estimulando a inovao da estrutura social e do
quadro cultural.
A funo de reforo da estrutura social tinha sido j colocada em evidncia
pelo prprio Durkheim que notou efeitos positivos nos grupos dentro dos quais
se vericavam problemas de desvio. De maneira mais articulada, podemos dizer
que cada caso de desvio provoca uma pronta, mesmo que transitria, coeso do
grupo. Este levado, por contraste, a intensicar a comunicao interna para
redenir os seus objetivos, reexaminar a extenso, a validade e os processos de
legitimao das normas, redistribuir os papis, aprofundar os sentimentos de
pertena e os processos de identicao. Assim se exprime Durkheim sobre a
normalidade do desvio:
Imaginemos uma sociedade composta somente por santos... os crimes como
tal seriam desconhecidos nessa sociedade; por outro lado, comportamentos que
poderiam parecer veniais para um leigo deveriam criar o mesmo escndalo de
uma ofensa ordinria. Se, portanto, tal sociedade tivesse o poder de julgar e de
punir, deniria tais aes (veniais) como criminosas e as trataria como tal
9
.
A funo positiva do desvio , porm, proporcional capacidade de tolern-
cia do grupo e do sistema social. Em caso de intolerncia ao desvio, os aspectos
positivos so neutralizados pela necessidade de concentrar a ateno sobre
formas mais punitivas de controle social e perde-se a capacidade de percepo
9 DURKHEIM, 1964, p. 68-69.
178
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
da existncia de elementos estimulantes no desvio. Em geral, a reao diante
do desvio social tem uma motivao conservadora. Prevalece a necessidade de
sobrevivncia, o instinto de defesa, a necessidade de segurana que, com o passar
do tempo, pode provocar o grupo ou o sistema a dar passos para trs. Ou, em
casos em que o comportamento transgressivo persiste em ameaar o prprio
sistema social, prevalecem reaes repressivas radicais. Vericam-se casos de
dissenso (religioso, poltico, tico etc.) frente aos quais os conformistas
se comportam segundo modelos extremamente variveis. Entre tais modelos:
a utilizao, em vantagem prpria, dos elementos inovadores elaborados pelo
dissenso, a neutralizao dos elementos desagregantes, a adoo de medidas
paternalistas.
A funo inovadora do desvio representa um sintoma expressivo que coloca
em evidncia a necessidade de mudanas que nasce dentro de determinada
unidade social. Como arma adequadamente Winslow
10
, o desvio provoca a
emergncia dos valores que ainda no existem ou aqueles que no existem
mais.
Pode-se dizer que o desvio em grande parte utilizado, mesmo que len-
tamente, pelo sistema social, para ativar o processo de mudanas: nenhuma
mudana possvel se no se rompe, de alguma maneira, com as normas estabe-
lecidas. Como anota Merton: O rebelde, o revolucionrio, o no-conformista,
o individualista, o hertico e o renegado de um tempo so, muitas vezes, os
heris culturais de hoje
11
.
O desvio exprime a necessidade de mudanas pelo simples fato de existir:
mas encontra a sua plena eccia de fator de mudanas somente quando se
impe ao sujeito, ao grupo, sociedade global. Paradoxalmente o desvio obtm
o seu mximo resultado quando se transforma em comportamento normal,
10 WINSLOW, 1970, op. cit., p. 121-122.
11 MERTON; NISBET, 1966, op. cit., p. 183.
179
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
ou seja, quando passa de modelo minoritrio a modelo majoritrio. A
partir da ele cessa, mesmo que gradualmente, de ser fator de mudanas e se
torna o novo ponto de referncia normativo para a conduta.
O fato de que o desvio represente em certos contextos fator importante
de reforo e de inovao dos grupos e dos sistemas sociais explica, em parte, o
porqu de uma atitude muito exvel e diferenciada que os sistemas assumem em
relao ao desvio. s vezes assumem atitudes punitivas e repressivas em relao
a formas de desvio que parecem ser (ou so avaliadas como) perigosas para a
sobrevivncia ou a expanso do sistema social. Outras vezes os sistemas sociais
so permissivos ou cmplices de formas de desvio que parecem contribuir para
a estabilizao e a renovao de si mesmos. Em outras palavras, pode-se dizer
que todos os sistemas sociais tm necessidade de ao menos algumas formas de
desvio controlvel e controlado, que possam oferecer certas vantagens positivas
coletividade: servir como bode expiatrio, como alvo substituto, como
vlvula de escape. Os bolses de desvio e de transgresso so explorados pelo
sistema social para isolar, encapsular as minorias rebeldes, os irrecuperveis, os
desbeis, os improdutivos etc., desde que estes no se transformem em ameaa,
o que representaria perigo para o conjunto dos assim autodenveis normais.
Isso explica tambm por que a coletividade tende a esforar-se por reduzir os
bolses de misria e de marginalidade; esforo que se revela, muitas vezes,
escasso ou nulo, no obstante as repetidas declaraes de boa inteno dos
polticos e lderes sociais em mudar a situao. Na verdade, a sociedade tem
necessidade de um certo nvel de desvio. E, portanto, o produz, o permite e
o refora.
180
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
2.2. Aspectos disfuncionais do desvio
bem mais natural na literatura cientca a proeminncia dos aspectos dis-
funcionais do desvio. Em particular acentuam-se as seguintes problemticas:
1. O desvio social ameaa diretamente o sistema social no seu complexo,
colocando em crise a credibilidade e o valor do quadro normativo e frustrando,
desta maneira, a rede de expectativas de papel que governam o comportamento
recproco dos atores sociais. O efeito desagregador do desvio no sempre
vericvel primeira vista. Muitas vezes ele ca em estado de latncia. Mas no
momento em que ele se revela, descoberto e avaliado na sua real periculosidade,
quase automaticamente se produzem reaes negativas que evidenciam direta ou
indiretamente, a tomada de conscincia dos normais acerca da ameaa que
eles percebem no desvio. O aspecto disfuncional do desvio tanto mais real
e evidente quanto mais este atinge as normas centrais de uma determinada
sociedade, ou seja, os valores que legitimam o sistema e constituem a razo
moral de sua existncia. Menos evidente quando se trata de normas perifricas
ou pouco inuentes.
2. Em nvel de grupo, a existncia de um ou mais desviantes na sua com-
posio, coloca em crise os membros que se conservaram conformes. O desvio
favorece uma srie de desconanas. Desconana nas nalidades para as quais
foi composto. Desconana na expectativa de seus membros em conseguir tais
nalidades mediante meios legais e institucionais previstos e codicados. Des-
conana no conjunto de normas que regulam as relaes sociais do grupo. A
transgresso de um ou de poucos dentro de determinado grupo pode causar
a crise ou a dissoluo mais ou menos rpida do mesmo.
3. Em nvel individual as disfunes do desvio social so aliadas aos efeitos
negativos que ele provoca nos sujeitos. O desviante , em geral, um sujeito
desadaptado, pelo fato mesmo de ser um diverso estigmatizado. O desvio
causa progressiva ruptura com o grupo, conitos recorrentes, problemas de
identicao e de desadaptao.
181
Capitulo 5 Tipologias, funes e disfunes do desvio
Do ponto de vista psicolgico pode-se observar como a insero de um
indivduo dentro de ambientes transgressivos e desviantes provoca sempre um
perodo de transio no sem turbulncias. O desviante queima todos os pontos
de referncia anteriores, com o mundo que lhe dava segurana e tranqilidade,
para orientar-se em direo a um futuro cheio de hostilidade e incerteza. Caso
tpico o de quem se encontra na condio estigmatizada de drogado,
maconheiro, marginal, alcolatra: a condio de estigmatizado alimenta
o processo de marginalizao, provoca a assuno de uma identidade atribuda
pelas pessoas e, em casos mais crnicos e prolongados, tende a afetar a for-
mao de sua personalidade. Basta dizer que a personalidade do desviante,
particularmente se isolado nas instituies totais, condicionada atravs de
uma presso contnua conformidade, o que constrange o sujeito a estgios
de imaturidade, privao dos elementos estimulantes para uma adaptao
satisfatria. O desviante, nesses casos, obrigado a interiorizar uma imagem
de si desvalorizada e patolgica, que lhe impe o comportamento desviante
em si como culpa, como castigo, como marca infamante. Revela-se, assim, um
dos aspectos mais disfuncionais do desvio, e que o conformista consciente e
intencional pode enfrentar e superar de modo bastante positivo, mas que atinge
irreversivelmente a personalidade do desviante inconsciente e despreparado.
183
O
s captulos que se seguem tm como objetivo percorrer o itinerrio
histrico das teorias que explicaram e interpretaram o desvio social.
Muitas delas cumpriram suas funes histricas e caram em desuso:
foram sendo superadas por novas aproximaes, substitudas por outras mais
adequadas ao tempo e ao quadro cultural. Outras teorias, como aquelas de
matriz interacionista (do estigma, da rotulao, com Goffman, Becker) que
contriburam para detonar as instituies totais nos anos 50, tm ainda seu valor
interpretativo. Tambm teorias provenientes da sociologia urbana da Escola
de Chicago, das crticas aos mecanismos do controle social, das aproximaes
fatorialistas. O que vem a seguir constitui-se em uma reviso bibliogrca de
tipo manualstico que no manifesta necessariamente as opinies do autor.
1. OS PARADIGMAS
As cincias naturais compartilham um paradigma singular. Usam um tipo
de aproximao metodologicamente estvel para estudar as relaes entre as
variveis do mundo emprico, com base na relao de causa e efeito. A socio-
Captulo 6
Introduo ao Quadro Terico
184
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
logia, ao contrrio, uma cincia social; e como tal estuda uma realidade no
administrada por leis rgidas como aquelas das cincias naturais. Ela tem sua
disposio uma pluralidade de paradigmas e de perspectivas tericas. De fato, a
sociologia do desvio e da marginalidade dispe historicamente de um nmero
substancial de teorias que, cada uma a seu modo, tentou historicamente explicar
o fenmeno da diversidade comportamental.
As teorias que explicam o desvio variam segundo o paradigma com base
no qual se orientam. O nosso estudo contempla sete paradigmas diferentes, e
so eles: os paradigmas utilitarista, positivista, social, cultural, funcionalista,
interacionista e fatorialista. Tais paradigmas variam segundo o foco da expli-
cao:
- ora focalizam a pessoa do desviante, ora as normas sociais, ora a reao
social ao comportamento desviante;
- variam segundo o tipo de relao que existe entre as variveis (de causa-
efeito, de probabilidade...);
- variam segundo a maior ou menor ponderao dada aos valores na pesquisa.
Na sociologia do desvio, os paradigmas no so estanques entre si. Eles
se originam do anterior e se projetam no posterior. A multiplicidade de pa-
radigmas pode ser observada, por exemplo, no modo diferente de interpretar
o comportamento desviante a partir do positivismo, do funcionalismo ou do
interacionismo.
2. TEORIAS TRADICIONAIS E MODERNAS
Mesmo que no parea produtiva uma distino entre teorias tradicionais
e modernas, a fazemos somente por razes de praticidade, ou seja, para dis-
tinguir as teorias mais recentes (consideradas aqui como modernas), como,
185
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
por exemplo, as de tendncia interacionista, daquelas mais tradicionais, ou
desenvolvidas durante a primeira metade do sculo XX, como, por exemplo,
as teorias orientadas ao estudo dos problemas sociais da Escola de Chicago.
As teorias ditas tradicionais focalizam o desviante do ponto de vista do
controle social e tentam explicar o porqu as pessoas desviam, as condies e
as circunstncias que contribuem para o desvio. As teorias modernas focalizam
o desviante do ponto de vista dele mesmo: como a sociedade reage ao desvio,
como acontece o processo de estigmatizao, como o desviante responde
ao ato de estigmatizao, e quem estigmatizado pela reao social.
As teorias tradicionais, aquelas da primeira metade do sculo XX, utilizadas
sobretudo pela Escola de Chicago para explicar os problemas sociais, tm
de alguma maneira uma origem positivista e uma tendncia funcionalista. Por
um lado, uma inuncia do darwinismo social que leva a interpretar a causa
do comportamento desviante na congurao ambiental urbana, em reas
naturais marcadas pela desorganizao social do territrio. Por outro lado,
e a se revela a tendncia funcionalista do paradigma social, procura a origem
do desvio na disfuno de uma parte do organismo social ou na falta de uma
adequada socializao dentro dos padres normativos consensuais.
O centro da preocupao do paradigma funcionalista est no por que
o desvio acontece, por que o sujeito tende a desviar da norma social. E este
tambm o motivo pelo qual no existe um acordo fcil entre os socilogos sobre
a maneira de interpretar o comportamento desviante. Existem aproximaes
diversas dentro de um mesmo paradigma: enquanto para uns o desvio uma
questo cultural entre socializao e aprendizagem (por exemplo: Sutherland,
Shaw e McKay, Burgess e Akers), para outros ele conseqncia da tenso (strain,
strain theories) produzida por um vazio, uma lacuna entre os ns perseguidos pela
sociedade e os meios disponveis ao sujeito para que ele possa atingir tais ns
186
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
(Merton
1
). Shaw e McKay
2
procuraram as causas do desvio comportamental
na desorganizao social presente nas grandes reas urbanas.
3. TEORIAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS
As teorias podem ser ulteriormente distintas entre objetivas e subjetivas,
segundo o objeto que focalizam
3
.
As teorias objetivas denem o desvio como violao da norma social. O
desvio, neste sentido, um dado objetivo. Isto signica que o pesquisador
pode identicar um ato como desviante por meio do confronto entre o c-
digo normativo (informal, formal ou sanitrio) disponvel em determinada
sociedade e o ato infracional cometido. Estas teorias explicam o desvio como
o resultado de condicionamentos provenientes de fatores estruturais, culturais
e de processos interativos dentro dos quais os indivduos mantm um status
desviante. Um exemplo a denio de Cohen, segundo a qual o desvio o
comportamento que viola as expectativas institucionalizadas, ou seja, aquelas
expectativas que so compartilhadas e reconhecidas como legtimas dentro
de determinado sistema social
4
. Para sustentadores das teorias objetivas o
sistema social que est ao centro da preocupao com a questo do desvio e
da marginalidade. O sistema social deve defender seu cdigo normativo e por
isso tende a considerar as normas que o compem como centrais na denio
do ato desviante e do ator desviante. O cdigo normativo (formal e informal)
que funciona como balizamento para a explicao de comportamentos e de
predicados considerados transgressivos.
1 MERTON, 1959, [Col. 20-B-1207(7)].
2 SHAW; McKAY, 1969, (Coll.6-C-2359).
3 WARD; CARTER; PERRIN, 1994, p. 14-15.
4 COHEN, 1955, op. cit., p. 62.
187
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Uma concepo subjetiva do desvio, por sua vez, o dene como um ato
(real ou imaginrio), que foi identicado como transgressivo pelas pessoas.
Portanto, nesta concepo, o critrio que dene se um ato ou no desviante
no a adequao do ato em relao norma social, mas a reao social ao
mesmo. Becker dene o desvio dentro dessa concepo:
...o desvio no uma qualidade do ato que uma pessoa comete, mas sim
uma conseqncia da aplicao, por parte dos outros, de regras e sanes a
um desviante. O desviante algum para o qual tal etiqueta foi aplicada com
sucesso; o comportamento desviante um comportamento que foi denido
como desviante pelas pessoas
5
.
4. TEORIAS MICRO E MACROSSOCIAIS
Outra distino que pode ser efetuada em relao s teorias interpretativas
do desvio e da marginalidade diz respeito amplitude do nvel de interpretao:
a nvel microssocial ou macrossocial.
Algumas teorias desenvolvem-se dentro de uma aproximao macrosso-
ciolgica ao estudo do desvio. Neste caso, o pesquisador tende a olhar bem
mais para as variveis estruturais (econmicas, sociais) que condicionam o
comportamento das pessoas. o caso das pesquisas feitas por E. Durkheim
6
que procurava as causas do suicdio na condio de anomia das sociedades em
rpida evoluo.
As teorias mais recentes so tendencialmente de carter microssociolgico e
sublinham as variveis psicossociolgicas, a interao social e o comportamento
nos grupos. Erving Goffman
7
, por exemplo, focaliza a sua pesquisa sobre su-
jeitos e sobre grupos de indivduos suscetveis reao social e estigmatizados
pela opinio pblica.
5 BECKER, 1963, op. cit., p. 9.
6 DURKHEIM, 1969.
7 GOFFMAN, 1970.
188
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
As teorias tradicionais concebem uma relao entre as variveis na moda-
lidade causa-efeito. Procuram, por exemplo, explicar que relao causal existe
entre um grupo de variveis independentes x0 (pobreza), x1 (alcoolismo),
x2 (desorganizao social do territrio), x3 (a desagregao familiar), e uma
varivel y dependente (por exemplo: a toxicodependncia). A declarao
conclusiva tende a armar que, por exemplo, a desagregao familiar causa a
toxicodependncia. As teorias mais recentes chegam a concluses menos rgidas,
baseadas na co-varincia e no clculo das probabilidades
8
. Muda o modo de ex-
plicar, agora fundamentado na probabilidade: a desagregao familiar aumenta
a probabilidade e, portanto, um fator de risco para o uso de drogas.
5. OS VALORES
E, por ltimo consideraremos os valores. As teorias de orientao positivista,
por exemplo, tendem a tomar distncia (neutralidade) da questo dos valores.
Eles so considerados como variveis subjetivas que no devem ser misturados
s variveis de ordem objetiva. Estas ltimas podem ser demonstradas, provadas
e analisadas.
Outras teorias tendem a considerar os valores como variveis importantes
para a pesquisa. As teorias de endereo interacionista tm orientao humanista
que considera os valores como parte integrante da pesquisa, uma vez que o
homem sujeito das teorias que cria e no pode desconsiderar a questo dos
valores.
A conseqncia das diversas impostaes a adoo de metodologias
diferentes no mbito da pesquisa: as teorias tradicionais tendem a utilizar
mtodos quantitativos, considerados mais objetivos como a anlise estatstica
fornecida pelo organismos ociais, as surveys e as experimentaes. As teorias
mais recentes, por sua vez, tendem a privilegiar os mtodos qualitativos: a
8 GOODE, 1996, p. 39.
189
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
observao participante, as entrevistas, a anlise de documentos, do contexto
histrico e do presente.
As teorias modernas tendem a privilegiar a relatividade e a subjetividade
do desvio proporcionalmente ao grau de subjetividade e de relatividade do
processo de atribuio de transgressividade a um ato social. O ato desviante,
quando socialmente construdo, relativo e no exatamente substantivo.
Neste sentido, as pesquisas nas teorias modernas so orientadas ao estudo da
reao social e criao e imposio das regras, normas e leis por parte do
controle social (formal, informal e sanitrio); miram uma metodologia que
tende a utilizar instrumentos qualitativos de pesquisa. Vem o desvio como
fenmeno criado pela sociedade e livremente escolhido pelos desviantes. Se
o sujeito livre, ento a relao entre as variveis no pode ser mais consi-
derada de maneira determinista (relao causa-efeito, prprio das cincias
naturais), mas mediante a aplicao de um mtodo probabilista (busca de
correlaes e medio de probabilidades).
Erich Goode
9
oferece uma viso das diversas aproximaes que nos parece
muito til enquanto acentua a distino entre as perspectivas objetivas e pers-
pectivas relativas. Tal distino classica as teorias de tendncia funcionalista
dentro de uma perspectiva subjetiva. O quadro das aproximaes concebido
da seguinte maneira:
9 GOODE, 1996, p. 405.
190
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Tabela 1 - Diversos paradigmas e aproximaes ao desvio social
Idem, p. 37.
191
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Para as aproximaes absolutistas o desvio um dado objetivo: uma ao
negativa no porque viola as normas, as leis de um grupo ou de uma dada
sociedade, mas porque ela , constitucionalmente, objetiva e substantivamente,
negativa. Na aproximao absolutista, quem determina se uma ao desvian-
te ou no so as leis da natureza, as leis da cincia, as leis divinas, as leis do
Estado totalitrio. Um exemplo a concepo do desvio que emerge da teoria
biopsicolgica de Csar Lombroso: a aberrao da natureza, caracterstica dos
sujeitos em vias de involuo, um dado da natureza que identica o sujeito
como delinqente nato; basta que o sujeito seja objetivamente aberrante para
que ele seja automaticamente considerado desviante, na medida em que ele
viola uma lei da natureza.
Um outro exemplo diz respeito relao entre a lei moral e o desvio com-
portamental: em uma perspectiva de f, a lei de Deus fruto da revelao; para
o cristo que tem f, a violao da lei de Deus constitui o pecado. Tambm o
socilogo pode ter f e ser tambm ele um cristo como tantos outros, e julgar
ele tambm tal violao do ponto de vista da f, como um pecado contra a
bondade de Deus; do ponto de vista cientco, porm, o socilogo tende a
estudar no propriamente a violao de uma lei moral (aproximao objeti-
vista), mas a presena, a inuncia e o consenso que tal lei encontra dentro do
contexto normativo do grupo social ou da sociedade que a professa. Portanto,
a lei moral pode ser estudada pelo sociolgo na perspectiva da sociologia do
desvio no como fato moral, mas quando provoca conseqncias normativas
para o grupo social que a professa. O socilogo no focaliza o estudo da moral,
mas o estudo da norma social ou a reao social aos comportamentos e quali-
dades da pessoa julgados pelo senso comum como desviantes. Na perspectiva
da f, a assuno de drogas pode ser percebida como atentado vida e, por
conseqncia, desperdcio da vida, o que se constitui em ofensa bondade de
Deus. Nesse sentido, a assuno de droga pode ser interpretada e sancionada
192
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
no mbito religioso como pecado. Na perspectiva da cincia social, porm,
focaliza-se a inuncia que tal crena tem sobre o sistema normativo de uma
dada sociedade: a crena, no mbito da f, segundo a qual a assuno de droga
um atentado ao dom da vida (e, portanto, pecado), tende a inuenciar a
cultura, ou o modo como as pessoas percebem as diversas formas de atentado
vida. Tal percepo inuencia o cdigo normativo e tende a reforar as san-
es informais (sistema normativo), formais (sistema legislativo) e as mdicas
(sistema sanitrio) da sociedade em questo. No caso especco do uso de
drogas, o socilogo estuda um fato social construdo pelo consenso em torno
de crenas religiosas.
Segundo uma aproximao subjetivista, o desvio um fenmeno mais
relativo que absoluto, mais construdo que substantivo, mais subjetivo que
objetivo. O desvio no considerado um ato deduzvel como tal das leis naturais
e divinas, ou uma caracterstica intrnseca do ato em si. Um comportamento
considerado desviante porque as pessoas atriburam a ele um carter trans-
gressivo. Aquilo que determina se uma ao desviante ou no a atual ou
potencial condenao que ela receber do senso comum
10
.
Podemos distinguir, com Goode, trs perspectivas dentro da aproximao
subjetivista: uma denominada normativa, outra denominada ligeiramente reativa
e outra fortemente reativa.
A perspectiva normativa considera como transgressivo (desviante) qualquer
ato que viola as normas da sociedade. Quem dene se uma ao transgressiva
no so as leis morais e naturais (aproximao objetivista), mas o socilogo, o
qual observa e estuda a sociedade e determina as aes que, naquela cultura e
naquele contexto especcos seriam considerados transgressivos. Por exemplo:
segundo a perspectiva normativa, se o socilogo chega concluso de que em
10 Ibidem, p. 8.
193
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
uma dada sociedade existem normas que condenam a homossexualidade, ela
considerada uma transgresso independentemente da reao social. Portanto, a
perspectiva normativa considera tambm a existncia da transgresso secreta:
mesmo se uma transgresso no visvel, se ela feita debaixo dos panos, o
sujeito que a comete pode ser considerado desviante porque viola uma norma
social. As teorias da anomia, da aprendizagem, de matriz funcionalista, assu-
mem esta postura normativa. Alguns autores que sustentam esta tendncia so:
Merton, Cohen, Sutherland, Park e Burgess, Shaw e McKay.
A perspectiva reativa por sua vez, tem, segundo Goode, duas graduaes:
uma mais ligeira e uma mais forte. Na perspectiva reativa forte, que preferi-
mos identicar aqui como radical, situam-se as correntes metodolgicas mais
radicais, como a etnometodologia: o desvio comportamental existe quando, e
somente quando, uma ao ou comportamento so tidos, no momento atual,
como dignos de punio e condenao. Sem condenao no existe desvio
11
.
Se uma ao transgressiva fosse vivida em segredo, ela no constituiria um
desvio, pois no provocaria condenao; provocaria condenao somente no
dia em que, por circunstncias as mais diversas, tal ao se tornasse visvel e,
portanto, poderia ser considerada transgresso e sancionada como tal. Um
toxicodependente ser considerado desviante somente a partir do momento
em que for descoberto e, portanto, provocar em relao a ele, as sanes da
reao social que tender a estigmatiz-lo como drogado. Caso contrrio,
tal sujeito continuar a representar um cidado normal. Alguns autores que
sustentam tal perspectiva so: John Kitsuse e Frank Tannenbaum.
11 GOODE, Erich. Deviance, norms, and social reaction, in ID. (Ed.), Social deviance. Boston, Allyn
and Bacon,1996, p. 37-38.
194
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Exemplo de interpretao reativa radical do desvio:
A reao atual, aqui e agora: Jos foi numa festa de famlia. Fumou maconha. As
pessoas reagiram com indignao e desaprovao. Jos foi considerado desviante.
Viso histrica das teorias do desvio:
A perspectiva reativa ligeira que tem as simpatias do autor uma posio
intermediria entre a normativa e a reativa radical; o foco da interpretao
no orientado norma e ao cdigo normativo em si (perspectiva normativa),
nem reao social aqui e agora (perspectiva reativa radical). A normativi-
dade no negada: ela existe e pode ser inferida das experincias de reaes
negativas (sanes por parte do pblico) que aconteceram no passado, que
podem acontecer no presente e que acontecero, provavelmente, no futuro. O
socilogo, porm, focaliza a sua ateno primordialmente sobre a reao social
para depois confront-la com o cdigo normativo. Portanto, essa perspectiva
diferente da perspectiva normativa, na qual o socilogo repara, em primeiro
lugar, se o comportamento ou ao ferem a norma social, para depois observar
as reaes que tais aes, comportamentos ou qualidades da pessoa provocam
na opinio pblica. Como nenhuma norma absoluta, no existem relaes de
causalidade entre as variveis em questo: o que existe, sobretudo, so relaes
de correlao e de probabilidade.
195
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Perodo Antigidade Renascimento 1600
Foco
Interpretao absolu-
tista do desvio social
Interpretao absolu-
tista do desvio social
Interpretao absolu-
tista do desvio social
Conceito
de desvio
O comportamento
desviante explicado
de forma absolutista.
Exemplo: possesso
demonaca remediada
com ritos de exorcismo.
Fenmeno de bruxaria.
Milhares de pessoas,
a maioria mulheres
foram sancionadas
com a pena de morte
(queimadas vivas) sob
acusao de pacto com
o demnio.
Ex.: A colnia de Salem,
no Massachussets: fe-
nmenos de bruxaria:
350 pessoas acusadas e
20 executadas.
Perodo 1700 1800
Foco
As sanes sociais
Desvio como ato livre
O indivduo como criminoso
Patologia individual (o delinqente nato)
Autores Cesar Beccaria (1738
- 1794): Dos delitos e
das penas
Charles Darwin (1859):
On the origin of the species
Csar Lombroso (1876): Luomo criminale
Conceito
de desvio
Teoria do comporta-
mento criminoso e des-
viante: o ato desviante
uma opo livre
e no uma seduo
demonaca. O desvio
uma ao ditada pela
vontade livre, racional,
resultado do clculo
utilitarista entre a
busca de prazer e fuga
da dor. 1910-1940
A causa do desvio procurada na degradao bio-
lgica de alguns elementos da espcie humana.
Para Lombroso, na sua teoria do criminoso nato, o
crime cometido prevalentemente por pessoas em
estado de involuo da espcie.
O desvio uma patologia social. A sociedade
funciona como um organismo vivente. O desvio
e o crime constituem uma doena. A sociedade
destinada a uma contnua evoluo: certos elemen-
tos, porm, descarrilham na estrada da evoluo
no momento que so impossibilitados ou no
predispostos conformao com as normas, valores
e leis da sociedade. A causa vista tambm como
uma falha na socializao. Ao lado das patologias
individuais existem tambm as falhas estruturais
provocadas pelo retardamento evolutivo de algumas
instituies que se movem mais lentamente das
outras em direo ao progresso, provocando um
descompasso social e o retardo cultural.
196
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Perodo 1910-1940 1940 - 1960 1950 - ...
Foco A patologia social
A desorganizao
social do territrio
O ambiente
O controle social
A norma e o cdigo
normativo
A socializao
A aprendizagem e as
subculturas
O indivduo como
foco de um processo
de estigmatizao
A reao social provoca
um processo de estig-
matizao pelo qual
as pessoas se tornam
desviantes.
Teoria e
autores
Teorias ecolgicas
reas naturais: quem
sofre um processo de
involuo no mais o
indivduo, mas os gru-
pos sociais (favelas e
aglomerados urbanisti-
camente e culturalmen-
te desorganizados).
Lynd-Lynd, Trasher,
Park e Burgess, Shaw e
McKay, W.I. Thomas
Anomia: Durkheim,
Merton, Cloward e
Ohlin, Albert Cohen
Aprendizagem:
- George Mead e
Charles Cooley
- E. Sutherland: teoria
das associaes diferen-
ciadas;
- Daniel Glaser: teoria
da identicao dife-
renciada;
- Burgess e Akers:
teoria do reforo dife-
renciado;
D. Matza e Sykes: teo-
ria da neutralizao.
Teorias da estigmatiza-
o e do etiquetamento
(labeling theory): o proces-
so pelo qual o desviante
definido como tal e
controlado pelo grupo
social;
- Frank Tannenbaum:
profecia que se auto-
realiza;
- Edwin Lemert: desvio
primrio e secundrio;
- David Matza: o pro-
cesso do tornar-se des-
viante (becoming deviant)
- Howard Becker: reao
social ao desvio;
- Kay Erikson: teoria
do etiquetamento fun-
cional;
- Teorias do conflito:
Quem etiquetado
como desviante? de
William Chambliss e
Richard Quinney.
197
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
Conceito
de desvio
O desvio social no um problema de patologia
individual, mas social. Em determinados momen-
tos histricos a sociedade muda com rapidez; as
cidades se incham de imigrantes desenraizados de
suas culturas; o resultado a falta de referenciais
normativos e a ausncia de agncias primrias de
controle social (famlia, grupos, etnias, igreja
etc.).
Rpidas mudanas culturais e urbanas tendem a
provocar situaes de desorganizao da comu-
nidade, o que, por sua vez, inuencia compor-
tamentos individuais (desorganizao pessoal)
e aumenta os casos de desvio comportamental.
Casos tpicos: favelas, invases ...
O comportamento desviante aprendido pela
interao com os outros nesses ambientes social-
mente desorganizados.
O desvio visto como o
resultado de um proces-
so de construo social
Os grupos sociais cul-
tural e economicamen-
te dominantes criam o
desvio, no momento em
que impem regras cuja
infrao constitui des-
vio. Aplicam as regras
a determinados grupos
sociais, os controlam e
os estigmatizam como
desviantes.
O desviante algum
para o qual a etiqueta
desviante foi aplicada
com sucesso.
Exemplo caricaturesco de uma interpretao reativa
ligeira do desvio: o processo de estigmatizao.
Jos em geral usa droga quando vai discoteca com amigos. A cultura e as pessoas
tendem no passado e no presente, a sancionar este tipo de comportamento. Jos
visto como desviante.
O socilogo adota, pois, uma aproximao probabilista ao desvio. Estuda
no somente a reao das pessoas aos comportamentos em questo, mas avalia
tambm como as pessoas percebem o transgressor da norma; como tal percepo
inuencia o comportamento do transgressor no futuro; as conseqentes mudanas
provenientes da interao do sujeito com a percepo que ele tem de si mesmo; a
inuncia do processo de estigmatizao sobre a auto-estima e sobre a identidade
do transgressor. A reao social no cria necessariamente o comportamento: ele
198
Capitulo 6 Introduo ao quadro terico
fruto do conjunto, de um processo, do qual o sujeito parte integrante e ator
principal. Alguns autores que sustentam esta perspectiva so: Becker, Erikson,
Matza, Goffman e Lemert.
199
1. PARADIGMA UTILITARISTA
A
s bases tericas das modernas teorias sociolgicas do desvio encontram
suas razes no utilitarismo do sculo XVIII. Os reformadores deram
origem teoria clssica do direito criminal. Mais do que teorias, elas
so um conjunto de recomendaes e polticas orientadas administrao da
justia. Foram particularmente Cesar Beccaria (1738-1794) e Jeremy Bentham
(1748-1833) os reformadores
1
que iniciaram uma srie de crticas ao velho
sistema penal caracterizado pela falta de processos, pela tortura e pelo abuso
da pena capital.
O utilitarismo, que forneceu as bases tericas atuais, arma que o homem
um ser racional dotado de vontade livre e motivado pela necessidade de
maximizar o prazer e minimizar a dor. A lei deve garantir o mximo de felici-
dade e bem-estar ao mximo de pessoas e, portanto, deve reetir a vontade da
maioria. O sistema poltico idealizado para assegurar que os sujeitos no se
Captulo 7
Paradigma Utilitarista:
Delinqncia como Opo Racional
1 BECCARIA, 1950; BENTHAM, 1829.
200
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
movam somente pelo princpio do prazer e, portanto, assegurar a ordem, foi
o socialismo. Em nvel de justia criminal surgiram algumas medidas: maior
importncia dada pena, mais que sua intensidade; a punio como deterrente;
o carter pblico do processo e da punio, ou seja, a punio no pode ser um
ato de vingana de um cidado contra o outro; a aplicao da incapacitao: o
imputado deve ser removido da sociedade, por meio do crcere, para garantir a
proteo da ordem social; e, por ltimo, como um forte deterrente, admite-se
a pena capital para crimes hediondos.
Essa aproximao domina a poltica judiciria criminal no sculo XVII e,
no presente momento histrico, a corrente mais difundida da poltica e da
organizao judiciria criminal
2
.
A necessidade de denir de maneira orgnica o desvio surge pela primeira
vez na segunda metade do sculo XVIII, no mbito dos estudos jurdicos e
loscos suscitados pelo Iluminismo racionalista e empirista. So pensadores
como Hobbes e Locke na Inglaterra, Montesquieu e Rousseau na Frana, que
preparam o clima cultural a partir do qual nasce um consistente ncleo de
elaboraes tericas que constituem uma primeira e esquemtica criminologia.
O interesse pelos problemas do desvio surge mais precisamente no mbito do
igualitarismo, que fora a rever de maneira substancial a prxis e a doutrina
penal do tempo, caracterizada por excessos e por arbtrios de homens e de
instituies, absolutamente contrrios aos ideais iluministas do valor e da
dignidade da pessoa humana, inclusive da pessoa do delinqente. Mas no
estranha, a este renovado interesse pelo desvio, a curiosidade em relao a um
fenmeno aparentemente inexplicvel, dada a concepo iluminista que v na
racionalidade o fundamento da natureza humana como tambm do prprio
sistema social.
2 HEITZEG, 1996, op. cit., p. 76.
201
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
2. BECCARIA E A CRIMINOLOGIA CLSSICA
C. Beccaria
3
, j em 1764 no seu livro Dos delitos e das penas tenta fazer um
primeiro balano orgnico de muitas reexes elaboradas em outras instn-
cias, sobre o signicado do crime e sobre respostas que a sociedade deve dar
infrao da lei. Um pressuposto essencial do livro de Beccaria foi, sem dvida,
a doutrina do contrato social que sublinha a origem e a natureza consensual
da sociedade e, portanto, a sua intrnseca necessidade e racionalidade. Da a
denio de crime (e de desvio em geral) como comportamento essencial-
mente patolgico, visto que irracional, e a concepo da pena como uma justa
resposta do sistema sobre o desviante (desde que mantida dentro dos limites
da proporcionalidade simtrica) e como tentativa de uma sua reconduo
normalidade ou racionalidade. A doutrina de C. Beccaria representa certa-
mente uma teoria do controle social, enquanto fornece, alm da denio de
desvio, tambm uma legitimao das reaes da sociedade contra o desviante,
previstas e especicadas segundo uma exemplicao que pretende responder
a uma instncia da justia. Mas, esta criminologia, mesmo representando um
respeitvel passo frente em relao aos procedimentos anteriores, no consegue
escapar de algumas contradies importantes. O prprio conceito de desvio no
parece claramente justicado. Como pode desviar uma pessoa que denida
em termos de racionalidade? E como pode ser considerado responsvel quem
se distancia da razo sob o impulso da paixo? As perguntas so pertinentes,
mas a criminologia clssica prefere evitar a anlise motivacional e gentica do
desvio para concentrar-se sobre a organizao do controle social. Na realidade,
o desvio poderia ser considerado uma ao irracional somente no caso em que
o sistema, o establishment, pudesse ser considerado racional. Uma justia fundada
sob a perfeita simetria entre desvio e punio poderia ser aplicada somente em
uma sociedade amplamente justa e igualitria.
3 BECCARIA, 1984, op. cit.
202
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
A criminologia clssica aceita piamente a ordem social existente, acredi-
tando que ela seja a melhor possvel somente porque sustentada por um
hipottico consenso da maioria, mas no consegue perceber a importncia
real e categorial das minorias que no concordam com ela e que, por isso,
acabam sendo a fonte do desvio social; acredita na igualdade dos homens,
mas defende e consagra todos os privilgios adquiridos, chegando a acreditar
que para sobreviver, uma sociedade tem o direito de pedir racionalmente a
todos os cidados um consenso moral sobre alguns princpios gerais (particu-
larmente sobre a distribuio da propriedade). Mas, dessas contradies parece
emergir uma denio de desvio exatamente oposta quela da criminologia
clssica iluminista. O desvio perfeitamente racional, justamente porque
uma infrao consciente e um desao para o contrato social ou, ao menos,
a sua irracionalidade no pode ser considerada irresponsvel, uma vez que
fruto de situaes de injustia que tornam de fato impossvel o livre exerccio
da racionalidade e de um consenso de base. As diculdades pelas quais passa
a criminologia clssica acabam revelando a sua fraqueza intrnseca: ela nasce,
de fato, no tanto como uma tentativa cientca de compreenso de situaes
de marginalidade e de desvio, mas como uma cobertura ideolgica do bom
direito da burguesia emergente que quer se defender das assim chamadas
classes perigosas. A criminologia clssica acaba sendo mais uma justicao
das penas que uma justicao dos delitos. No m das contas, descobre-
se que a racionalidade que ela tanto defende no mais que um utilitarismo
instrumental.
A aproximao clssica e neoclssica ao desvio no oferece muitas explicaes
do mesmo. Seus tericos estavam mais preocupados em restituir credibilidade
a um sistema das reaes societrias, segurando-as dentro de uma moldura
de racionalidade. O problema comportamental advindo do desvio e da mar-
ginalidade cai em um intrincado de contradies que a criminologia clssica
203
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
no tem condies de explicar, a comear pela contradio entre o conito
entre as louvveis mas utpicas intenes igualitrias e a realidade como ela se
apresenta de fato, ou seja, desigual e injusta. A concluso que todo o esforo
em legitimar a racionalidade do sistema das penas torna-se intil, visto que
no enfrenta o tema da compreenso e da soluo dos problemas que geram
os delitos, o desvio e a marginalidade.
Apesar das tantas contradies, o paradigma utilitarista, enquanto valoriza
a liberdade do homem em escolher entre o custo e o benefcio de suas aes,
acaba abrindo espaos para a fundamentao de ulteriores teorias, algumas delas
recentes, como a teoria da escolha racional e a teoria da deterrncia.
3. A TEORIA DA OPO RACIONAL
Desde os tempos do nal do paradigma utilitarista, nos nais do sculo
XVIII, nenhuma teoria sociolgica deu muita relevncia ao comportamento
delinqencial e desviante como ao livre e calculada por interesse.
Recentemente, porm, tal ateno foi dada por Cornish e Clarke
4
, que
elaboraram a teoria da opo racional (rational choice perspective). Ela
denominada de opo quando ressalta a capacidade de deciso do sujeito
delinqente; e racional porque dene uma forma estratgica de pensamento,
ou seja, a elaborao das informaes, a avaliao das oportunidades e das
alternativas orientadas deciso.
O delinqente racional (rational offender) um indivduo caracterizado por
uma mentalidade criminal, que calcula a possibilidade de tirar vantagens com
as infraes da lei. A perspectiva da escola racional se contrape tese da cri-
minologia baseada em uma interpretao patolgica do crime, o que pressupe
4 CORNISH; CLARKE, 1986, p. xiv-246.
204
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
uma rgida separao entre normalidade e desvio: as atividades criminosas no
so produzidas por uma mente doentia.
A teoria em questo parte de dois pressupostos. O primeiro diz respeito
ao conceito de desorganizao social: pressupe que as necessidades dos indi-
vduos possam ser satisfeitas com meios ilegais escolhidos sempre que fossem
avaliados quaisquer benefcios superiores ao custo. O segundo pressuposto
relaciona-se com o conceito de controle social. O ator social avalia custos e
benefcios das diferentes aes, legais e ilegais, e opta por aquela considerada
como mais conveniente. Os fatores que o sujeito considera na construo de
sua deciso so: o vnculo afetivo com pessoas e instituies; o comprometi-
mento com linhas de ao convencionais; o envolvimento em atividades no
criminosas; as convices sobre a validade moral das leis. O sujeito tem tanto
mais probabilidade de percorrer uma carreira desviante quanto menor for o seu
vnculo com o mundo dos adultos: pais, educadores, autoridades institucionais
(HIRSCHI, 1969).
A teoria da opo racional sustenta metodologicamente uma posio
favorvel aceitao probabilstica das causas do comportamento desviante.
O fato de que os atos delinqenciais sejam causados por condies, eventos
e condicionamentos precedentes no equivale a pressupor que eles sejam de-
terminados por cada condio ou evento singularmente, mas simplesmente
por uma combinao qualquer de todas as condies e eventos presentes no
momento em que tais atos tenham sido cometidos. Algo como a conjuno
de diversos fatores de risco capazes de condicionar as decises humanas. A
diferena entre a teoria da opo racional e a teoria do controle social (de
Hirschi) que a primeira se concentra nos eventos, enquanto a segunda sobre
o envolvimento dos sujeitos.
A teoria leva em considerao tanto o passado quanto o momento presente
205
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
como condicionantes de uma ao delinqencial. O passado, no entanto, teria
menos importncia que o presente. Em relao ao passado (ou background), a
teoria da opo racional ressalta, entre os fatores que induzem os indivduos a
cometer uma ao criminosa, a progressividade das decises ao longo da car-
reira, que o levam criminalidade, como tambm a importncia dos incentivos
que ele recebe na dinmica do clculo de custos e benefcios frente a uma ao
criminosa. A inuncia do presente mais pertinente que as condicionantes
do passado: os fatores ligados s circunstncias imediatas e situacionais teriam
grande inuncia sobre a ao desviante. No caso de um furto, por exemplo, a
maior parte dos ladres constituda por indivduos que agem com base nas
opes situacionais, ou oportunidades. Assim, reza o ditado: a oportu-
nidade faz o ladro.
Portanto, a teoria da opo racional considera, para cada tipo de delito,
um conjunto de fatores condicionantes (background) como causas existentes na
raiz do crime. So variveis situacionais: a idade, a constituio fsica, o sexo,
a pertena a gangues etc.
Fatores de fundo psicolgico, ambiental e social (envolvimento) tendem
a produzir os valores, as atitudes, os aspectos caracteriais que predispem
transgresso. Tm um peso sobre a deciso de empreender uma ao desviante,
mas o centro da ateno continua sempre o evento, a situao.
4. TEORIA DA DETERRNCIA
A teoria da deterrncia desenvolveu-se a partir da dcada de 1960. Deriva de
teorias do controle social de tipo macrossocial. Seremos breves na sua descrio,
mesmo porque essas so teorias mais prximas criminologia que propriamente
ao desvio comportamental. Os tericos partem da hiptese segundo a qual
a freqncia dos delitos varia em proporo inversa certeza e severidade
206
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
da pena; ressaltam, por conseqncia, o princpio segundo o qual uma das
melhores opes para a preveno de delitos a punio (certa e severa), que
nesse contexto representa um freio ecaz para as aes criminais.
A diferena entre essa teoria e a teoria da opo racional est na importncia
dada por ela severidade da pena. Enquanto para os tericos da teoria da
deterrncia a severidade est num grau de importncia igual certeza da pena,
para Beccaria, fundador da criminologia clssica, o poder de deterrncia de uma
pena no est em conexo direta com o grau de severidade da mesma. De fato,
os tericos da deterrncia sublinham que, em relao a certos tipos de delito,
uma sano mais severa parece conter maior poder deterrente; e, portanto,
quanto maiores forem as penas, menor ser o nmero de delitos.
Figura 1 - Relao entre gravidade, certeza da pena e nmero de delitos
A deterrncia age segundo uma dinmica de tipo coletivo e de tipo individu-
al. De tipo coletivo quando pode representar uma fora dissuasiva generalizada
e preventiva para os indivduos como um todo. O conhecimento da condena-
o de um ru pelo fato de ele ter cometido um determinado delito, tende a
representar um impacto dissuasivo para outros indivduos que, eventualmente,
tivessem inteno de repetir o mesmo erro.
207
Capitulo 7 Paradigma Utilitarista: delinqncia como opo racional
A deterrncia age segundo uma dinmica de tipo individual quando esse
mecanismo dissuasivo especco: o indivduo se abstm de cometer outros
delitos por causa de punies que ele j sofreu precedentemente.
Cusson (1990) agrega ainda, no processo de preveno da criminalidade,
alm da severidade e da certeza, outras variveis intervenientes tais como a
informao, a celeridade e a efetividade. No basta que a pena seja certa.
necessrio que as pessoas sejam informadas sobre tal certeza: da a relevncia
dos meios de comunicao na difuso de casos exemplares de punio. Alm
da informao, necessrio tambm que a pena seja clere, ou seja, rpida; que
seja efetiva, isto , segura, rme e real.
209
1. PARADIGMA POSITIVISTA
E
m relao s doutrinas clssicas da criminologia iluminista, a perspec-
tiva positivista representa certamente um momento de ruptura e uma
proposta alternativa. A acentuao e a ateno so deslocadas sobre
o crime (no mais sobre a pena). Mas no este o aspecto mais signicativo
das novas orientaes de pensamento que emergem j a partir da primeira
metade do sculo XIX. A aproximao positivista do desvio caracteriza-se
bem mais por sua referncia explcita a uma nova epistemologia cientca: o
positivismo como a mais recente manifestao do pensamento e da tradio
emprica, fundamenta-se sobre alguns pressupostos tericos carregados de
conseqncias, seja no plano cognitivo seja sobre o aplicativo. Antes de tudo
a prioridade lgica e metodolgica do fato, que se impe antes e alm de
qualquer signicado que lhe vem atribudo; o determinismo causal, muitas
vezes levado aos extremos de um mecanismo cego e incontrolvel; a tentativa
de qualicar o fato e de trabalhar com ele objetivamente, em uma espcie de
neutralismo cientco que escapa de qualquer avaliao; a excluso de qualquer
Captulo 8
Paradigma Positivista: Delinqncia
como Patologia Individual
210
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
conhecimento que saia do esquema mais rgido do empirismo.
Do quadro acima no difcil deduzir um outro quadro bastante coerente
em relao ao desvio.
Antes de tudo observamos como o positivismo no leva em considerao a
sociedade e os processos provocados por ela e que explicam a origem do desvio;
todo sistema social considerado um dado evidente, fundamentado e justicado
pelo consenso atual das maiorias. O seu objetivo principal o de socializar as
pessoas por meio de processos de adaptao e conformizao, entendidos em
sentido determinista. O desviante ento denido como um no socializado, que
no merece ser punido, mas somente recuperado por uma oportuna reconduo
ao consenso. Mesmo a compreenso do desvio, que permanece no centro da
anlise positivista, realizada pelas vrias correntes positivistas de modo ingnuo,
visto que consideram o sistema social e o consenso em torno dele como dito
acima um dado de fato e no questionvel. por essas razes que o establishment
poltico, a magistratura, a cultura do sculo XIX, aceitam pacicamente as idias
positivistas sobre o desvio (mesmo professando posies clssicas e neoclssicas
em relao pena). O positivismo livra de responsabilidade o sistema social por
sua possvel causao do desvio e da marginalidade. Atribui as causas a motivos
e determinismos sociais ou individuais, contra os quais possvel somente uma
ao corretiva e recuperativa. Ao mesmo tempo, tranqiliza os detentores do
poder, armando que o desvio teria um carter excepcional e que ele poderia
ser controlado pela organizao de adequadas formas de planejamento e de
controle social.
Do que armamos acima podemos deduzir como o desviante passa a ser
considerado pelos positivistas (particularmente por aqueles da corrente bio-
logista), como um indivduo no responsvel e, portanto, no passvel de ser
punido legalmente. O juiz substitudo pelo especialista (socilogo, mdico,
bilogo etc.) o qual procura identicar os fatores que provocaram o desvio,
211
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
prescrevendo a devida terapia. O cientista positivista toma claramente a defesa
da maioria no desviante, aceita implicitamente o sistema de valores dessa
maioria e passa a funcionar como rgo de controle social da mesma. Na tica
particular do cientista positivista esta situao de efetivo servilismo acaba por
ser amplamente justicada mediante repetido apelo neutralidade da cincia,
incapaz de julgar a adequao dos ns, mas chamada a restabelecer ou criar as
melhores relaes possveis entre meios e ns.
As correntes que emergem e se sucedem dentro de uma perspectiva positi-
vista do desvio esto relacionadas principalmente: o positivismo estatstico, o
positivismo biologista, o neopositivismo psicologista, o positivismo gentico.
Vejamos brevemente cada uma dessas perspectivas.
2. O POSITIVISMO ESTATSTICO
Os principais expoentes do positivismo estatstico so Quetelet
1
(1835)
matemtico belga, e Guerry
2
(1863) advogado francs. Eles organizaram uma
srie de observaes estatsticas sobre a criminalidade na Inglaterra e na Frana
desde os primeiros decnios do sculo XIX. Apesar da inadequao dos dados
disposio, inturam uma certa conexo entre condio social das pessoas e
ndices de comportamentos anti-sociais.
A superao da teoria clssica feita, em primeiro lugar, por tentativas de
aplicar uma anlise quantitativa do desvio. Sobre este ltimo ponto devemos
armar em precedncia que os dois pesquisadores positivistas anteciparam, no
mtodo e na substncia da pesquisa, a obra de E. Durkheim, fundada sobre
uma teoria sociolgica mais orgnica. A perplexidade sobre a utilizao dos
dados estatsticos recolhidos nascia no fato de que estes ltimos provinham
1 QUETELET, 1849.
2 GUERRY, 2002.
212
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
quase exclusivamente de fontes ociais e que, portanto, no eram adaptados
a exprimir corretamente a quantidade real de desvio, como tambm a sua
consistncia qualitativa, a partir do momento que espelhavam uma denio
somente legal de desvio (desvio em mbito formal) e se davam conta somente
do desvio ocorrido efetivamente sob o controle pblico. O debate que nasce
da tomada de conscincia desta diculdade provoca certa diviso dentro das
leiras positivistas. Uma corrente mais liberal pensa de poder utilizar igualmente
as estatsticas, desde que sejam feitas notveis correes, seja nos mtodos de
recolhimento dos dados, seja na sua interpretao. Partindo do pressuposto de
que a codicao legal , de certa maneira, um reexo bastante el do consenso
existente dos valores da sociedade, estes estudiosos so induzidos a reconhecer
um certo valor como indicadores de desvio s estatsticas criminais. As variaes
que devem ser inseridas no trabalho de recolhimento dos dados consistem,
sobretudo, em vericaes que devem ser conadas aos especialistas, os quais
deveriam controlar se efetivamente os crimes correspondem a infraes do
cdigo normativo admitido por uma maioria em uma determinada sociedade.
O problema enfrentado com maior incisividade pela corrente radical que no
se satisfaz com correes metodolgicas parciais, mas busca construir uma foto-
graa estatstica prpria do desvio. Pressupem, obviamente, clara superao da
denio legal de desvio e suscitam a pesquisa de outros critrios denitrios,
na perspectiva de ancorar-se na concepo de crime natural, de desvio em
si, de desvio no legal (no-formal). O positivismo sociolgico recorreu
a diferentes sistemas ou critrios de catalogao do desvio, referindo-se, por
exemplo, violao de sentimentos humanos fundamentais, violao de um
consenso mais profundo do social, disfuncionalidade do desvio em relao
s necessidades reais ou essenciais do sistema. A operao descrita, porm,
parece colidir contra os mesmos princpios do positivismo, enquanto arma,
ao menos implicitamente, certa natureza do homem, de suas tendncias,
213
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
sentimentos, ou necessidades, em agrante violao das convices empricas
da prpria escola. Somente mais tarde ser possvel armar que o desvio ,
sim, violao de uma norma no necessariamente ligada a um cdigo legal,
mas que ele tambm no uma infrao de leis metafsicas ou naturais, mas
somente de cdigos sustentados por um consenso social mutvel no tempo e
no espao. Da uma evidente necessidade de relativizar a norma e de abandonar,
por conseqncia, o conceito de crime ou desvio natural.
Mesmo que de maneira inconsistente, a tentativa de estabelecer uma de-
nio estatstica do desvio em bases no legais contribuiu para desmiticar o
prprio desvio, tirando dele o carter de imoralidade que lhe derivava pelo
fato de ser considerado, sobretudo, uma infrao de uma lei fundada sobre
consenso moral indiscutvel. No obstante, a estatstica aplicada criminologia
teve o mrito de ter estabelecido uma srie de correlaes micro e macrossocio-
lgicas que sero utilizadas da em diante de maneira sempre mais sistemtica
e signicativa. Na poca, tal tentativa descartada rapidamente, devido in-
surgncia de uma nova sensibilidade dentro da escola positivista, que desloca
o foco sobre fatores biolgicos que parecem explicar o desvio.
3. POSITIVISMO BIOLOGISTA
O principal expoente do positivismo biologista encontra-se em Cesare
Lombroso
3
(1876); de estreita ligao com o darwinismo, e para o qual o de-
linqente e o desviante so dotados de uma personalidade tpica: eles nascem
com caractersticas biopsquicas que determinam o desenvolvimento de uma
carreira desviante. O delinqente acaba sendo a escria do processo evoluti-
vo; ele deve ser controlado, isento de responsabilidade em suas aes ( um
doente), e connado fora dos muros da cidade para que ele no contagie os
3 LOMBROSO, 1884.
214
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
indivduos que tiveram sucesso na corrente evolutiva.
A acentuao em uma nova impostao do problema surge a partir do
darwinismo, que abre uma poca de grande desenvolvimento das cincias mdi-
cas e biolgicas no mbito do positivismo. Os novos adeptos da nova explicao
do desvio sero polticos e magistrados, ainda mais assegurados por um carter
no social, mas individual (sempre em chave determinista) do desvio.
Mas Cesare Lombroso, estudioso italiano de estreita observncia
darwiniana, quem pe, pela primeira vez, as premissas de uma leitura mdico-
biolgica do crime. Parte de uma base estatstica aproximada e por uma pressu-
posio axiomtica segundo a qual o desviante dotado de uma personalidade
tpica. Lombroso arma a exigncia de uma relao, de certo modo determinista,
entre a atual tendncia a delinqir e atvicas condies de decadncia biolgica
no superadas, embutidas e transmitidas de gerao em gerao. Ele encontra
os sintomas ou os estigmas em algumas anomalias fsicas (dentio anmala,
assimetria facial, defeito oculares ou auriculares, dcits sexuais, insensibilidade
dor etc.) e, por isso, propenso a considerar o carter atvico da delinqncia
como um caso de degenerao do indivduo.
Lombroso classicou os delinqentes em delinqente nato, delinqente
louco moral, delinqente epilptico, delinqente louco (alcolico, histrico,
matlide e passional).
Ele entende como delinqente nato um sujeito do tipo selvagem, supers-
ticioso, sem o controle sobre as prprias emoes. Demonstra caractersticas
fsicas especcas, longa e detalhadamente explicadas pelo autor: partindo
da idia de que o delinqente nato um sujeito que no evoluiu na espcie,
ele o descreve como caracterizado por estigmas somato-psquicos e cuja sina
estaria ligada ao delinqencial uma vez que se apresentassem determinadas
condies ambientais:
Seria fcil explicar a gnesis da doena, unindo-me ao agrupamento, que
215
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
no momento se tornou uma falange de alienistas, que sustentam o conceito
da degenerao, da deformao da espcie somtica e psquica, seguida de
uma hereditariedade morbosa, que viria sempre mais progredindo nas suces-
sivas geraes, at chegar esterilidade; grupo que exagera este conceito [...].
Mas, em uma poca na qual a cincia se espelha sempre na anlise me parece
que tal conceito se alargou demais e compreenda muitas regies do campo
patolgico, desde o cretino at o gnio, do surdo-mudo at o canceroso, ao
tsico [...] como encontro mais aceitvel aquele (conceito) de paralisao do
desenvolvimento, o qual tem uma base anatmica, e que concilia o atavismo
com a morbosidade. A paralisao do desenvolvimento assim concilia a doena
com aquele atavismo que advertimos como predominante. O atavismo perma-
nece, pois, malgrado ou melhor, junto com a doena, uma das caractersticas
mais constantes nos delinqentes natos. Quem percorreu este livro poder se
convencer, como muitos dos caracteres que os homens selvagens apresentam
ocorrem com muita freqncia neles. Tais seriam, por exemplo, a escassez dos
plos, a fronte maior das suturas mdio-frontais, da fosseta occipital mediana,
do osso wormiano ...
4
O delinqente louco moral era descrito por Lombroso como tpico de
indivduos freqentadores de crceres e prostbulos, com robustez igual ou
maior que a normal, com o crnio de capacidade igual ou superior normal,
analgesia, esperteza, incapacidade de viver em famlia, megalomania, egosta
com lampos de altrusmo exagerado para compensar necessidades afetivas,
habilidade para dissimular a loucura.
O delinqente epilptico considerado, por Lombroso, mais perigoso do
que os loucos morais. Suas caractersticas seriam a tendncia vagabundagem,
o amor aos animais, sonambulismos, obscenidade, depravao precocidade
sexual e alcolica, facilidade e rapidez de cicatrizao, canibalismo, mudanas
de humor etc.
4 LOMBROSO, 1977, op. cit., p. 154-164.
216
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
O delinqente louco um sujeito que tendo cometido um delito, enlouquece
na priso. Entre eles esto os que sofrem com o alcoolismo, os histricos, os
denominados matlides (limtrofes entre a normalidade e a loucura) e os
passionais.
De qualquer modo, o desvio permanece a expresso de um preciso deter-
minismo biolgico, mesmo quando Lombroso, sob o inuxo de E. Ferri, tende
a especicar mais precisamente a tipologia criminal (o tipo atvico, epilptico,
louco, ocasional) e a aceitar o concomitante impacto de fatores ambientais. A
teoria do criminoso nato, termo com o qual se designa o desviante estudado
por Lombroso, no , porm, facilmente sustentvel: a base estatstica sobre a
qual se fundamenta mostra-se inadequada (ver as inconsistentes quanticaes
dos estigmas em amostras de criminosos e de anarquistas), a teoria do
atavismo chega a ser, sob o ponto de vista biolgico, risvel; os sintomas da
degenerao so, muitas vezes, explicveis com condicionamentos ambientais
ou com doenas no atvicas. Os mesmos sustentadores das teorias lombro-
sianas se apressaram rapidamente a ampliar ainda mais o elenco dos fatores
incidentes (sempre deterministicamente) sobre o comportamento desviante.
E. Ferri, por diversas vezes
5
sublinha a importncia das causas fsicas (clima,
natureza do solo, orograa) distinguindo entre causas antropolgicas preciosas
tradio lombrosiana no somente aquelas oriundas da constituio orgnica
ou psquica, como tambm os caracteres pessoais (sexo, idade etc.). de Ferri
a proposta de constituir um novo sistema de cincia criminolgica de estilo
positivista denominado comtianamente sociologia criminal (1881). O deter-
minismo positivista de E. Ferri enfatizado pela sua convico acerca da no
responsabilidade moral e individual do desviante, unida rme denncia de
5 FERRI, 1900. Outras obras do autor: Socialismo e criminalit. Torino: 1883; La teoria dellimputabilit e
la negazione del libero arbtrio. Firenze: 1878; Lomicidio-suicidio. Torino: 1925.
217
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
responsabilidade social e, portanto, de necessria sano social, qual devem
ser agregadas as funes preventivas ou substitutivas penais para o crime (ou
seja, os remdios aptos a eliminar as causas).
Com a elaborao metodolgica mais original que no de Lombroso
e Ferri, o positivismo biolgico aprofundado pelos estudos tipolgicos
biopsicosomticos
6
de Kretschner
7
(1921), Sheldon (1940), Conrad (1963).
A tipologia mais usada aquela de Sheldon, segundo a qual podemos classicar
trs somattipos aos quais correspondem trs temperamentos: o endomorfo
(tranqilo, amante do conforto, extroverso), o mesomorfo (agressivo e ativo),
o ectomorfo (controlado e introverso). Pesquisas de Glueck e Glueck
8
parecem
ter demonstrado que um percentual mais alto de delinqentes encontrvel
entre os mesomorfos e a mais baixa entre os ectomorfos. Resultados anlogos
foram encontrados mais recentemente por Conrad (1963) que procurou
religar as correlaes entre estrutura corprea e comportamento associal
intuio original da escola criminolgica italiana. Conrad, de fato, depois de
ter constatado que as crianas so geralmente mais mesomorfas e os adultos
mais ectomorfos, muda os termos do problema, propondo a hiptese de que os
mesomorfos adultos possam considerar-se (psicologicamente) como crianas e,
vice-versa, os ectomorfos pr-adultos podem ser considerados psicologicamente
adultos. Conrad chega assim a entender que os mesomorfos sejam indivduos
colocados sobre baixos nveis de desenvolvimento ontogentico em relao
aos ectomorfos. O paralelismo entre o conceito de baixo desenvolvimento
ontogentico e de atavismo bastante evidente, como observar posterior-
6 Henry James, Bernard Shaw, Joseph Conrad, Anton Chekhov, Luigi Pirandello, Marcel Proust, Willa
Cather, Thomas Mann, James Joyce, Chicago. In: Encyclopaedia Britannica 1990.
7 KRETSCHMER, 1954; 1970.
8 GLUECK; GLUECK, 1950; 1957.
218
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
mente Eysenck
9
(1965). E, portanto, as mesmas crticas que se possam fazer
anlise lombrosiana podem ser aqui repetidas, no obstante uma melhor
preciso da observao estatstica de base.
As tipologias corpreo-temperamentais, porm, denotam amplo esqueci-
mento do impacto exercitado sobre estruturas somticas dos fatores ambientais,
e parecem colocar entre parntesis o perodo de certa circularidade da argu-
mentao
10
. Os estudos de Goring
11
(1913) merecem anlogas consideraes
que, por outro lado, limitam-se a falar da existncia de uma ditese criminal,
ou seja, de um quadro hereditrio mais genrico de predisposies ao desvio
criminal.
Enm, a mais recente e sosticada tentativa de interpretao positivista-
biologista do crime (e, por extenso, do desvio) a que se refere teoria
cromossmica e, mais precisamente, hiptese do cromossomo a mais.
Sabe-se que a dotao cromossmica normal indicada pela frmula XX para
a mulher e XY para o homem. Entretanto, muitas pesquisas demonstraram a
possibilidade estatstica de outras dotaes cromossmicas (a mais e a menos
dessas conguraes normais). A combinao XXY (entre os homens) foi
encontrada predominantemente entre sujeitos de inteligncia baixa, atingidos
por degenerao dos testculos durante a adolescncia e supre-representados
entre os recolhidos em instituies para subnormais (sndrome de Klinefelter).
Somente em 1962 C. Brown
12
levantava a hiptese de uma certa correlao
entre presena de um ou mais cromossomos Y e a predisposio delinqncia.
Shefeld, Casey et alii (1966) encontraram que os sujeitos com doenas mentais
ou sobrepostos a medidas carcerrias, ou suspeitos de crimes, apresentavam
9 EYSENCK, 1965; 1964.
10 Na realidade, o estudo da correlao mesomorsmo-desvio foi efetuado, a posteriori, somente sobre
sujeitos institucionalizados, encarcerados e similares, e no sobre amplas bases estatsticas.
11 GOODE; GORING, 1972.
12 BROWN; SAVAGE, 1971.
219
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
anormalidade cromossmica (especialmente a constelao XXYY), at duas
vezes superior das amostras com defeitos normais e at dez vezes superiores
quela da populao normal. Alm do mais, eles apresentavam uma estatura
superior mdia.
Tambm os estudos de Price
13
(1966, 1967) relativos combinao XYY
pareciam isolar o cromossomo Y como fator responsvel por uma maior esta-
tura e, a mais, demonstravam como os pacientes assim caracterizados tendiam
a demonstrar sintomas de psicopatias srias, por serem encarcerados desde a
jovem idade, a cometer crimes contra a propriedade mais que contra a pessoa,
a provir de ambientes nos quais no existia uma clara presena de criminali-
dade. No apareciam, ao invs, claras correlaes com a degenerao genital
(em contraste com a sndrome de Klinefelter) ou com a debilidade mental, ou
com a delinqncia em geral.
Denitivamente tais estudos no puderam estabelecer uma clara correlao
entre a dotao cromossmica anormal e predisposies criminalidade, se no
em casos estatisticamente quase irrelevantes (por exemplo: no caso da congu-
rao XXYY) e somente para os sujeitos do sexo masculino. No entanto, no
forneceram explicaes satisfatrias sobre os mecanismos que transformam as
diferenas genticas em diferenas de comportamento. Observou-se tambm
que os motivos pelos quais, entre os encarcerados, encontram-se sujeitos com
uma congurao cromossmica do tipo XYY mais numerosa que em uma
populao normal, podem ter explicaes diversas. Alm do mais, as caracte-
rsticas fsicas e psquicas destes sujeitos os expe a uma intenso processo de
etiquetamento e de estigmatizao e, portanto, excluso ou marginalidade e
ao risco de serem mais expostos a comportamentos (ou tentaes) ilegais ou
13 PRICE, 1972.
220
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
ilegtimas. Neste caso, como observam Sarbin e Miller
14
(1970), a estigma-
tizao dos sujeitos XYY causa formal do desvio que em tal caso produz
tambm desvio ou crime (causa eciente do desvio) e predispe, por causa
dos aspectos exteriores dos sujeitos, a uma maior incriminao por parte da
autoridade (causa formal do crime). Em outras palavras, a anormalidade
biolgica interpretada de modo tal que consiga ressaltar a pessoa estigmati-
zada, que reage a quem responsvel pela interpretao da sua normalidade
de modo desviante
15
.
A anormalidade biolgica tem, pois, a ver com a criminalidade somente de
maneira indireta; aquilo que resta a analisar ulteriormente , ao invs, o con-
junto dos processos segundo os quais de presumveis predisposies genticas
para o comportamento associal, se passa a uma efetiva ao desviante. Esse
o objetivo das mais recentes tentativas inspiradas na teoria positivista.
4. NEOPOSITIVISMO PSICOLOGISTA
Os pontos essenciais desta renada interpretao do desvio esto contidos
na concepo de homem e de sociedade que derivam da tradio emprica. Para
Eysenck
16
o homem , de um ponto de vista motivacional, nada mais que um
feixe de desejos individuais, portanto pr-sociais, que consistem essencialmente
na vontade de buscar o prazer ou a evitar a dor. A atividade psquica funda-
mental consiste, ento, nas tentativas de satisfazer estas motivaes radicais,
s quais se opem, porm, de modo drstico, s exigncias do sistema social
que no pode permitir sempre a satisfao de todos os desejos individuais,
sob a pena da guerra de todos contra todos. Concretamente, a atividade
14 SARBIN, 1962.
15 TAYLOR; WALTON; YOUNG, 1973, p46.
16 EYSENCK, 1964, op. cit.; EYSENCK, 1965, op. cit.
221
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
psquica humana ca distribuda de modo varivel dentro de duas modalidades
de comportamento: a aprendizagem e o condicionamento. A aprendizagem
baseada na busca direta do prazer por meio de um mecanismo de tentativas e
erros governado pela lei do efeito, segundo o qual o sucesso se transforma
necessariamente em reforo positivo, e o insucesso em reforo negativo. A
tal mecanismo liga-se tambm o sistema nervoso central que sublinha no tanto
a automao, mas sim a intencionalidade. Alm do mais, deve-se acrescentar
que na concepo de Eysenck o sistema dos reforos condicionado por uma
maior ou menor aproximao das recompensas ou das punies; em outras
palavras, o reforo positivo ou negativo provocado quanto mais imediatamente
for aplicado o prmio ou o castigo e vice-versa.
Por outro lado, necessrio levar em considerao a aprendizagem que advm
por meio dos condicionamentos. O caso se verica quando a uma atividade
prazerosa associada a uma experincia desagradvel, ou seja, uma punio.
Ao longo do tempo, a repetio desta associao produz um reexo, ou seja, o
estmulo ou sinal da hipottica atividade prazerosa produz automaticamente,
por contigidade, uma sensao desagradvel que funciona como mecanismo
de controle ou, como disse o mesmo Eysenck, como policial interior. Este
processo reside no sistema nervoso autnomo e , portanto, automtico na sua
origem e no seu desenvolvimento.
O modelo exposto at agora merece ulteriores consideraes explicativas.
Para Eysenck a atividade voluntria e racional do homem diz respeito uni-
camente satisfao dos desejos; ser racional signica reconhecer a natureza
biolgica das pulses, no formuladas pelo homem nem por ele elaborveis.
A razo a sede do impulso do prazer, como uma espcie de mecanismo
que tende a maximizar as satisfaes imediatas e a minimizar as dores
17
. Ao
contrrio, a conscincia adquire as caractersticas de reexo passivo que se
222
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
limita a registrar e a controlar os impulsos hedonistas por meio de sensaes
desagradveis automticas.
Trata-se, obviamente, de um modelo de clara derivao darwiniana que deixa
abertas muitas interrogaes, entre as quais as que dizem respeito origem e
legitimao das restries que esto na base da conscincia (e que justicam
o condicionamento). Sobre estes problemas abertos retornaremos em seguida;
por hora nos limitamos a dizer que eles prejudicam diretamente o signicado
do conceito de desvio que da deriva.
Para Eysenck, o desvio se verica substancialmente por falta de adequado
condicionamento: o desviante um associal que no interiorizou suciente
controle sobre as prprias motivaes hedonistas. E isso parece depender
denitivamente de duas variveis: de uma maior ou menor sensibilidade do
sistema nervoso autnomo e da qualidade do condicionamento recebido em
famlia pelo sujeito na primeira idade.
sobre a primeira varivel (nvel de sensibilidade do sistema nervoso autno-
mo) que Eysenck forneceu uma srie de estudos situados, sobretudo, no campo da
psicologia social; a sensibilidade para Eysenck uma dimenso temperamental e,
portanto, inata, que se pode medir por meio da bipolaridade extroverso-intro-
verso. Os introversos caracterizam-se, de fato, como sujeitos que tm facilidade
de formar reexos e diculdade de extingui-los. Enquanto os extroversos, ao
contrrio, dicilmente se deixam condicionar e facilmente extinguem os reexos
j formados. Assim, estabelecida a correlao entre extroverso e propenso
associalidade, a explicao do desvio tem origens nas dimenses positivistas: o
desvio tem uma forte raiz biolgica, temperamental, mesmo que no diretamente
automtica enquanto a correlao mediada por condicionamentos familiares.
A explicao do desvio oferecida por Eysenck deixa sem soluo aspectos do
problema; e no nem imune de notveis contradies.
17 TAYLOR; WALTON; YOUNG, 1973, op. cit., p. 49.
223
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
Uma primeira considerao pode ser feita obrigatoriamente sobre o signi-
cado das restries sociais que constituem de qualquer maneira a norma do
comportamento humano: nos interrogamos quem e por que se decide que um
comportamento humano deva ser perseguido (ou reforado positivamente) ou
rejeitado (reforado negativamente). Uma primeira resposta de Eysenck tende
a modicar o tradicional desenho positivista que via no desvio uma violao
de imperativos biolgicos, de necessidades atvicas da espcie. , ao invs, a
necessidade de sobrevivncia da sociedade que d origem s restries; e se
trata de um imperativo no ligado ao determinismo biolgico, mas relativo s
variveis espao-temporais. Para Eysenck, as necessidades reais da sociedade
devem ser identicadas dentro das condies atuais de funcionamento de uma
sociedade complexa e contraditria, como a nossa. De fato, os imperativos so
prescritos pelas mesmas exigncias da cincia e da tcnica. Mas, a esse ponto, a
aproximao positivista depara-se com uma diculdade insupervel: as restri-
es ou as normas so consideradas como um reexo especular daquilo que a
sociedade ; a realidade, de fato, transformada em princpio deontolgico.
A identidade entre ser e dever ser torna v, porm, a possibilidade de todas
as mudanas sociais (que est sempre e ostensivamente em ato). Ao mesmo
tempo, no se consegue mais explicar o prprio desvio enquanto esse uma
tentativa evidente de inovao em relao aos valores existentes.
De fato, o desvio parece sugerir que o comportamento humano no obedea
somente e sempre s regras frreas da aprendizagem e do condicionamento
ou seja, exigncia de reduzir a tenso, buscar a satisfao, evitar a frus-
trao, mas tambm a outras motivaes que exprimem necessidades criativas,
explorativas, inovativas. A anlise dos imperativos funcionais da sociedade (ao
menos assim como imaginada por Eysenck) no tem condies de colocar
em evidncia o novo, as mudanas possveis. Nem a teoria do reforo est em
condies de nos dizer como e por que possam ser remuneradas positivamente
224
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
aes que tendem a violar, superando, a ordem j existente. Para Eysenck, a
interao entre potencial biolgico e estmulos sociais que poderiam explicar o
desvio se reduz a bem pouco: a interao um fato puramente parcial enquanto
a explicao do desvio ainda est toda relacionada estrutura biopsicolgica do
indivduo. No mximo ela se apresenta como sociologicamente incompreensvel.
patologia de um indivduo isolado, subtrado do consenso monoltico do
sistema por causa de uma escassa socializao ou condicionamento. At mesmo
essa ltima observao parece contraditria: por um lado, Eysenck parece ar-
mar que o desviante caracterizado pela ausncia de valores sociais; por outro,
as caractersticas do extrovertido (potencial desviante) indicam uma notvel
capacidade de elaborar valores ou modelos alternativos. Isso um resultado
claro da semelhana existente entre os comportamentos da dimenso bipolar
extrovertido/introvertido e os valores subterrneos e formais, dos quais falam
Matza e Sykes
18
. Na realidade o desviante no sempre um associal em sentido
estreito; mas, sobretudo, um indivduo socializado por valores diferentes ou
minoritrios. O problema ser enfrentado mais adequadamente pelas teorias da
anomia (paradigma funcionalista) e da subcultura (paradigma cultural), que,
porm, abandonaram as premissas do positivismo biopsicolgico ao qual se
vincula o pensamento de Eysenck.
As crticas, muitas vezes radicais, s quais foram alvo esta aproximao
no dizem respeito somente contestao de qualquer fato que no resulte
tal, mas se referem mais especicamente ao mtodo de pesquisa adotado, ao
reducionismo psicolgico e siolgico, incapacidade de construir uma verda-
deira cincia social devido ao fatualismo positivista que no se preocupa com
os signicados dos comportamentos
19
. No fundo pode-se armar que, em
grandes linhas, o pensamento de Eysenck reproduz, h mais de um sculo, as
18 MATZA; SYKES, 1961, p. 712-719.
225
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
metodologias e os axiomas da fsica social comtiana e, portanto, passvel
das mesmas crticas de que ela foi objeto.
5. POSITIVISMO GENTICO
Em um perodo mais recente, as idias de H. Eysenck foram retomadas e,
em parte, elaboradas por G. Trasler, que aparece a muitos crticos como um
corretor oportuno do excessivo biologismo de Eysenck. A maior novidade do
positivismo gentico, representado particularmente por G. Trasler
20
, consiste
em uma reavaliao do papel determinante desenvolvido pelas tcnicas de
educao de crianas no processo de condicionamento-socializao. Ele su-
gere a importncia e a eccia de uma aprendizagem integral dos princpios
morais gerais. Ele trabalha com a caracteriologia e mede a predisposio das
pessoas para o desvio, considerando trs variveis: a capacidade do indivduo
em ser condicionado (introverso-extroverso), a capacidade do grupo social
em condicionar (socializar) e a classe social de pertena. Tendem a ser mais
desviantes os indivduos extrovertidos (difceis de serem condicionados e fceis
de desfazerem condicionamentos), com escassa socializao e pertencentes
as classes sociais baixas (pelas suas prticas de socializao prioritariamente
punitivas).
Como Eysenck, o autor distingue entre habilidade diferencial a ser condi-
cionado (mensurvel em termos de extroverso x introverso e recebida por
hereditariedade gentica) e habilidade diferencial para condicionar (mensurvel
pela ecincia das prticas de socializao).
A essas duas variveis ele acrescenta uma terceira, que diz respeito classe
social de pertena. As tcnicas de socializao distinguem-se com base a uma
19 TAYLOR; WALTON; YOUNG, 1973, op. cit., p. 60-61.
20 TRASLER, 1967; TRASLER, [1970].
226
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
colocao diferenciada das famlias no sistema de estraticao. Segundo
Trasler, a classe mdia tm a capacidade de exercitar um condicionamento
qualitativamente mais ecaz, pois recorre a tcnicas de socializao que usa
a negao do amor como deterrente em relao aos comportamentos das
crianas; alm do mais, tendem a fundamentar as normas disciplinares sobre
princpios claros e bem denidos. Pelo contrrio, as classes inferiores tendem
a utilizar prticas mais permissivas, desorgnicas, punitivas, imotivadas e da
que nelas se podem encontrar maior concentrao de criminalidade ou desvio.
Estabelecendo, enm, que o nvel de extroverso estatisticamente semelhante
ou igual nas diferentes classes sociais, Trasler deduz da uma conseqncia:
que os desviantes so presumivelmente mais presentes (ou ao menos assim se
prev), entre os extrovertidos da classe social inferior.
As armaes de G. Trasler representam certamente um desenvolvimento
inovativo do pensamento positivista. Em oposio, convico precedente
acerca da possibilidade de fazer interiorizar restries singulares por meio de
condicionamentos, ele sugere a importncia e a eccia de uma aprendizagem
complexiva de princpios morais gerais. Alm do mais, fornece ainda uma vez
uma legitimao cientca a quantos acreditam na importncia de uma ao
preventiva do desvio (especialmente no mbito do crime), em base a condi-
cionamentos precoces que consistem, sobretudo, em uma manipulao da
afetividade infantil. Contradiz, desse modo, as convices de largos extratos
de educadores e especialistas que praticam uma socializao mais permissiva,
livre e estimulante. Ele arma ainda, com argumentao em parte original e
em parte repetitiva, a importncia da famlia como agncia de socializao
preventiva em funo antidesvio.
At aqui foi feita uma exposio sucinta do pensamento de G. Trasler. As
crticas que lhe foram dirigidas reproduzem, em parte, aquelas j endereados
227
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
a H. Eysenck: primeira entre todas, a impossibilidade de salvar o difcil equi-
lbrio entre potencial biolgico e qualidade do condicionamento, se verdade
que para o prprio Trasler o nvel de condicionabilidade herdado e xado
dentro do sistema nervoso autnomo constante, no modicvel por suces-
sivos estmulos aprendizagem (que parece contrastar com outros dados da
psicologia siolgica)
21
. Mas, em geral, pede-se a Trasler que clareie a origem
e o signicado dos diferentes estilos ou princpios morais que presidem as di-
versas formas de socializao infantil nas singulares classes sociais, dados como
descontadas e no interpretveis luz de mais amplas referncias estruturais e
culturais. A diferena de estilos no , de fato, s uma questo de modalidade,
mas tambm de contedos: se for mesmo verdade (como armam alguns crticos
que antecipam as teorias da subcultura desviante
22
) que a socializao das
classes trabalhadoras tende a se centralizar sob valores diferentes, alternativos.
Em outras palavras, a eventual concentrao de comportamentos desviantes
nas classes trabalhadoras no seria atribuda a uma menor capacidade de con-
dicionamento nos seus processos de socializao (como queria Trasler), mas ao
fato de que tais classes inculcam aos prprios membros um quadro de valores
considerados desviantes pela classe mdia. No fundo, como arma Trasler
23
,
a distino entre diferentes estilos de socializao no seno um meio para
justicar sutilmente o status e a superioridade moral da classe mdia.
21 HEB, 1972.
22 MAYS, 1975; BARON; KERR; MILLER, 1992; JEPHCOTT, 1954; ROSENBERG; TURNER;
BACKMAN, 1981.
23 TRASLER, 1967, op. cit., p. 64.
228
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
6. TEORIAS DA DEGENERAO
A teoria da degenerao difundiu-se com fora durante o sculo XIX sob
o prestgio crescente que adquiriram, naquele momento histrico, as teorias
evolucionistas. Diversos comportamentos, doenas e aes coletivas foram
interligados como manifestao de uma potente corrente degenerativa e, mais
ainda, ligados tambm aos processos de modernizao tidos como principais
responsveis por um processo degenerativo da sociedade e de seus indivduos.
Com base nas constataes de que os processos hereditrios se transmitiam
de gerao em gerao, tendendo a agravar ainda mais os problemas degenera-
tivos, e representando uma grave ameaa para as geraes futuras, os sujeitos
que sofriam de decincias de qualquer gnero representariam uma ameaa
vitalidade e sade do futuro das naes.
Spencer
24
, lsofo e socilogo ingls e um dos principais difusores das
teorias da evoluo, acreditava que o processo degenerativo constitusse uma
ameaa ao desenvolvimento futuro: a caridade privada serviria para acumular
condies de miserabilidade s geraes futuras, na medida em que contribua
com o crescimento de uma populao sempre mais caracterizada pela indolncia,
imbecilidade e criminalidade.
Royer
25
, por sua vez, como primeiro tradutor de Darwin para o francs,
declarava a esse respeito que as doenas que aigem os atuais degenerados
tendem a se perpetuar e multiplicar indenidamente; um mal que tende a
crescer em vez de diminuir.
Pick
26
(1989), relendo historicamente os fatos, se pergunta se a interpre-
tao da degenerao feita pelos autores da poca, fosse separada da questo
24 SPENCER, 1883.
25 A cientista e lsofa Clmence Royer traduziu para o francs A Origem das Espcies de Charles Darwin,
em 1862. Entrou em conito com o mundo cientco da poca quando recusou a tese de Darwin
de inferioridade das mulheres.
26 PICK, 1989.
229
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
da evoluo da histria e do progresso, algo a ser debitado somente a meca-
nismos de regresso, atavismo e primitivismo, ou se a degenerao se revelasse
paradoxalmente como o verdadeiro declnio provocado pelo surgimento do
progresso, das cidades, da civilizao e da modernidade.
Lombroso
27
, como vimos, acreditava, por sua vez, que os criminosos j
nasciam com um destino que lhes condicionava biologicamente a orientao
para a criminalidade: eram considerados criminosos natos, e esse era o ttulo
de uma de suas publicaes. Eles eram descritos como indivduos produzidos
pelo processo de involuo, ou seja, como indivduos humanos para os quais
teria acontecido um processo de bloqueio nos primeiros estgios do desenvol-
vimento, aproximando-os das caractersticas de homens selvagens.
Ferri
28
, seu discpulo, armava, por sua vez, que um regime socialista seria
at capaz de eliminar a criminalidade gerada pela condio social (de misera-
bilidade). Insistia, porm, que no conseguiria dar cabo dos crimes hediondos,
das perverses sexuais, dos assassinatos cometidos por epilpticos, s rapinas
causadas por psicticos.
Sobre o mecanismo de competio e seletividade da espcie, armava
Morselli
29
que o suicdio seria a conseqncia da luta pela existncia: na mo-
derna civilizao o progresso rpido e incessante estimula as necessidades de
adaptaes e competies entre os indivduos pertencentes s populaes. Visto
que as pessoas so desigualmente munidas de recursos tais como capacidade e
energia, o resultado de tal processo seria marcado pela presena de vencedores
e perdedores, numa tendncia constante de eliminao dos sujeitos dbeis e
dos organismos inferiores. Para o autor, seria inadequado pensar que os males
da civilizao, como a misria, a doena, a prostituio, a loucura, o suicdio,
27 LOMBROSO, 1884, op. cit.
28 FERRI, 1900, op. cit.; FERRI, 1897.
29 MORSELLI, 1911.
230
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
sejam fenmenos acidentais e evitveis: so, ao contrrio, males sociais que
representam o resultado de uma inevitvel luta pela existncia.
Fr
30
sustentava que a criminalidade era claramente um fenmeno ligado
degenerao. As circunstncias sociais, no entanto, teriam papel importante
na criao da degenerao. Para os criminosos o autor previa solues como
o isolamento parcial, o acompanhamento por meio de terapia e a reeducao
e o connamento.
Os tericos franceses do ramo e do tempo adotam um determinismo
biolgico ainda mais radical. Sustentavam atitudes mais duras em relao aos
degenerados: formas repressivas que incluam o crcere, a segregao, a trans-
ferncia, o convite esterilizao e at a eutansia. Neste clima, todos os ideais
humanitrios eram considerados irrelevantes e danosos para a sociedade.
Os italianos, como Morselli e Ferri, eram ambivalentes entre causas biol-
gicas e sociais em interpretar o que entendiam como processos degenerativos.
Acreditavam que a degenerao fosse forma de rejeio social causada pelas
modernas condies, estilos de vida, progresso das cidades, onde a natureza
no usa de piedade para com os sujeitos fsica, social e psicologicamente de-
cientes. A um certo momento, o foco se desloca da seleo natural, biolgica,
dando lugar a interpretaes da competio e seleo social, com ateno
mais ao ambiente que ao indivduo em si. o caso dos tericos e estudiosos
da Escola de Chicago que se dedicaram ao estudo das cidades, como veremos
mais adiante.
A maior parte dos tericos da involuo compartilhavam certo nmero de
premissas, como: que a degenerao era um fenmeno objetivo e mensurvel; que
a degenerao era um fenmeno inato e incurvel seja por meio de tratamentos
individuais seja sociais; que o nmero de degenerados estivesse se incremen-
30 FR, 1888.
231
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
tando como resultado das polticas e das crenas que tendiam a impedir a sua
eliminao e encorajavam a sua proliferao; que os degenerados fossem
uma ameaa ao futuro das naes e sua habilidade em competir com as outras
naes inspiradas em princpios mais pragmticos e menos humanistas.
7. OS LIMITES DO POSITIVISMO
A aproximao positivista certamente considervel como um substancial
passo adiante em relao s teorias clssicas inspiradas na criminologia de ori-
gem iluminista. Os autores que foram apresentados deram uma contribuio
essencial superao de uma denio puramente legal do desvio, criticaram
oportunamente a tendncia a considerar o desvio em termos moralistas, rejei-
taram como indevida a acentuao colocada nos clssicos sobre a pena, mais
que sobre o desvio. Mesmo assim eles se embateram em diculdades e em
limites de certo modo insuperveis, devidos principalmente s premissas de
carter epistemolgico que o positivismo utilizou. Retomando alguns pontos
crticos, j tocados em pginas precedentes, podemos sinteticamente indicar
alguns aspectos da problemtica mais sujeita a perplexidades.
1. A falta de questionamento sobre o sistema social: o sistema social
dado como um fato pacco; dele no se suspeita de ser uma fonte essencial
do comportamento desviante. Por isso a dinmica do becaming deviant (processo
segundo o qual as pessoas se tornam desviantes) buscada no prprio sujeito,
na sua constituio fsica, no seu carter temperamental etc., isolado de modo
articial do seu contexto humano.
2. A reicao dos fatos sociais: a reicao, ou um processo que mumica
no passado um fato social, leva desresponsabilizao do desviante (objeto de
determinismos incontrolveis), mas que implica tambm um certo fatalismo
232
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
pessimista. Da a concluso lgica acerca da diculdade de aplicao da punio
e a da inutilidade da terapia.
3. A no relevncia das relaes sociais: as relaes sociais so deixadas
de lado seja no que diz respeito provocao do desvio, seja na sua possvel
contribuio para a redenio do papel desviante. Conseqncias sobre o
plano terico e prtico so que se rejeita de modo precoce a importncia da
autoridade, do poder, dos processos de legitimao implicados no quadro
global do desvio.
4. Um conceito esttico de desvio: essa dimenso esttica est presente em
geral em todo o modelo, de modo que no possvel conceber no conceito
de desvio nenhum signicado inovador, nenhum sintoma de criatividade ou
nenhuma linha de ruptura com o sistema: o desvio resulta assim facilmente
controlvel, isolvel e neutralizvel, a partir do momento em que o biologica-
mente inferior ou o associal no constituem verdadeira ameaa ao sistema.
5. O papel ambguo do especialista: o bilogo, o mdico, o socilogo, o
psiclogo, em certo sentido imaginado como superior e estranho ao desvio;
desresponsabilizado em relao a ele, habilitado, por isso a objetiv-lo, assu-
mindo assim o aspecto e a funo do controlador social, necessariamente
subordinado lgica de domnio e de sobrevivncia das foras sociais domi-
nantes.
A maior parte das diculdades do positivismo nascem, como j dissemos
anteriormente, das premissas gnosiolgicas de suas teorias: a pretenso de
permanecer is aos fatos tem que fazer as contas com a necessidade recorrente
de estabelecer tambm o seu signicado e os valores que eles exprimem. Como
tambm a pretenso cientca de atingir de uma vez por todas a verdade e a
objetividade colide com a exigncia de falsicabilidade permanente que uma
caracterstica da cincia moderna. Na realidade, hoje em dia a cincia per-
feitamente consciente de que os fatos no falam sozinhos, que no existe uma
233
Capitulo 8 Paradigma Positivista: delinqncia como patologia individual
cincia social natural, que o estudioso trabalha necessariamente e continua-
mente com opes entre tantos possveis universos de signicado. Os modos
de estabelecer os fatos e tanto mais as suas explicaes dependem de uma
srie de variveis estreitamente complexas que somente uma cincia deliberada
pelo cienticismo tem condies de descobrir e vericar em progressivas apro-
ximaes. Por essas razes, a aproximao positivista, depois de um primeiro
sucesso, at poltico, foi progressivamente abandonada e superada, no sem
ter deixado um legado importante nas diversas cincias do comportamento
humano desviante. Em especial encontram-se traos consistentes do positivismo
sociolgico nas pesquisas da assim chamada Escola de Chicago, cujo perodo
estende-se entre 1900 e 1930.
235
1. PARADIGMA SOCIAL
O
paradigma social tem seus precursores nos estudiosos da Escola
de Chicago, que compreende um farto grupo de professores e pes-
quisadores que operaram nas trs primeiras dcadas do sculo XX.
Em um sentido mais amplo, podemos agregar a esse grupo tambm outros
socilogos que pertencem a pocas mais recentes, mas que se inspiraram na
obra dos primeiros, com notvel continuidade de interesses e mtodos.
As razes que explicam a formao desse grupo de pesquisadores so
diversas. Um primeiro motivo est na reao de alguns jovens socilogos ao
otimismo ingnuo (de natureza positivista) que era tpico da sociologia acad-
mica americana. Colocando-se na tradio comtiana e spenceriana, juntamente
com a aceitao das hipteses evolucionistas de C. Darwin, muitos estudiosos
acabaram por elaborar uma perspectiva fundamentalmente positiva do desen-
volvimento das sociedades modernas, destinadas a graus de diferenciao e de
integrao sempre mais avanados (Cf. por ex. A. W. Small
1
e W.G. Sumner
2
).
Captulo 9
Paradigma Social: delinqncia
que se desenvolve em ambiente
socialmente desorganizado
1 SMALL, 1967.
2 SUMMER, 1906.
236
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
A uma viso inspirada na crena de um nalismo intrnseco aos sistemas sociais,
a Escola de Chicago, juntamente com outras teorias mais recentes, acolheu a
hiptese de uma sociedade em via de involuo, ou seja, caracterizada por mo-
delos escassamente integrados, pela decadncia do consenso, pela emergncia de
individualismos e corporativismos, por uma tendncia centrfuga. E isto para
interpretar a conjuntura em breve espao de tempo, porque para interpret-la
por um longo perodo de tempo eles poderiam lanar mo de teorias cclicas
3
j consagradas por Pareto e Sorokin.
Por outro lado, aceitava-se ainda como atual a lio de um certo positivismo
sociolgico (representado pelo trabalho de Quetelet e Guerry
4
), que indicava a
via da pesquisa de campo como premissa necessria para qualquer tentativa de
generalizao terica. A sociologia do desvio passa, com a Escola de Chicago,
a caracterizar-se prioritariamente como observao quanticvel e, portanto,
capaz de codicar os fenmenos sociais sem uma precisa propenso para a
teorizao. A teorizao aparece somente em casos isolados, sem pretenses de
explicaes exaustivas e somente no nal de um ciclo de pesquisas de campo.
inspirao evolucionista e orientao emprica agregam-se os inuxos
sofridos pelos autores da Escola de Chicago, por parte da corrente interacionista
j em estado nascente (particularmente por W. I. Thomas
5
, C.H. Cooley
6
e
mais tarde, indiretamente tambm por G. Mead
7
) que sublinhavam a impor-
tncia do estmulo ambiental na formao do si social. Tentava a superao
da aproximao puramente correlacional do positivismo estatstico de Quetelet
e Guerry, por meio de uma explicao psicossociolgica das relaes existentes
entre organismo individual e suas referncias estruturais e culturais.
3 PARETO, 1923, op. cit.; SOROKIN, 1975.
4 QUTELET, 1846; GUERRY, 2002, op. cit.
5 THOMAS, 1923; THOMAS; THOMAS, 1938.
6 COOLEY, 1963.
7 MEAD, 1966.
237
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
2. A ESCOLA DE CHICAGO E A SOCIOLOGIA ECOLGICA
A data de nascimento ocial da Escola de Chicago pode ser xada em
1914, ano no qual R. E. Park
8
iniciava o ensinamento no Departamento de
Sociologia da Universidade de Chicago. Antes de tal ensinamento, o autor
vinha j vinha acumulando, h cerca de 25 anos, materiais e informaes, e
trabalhando como jornalista interessado nas condies de vida das grandes
cidades, particularmente sobre os problemas da casa. Como R. E. Park, outros
professores de Chicago comeam a colaborar por alguns decnios na elaborao
de uma notvel quantidade de pesquisas que serviram de base para algumas
generalizaes mais amplas.
Os autores da Escola de Chicago partem de uma premissa quase axiomtica:
a de que o comportamento social assume certas regularidades dentro de certos
limites ou reas naturais, de interesse psicogeogrco, como produto de
uma certa modalidade de utilizao do terreno com ns habitacionais
9
, ou em
sentido cultural, como uma zona caracterizada por populao semelhante em
questo de raa, ocupao e renda
10
. A interpretao da formao destas reas
naturais dentro das grandes cidades se serve de analogias ecolgicas, tiradas da
botnica e dos estudos do lsofo e cientista E. Haeckel
11
. Os conceitos que
da decorrem so os de simbiose e de equilbrio ecolgico. A vida das grandes
cidades interpretada como um processo de simbiose no qual as diversas
espcies de organismos (os indivduos) convivem sem efetivamente interagir
entre si, mas que tendem a se reagrupar em reas que pelas caractersticas
de isolamento, desenvolvem sobre eles um processo de homogeneizao que
acaba fugindo de qualquer controle. O objetivo do socilogo o de descobrir
8 PARK; BURGESS; McKENZIE, 1967.
9 ZORBAUGH, 1929.
10 McKENZIE, 1933.
11 TOFFOLETTO, 1945, [5-A-184(20)] (Ernst Heinrich HAECKEL).
238
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
os motivos pelos quais esses processos de homogeneizao acontecem dentro
das vrias reas sociais e indicar as condies que assegurem um equilbrio
geral (de tipo biolgico) dentro do superorganismo que a sociedade (ou,
no caso, a cidade). Chegando aos detalhes, pode-se facilmente se perguntar o
porqu de os socilogos da Escola de Chicago se interessam tanto pelas reas
naturais que se apresentam com caracteres patolgicos: o objetivo especco
do estudioso o de indicar as causas que provocam a formao de reas para-
sitrias ou estranhas complexidade e dinmica do organismo social, mesmo
porque justamente nestes ambientes que eles previam maior concentrao de
marginalidade e de desvio social.
J dessa primeira caracterizao dos trabalhos da Escola de Chicago resulta
que o conceito de rea oscila entre duas diferentes acentuaes: por um lado,
sublinham-se as variveis materiais da rea (aspectos relativos distribuio do
territrio e a sua utilizao) do outro lado, evidenciam-se as variveis culturais
(valores, costumes, estilos educativos etc.). A ambivalncia importante porque
revela uma das contradies dentro da qual a Escola de Chicago se debater
por longo tempo, incerta sobre a aceitao ao menos de um ambientalismo
rgido que admite a inuncia determinista s variveis materiais ou a abertura
aos discursos de um ambientalismo exvel que prev certa capacidade de
reao do indivduo diante de condicionamentos materiais. Quanto s conse-
qncias que derivam desta, por assim dizer, caracterstica de impostao dos
temas do desvio, evidencia-se certa ambivalncia como demonstram as teorias
das associaes diferenciadas de Edwin Sutherland
12
, da transmisso cultural
de C. Shaw e H. MacKay
13
, da cultura da pobreza de O. Lewis
14
. Elas denun-
ciam, por um lado, a no superao de um positivismo sociologista de marca
12 SUTHERLAND, 1986; SUTHERLAND; CRESSEY, 1947.
13 SHAW; McKAY, 1942, op. cit.
14 LEWIS, 1973.
239
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
comtiana, responsvel pela impostao organicista e ambientalista; por outro,
revelam a necessidade de uma anlise mais exvel, capaz de dar conta do espao
ocupado pela eziologia do desvio pelo indivduo, compreendido como sujeito
capaz de reaes autnomas. A Escola de Chicago j havia herdado este ltimo
aspecto da tradio interacionista, representada sobretudo por H. Cooley
15
e
por W. I. Thomas
16
. O primeiro autor tinha j tentado uma sistematizao da
interao entre indivduo e sociedade, assumindo como estrutura de mediao
aquela do grupo. Para Cooley, a distino essencial permanece aquela entre
pequenos grupos e grandes associaes. So realmente os pequenos grupos
(chamados tambm de grupos primrios) que fornecem as condies essenciais
dos processos de socializao primria, assegurando a canalizao (ou seja, a
orientao em direo a objetivos superiores) dos instintos de base do indivduo.
Uma carncia de socializao primria provocaria assim, necessariamente, um
processo degenerativo dplice: dentro das personalidades singulares individuais,
destitudas de normas ou de referenciais seguros, e em nvel de sociedade global,
ameaada por comportamentos autocontrolados, instintivos. No mais, para
Cooley, as carncias de socializao primria parecem hoje ter seu incremento
motivado pela prevalncia dos grandes grupos ou associaes; neles, realmente,
no se pode desenvolver relaes humanas do tipo face a face, mas somente
relaes formais e extrnsecas que provocam somente a dissipao das energias
humanas revelia da interiorizao das normas.
Das premissas de Cooley parecem surgir duas concluses: a primeira rela-
tiva ao papel negativo exercitado pelas grandes estruturas secundrias sobre as
sociedades modernas urbano-industriais, dotadas de impacto dissocializante,
e, portanto, responsveis pela desorganizao estrutural e cultural. A segunda
tenta recuperar o papel do indivduo como ator livre dentro das microestruturas
15 COOLEY, 1963, op. cit.
16 THOMAS, 1923, op. cit.; THOMAS; THOMAS, 1938, op. cit.
240
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
capazes de se oporem desorganizao social. Denitivamente, armava-se que
se essa segunda concluso est ligada (e condicionada) pela desorganizao
da personalidade, uma recuperao de normalidade (atravs de uma intensa
interao de grupo) representa uma premissa para uma reintegrao no social.
A rejeio de um determinismo rgido em sentido nico na interao social j
tinha sido assegurado tambm por W. J. Thomas, muito mais explcito tambm
sobre o tema especco do desvio. Esse ltimo autor, analisando junto com F.
Znaniecki
17
os fenmenos de desestruturao cultural do emigrante polons
e a sua hipottica (s vezes alcanada) aculturao no novo habitat norte-
americano, j tinha notado que nem todos os sujeitos pareciam ceder igualmente
s presses que provocavam necessariamente a desorganizao pessoal (ou seja
desadaptao). Em iguais condies, em uma situao de confuso transicional
dos valores, tpica dos perodos de mudana, de emigrao e de confronto
cultural, emergiam diversos resultados, provenientes dos diferentes sujeitos e
atores sociais, de acordo com as variveis psicolgicas e microssociolgicas. Em
outras palavras, a desorganizao social no se transformava necessariamente
em desorganizao da personalidade (ou seja, em desvio), justamente porque
as decises dos singulares atores sociais, o modo de eles se porem de frente aos
processos, de se orientarem ao conformismo ou transgresso, tornavam-se
fatores determinantes da dinmica social na sua complexidade. Analisando mais
precisamente algumas possveis relaes entre desorganizao social e desor-
ganizao da personalidade, Thomas e Znaniecki elaboraram uma tipologia
articulada da seguinte maneira:
1. possvel haver desorganizao social sem que se provoque desorga-
nizao da personalidade. Isso se verica quando o indivduo, criativo, decide
violar as normas vigentes (expondo-se ao perigo de ser considerado desviante)
17 THOMAS; ZNANIECKI, 1968.
241
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
e de escolher, entre os diversos modelos emergentes, aquele que lhe parece
assegurar uma nova estrutura prpria personalidade em busca de nveis de
integrao mais maduros.
2. possvel haver desorganizao da personalidade sem haver desorgani-
zao social. Isso se verica quando o indivduo se revela incapaz de perseguir
os objetivos essenciais da prpria personalidade (o que exige uma forte carga
criativa e exploratria) e se resigna com uma rgida delidade aos esquemas
tradicionais de uma sociedade fechada. Esta forma de xao, chamada adap-
tao listia, tpica das personalidades bloqueadas.
3. possvel haver desorganizao social derivante da (ou ligada )
desorganizao pessoal. Isso se verica quando os sujeitos rejeitam qualquer
comportamento estruturado, adaptando-se situao de confuso transicio-
nal ou correndo o risco de sucumbir desordem generalizada: esta situao
identicada no comportamento bohmien.
4. possvel, enm, presumir uma situao na qual organizao social
corresponde tambm a uma organizao da personalidade. o caso no qual
os indivduos colaboram com a organizao do sistema e recebem dele, em
troca, a oportunidade de estruturar progressivamente a prpria personalidade,
longe de qualquer risco de desvio: o resultado a adaptao.
A contribuio de Cooley, Thomas e Znaniecki faz com que a Escola de
Chicago funcione como ponta de lana do ambientalismo da liberdade
18
,
ou seja, de uma aproximao que tenta inserir na tradio positivista um novo
motivo de compreenso do desvio centralizado na dinmica individual como
varivel independente. este um dos aspectos recorrentes na abundante pes-
quisa emprica elaborada pela Escola.
18 SPROUT; SPROUT, 1965.
242
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
3. DESVIO E SOCIOLOGIA URBANA
Grande parte da produo cientca do grupo de Chicago qualica-se como
anlise ecolgica da cidade. Exemplos disso so as antigas pesquisas como
West side Studies
19
e a Pittsburg Survey de Kelly, do ano de 1914; e as poste-
riores pesquisas de R. E. Park e E. W. Burgess
20
(1925), Thrasher
21
(1927),
Lynd e Lynd
22
(1929), Johnson (1922), Zorbaugh
23
(1929), Shaw
24
(1929),
Shaw e McKay
25
(1931 e 1942), Reckless
26
(1933) e Wirth
27
(1928).
O resultado principal dessa massa considervel de observaes empricas foi
a construo de um mapa tpico da grande cidade norte-americana e a elabora-
o de um modelo evolutivo que explica a sua estruturao atual. De um ponto
de vista esttico, a grande cidade parece se subdividir em reas concntricas,
que segundo o modelo de Park e Burgess, compreende a partir do centro:
I - um bairro central dedicado aos negcios;
II - uma cintura de favelas (slums) habitadas principalmente pelos imigrantes
e, portanto, com alta mobilidade e baixa renda;
III - uma rea de habitao plurifamiliar dos trabalhadores de baixa renda;
IV - a rea das habitaes unifamiliares de luxo;
V - o subrbio dos trabalhadores de periferia.
O esquema varia ligeiramente de uma pesquisa outra, e se aplica,
obviamente, somente grande cidade norte-americana daqueles tempos.
19 A.A.V.V., 1914.
20 PARK; BURGESS; McKENZIE, 1967, op. cit.
21 TRASLER, 1967, op. cit.; [1970], op. cit.
22 LYND, 1929; LYND; LYND, 1937.
23 ZORBAUGH, 1929, op. cit.
24 SHAW, 1930; 1931.
25 SHAW; McKAY, 1942, op. cit.
26 RECKLESS, 1950; 1962, p. 515-517; 1956, p. 744-746.
27 WIRTH, 1945, p. 347-372.
243
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
No entanto, revelam-se como de notvel interesse os problemas emergentes
da chamada rea II, caracterizada como rea de transio ou intersticial.
De fato, nessa rea natural onde se vericam as dinmicas sociais mais
intensas e onde se manifestam os sintomas mais evidentes da marginalidade
e do desvio.
Do ponto de vista dinmico, tal rea natural apresenta-se como um sistema
em expanso da mancha de leo, com capacidade de notveis mudanas na
estrutura concntrica originria. De fato, a rea II era autenticamente ocupada
por cidados respeitveis, dotados de alto nvel de renda e de ocupao.
Com o tempo, os moradores dessa rea foram obrigados a deslocar-se para
outros setores mais perifricos, sob a presso do centro histrico, necessitado
de novas reas. A rea II inicia gradualmente um processo de esvaziamento dos
seus antigos habitantes, que passam a ser substitudos por novos imigrantes,
pobres em busca de moradia, e por isso, pouco preocupados com a situao
de pobreza e desorganizao social do bairro e mais ocupados em garantir a
prpria sobrevivncia em condies adversas. Em outras palavras, o modelo de
desenvolvimento da estrutura urbana reproduz alguns aspectos da luta pelo
espao que caracteriza os deslocamentos da populao nas cidades modernas:
aqui, mais uma vez emerge, na impostao sociolgica do fenmeno, a matriz
positivista darwiniana da Escola de Chicago, que especica em novos modos,
o tema da seleo por meio da luta pela existncia. O biologismo traduzido
na dinmica urbana prev uma sria competio entre as diversas correntes
migratrias, dessas ltimas entre si, contra a populao pr-existente. O resul-
tado que os grupos humanos marginalizados em barracas, favelas, cortios,
passam a concentrar-se em zonas tpicas, que se tornam tambm reas altamente
segregadas. Em uma situao semelhante a relao simbitica entre os diversos
componentes demogrcos faz-se sempre mais precria, mesmo dentro das tais
reas naturais, gerando uma situao de desorganizao social que, descrita
244
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
em termos de ausncia de um consistente set de referncia cultural
28
, torna-se o
caldo de cultura da marginalidade e do desvio. A seqncia competio ( invaso,
domnio e sucesso de novos grupos humanos na rea sociogeogrca) desor-
ganizao social (ou ausncia de normas, referencial cultural, controle social,
de deterrncia etc.) desvio, espelha o fulcro terico da Escola de Chicago. E
sobre esse ponto que se concentraram as crticas mais freqentes de outros
socilogos urbanos.
, sobretudo, a partir de um grupo de socilogos ingleses que a impostao
ecolgica-biolgica da Escola de Chicago elaborada e, em alguns pontos,
superada. J. Rex
29
e R. Moore
30
tentaram entender de outros modos o me-
canismo que tornaram um subrbio de Birmingham (Sparbrook), uma zona
intermediria ou de passagem para os imigrantes: assumindo o conceito de
luta de classes no sentido weberiano (conito pelo controle da propriedade
privada domstica e no somente dos meios de produo). Eles falam de
luta de classe pela habitao, como processo central do desenvolvimento
urbano. No caso analisado, de fato, existe um notvel contraste entre a fora
de penetrao no tecido urbano por parte dos trabalhadores brancos (apoia-
dos pelo partido trabalhista) e aquela dos imigrantes negros, constrangidos a
viverem em condies que provocam o sentimento de perseguio racial.
A novidade a respeito da aproximao de Park e Burgess consiste em in-
terpretar a seleo darwiniana em termos atualizados: eles assumem explicita-
mente que o processo de armao de alguns grupos humanos e a excluso de
outros no advm por efeito de uma lei natural, mas pelo impacto de precisos
interesses e de foras sociais e polticas. Quanto ao desvio, J. Lambert (1970)
tinha notado que na prpria cidade de Birmingham (mas em uma outra zona),
28 MORRIS, 1956, p. 610-613.
29 REX, 1974.
30 McCLEARY; MOORE, 1965.
245
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
no era possvel provar que os imigrantes eram responsveis pela alta taxa de
criminalidade presente nas reas de transio. Observaes semelhantes foram
feitas por Downes (1966) a respeito de uma rea de Londres desde os anos 60:
notou-se realmente que a populao afro-inglesa dos bairros de West Stepney,
na falta de concretas possibilidades de competio com os brancos, na busca
por trabalho e casa, se deixava levar por toda sorte de desvios (prostituio,
jogos de azar, droga, lcool e violncia); e isso parecia ser fruto da excluso
deles dos bairros normais e da concentrao deles em zonas de transio. Em
outras palavras, a criminalidade era entendida como funo da disponibilidade
de oportunidade e da graticao mais que do fruto natural da desmoralizao
dos menos hbeis, dos biologicamente inferiores, dos doentes
31
. Interpretao,
esta ltima, de matriz positivista.
A contribuio da sociologia urbana recente tem o mrito de considerar a
desorganizao social como um fato muito mais dinmico do que o considerava
a Escola de Chicago. A luta pelo espao urbano implica uma srie de interaes
sociais que vo muito alm do esquema invaso dominao sucesso proposto
por Park e Burgess e que englobam uma srie complexa de consideraes sobre
o poder, o conito, a mudana social.
Por outro lado, esta impostao sociolgica pode correr o risco de se acabar
em uma espcie de fechamento apriorstico sobre os problemas da cidade; a
luta pelo espao est ligada luta pelo trabalho, luta pelo acesso s
estruturas do tempo livre e assim por diante. Se o processo segundo o qual o
sujeito se torna marginalizado, e depois desviante, depende substancialmente
das avaliaes sociais que favorecem um grupo humano em relao a outro
(traduzindo em instrumento legal uma soma de razes no necessariamente ins-
pirada na justia), preciso buscar os motivos de tais avaliaes no somente na
dinmica restrita da cidade, mas naquela mais ampla da sociedade. Os processos
31 TAYLOR; TAYLOR, 1973; TAYLOR; WALTON; YOUNG, 1973.
246
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
de estigmatizao (ou de seleo, como prope a Escola de Chicago) no so
determinados somente pelo impacto de agncias mais ou menos exploradoras ou
parasitrias, mas tambm, e mais ainda, pelas instituies cardeais da sociedade,
que prescrevem as hierarquias de status em relao s prprias necessidades de
sobrevivncia e funcionalidade, provocando assim uma distinta possibilidade
de acesso aos recursos e (de conseqncia) ao poder.
O que dissemos acima sublinha a importncia da seqncia explicativa do
fenmeno do desvio, que prev certo nvel de competio, capaz de romper
o equilbrio biolgico do sistema, causado pelos fenmenos da imigrao
para reas naturais de transio e pelos processos de luta pelo territrio. O
conceito de desorganizao social, inerente a esta seqncia explicativa, continha
no seu bojo as premissas de uma teoria subcultural do desvio. As anlises da
Escola de Chicago limitavam-se a rearmar o carter orgnico da sociedade,
sempre entendida como consensual e, por conseqncia, a considerar o desvio
como um efeito da patologia social, no sentido de que a socializao das nor-
mas que regulam os comportamentos no conseguia permear todo o corpo
social. Da a hiptese segundo a qual a razo dos desvios que ocorriam nas
zonas de transio encontrava explicao na existncia, naquelas reas, de uma
cultura tpica, transmitida de gerao em gerao. A desorganizao social
era explicada tambm em termos genticos. A teoria da transmisso cultural,
segundo a qual existem sets de valores desviantes ao lado e dentro de sistemas
de valores legtimos, era explicada por autores como Burgess e Akers, Glaser,
Sykes e Matza, Shaw e Mckay, Thrasher, Miller, Kvaraceus, Kobrin
32
. Pela
concepo eminentemente cultural dessas interpretaes, ns as veremos em
um paradigma posterior e especco (cultural).
32 THRASHER, 1963; KVARACEUS; MILLER, 1976; MILLER, 1958, p. 5-19; KVARACEUS,
1971; KOBRIN, 1964; KLEIN, 1983.
247
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
4. OUTRAS CONTRIBUIES DA ESCOLA DE CHICAGO
Ao lado dos estudos de sociologia urbana j analisados e na mesma linha
interpretativa colocam-se algumas contribuies muito dispersas no tempo,
mas que podem ser compatibilizadas dentro da mesma inspirao da Escola
de Chicago.
Notvel extenso tiveram os estudos de casos singulares de desvio,
apoiados pela anlise de material documentrio biogrco e pela observao
participante.
J em 1923, Anderson
33
tinha publicado um estudo monogrco de grande
interesse sobre o fenmeno dos vagabundos, conrmando que tal desvio
tinha correlaes com reas culturais tpicas (urbanas), com os componentes
tnico-raciais, com condies situacionais irrepetveis.
Mesmo a pesquisa de Thomas e Znaniecki j citada pode ser considerada
um exemplo de estudos de caso, mesmo se no unicamente orientada ao
estudo do desvio.
Mais tpico torna-se o trabalho de Shaw
34
, que narra a histria de um
jovem delinqente, crescido em uma favela, rejeitado pelos pais e pela escola,
acolhido em uma casa de reeducao e, nalmente, trancaado em uma priso
para adultos. Na anlise de Shaw torna-se claro que as causas do desvio do
protagonista tem suas origens na situao de desorganizao social do ambiente
de procedncia e no tanto em motivos de ordem psicolgica. Assim, em um
estudo sucessivo
35
, Shaw acentua os processos de imitao j analisados por
Park e Burgess como causa do comportamento desviante. A segregao dentro
de uma favela no impede que Sidney, o protagonista da estria, que fascinado
33 ANDERSON, 1923.
34 SHAW, 1930, op. cit.
35 SHAW, 1931, op. cit.
248
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
pelos modelos e pelas oportunidades que ele descobre nos bairros dos altos
negcios. O seu desvio tem origem quando ele se d conta de que tais modelos
lhe so vetados de fato e que o seu comportamento naquelas reas est sempre
sobreposto a um rgido controle.
, sobretudo, nas numerosas pesquisas sobre as gangues delinqenciais
adolescenciais que o mtodo dos estudos de caso encontrar a sua expresso
mais completa. Dessas pesquisas nos ocuparemos, porm, mais adiante, quando
trataremos da matriz cultural geradora de desvio e marginalidade (paradigma
cultural).
Paralelamente aos estudos ecolgicos sobre grandes cidades, inaugurados
e conduzidos pela Escola de Chicago, existem tambm muitas pesquisas sobre
comunidade, entendida seja como agrupamentos rurais, seja como zonas de
mais vasta superfcie (regies, condados etc.).
Pesquisas como as de Cressey
36
e de Faris
37
so exemplares na ilustrao das
transformaes sociais e da conseqente desorganizao social produzida pela
rpida industrializao do Meio-Oeste americano, tradicionalmente agrcola. A
polarizao da estraticao social (classe dos patres e classe dos minerado-
res), a prevalncia dos processos competitivos e das reaes humanas formais e
casuais, a materializao dos interesses, parecem levar a um incremento decisivo
das vrias formas de desvio (alto nvel de divrcios, crime, vcio, alcoolismo,
homicdio, doenas venreas, corrupo da polcia, imbrglios polticos, as-
sassinatos polticos). A anlise sociolgica leva concluso de que os nveis de
desvio esto, nesses casos, estreitamente correlacionados s condies de vida
da regio; tanto assim que as taxas de comportamentos no conformes
retornaram aos nveis da normalidade no apenas foram superadas as diculda-
des oriundas de um processo de desenvolvimento muito rpido do territrio.
36 CRESSEY; WARD, 1969; SUTHERLAND; CRESSEY, 1947, op. cit.
37 FARIS, 1939; FARIS, 1960.
249
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
A pesquisa de Cressey introduz uma nova varivel, ou seja, o impacto das
transformaes produzidas pela industrializao. Mas no d novos suportes
para a superao de uma aproximao puramente correlacional da pesquisa.
No se entende os processos pelos quais a desorganizao social decorrente
da industrializao consegue provocar desvios. Somente em um contexto mais
amplo de consideraes tericas ser possvel analisar alm das transformaes
de estruturas tambm as variaes nos modelos de comportamento, o novo
quadro de relaes entre ns e meios, a nova distribuio das oportunidades
de sucesso, que parece explicar o surgimento do comportamento desviante.
Mas esta anlise ser conduzida por sucessivas aproximaes mais sensveis
a uma impostao macrossociolgica do problema.
Uma outra fonte de contribuio no transcurvel para a sociologia do des-
vio aquela representada por algumas tentativas de anlise da desorganizao
social em nvel nacional.
No existe abundncia de estudos em nvel nacional sobre a desorganizao
social como fator de desvio.
Trabalhos como aqueles de Barringer
38
so exemplos daquilo que se poderia
fazer neste campo, alargando as premissas da Escola de Chicago a mbitos
sempre mais amplos.
Na realidade, no se consegue, nestas tentativas, seno mostrar como em
pases em via de desenvolvimento, existam as premissas para uma maior expanso
do desvio em paralelo ao que se observou em relao aos ambientes desorgani-
zados ou de cidades e regies caracterizadas por forte transio social.
A correlao estatstica entre desvio e graus de desenvolvimento industrial e
urbano no parece, porm, provar mais que uma concomitncia dos dois fen-
menos; no chega a constatar a dependncia causal deles (que no excluda,
mas que no demonstrada por esse tipo de pesquisa). Ser somente pela
38 BARRINGER, 1965.
250
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
considerao das conexes estruturais entre tipo de sociedade e desvio que se
poder dizer algo de melhor sobre a relao entre as duas variveis, como fazem
em geral as teorias funcionalistas-estruturalistas e as teorias do estigma.
Permanecem, enm, os mais recentes estudos de fenomenologia da estrutura
ecolgica que, mesmo balizando-se de algum modo na tradio de Chicago,
inovam substancialmente em contedo e no mtodo. Alguns autores, especial-
mente ingleses, observaram como nas sociedades dominadas por modelos con-
sumistas de tipo capitalista mudaram-se radicalmente os conceitos de pblico
e de privado em relao ao espao; criaram-se novos critrios para denir os
diversos mbitos nos quais lcito (ou no) desenvolver determinadas ativida-
des. Em outras palavras, uma nova tipologia parecia denir o comportamento
territorial convencional e desviante, estabelecendo as normas que regulam os
movimentos no espao das pessoas sociais. Tentou-se deste modo, algumas
tipologias. Por exemplo, a de Lyman e Scott (1970)
39
, que distingue entre public
territories, abertos ao acesso (mas no necessariamente ao) de todo indivduo
em razo de seu direito de cidadania, como, por exemplo, os parques pblicos,
as ruas etc.; os home territories, abertos a grupos especiais de pessoas e a certas
condies (clubes privados, reas das gangues juvenis etc.); os interactional
territories, abertos a certos grupos em tempos determinados (salas apartadas
para reunies); os body territories que se identicam com o espao anatmico do
corpo humano. O que importa notar que as normas que regulam o acesso a
estes territrios so muitas vezes ambguas, de modo que so bastante fceis
as transgresses que consistem substancialmente na violao (tentativa de tomar
posse de um territrio de outro), da invaso (tentativa de usar o territrio de
outros), contaminao (introduo de caractersticas indesejadas, como a cor
da pele, em um territrio). Importante a esse respeito, e para as nalidades de
39 LYMAN; SCOTT, 1970.
251
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
nosso estudo, notar que esta distino bem radicada em uma concepo
individualista que sustenta o direito privacidade em uma sociedade que, ao
invs, sujeita ao risco de contnuas violaes, invases e contaminaes de reas
de interao. A integridade territorial, j defendida por uma srie de sanes
informais em nvel interpessoal, reforada tambm por precisas sanes for-
mais, provenientes das agncias do controle social. Nas sociedades capitalistas
emerge claramente o carter protegido dos home territories pertencentes aos
grupos de poder (da classe mdia) e das instituies estatutrias. Todos os
outros territrios so fortemente controlados pela polcia. A rea do privado
considerada mais apropriada para as trocas interpessoais e, conseqentemente,
so consideradas potencialmente desviantes as aes sociais consumadas nos
interactional territories. Essas indicaes podem resultar teis para a compreenso
do desvio em alguns de seus aspectos ligados ao territrio: podem explicar,
por exemplo, os motivos pelos quais a polcia ou a prpria opinio pblica
designam como criminosa certa rea urbana e no uma outra, mais em base
de certas convenes sobre modos de distribuio do territrio urbano do que
em base a critrios objetivos. Podem explicar tambm certas reaes sociais
que tendem a atribuir carter desviante s aes que se desenvolvem sobre um
territrio tpico (periferia, zonas abandonadas, bosques etc.).
A nova fenomenologia ecolgica sugere que o desvio j nasce a partir do
momento em que violado certo espao considerado como tabu (como
tambm armava a primeira Escola de Chicago). Acrescenta tambm que ele
se estrutura sucessivamente por efeito das estigmatizaes que envolvem o
desviante e que tm a funo de distanci-lo do territrio para salvaguardar o
seu carter exclusivo e privado. Em outras palavras, o desvio ligado ao
territrio seja no sentido de que a presena de uma pessoa social em um terri-
trio a ele no apropriado j considerada uma infrao da norma, seja no
sentido de que dessa infrao se espera ulteriores comportamentos anormais.
252
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
5 TEORIA DA DESORGANIZAO SOCIAL DO TERRITRIO REVISTA
Rodney Stark
40
, em Deviant place: a theory of the ecology of crime, faz uma releitura
da teoria da desorganizao social do territrio (entendido como bairro ou
comunidade). Identica cinco aspectos da ecologia social que caracterizam
as reas de alto nvel de desvio. So eles: densidade (density); pobreza (poverty),
desorganizao territorial (mixed use ou uso do territrio para ns mltiplos),
mobilidade ou transitoriedade (transience) e degradao ambiental (dilapida-
tion).
Os fatores acima nomeados tm um impacto especco sobre a ordem
moral, medida que as pessoas reagem s condies de desorganizao social.
O primeiro impacto diz respeito ao cinismo moral entre os residentes, uma
descrena no ambiente. O segundo impacto relaciona-se ao incremento das
oportunidades de desvio, transgresso e delinqncia dentro do referido bairro,
territrio ou ambiente. Em terceiro lugar, acrescenta-se a motivao, naquele
local, para uma cultura da transgresso. Por ltimo, contempla-se a tendncia
atenuao da vigilncia do controle social sobre o tal bairro ou territrio.
Ulteriores amplicaes do volume de desvio se do tambm, segundo o autor,
porque o bairro atrai ulteriores desviantes e pessoas com propenso para o
delito; porque o territrio tende a excluir os menos desviantes; e porque sobre
o tal bairro atenuam-se ainda mais as foras dos agentes do controle social.
O autor idealiza, com base em suas pesquisas, um crculo vicioso da delin-
qncia em 27 armaes, que reportamos adiante, na medida em que podem
esclarecer ainda mais a dinmica de degradao social e ambiental de um
determinado bairro ou territrio atingido pela desorganizao social:
40 STARK, 1987, p. 893-909.
253
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
1. Quanto maior a densidade do bairro, tanto maior a associao entre os
mais e os menos predispostos ao desvio.
2. Quanto maior a densidade do bairro, maior o grau de cinismo moral.
3. Na medida em que o bairro denso e pobre, as casas tendem a ser
superpovoadas.
4. Onde as casas so superpovoadas: aumenta a tendncia das pessoas a
agregarem-se fora de casa, em lugares e circunstncias que amplicam as
tentaes e as oportunidades de desviar.
5. Casas superpovoadas: baixo nvel de superviso das crianas.
6. Baixo nvel de superviso: baixo resultado escolar, diminuio dos nveis
de conformidade e aumento dos comportamentos desviantes.
7. Casas superpovoadas: maior nvel de conito entre famlias, diminuio
do nvel de vnculo afetivo e dos nveis de conformidade.
8. Casas superlotadas: maior visibilidade social dos comportamentos
(menor privacidade).
9. Quanto mais pobre e denso o bairro, mais desorganizado ele se torna.
10. Quanto mais o bairro for desorganizado, maior a familiaridade e acesso
aos locais que oferecem mais oportunidade de desviar.
11. Quanto mais desorganizado o bairro (mixed-use), tanto mais as pessoas
tm oportunidade para se reunirem fora de casa, em lugares que facilitam
a transgresso.
12. Quanto mais o bairro pobre, denso, desorganizado, tanto mais mani-
festam alto nvel de mobilidade.
13. A mobilidade enfraquece a estima dos familiares.
14. A mobilidade enfraquece as organizaes de voluntariado e, por conse-
qncia, ambas as foras informais e formais do controle social.
254
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
15. A mobilidade reduz os nveis de controle social (vigilncia).
16. Bairros densos, pobres, desorganizados, com alto nvel de mobilidade,
tendem a ser degradados (ground zero).
17. Degradao ambiental acaba por constituir-se em estigma social para
os residentes.
18. Viver em um bairro sujeito a alto nvel de estigma social provoca reduo
dos nveis individuais de conformidade.
19. Quanto mais forte a incidncia do estigma sobre um bairro, tanto mais
rapidamente os bons cidados tendem a se transferir para outros
bairros.
20. Quanto mais forte a incidncia do estigma social, tanto menos as pessoas
boas tendem a morar no tal bairro.
21. Os bairros que manifestam alto nvel de estigma social tendem a ser
ocupados sempre mais pela populao marginalizada.
22. Mais marginalizados na rea: mais baixo o nvel de percepo das chances
de sucesso e autopercepo dos nveis de conformidade.
23. Territrio estigmatizado: menores os nveis de sano por parte do
controle social.
24. Quanto menos sanes penais: maior o descrdito (incremento do
cinismo moral).
25. Menor o grau de sanes penais: ambiente mais propenso ao crime e
transgresso.
26. Menos sanes penais: tendncia de chegada de novos delinqentes e
transgressores.
255
Capitulo 9 Delinqncia que se desenvolve em ambiente socialmente desorganizado
27. Quanto mais as pessoas do bairro o ocupam com base nos critrios de
participao no crime e na transgresso: tanto maior a visibilidade de
tais atividades delinqenciais, e maiores as oportunidades para as pessoas
participarem delas.
257
1. TEORIAS DA APRENDIZAGEM SOCIAL
O
que dissemos at aqui sublinha a importncia da seqncia explicativa
do fenmeno do desvio social, que prev um certo nvel de compe-
tio capaz de romper o equilbrio biolgico do sistema, causado
por fenmenos de imigrao para reas naturais de transio e processos de
mudanas demogrcas entre favelados, novos imigrantes e sem-teto que
procuram espao nas cidades. O conceito de desorganizao social inerente
a esta seqncia explicativa continha no seu bojo as premissas de uma teoria
subcultural do desvio. Mas, no momento histrico que estamos analisando,
tais premissas no podiam ser conrmadas seno parcialmente. As anlises de-
senvolvidas pela Escola de Chicago se limitavam a rearmar o carter orgnico
da sociedade (sempre compreendido como uma estrutura sustentada por um
consenso unitrio generalizado), e, conseqentemente, a considerar o desvio
como o efeito de patologia social, no sentido de que as normas necessrias para
a estruturao do comportamento no tinham condio de permear o inteiro
corpo social. Da comea a nascer a hiptese segundo a qual a origem do desvio
Captulo 10
Paradigma Cultural:
aprendizagem e cultura
258
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
nas reas de transio fossem explicveis pela existncia nelas, de uma cultura
tpica, transmitida de gerao em gerao, de um grupo para o outro. Nesse
sentido, a desorganizao social era explicada tambm em termos genticos.
A teoria da transmisso cultural, segundo a qual crescem sets (conguraes) de
valores desviantes ao lado e dentro de sistemas de valores legtimos, era aplicada de
maneira diferente por autores como Burgess e Akers, Glaser, Sykes e Matza, Shaw
e McKay, Thrasher, Miller, Kvaraceus, Kobrin
1
.
As teorias da aprendizagem argumentam que o comportamento desviante,
do criminoso e do delinqente so aprendidos como so aprendidos tantos
modos de fazer e de ser dentro de uma determinada cultura.
2. TEORIA DA ASSOCIAO DIFERENCIADA
Edwin Sutherland
2
desenvolveu aquela que pode ser considerada a principal
teoria da aprendizagem, chamada tambm de teoria da associao diferenciada.
Com elementos interacionistas, pois a aprendizagem se d na interao com
os outros, como veremos, o autor chegou a algumas concluses:
1. o comportamento delinqencial aprendido;
2. aprendido em interao com os outros, por meio de um processo
comunicativo;
3. tal processo ocorre dentro de grupos personalizados;
4. o aspirante a uma carreira desviante aprende no somente as tcnicas
criminosas, mas tambm os motivos, as atitudes e as racionalizaes;
5. ele avalia se vale a pena ou no seguir as normas e as leis, quem favorvel
e quem contrrio a elas;
1 THRASHER, 1963, op. cit.; KVARACEUS; MILLER, 1976, op. cit.; MILLER, 1958, op. cit. p.
5-19; KVARACEUS, 1971, op. cit.; KOBRIN, 1964, op. cit.; KOBRIN; KLEIN, 1983, op. cit.
2 SUTHERLAND; CRESSEY, 1947, op. cit.
259
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
6. o ato delinqencial conseqncia de uma avaliao na qual os motivos
para transgredir a lei acabam por se manifestar como mais vantajosos
do que os motivos para conformar-se lei;
7. a associao orientada a favor ou contra a lei varia em freqncia, durao,
prioridade e intensidade;
8. o processo de aprendizagem do desvio inclui todos os passos preceden-
tes;
9. necessidades e valores no explicam o comportamento delinqencial,
uma vez que tambm os no delinqentes so motivados pelos mesmos
valores e necessidades.
O que provoca o desvio no so os fatores externos ao sujeito (pobreza,
necessidade de dinheiro ou de sucesso), mas muito mais a associao diferen-
ciada a grupos que favorecem a transgresso da lei e onde o sujeito aprende
o know how do comportamento desviante. Da mesma maneira que um sujeito
se socializa de modo a comportar-se de acordo com os valores, as tcnicas e
as atitudes convencionais, um outro pode socializar-se com base em valores e
tcnicas e atitudes desviantes, dependendo do grupo ao qual ele se associa.
A interpretao do desvio comportamental em Sutherland baseia-se subs-
tancialmente nos seguintes pontos:
- o comportamento desviante essencialmente um comportamento
aprendido.
- o comportamento desviante aprendido por meio de interaes com-
plexas que pressupem trocas de comunicao, especialmente dentro de grupos
em que as relaes so face a face. No acontece, por exemplo, em agncias de
comunicao informais ou impessoais. Nesta perspectiva, a teoria valoriza os
processos de socializao primria, em modo particular, os condicionamentos
exercitados sobre a aprendizagem do desvio comportamental dentro do grupo
260
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
familiar e no grupo de coetneos. O desvio instaura-se quando o sujeito tem
grandes oportunidades de aprender, dentro desses grupos signicativos, os
modelos no-conformes de adaptao social que lhe parecem satisfazer as
prprias necessidades.
- A aprendizagem do comportamento desviante compreende no somen-
te as tcnicas criminosas, mas tambm os motivos, as tendncias, as atitudes e
as racionalizaes que precedem e acompanham as condutas desviantes.
- Nos ambientes nos quais o sujeito (futuro delinqente) vive, coexis-
tem sejam modelos favorveis ao comportamento desviante, sejam modelos
desfavorveis. O sujeito se orienta em direo do desvio quando comeam a
prevalecer os motivos que favorecem o desvio. Parece que esta prevalncia est
ligada a uma maior freqncia, durao, prioridade, intensidade de contatos
com as pessoas portadoras de avaliaes que tendam a favorecer os motivos
contra a lei. A associao com avaliao favorvel ao desvio torna-se determi-
nante quando o sujeito aceita o desvio como soluo para seus problemas
de adaptao social e satisfao das necessidades pessoais.
- O centro de ateno do pesquisador so o que o autor chama de pockets
of unconventionality, em que os valores que apiam o comportamento desviante
so aprendidos: podem ser encontrados em todos os lugares como um grupo
de adolescentes amigos na esquina da rua, uma gangue delinqencial, um
grupo da escola, uma rede de amigos, uma rede de drogados do campus, uma
rede de criminosos de uma gangue. Cada um desses crculos ntimos podem
representar um lcus para uma associao diferencial e uma socializao para
valores delinqenciais.
- Sutherland em sua anlise considerava que alguns fatores poderiam
determinar a probabilidade que algum entrasse em contato com um crculo
de pessoas caracterizado por valores desviantes, capazes de transmitir valores
e socializ-los. Tais fatores se relacionam : prioridade, ou quo cedo essa
261
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
interao acontece na vida de algum; intensidade ou quo ntimas so essas
relaes; freqncia ou quantas vezes acontece; durao, ou por quanto tempo
elas acontecem.
- As pessoas acabam denindo-se como delinqentes em meio a um
excesso de denies favorveis violao da lei ou de denies desfavorveis
violao da lei.
3. TEORIA DA TRANSMISSO CULTURAL
Walter Miller (1958) acentua a interpretao subcultural e a importncia
dos grupos no-familiares na transmisso dos valores da subcultura desviante.
Ele se concentra na delinqncia juvenil. Arma que os valores delinqenciais
so aprendidos em um nmero limitado de um grupo social, tal como a famlia,
a comunidade, a vizinhana e grupo de pares. Os valores delinqenciais passam
de gerao a gerao, e por isso so transmitidos pelos pais e pela comunidade,
aprendidos e socializados pelas crianas. a classe baixa aquela que consegue
com mais procincia conservar, transmitir e socializar tais valores. Da que o
autor busque as causas dessa aprendizagem nos slums desorganizados onde se
concentram os sujeitos de baixo nvel socioeconmico (SSE), cujos valores esto
em conito com aqueles da classe mdia, que dominante. provvel que estes
sujeitos adquiram, ao longo do tempo, conscincia de classe, e se identiquem
com a comunidade do bairro como aquela que confere status.
Parecem identicveis alguns valores tpicos desta subcultura de baixo SSE
3
com suas possveis alternativas:
- Autonomia: de um lado, liberdade em relao a constrangimentos
externos, liberdade em relao a autoridades supercontroladas; independncia.
3 MILLER, 1996, p. 104-112.
262
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
De outro, presena de constrangimentos externos, presena de fortes autori-
dades, dependncia, sentimento de ser cuidado.
- Esperteza: de um lado, habilidade de enrolar os outros (pessoas
ingnuas). De outro, habilidade de se passar por credvel, de ganhar dinheiro
com esperteza, astcia, destreza, preguia.
- Senso de fatalismo: de um lado, crer na fora do destino, da fortuna,
de outro, maus pressgios, ser sem sorte.
- Dureza: de um lado, valentia fsica, masculinidade, audcia, valentia,
ousadia, de outro, fraqueza, falta de aptido, efeminado, timidez, covardia,
preveno.
- Inquietude: de um lado, crena nas leis, de outro, violao da lei.
- Excitao: de um lado, estimulao, risco, perigo, variedade, atividade,
de outro, tdio, morte, segurana, monotonia, passividade.
Nas comunidades de baixo SSE estes valores so maximizados e se tornam,
por isso, altamente desejveis para os jovens.
Nestes slums os grupos familiares so caracterizados especialmente pela
carncia da gura paterna, com graves diculdades para a identicao, espe-
cialmente por parte dos jovens do sexo masculino. A estrutura matriarcal das
famlias das favelas leva os rapazes a procurarem fora da famlia as bases da
prpria identicao. A cultura do bairro, compartilhada pela comunidade
e, especialmente, pelos grupos desviantes organizados (gangues) oferece a
sustentao para a segurana emocional e para a auto-realizao que a famlia
no tem condies de dar.
Toda violao das normas que acontea fora da favela considerada, dentro
da cultura de baixo SSE, como conquista e armao do eu. O comportamento
comea assim a ser avaliado com base em um cdigo moral standard tpico,
que aquele da favela, e no mais aquele da sociedade circunstante.
263
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
A interpretao de W. Miller se situa j claramente em um contexto sub-
cultural e tem o mrito de retomar os componentes de classe da teoria do
desvio. Essa ltima coloca o acento sobre as contraposies conituais entre
as diversas classes do sistema urbano; classes essas que a Escola de Chicago
havia apenas indicado, sem haver teorizado.
As teorias acima parecem bastante ambiciosas ao armarem a aprendizagem
dos comportamentos desviantes
4
. Podemos, sim, aceitar que a aprendizagem
existe dado que existe uma cultura que a alimenta, mas no podemos negar
a capacidade das pessoas de escolherem o que querem, de usarem da prpria
liberdade. As pessoas fazem composio com um grupo de amigos em parte,
porque eles j compartilham certos valores e atividades com membros de outros
grupos. E mais: quando um indivduo entra em contato com um crculo social
em que ocorrem atos desviantes e se compartilham atitudes favorveis ao desvio,
ele pode rejeitar tais valores, aes, atitudes ou normas e abandonar o grupo.
Um exemplo pode ser feito com relao participao em grupos adidos s
drogas: algum que se aproxima de um grupo de maconheiros o faz porque j
tem alguma anidade com o estado existencial em que eles vivem, com seus
valores, atitudes, caractersticas, crenas etc.; no necessariamente se torna
dependente qumico porque entrou no grupo, mas tende a entrar no grupo
porque se sente em sintonia com o mesmo ou o acha instrumentalmente til
para satisfazer as prprias necessidades de evaso. O que queremos ressaltar
que, apesar da proposta de socializao que feita aos membros de um grupo
social, o seu componente permanece livre para escolher e decidir. Por ltimo:
se as teorias de Sutherland e Miller tendem a explicar a delinqncia que se
forma nas classes baixas e dos jovens pertencentes s classes trabalhadoras,
como podemos explicar a delinqncia crescente nas classes mdias?
4 GOODE, 1996, op. cit., p. 95-99.
264
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
4. OUTRAS TEORIAS
Robert Burgess e Ronald Akers
5
aplicaram o modelo behaviorista na
tentativa de interpretar o crime a partir da contribuio de Sutherland. O
comportamento desviante fruto de condicionamento operado por meio
de recompensas e punies. Os sujeitos que so recompensados pelo desvio
tendem a continuar uma carreira desviante, enquanto aqueles que so punidos,
tendem a parar.
Daniel Glaser
6
em sua teoria da identicao diferenciada, por sua vez,
adapta a teoria anterior e acrescenta a noo de identicao diferenciada. A
escolha do comportamento delinqencial depende do modo pelo qual o sujeito
se identica com uma outra pessoa, real ou imaginria, que tende a aprovar o
comportamento desviante. O autor tenta explicar como, nos nossos tempos
com a forte presena da mdia, a aprendizagem de comportamentos e estilos
de vida desviantes no advm somente de relacionamentos face a face, mas
tambm pelas interaes hi-tech.
David Matza e Gresham Sykes
7
, por sua vez, elaboraram uma teoria da
neutralizao que abre caminhos para o desenvolvimento da teoria da rotula-
o (labeling theory). Os autores partem do princpio segundo o qual na nossa
sociedade a linha que distingue o conformismo do desvio muito tnue. Como
pode ser, tambm, a diferena entre um crime e uma molecagem cometida
por um adolescente. Entre uma e a outra, os sujeitos aprendem tcnicas de
neutralizao que os permite atenuar o peso da culpa pelo ato cometido.
Estas tcnicas facilitam tambm a escolha de uma carreira desviante, e so:
5 BURGESS; AKERS, 1966, p. 128-147.
6 GLASER, 1971.
7 SYKES; MATZA, 1957, p. 664-670; MATZA, 1976, op. cit.
265
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
- a negao da responsabilidade: o sujeito arma que o que ocorreu foi
algo de acidental (No queria fazer isso; Todo mundo faz isso);
- a negao da ao desviante: o sujeito arma que a sua ao no pre-
judicou ningum (No z mal a ningum);
- a negao da vtima: o sujeito arma que a vtima merecia (Ele merecia
isso);
- a condenao das foras do controle social (da polcia), consideradas
como corruptas (So piores que ns);
- a orientao da ao em direo a uma causa maior: o sujeito procura
motivos para justicar o ato (Fiz isso pelo meu irmo).
Outros autores desenvolveram a aprendizagem na perspectiva de uma teoria
da transmisso de valores. So eles Shaw e McKay, Walter Miller, Kvaraceus
e Miller.
Shaw e McKay (1931, 1942) partem da constatao da existncia de valores
tpicos na rea socialmente desorganizada e pem, essencialmente, o problema
da transmisso destes valores. Como para Sutherland, a soluo colocada
em termos de aprendizagem de tais valores. As jovens geraes aprendem os
modelos desviantes nos slums (= favelas), os quais so difundidos junto com
outros modelos comportamentais conformes e legtimos. A aprendizagem
parece, inicialmente, propiciada por motivaes prevalentemente ldicas, pela
curiosidade, pela necessidade de experimentar algo de novo ou de diferente
da rotina quotidiana. Em um segundo momento, as condutas desviantes so
sustentadas por motivaes de carter utilitarista e, enm, se transformam em
condutas prossionalizadas.
Kvareceus e Miller (1959) retomam algumas das armaes precedentes,
especicando melhor seus termos. Para eles o desvio no se explica em termos
puramente psicolgicos, como reao aos distrbios emocionais, mas est
ligado existncia de aspiraes mais baixas nas classes sociais de baixo status
266
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
socioeconmico (SSE).
Tais aspiraes derivam de uma tpica cultura do slum e foram interiorizadas
pelas jovens geraes em contato com os grupos mais relevantes no ambiente.
Os jovens tm em mente metas imediatas, atingveis mediante meios que so-
mente a sociedade retm ilegal. A classe mdia, por sua vez, prope valores ou
metas que requerem um longo itinerrio, que acabam sendo proibitivos para as
classes inferiores, mesmo porque implicam a aplicao de meios abundantes e
complexos. Tais valores so: o achievement, a responsabilidade, a acumulao de
bens materiais, a graticao demorada, a ambio etc.
Em geral os jovens de baixo SSE no conseguem elevar as prprias aspi-
raes ao nvel daquelas da classe mdia, uma vez que a socializao recebida
foi xada por parmetros dos quadros de valores aprendidos na primeira in-
fncia e na primeira adolescncia. Quando eles conseguem imaginar que seja
possvel atingir aos valores da classe alta, ento diminuem os estmulos para o
comportamento desviante.
Vice-versa, pode acontecer que, em determinados contextos, a classe mdia
aceite qualquer valor da classe baixa (a dureza, a esperteza, a inquietude...); em
tal caso se vericam comportamentos desviantes tambm na classe mdia.
A contribuio de Kvaraceus e Miller acentua as aspiraes e no tanto a
diversidade de oportunidades das classes inferiores.
O que motiva o desvio no tanto a carncia dos meios para atingir as
metas prescritas pela classe mdia, mas sim a impossibilidade de imaginar metas
diferentes daquelas interiorizadas nos grupos de baixo nvel social
8
.
Kobrin
9
, na sua teoria da transmisso subcultural, especicava em algumas
armaes derivadas de observaes sobre a delinqncia juvenil nos territrios
8 O discurso sobre as oportunidades ser retomado mais sistematicamente por alguns autores que se
inspiram nas teorias da anomia (Merton, Cohen, Cloward e Ohlin).
9 KOBRIN, 1964, op. cit.; KOBRIN; KLEIN, 1983, op. cit.
267
Capitulo 10 Paradigma Cultural: aprendizagem e cultura
socialmente desorganizados que em determinados bairros caracterizados por
altas taxas de desorganizao social, os jovens cam expostos ao inuxo dos
sistemas de valores conformistas misturados com sistemas de valores desviantes.
Eles acabam interiorizando ambos os sistemas na sua primeira socializao.
Na entrada para a vida adulta, ou seja, no momento da socializao
secundria, os jovens escolhem entre os dois sistemas de valores, orientando-se
geralmente em direo quele que predomina no ambiente, e que tem o apoio
do grupo ao qual pertencem.
importante notar tambm que se as duas esferas (a dos sistemas legtimos
e a dos sistemas desviantes) so integradas entre si, o desvio permanece em
estado de latncia e pode ser controlado. Com isso Kobrin parece armar que
se cria certo equilbrio entre modelos legtimos e modelos desviantes somente
quando em um ambiente microssociolgico os modelos legtimos so preva-
lentes. Isto pode ocorrer nos ambientes mistos, onde parte dos habitantes j
estaria atingindo o status que lhes permite uma integrao ou uma cooptao
no tecido dos estratos sociais superiores.
Quando, ao contrrio, as duas esferas (modelos legitimos e desviantes)
so pouco integradas, o crime se torna violento, o desvio e a delinqncia se
fazem dominantes, os comportamentos no-conformes tendem a ser selvagens
e irracionais. Neste caso, a subcultura tende a sair do mbito no qual ela foi
elaborada e transmitida e se contrapor cultura legtima prevalente.
A teoria de Kobrin acentua sejam os processos de socializao, seja a pre-
existncia de subculturas desviantes j organizadas.
269
1. TEORIAS DE TENDNCIA FUNCIONALISTA
O contexto no qual nasce a teoria funcionalista da marginalidade e do desvio
caracteriza-se por algumas situaes bem identicveis:
a) o perodo compreendido entre a grande Depresso de 1929 e a Segunda
Guerra Mundial;
b) o desenvolvimento da atividade acadmica de algumas faculdades de socio-
logia nos Estados Unidos, no inuenciadas pela crise econmica e poltica
(exemplos: Universidade de Harvard e de Columbia);
c) a exigncia sentida por certos acadmicos de desenvolver, aps anos de
pesquisa de campo, uma sntese geral, capaz de dar consistncia e unidade
a uma ampla gama de material acumulado. Prevalece tambm uma preocu-
pao de tipo econmico.
De fato, o funcionalismo tenta fazer uma sntese entre as teorias provenientes
da longa tradio emprica e positivista inglesa e francesa, de um lado, e as con-
tribuies especcas oferecidas por Durkheim, Pareto e Weber, do outro.
Captulo 11
Paradigma Funcionalista:
integrao e anomia
270
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
Da o interesse para as grandes abstraes formais sobre temas como: o
sistema social, a integrao social, o equilbrio e a ordem social, a manuteno
do sistema, a funo social etc.
Os representantes mais notveis desta corrente so T. Parsons
1
, R. Merton
2
,
K. Davies
3
, Timasheff
4
e outros.
2. TEORIA DO DESVIO EM BASES FUNCIONALISTAS
O ponto de partida da teorizao funcionalista sobre o desvio e a margi-
nalidade provm das grandes opes tericas que a corrente incorporou, ou
seja, o acento sobre o problema da ordem social.
A prioridade colocada sobre a questo da ordem social e no da mudana
social. Prevalece a preocupao de assegurar pela reexo sociolgica, os ins-
trumentos cognitivos para entender e sustentar os processos de integrao da
sociedade. Neste sentido o funcionalismo desenvolve muito mais uma teoria
do controle social.
Recordamos as quatro funes que, segundo a teoria funcionalista, asse-
guram a um sistema social as precondies da sua existncia e a progressiva
integrao:
a) pattern maintenance: capacidade de conservar o quadro normativo e de legitim-
lo continuamente;
b) adaptation: capacidade de enfrentar os desequilbrios eventuais e de administr-
los no sentido da ordem e da integrao;
c) goal attainment: capacidade de motivar as pessoas para que se apliquem na
busca de metas socialmente elaboradas e prescritas, facilitando assim a
expanso do sistema;
1 PARSONS, 1951a, op. cit.; PARSONS, 1951b, op. cit.; PARSONS; BALES, 1955, op. cit.
2 MERTON, 1964; NISBET, 1966, op. cit.
3 DAVIS, 1938, p. 55-65.
4 TIMASHEFF, 1957.
271
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
d) integration: capacidade de assegurar a cada momento uma relao signicati-
va, no sentido de uma colaborao convergente de todos os elementos que
compem o sistema.
2.1. Consenso em torno de uma sociedade ideal
Segundo o funcionalismo, em uma sociedade ideal (e abstratamente ima-
ginada) no deveriam existir premissas para o fenmeno da transgresso e
do desvio. Tal sociedade deveria estar realmente em condies de promover
um necessrio consenso voltado para a integrao de cada um dos membros
do sistema. A sociedade, para obter o consenso dos seus membros tem sua
disposio diversos meios:
- socializao: como instrumento de interiorizao do subsistema normativo,
que deveria funcionar como policial interno;
- lucro: deveria oferecer os incentivos econmicos aptos a motivar o empenho
para um bom funcionamento geral do sistema;
- persuaso: utiliza todos os instrumentos da comunicao de massa, fa-
zendo ver as vantagens para os indivduos que se esforam em obter uma
boa integrao ao sistema;
- coero: que se serve de medidas preventivas e repressivas, para evitar ou
corrigir as tentativas de desvio.
2.2. Desvio: efeito de uma no-integrao
Na realidade, o desvio existe tambm nas sociedades que tendem com todos
os meios possveis integrao dos indivduos ao sistema. O desvio se expli-
caria como efeito da no-integrao devida insucincia ou incoerncia na
aplicao dos mecanismos acima. So tais mecanismos que tornam o sistema
272
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
funcional e que ligam os indivduos a ele
5
.
2.3. Controle social do desvio
Para o funcionalismo o desvio, uma vez que existe, pode ser tratado de
diversas maneiras:
a) controlado e combatido com meios coercitivos, sobretudo quando
ele se revela destrutivo para o sistema, ou no-direcionvel para um bom fun-
cionamento do mesmo. Nessa linha consideramos com ateno a tipologia
dos desvios elaborada por T. Parsons, da qual se evidencia quo perigosos os
desvios individuais e coletivos que provocam problemas ao sistema. So aqueles
que se caracterizam por uma dominncia alienante, ou seja: a agressividade
orientada aos objetos sociais (por exemplo: normas), a incorrigibilidade,
a independncia compulsiva, a evaso do sistema (por exemplo: hippies ou
automarginalizao);
b) se e quando utilizado funcionalmente para o bem (ou seja, para a
integrao) do sistema, o desvio interpretado como:
- vlvula de escape do sistema, que, de outra maneira, no poderia resistir
a certas presses internas e externas. Neste sentido, a permissividade, em
certos casos, desejvel desde que controlvel;
- instrumento de redenio das normas e das oscilaes desviantes em
torno de normas socialmente aceitveis;
- instrumento de satisfao das necessidades reais do sistema: compensaes
para o estresse, culpar oportunos bodes expiatrios, criao de falsos
alvos sociais etc.
5 Observe acima: a socializao, o lucro, a persuaso, a coero, e ainda os diferentes tipos de pattern
maintenance, adaptation, goal attainement, integration.
273
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
claro que, para o funcionalismo, o desvio, quando instrumentalizado de
maneira positiva por parte do sistema, desenvolve funes positivas somente
enquanto essas se manifestem latentes, escondidas... No momento que esses
desvios ganham visibilidade social, acabam por ser considerados negativos
pelo sistema.
3. TEORIA DA ANOMIA EM DURKHEIM
Uma tpica teoria da marginalidade em bases funcionalistas a teoria da
anomia que teve suas origens em Durkheim e, posteriormente, foi desenvolvida
e elaborada por Merton. J Durkheim, em A diviso do trabalho social (1893)
6
,
tinha colocado o problema da anomia em um quadro de passagem de uma
sociedade com base em uma solidariedade mecnica e uma sociedade com
base em uma solidariedade orgnica.
Neste contexto, a anomia era explicada como o efeito de uma diviso
patolgica do trabalho social, ou seja, de um processo de articulao estrutural
to rpido do sistema social, capaz por isso mesmo de criar funes sociais
novas que escapam ao controle regulador da cultura.
Em uma sociedade com base em uma solidariedade orgnica, as necessidades
e os desejos dos indivduos, por si mesmos ilimitados, so regulados e
governados por uma forma de controle expressa pela conscincia coletiva.
Enretanto, em uma sociedade que est para tornar-se base para a solidariedade
orgnica, mas ainda no o , ocorrem falhas entre a velocidade de desenvol-
vimento dos subsistemas estruturais e culturais, que tornam difcil o governo
dos processos de satisfao das necessidades.
A anomia no , portanto, uma ausncia de normas; mas uma situao de
6 DURKHEIM, 1893, op. cit.
274
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
no-integrao entre os subsistemas sociais. A anomia, mais que ausncia de
normas, constitui-se na inadequao, deslegitimao e contraditoriedade das
mesmas. Em condies de anomia, as normas, mesmo que existam, no con-
seguem emergir de uma conscincia coletiva, mas sim de desejos e interesses
pessoais.
Nessa sua anlise, Durkheim nota que a diviso patolgica do trabalho
deve-se, sobretudo, rapidez das mudanas econmicas (crises de crescimento
e de acelerao do ritmo de desenvolvimento), ou ocorrncia de fenmenos
excepcionais (catstrofes, carestias etc.). Trata-se, portanto, de um fenmeno
que essencialmente transitrio, excepcional, sintomtico. O normal deveria
ser uma situao de ordem social. No entanto, a ocorrncia de situaes de
anomia revela crises, desorganizao social e mal-estar da sociedade.
Na sua segunda obra Le suicide: tude de sociologie, 1897
7
, Durkheim desenvolve
mais profundamente os efeitos individuais e microssociais produzidos pela
situao de anomia. J na obra precedente tinha notado como o indivduo,
deixado merc de seus desejos ilimitados e incontrolveis, sem referncias
claras de valores e de cultura, sem relaes sociais signicativas, acaba entrando
em crise de identidade e de comportamento.
sobretudo com Robert K. Merton, em Social theory and social structure que
se desenvolve mais sistematicamente uma teoria da anomia. O autor um
socilogo americano de tendncia estrutural-funcionalista.
4. TEORIA DA ANOMIA EM MERTON
Em Merton, desenvolve-se uma crtica ao funcionalismo clssico; o no
funcionamento das sociedades ocidentais era evidente e, portanto, deve ser
estudado com maior exibilidade e realismo.
7 DURKHEIM, 2000.
275
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
Merton introduz nova explicao da anomia: a fratura j conjecturada
por Durkheim se verica sim, mas entre o subsistema dos ns (ou seja, das
normas sociais) e o dos meios socialmente institucionalizados que permitem
a realizao de tais ns.
Merton adverte claramente que, enquanto os ns so inculcados como
imperativos a todos os membros de uma dada sociedade, os meios so pro-
metidos teoricamente a todos, mas esto disponveis na realidade a somente
uns poucos.
a objetiva excluso social dos meios que cria uma subjetiva conscincia
da anomia.
Tabela 3 - Estratgias de adaptao dos sujeitos anomia (R.K. Merton)
Merton adverte tambm que a diculdade em utilizar os meios (ou melhor,
a objetiva excluso dos mesmos) est ligada estraticao social, ou seja,
estrutura classista da sociedade (americana). A anomia , pois, a impossibi-
lidade de acatar s normas, provocada pelas desigualdades ligadas pertena
dos indivduos a determinada classe social.
interessante a tentativa de Merton de tipicar as estratgias de adaptao
ns meios
Conformismo
+ +
Ritualismo
+
Rebelio
Fuga
+ +
Inovao
+
276
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
dos sujeitos anomia. Se o conformismo for acentuado, pode-se dizer que
as outras modalidades de adaptao (como o ritualismo, a rebelio, a fuga e a
inovao) so modalidades desviantes.
Nota-se, enm, que, segundo Merton, a anomia um problema estrutural
e no provisrio ou conjuntural. E isso porque est ligada pertena de classe.
Ela , de certo modo, efeito de processos ideolgicos. A anomia nasce do po-
der que as classes dirigentes tm de impor a todos os valores que espelham os
prprios interesses. A anomia deriva da imposio da cultura. As manifestaes
de desvio, que por acaso dela derivam, so fenmenos substancialmente reativos
e adaptativos, que denotam a necessidade de sobrevivncia dos indivduos (at
no caso da fuga) e que se bem que em casos raros , pode resultar at em
comportamentos autodestrutivos (suicdio ou vcio em drogas).
5. A ANOMIA APS MERTON
Foram diversas as tentativas de operacionalizar, em termos psicolgicos,
mas tambm sociolgicos, o conceito de anomia apresentado por Merton.
Podemos recordar os autores: Srole, Cohen, Sykes e Matza, Cloward e Ohlin,
e, mais recentemente, Robert Agnew.
Leo Srole
8
o divulgador mais conhecido das tentativas de operacionalizao
do conceito de anomia. Em alguns estudos sistemticos ele dene a anomia
nos termos seguintes:
- sensao de que os lderes esto longe das necessidades dos cidados;
- sensao de que a ordem social ctcia e imprevisvel;
- sentimento de distanciamento dos ns que j se tinha atingido;
- senso de insucincia dos ns j introjetados;
- sensao de que as relaes pessoais imediatas no so mais de ajuda na
predio do futuro na sustentao do indivduo.
8 SROLE, 1956, p. 709-716.
277
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
Srole deniu a anomia como sentimento de desespero e de abandono que
acompanha a falta de acesso aos meios socialmente prescritos para a reali-
zao dos ns sociais. Entretanto, no conseguiu estabelecer claramente se,
efetivamente, os sujeitos mais privados tinham interiorizado os ns sociais
inculcados pelas classes dominantes e, se registrava, observava neles uma maior
conscincia de excluso dos meios e conseqente estado de anomia.
Cohen
9
, analisando as idias de Merton, precisou, em um primeiro
momento, que os sujeitos com desvantagens sociais (baixo nvel socioecon-
mico) provavelmente mais que se sentirem privados dos meios institucionais,
encontram-se em uma situao de no interiorizao dos mesmos ns.
Portanto, a eventual anomia derivava mais da conscincia de inadequao e
diculdade de atingir as metas (tidas como estranhas prpria cultura) do
que pela escassez ou ausncia de meios legtimos.
Nesse contexto, Cohen falava de certa automarginalizao das classes
inferiores, que rejeitavam os valores da classe mdia, como inatingveis, e se
orientavam interiorizao da sua confortvel subcultura.
Sykes e Matza
10
armavam, ao contrrio, que o desvio nascia de uma ameaa
explcita das classes dominantes em relao s classes subalternas, no caso
de no interiorizao das normas e, portanto, da impossibilidade de utilizar
quaisquer meios, legtimos ou ilegtimos.
Em um segundo tempo, Cohen aceitava, em parte, as explicaes forne-
cidas por Sykes e Matza e outros estudiosos, limitando a sua explicao a
certos tipos de desvio como aquela que ele chamava de subcultura dos ladres
prossionais, mas no a outras como as subculturas da droga, do conito, da
agressividade machista.
9 COHEN, 1955, op. cit.; COHEN, 1966; COHEN, 1965, p. 5-14.
10 MATZA; SYKES, 1961, op. cit., p. 715 ss.; SYKES; MATZA, 1957, op. cit., p. 664-670.
278
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
Segundo Cohen, as classes subalternas interiorizam sim as normas das classes
dominantes, mas no tendo disposio os meios legtimos para realiz-las,
cam constrangidas a usar os meios ilegtimos, da o desvio. Cloward e Ohlin
partem da hiptese da existncia de certos comportamentos desviantes que
implicavam tambm a falncia do uso dos meios ilegtimos e que, portanto,
levavam necessariamente fuga, evaso, automarginalidade, como no caso
dos usurios de droga e outros toxicodependentes. Esses dois autores, enm,
consideram ainda vlida a explicao da interiorizao da subcultura desvian-
te armada pela Escola de Chicago e pela sucessiva explicao (associaes
diferenciadas e transmisso cultural), que apelavam para certas facilitaes no
microambiente.
6. TEORIA DO CONTROLE SOCIAL DE T. HIRSCHI
A teoria do controle social de Hirschi refere-se ao conceito de vnculo
afetivo, uma framework que permite a discusso das bases emotivas da relao
com os outros e com os grupos. A teoria do vnculo afetivo estuda as relaes
emotivas entre o indivduo e uma outra pessoa, grupo ou instituio que fornece
e promove um senso de segurana psicolgica.
Foi Bowlby que a formulou em modo sistemtico. Com base em suas pes-
quisas o autor formula algumas proposies: 1) a conana na disponibilidade
de uma gura qual se vincular diminui a ansiedade e o medo; 2) tal conana
constri-se lentamente, a partir do perodo da infncia, e persiste relativamente
imutvel durante o ciclo de vida; 3) as expectativas em relao acessibilidade ou
insensibilidade das guras de vinculao afetiva no so fantasias, mas reetem
a experincia do indivduo.
A adolescncia corresponde a um perodo de desenvolvimento no qual o
sujeito se destaca dos pais e comea a agir independentemente da famlia. A
ligao estabelecida na infncia na qual a me, o pai ou quem cuidava do
279
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
menino representava o outro signicativo, se alarga para uma descoberta de
outros signicativos fora do ambiente familiar. Por meio dessas novas experi-
ncias de vinculao afetiva, o adolescente experimenta conana, aceitao,
compreenso e respeito pela prpria individualidade. Pessoas que demonstram
ser adequadamente vinculadas a outros sujeitos signicativos manifestam
menos ansiedade, menor hostilidade e maior grau de resilincia em relao
queles que no tiveram essa mesma experincia
11
. A interao entre os sujeitos
e os membros de uma rede de outros sujeitos permite a criao de comunidade,
a conrmao da identidade e a preveno da solido.
A teoria do vnculo afetivo foi aplicada por T. Hirschi teoria do controle
social formulada por ele. Para o autor, as vinculaes sociais dbeis so a causa
do desvio. As vinculaes afetivas compreendem quatro elementos
12
:
a) vinculao afetiva, ou sensibilidade em relao aos outros, especialmente
com relao aos membros da famlia;
b) empenho por um projeto de vida nalizado carreira escolar e prossio-
nal;
c) envolvimento ou quantidade de tempo gasto nas atividades convencionais
na escola, nos empenhos familiares, nas atividades extracurriculares, nas
atividades religiosas;
d) crena ou aceitao de uma determinada orientao moral, ou de um set de
valores conformistas e da validade das normas sociais.
A conuncia desses elementos acima arrolados transforma-se em forte
vnculo social e, portanto, em conformidade social. Enquanto a falta de tais
elementos indica que no existe suciente controle interno e externo para frear
aes desviantes e delinqenciais.
11 COTTERELL, 1996, p. 6.
12 HEITZEG, 1996, op. cit., p. 51.
280
Capitulo 11 Paradigma Funcionalista: integrao e anomia
A teoria do controle social de Hirschi do tipo microssociolgico, encontra
no vnculo afetivo com os pais e com as instituies um forte motivo para a
integrao da pessoa dentro da sociedade convencional. Hirschi interpreta a
delinqncia como uma conseqncia da perda de vnculos entre o sujeito e as
instituies: o controle social sobre os prprios comportamentos perde a fora.
A vinculao afetiva funciona como a base para a interiorizao das normas
sociais. Os jovens que demonstram comportamentos anti-sociais so aqueles que
manifestam nas suas crenas, valores, atitudes e comportamentos, uma falta de
vinculao com a famlia, com a escola, com a esfera religiosa e comunitria
13
.
Quanto mais proximamente o sujeito se encontra vinculado s instituies e a
outros sujeitos conformistas, menor a probabilidade de desviar-se.
A vinculao afetiva ao grupo de coetneos discutida na teoria do controle
social formulada por Hirschi em termos de associao diferenciada e de con-
formidade com o grupo. De fato, em relao ao primeiro ponto, muitas aes
delinqenciais ou desvios so cometidos em companhia com outros colegas;
e em relao ao segundo ponto, muitos delinqentes tm amigos delinqentes.
A associao diferenciada no corresponde aqui ao que Sutherland chamou de
associao diferenciada, pois acreditava que as pessoas aprendem os valores e as
tcnicas do desvio; para Hirschi aquilo que conta mesmo a associao em si,
muito mais que a aprendizagem de tcnicas. Para ele so os amigos desviantes
que se tornam os canais que conduzem delinqncia: o rapaz se associa
aos delinqentes ou comete atos delinqenciais porque perdeu o vnculo com
os valores tidos como legtimos e socialmente compartilhados.
13 COTTERELL, 1996, op. cit., p. 8.
283
1. PARADIGMA CONSTRUTIVISTA
O
interacionismo, corrente que estuda a construo da realidade pelo
processo interativo, foi a primeira perspectiva a estudar o processo
segundo o qual as pessoas se tornam desviantes. As teorias anterio-
res estavam mais preocupadas em explicar tal comportamento como causado
por foras externas ao sujeito, condicionado por inmeros fatores e variveis.
O interacionismo reconhece o consenso do desviante, ou seja, a sua vontade
livre; e tal reconhecimento permite que se explique o processo segundo o qual
o sujeito, associado a outros sujeitos (interao), aprende e interioriza normas,
atitudes, valores etc., na maioria das vezes convencionais, mas em certos casos
alternativos e desviantes.
O interacionismo inspirou-se no utilitarismo, mas as origens da teoria re-
montam s pesquisas de dois autores: George Herbert Mead (1863-1931) e
Charles H. Cooley (1864-1929)
1
. Os autores estudaram, em nvel microssocial,
Captulo 12
Paradigma Construtivista:
rotulao e identidade
1 MEAD, 1966, op. cit.; COOLEY, 1963, op. cit.
284
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
o processo social da formao do autoconceito, da socializao e da inte-
rao. Enquanto as teorias macrossociolgicas preocupavam-se em descobrir
o efeito das estruturas sociais sobre os indivduos e grupos, as microssocio-
lgicas, como a teoria qual nos referimos, partem dos processos interativos
que acontecem entre os sujeitos para depois explicar a relao destes com as
estruturas e condicionamentos sociais.
O processo de socializao, segundo os autores apenas citados, explica como
os sujeitos aprendem os signicados, os valores, as regras e as normas pela intera-
o com os outros. Mead distingue os componentes do processo de socializao
como um dilogo entre o si (subjetivo) e o me (objetivo). O me representa o outro
generalizado e funciona como um depsito de informaes referentes s normas
sociais. O si (ou self) se desenvolve graas a um confronto com os outros. Em outras
palavras, seria como se nos olhssemos no espelho e, ao invs de vermos a ns mes-
mos, vssemos aquilo que imaginamos que os outros pensam de ns. Imaginamos
como somos representados pelos outros e sentimos orgulho ou vergonha de ns
mesmos, sentimentos que inuenciam a auto-estima, o autoconceito e, ao longo
andar, a identidade e, em certos casos, a personalidade das pessoas.
Cultura:
Uma poro nita
Da innidade sem sentido
Do devir do mundo
qual atribudo
Por parte do homem
Um sentido e um signicado
Max Weber
2
2 WEBER, 1922, p. 90, 94-98; WEBER, 2003, p. 94.
285
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
Alguns autores representativos da tendncia interacionista na interpretao
do desvio so: Edwin Sutherland, Daniel Glaser, David Matza, Gresham Sykes,
Howard Becker. A teoria da rotulao (labeling theory, teoria do estigma) muito
representativa do paradigma construtivista e tenta estudar os processos pelos
quais a reao de uma audincia, por meio de sanes e estigmatizaes, acaba
amplicando comportamentos desviantes e estabelecendo identidades desvian-
tes. Becker, por exemplo, faz um link direto entre a reao do grupo social e
a carreira desviante, e problematiza o conceito de desvio como conseqncia
da aplicao de regras, sanes e etiquetas a uma determinada vtima por
parte das outras pessoas. O desviante uma pessoa para a qual tal etiqueta
foi aplicada com sucesso.
2. TEORIA DA ROTULAO (LABELING THEORY)
A teoria da rotulao (labeling theory) desenvolve-se durante a dcada de 1960.
Para explicar o desvio, esta teoria focaliza a reao da sociedade sobre o com-
portamento desviante, mais que sobre a resposta desviante; sobre o processo,
mais que sobre a ao em si. a nica teoria que parece adaptada para explicar
o desvio formal, informal e sanitrio. Apresenta duas orientaes: uma primeira
se ocupa das conseqncias que a reao social provoca nos sujeitos desviantes.
Aprofunda o papel da interao social na formao do autoconceito. A reao
social ao comportamento transgressivo e desviante, seja ele formal, informal
ou de tipo mdico, tende a provocar a estigmatizao e a conseqente constru-
o, por parte do sujeito estigmatizado, de um autoconceito desviante. Uma
segunda orientao se ocupa das conseqncias da reao social nas pessoas
que constroem e controlam as leis, regras e normas sociais. Essa orientao se
pergunta sobre o como a sociedade dene e controla os desviantes. Aqueles
que controlam o processo normativo e infrigem as normas o fazem com a
286
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
inteno de assegurar os interesses daqueles que Howard Becker (em Outsiders)
chama de empreendedores morais da sociedade, composto pelos represen-
tantes do grupo cultural dominante.
2.1. Conseqncias da reao social para os desviantes
O primeiro a formular a teoria do estigma foi Frank Tannenbaum
3
. O autor
arma que muitos crimes, mesmo que no to srios, acabam sendo denidos
srios pelas pessoas. Se, para os desviantes, o vandalismo, o furto, a embriagus,
o tabaco, a maconha, matar aulas, jogos, excitao e emoes paream aes
no comprometedoras, para as pessoas em geral (senso comum) todas estas
aes so um mal, ou, se preferirmos, um crime.
A reao social se d pela dramatizao do mal, o princpio da rotulao,
que v toda a pessoa com base no ato desviante cometido. O segundo passo
uma conseqncia disso: o sujeito assume o efeito negativo da rotulao.
Ele passa a ver-se com os olhos dos outros e a denir-se e identicar-se como
desviante, transgressor, delinqente, criminoso ... A profecia se realiza: quem
foi taxado de desviante acaba por tornar-se realmente desviante.
Com base na contribuio de Tannenbaum, Edwin Lemert
4
desenvolve a
distino entre desvio primrio e secundrio.
Desvio primrio para Lemert aquele que no foi ainda descoberto pelos
outros, ocasional e no conseguiu ainda provocar a reao da sociedade me-
diante a rotulao e menos ainda a assuno por parte dos transgressores, de
uma identidade desviante. A descoberta do desvio primrio inicia o processo
de etiquetamento e de identicao. Antes de tudo da identicao da ao
desviante com o sujeito desviante (Jos no identicado mais como Jos, mas
3 TANNENBAUM, 1938.
4 LEMERT, 1981, op. cit.
287
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
como maconheiro). E, posteriormente, a aceitao da rotulao por parte do
sujeito desviante, a construo de um autoconceito negativo, a assuno de uma
nova identidade (Jos no se v mais como Jos, mas como maconheiro).
Foi Erving Goffman quem discutiu mais a fundo o processo segundo o
qual o sujeito, gradativamente, procura adaptar-se s presses da rotulao. Um
estudo mais amplo foi feito tambm por David Matza
5
, professor emrito da
Universidade da Califrnia (Berkeley). O seu livro Becoming deviant mostra como
esse processo se d, por meio de uma passagem gradativa, que compreende trs
etapas: a anidade, a aliao e a signicao. Matza descreve a anidade como
uma predisposio dos sujeitos para a transgresso e a delinqncia, derivada
das circunstncias e do contexto no qual ele vive. uma predisposio que vai
alm de uma simples situao de risco: no basta somente viver em circunstncias
de risco, sentir-se na marginalidade, mas preciso que o sujeito se sinta atrado
por uma vontade de desviar e ter a coragem e a fora para tal (coisa que nem
todos tm). A segunda etapa a da aliao: o sujeito, entra em um grupo, se
enturma, conduzido pelos outros, aprende signicados e mtodos de como
ser delinqente. E, por ltimo, uma terceira etapa, implica o reconhecimento
do sujeito como desviante por parte dos outros pertencentes a grupos tambm
desviantes. Os agentes do controle social (seja ele formal, informal e mdico),
passam a marc-lo, a exclu-lo e a atribuir a ele um carter desviante.
2.2. Conseqncias da reao social para quem faz as normas
Em vez de se perguntar sobre a resposta do sujeito ao processo de etique-
tamento, a labeling theory passa a se interrogar, a partir da dcada de 1960, sobre
quais so as conseqncias desse processo para quem faz as leis e controla os
desviantes. Foi Howard Becker
6
a enfatizar a relatividade do desvio. O autor
5 MATZA, 1969.
288
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
reconhece que os grupos sociais criam transgressividade no momento em
que, por um lado, constroem as regras, cuja infrao constitui desvio e, por
outro, atribuem a etiqueta marginal, delinqente, desviante para os que
infringem as mesmas. As normas e as leis so regidas pelos empreendedores
morais, que as criam e as controlam, interessados que so em ter os prprios
cdigos morais perpetuados e aplicados a toda a sociedade. A construo do
cdigo normativo e jurdico, e o privilgio do controle do desvio aumenta o
status dos empreendedores morais, serve aos seus interesses e refora a sua
posio na sociedade.
Kai Erikson
7
, por sua vez, desenvolveu ainda mais essas idias. O autor se ba-
seia nas idias de Durkheim. Sua teoria conhecida como teoria funcionalista
da rotulao. Durkheim demonstrou, nos ns do sculo XIX, como o crime
e o desvio reforam a coeso de grupo entre os conformistas, os quais se unem
para lutar contra os desviantes e consolidam os conns entre a conformidade
e o desvio. Erikson estudou a reao de um grupo de protestantes puritanos
no perodo colonial americano, numa vila do estado de Massachusetts. Com
a chegada de novos imigrantes (pertencentes a diversas religies e losoas de
vida), e o conseqente aumento dos problemas sociais, o grupo protestante que
j vivia ali h mais tempo, consegue se fazer prevalecer sobre os outros, a ditar
as normas, a denir os limites entre comportamentos normais e desviantes e,
conseqentemente, a reforar a sua solidariedade interna (coeso) diante da
ameaa representada pela diversidade dos novos imigrantes.
Erikson conclui que o desvio , antes de tudo, uma criao coletiva da
sociedade; em segundo lugar, conclui que a quantidade de desvio permanece
relativamente constante nas diferentes sociedades. As famosas ondas crimino-
sas no so conseqncia de um aumento do comportamento desviante, mas,
6 BECKER, 1963, op. cit.
7 ERIKSON, 2005, op. cit.
289
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
mais que isso, do aumento do nvel de alarme da reao societria. Estas ondas
criminosas so o fruto da reao da sociedade que se v ameaada na prpria
coeso interna, e que sente que est perdendo o controle dos limites entre a
normalidade e o desvio. Esta situao, que alguns autores chamam de pnico
moral (GOODE, 1994, Moral panics; the social construction of deviance) acontece
quando toda a sociedade orienta uma particular ateno a um determinado
fenmeno desviante. Exemplo disso o caso da maconha na dcada de 1960,
e do tabaco no momento atual, ou seja, de quanto e como essas substncias
e seu uso passaram por um processo de criminalizao. Quando a sociedade
se move por sentimentos comuns, tende a ver mais desvio l onde o procura
mais atentamente. A funo da reao social dirigida contra os sujeitos tidos
como desviantes, e nanciada pelos empreendedores morais tende a ser a de
redenir os limites entre o que eles julgam certo ou errado em termos de
comportamento, de estilos de vida e de normalidade, de restaurar a solidarie-
dade (coeso interna do grupo) e de esclarecer as normas sociais de acordo
com as prprias interpretaes.
O grande feito da teoria da rotulao, segundo Heitzeg, foi o de conside-
rar o problema sob dois pontos de vista diferentes: na perspectiva de quem
desviante, ou do processo de tornar-se desviante (becoming deviant), e na
perspectiva da lei, ou dos empreendedores morais, ou da reao social contra
os desvios. A teoria esclarece o processo do controle social em dois modos:
por meio de uma descrio detalhada do processo de etiquetamento e do seu
impacto sobre a formao da identidade desviante; e pela descrio das fun-
es da reao da sociedade aos desvios e aos desviantes. Estuda-se seja quem
comete a ao tida como desviante, seja quem a julga como tal. So temas da
pesquisa nesse mbito: as funes da reao social ao desvio, a coeso do grupo
desviante como reao contra os empreendedores morais, o esclarecimento dos
conns entre normalidade e desvio, o reforo do cdigo normativo e jurdico
predominante.
290
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
A teoria no imune a crticas. No explica, por exemplo, porque as pessoas
escolhem se desviar da norma. A norma assume uma tendncia determinista
como se todos os desviantes interiorizassem as conotaes negativas da rotu-
lao; na verdade alguns desviantes, que preferem se colocar do lado desviante,
atribuem para essa condio uma conotao de normalidade. A teoria admite
tambm que qualquer controle social contribui para a gerao do desvio, mesmo
que, em certos casos, ele consiga funcionar como um deterrente.
No mbito metodolgico as pesquisas efetuadas para vericar as hipteses
no parecem muito convincentes. Essas hipteses so vericadas principalmente
nas experimentaes da psicologia social
8
.
A labeling theory teve um grande impacto sobre as polticas sociais. Especial-
mente colaborou com: a descriminalizao de muitos crimes cometidos pelos
menores; o desvio de certos crimes do mbito judicirio ao familiar e comu-
nitrio; a rapidez nos processos e a garantia de amplos direitos para grupos
marginalizados e estigmatizados por sua condio social, racial e fsica; a
desinstitucionalizao e a delegao de aes sancionatrias e de recuperao
comunidade e aos municpios.
2.3. Contexto histrico e cultural
Os autores que elaboraram a teoria do estigma (labeling theory, teoria da
rotulao) baseiam-se muito na Escola de Chicago (so at chamados de
neochicagoans) e utilizam, ao mesmo tempo, muitas idias elaboradas pelo
interacionismo simblico.
A teoria do estigma liga-se a muitas armaes das recentes teorias marxistas
e conitivas. Representa uma forte reao do tipo liberal (no sentido ameri-
cano do termo) contra a implantao, na sociedade americana, de um Estado
8 DOISE; DESCHAMPS; MUGNY, 1980.
291
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
burocrtico, assistencial, policial, que no tinha em considerao as aspiraes
e os direitos das minorias e dos diferentes (ou socialmente diversos). Os
expoentes desta corrente so, em geral, intelectuais no-alinhados, que no
compartilhavam as teorias do tipo funcionalista.
2.4. Quadro terico do estigma
A teoria se apresenta como um conjunto composto de temas e de problemas
que tem entre eles uma conexo bastante consolidada: a distino entre desvio
primrio e desvio secundrio, j lembrada em pginas anteriores.
Lemert
9
(1951) props a distino entre o desvio primrio e secundrio.
O primeiro como distanciamento mais ou menos ocasional e no substanti-
vo da norma, que se congura como uma ao desviante, e no como um
comportamento habitual. O desvio secundrio como uma estruturao do
comportamento desviante, como um hbito, derivado tambm de processos
de estigmatizao.
Nota-se que somente o desvio secundrio representa um desvio para todos os
efeitos. Como tal revela-se exatamente um produto social e no somente como
um produto do comportamento individual. O desvio secundrio estrutura-se
a partir do conjunto de signicados sociais, ou seja, das denies coletivas
(em vrios nveis) que a sociedade emite em direo do desviante primrio.
Uma anlise sucessiva vai demonstrar que a passagem do desvio primrio ao
secundrio, mesmo que no seja automtica e necessria, acontece normalmente
e contemporaneamente a um processo de interiorizao de uma identidade
negativa baseada no desvio e na sua justicao.
9 LEMERT, 1967; LEMERT, 1981, op. cit.
292
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
2.5. Processo segundo o qual a pessoa se torna desviante (becoming deviant)
Autores como Becker
10
e Matza, juntamente com muitos outros, dedicaram
particular ateno aos processos que favorecem a passagem do desvio primrio
ao secundrio.
A premissa terica desta anlise encontra-se, sobretudo, no interacionismo
simblico
11
, segundo o qual:
- O self est no centro dos processos de elaborao interior da imagem da
sociedade; a sociedade externa , na realidade, uma construo social
derivada;
- O self um produto emergente das inter-relaes que os sujeitos tm uns
com os outros genricos e com os muitos outros signicativos. O self
se forma progressivamente em um processo em que o sujeito interior ativo
e o eu subjetivo, utilizam os materiais provenientes do ambiente externo,
denindo-os, integrando-os e dando a eles um sentido;
- O self emerge, portanto, das relaes face a face nas quais se constri o
signicado complexivo que os sujeitos passam a assumir na sociedade. So
registradas as denies sociais do self, que o eu medeia e, por sua vez, d
signicado.
Segundo o esquema de D. Matza, retomado por H. Becker, o processo do
tornar-se desviante (Cf. Fig. 1) ocorre por meio de trs experincias muito
correlacionadas, que explicam o progressivo formar-se de atitudes estruturais
(ou de desvios secundrios).
a) Os processos de anidade: consistem na percepo crescente, por parte
do sujeito, da existncia de premissas que o inclinam ao desvio e reao trans-
gressiva e delinqente. Por exemplo, carncias biopsicolgicas, histrias pessoais
10 BECKER, 1963.
11 MEAD, 1966, op. cit.
293
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
decitrias, exposies a culturas desviantes, situaes de risco objetivas, de
marginalidade e de mal-estar social. Os autores citados tendem a sublinhar que
a percepo da anidade por parte do sujeito, no gera automaticamente ou
fatalisticamente a necessidade de transgredir. Nisso Matza e Becker rechaam
a idia positivista do fator negativo, especialmente o ambiental, que produz
desvios. Mesmo porque isso levaria o desviante a negar toda e qualquer res-
ponsabilidade pessoal no ato desviante, comportando notvel diculdade para
as intervenes teraputicas, de reeducao ou de reabilitao social.
b) Os processos de aliao: o sujeito, percebendo a sua exposio aos
fatores de anidade, e interiorizando progressivamente o estigma que lhe
imposto pelos outros, pela sociedade, decide pouco a pouco aderir ao
modelo desviante, o qual aparece como a nica maneira ou resposta capaz de
resolver os problemas de signicado que j foram criados em relao a ele. Esse
processo no acontece sem hesitao, repensamentos, tentativas de camuagem,
esforos de neutralizao do senso de culpa inerentes a uma hiptese de adeso
condio de desviante. no momento da aliao que a pessoa verdadeira-
mente d sentido aos fatores de anidade e signicao social, julgando-os
adaptados s suas exigncias de vida.
c) Os processos de signicao social do desvio: trata-se de uma srie
progressiva de estigmatizaes (da o nome da teoria, labeling theory, teoria da
rotulao) que o micro e o macroambiente infrigem ao desviante primrio, na
tentativa de faz-lo interiorizar uma identidade negativa, ou seja, uma identi-
dade cujo contedo dado substancialmente pelo prprio desvio. O estigma
tende a fazer do sujeito que cometeu um ato desviante (e cuja identidade at
o momento ainda denida por parmetros no-desviantes), um desviante
verdadeiro e estruturado.
294
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
2.6. Estigma
J armamos que o estigma , substancialmente, um juzo de culpa que a
sociedade emite em direo ao desviante (ou que se presume como tal). Ele
representa, sem dvida, a expresso mais completa do controle social e se
realiza mais ecazmente dentro das instituies totais, que tm, segundo a
denio dada por Goffman
12
, a funo de isolar o sujeito da realidade externa,
seja para impedi-lo de continuar a ter relaes com um mundo desviante, seja
para tornar mais fcil a interiorizao de uma identidade negativa por parte
do sujeito desviante. A instituio total tal tambm porque cria em torno ao
desviante um mundo totalmente diferente, com as suas regras, as suas exigncias
e nalidades, os seus estilos de vida, aos quais o desviante se adequa progressi-
vamente, medida que perde sua velha identidade e adquire uma nova.
O estigma, justamente pela sua natureza de expresso do controle social,
tambm a expresso do poder (poltico, cultural, religioso...), coisa que alguns
sujeitos possuem de maneira bastante evidente.
12 GOFFMAN, 1970, op. cit.
295
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
Figura 1 - Esquema do processo do becoming deviant:
3. Episdios de bruxaria na vila de Salm
13
Erikson relembra como nos idos de 1692, na Vila de Salm, Estado de New
England, ocorreu um dos mais notveis episdios de produo do desvio
da histria estadunidense.
13 Histria baseada nos relatos de ERIKSON, 2005, op. cit.
296
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
Durante o frio inverno daquele ano, um certo nmero de jovens e meninas
so atingidas por uma estranha doena, e comeam a se comportar de maneira
tambm estranha. As primeiras duas que manifestam tal estranha doena so
Betty (9 anos) e Abigail (11). Betty torna-se distrada, ausente e preocupada.
De vez em quando se senta e xa o olhar em um objeto ou no innito e, se
interrompida, comea a gritar e a balbuciar palavras incompreensveis.
Alm dos olhares xos, as meninas sofrem com freqncia de perda tem-
porria da audio e de memria e se sentem, muitas vezes, como atingidas
por um choque ou por sufocamento. Sentem-se atormentadas e terricadas
por algumas espantosas alucinaes. Quaisquer que sejam tais manifestaes
de doena, elas parecem contagiosas, de maneira que outras meninas comeam
a manifest-las com os mesmos sintomas.
As meninas so levadas pelos pais aos mdicos, os quais as examinam, porm
no conseguem identicar uma doena conhecida. Um mdico da localidade,
no entanto, acredita ter explicaes para o problema. Considera a doena
fora de suas competncias e acrescenta que a tem a mo do demnio: as
meninas esto sendo vtimas de bruxaria.
O diabo parece estar trabalhando pesado na vila, de modo que no espao de
pouco tempo o fato j acontecia com uma dezena de meninas, sempre atingidas
pelo mesmo estranho mal. Medo e suspeitas se alargam: Quem se pergunta
o chefe da vila quem era o cmplice do demnio? Quem aige de tal maneira
aquelas pobres criaturas? Os ministros anglicanos da comunidade vizinha so
convidados a analisar o conjunto dos acontecimentos. Como observadores,
acabam por conrmar o pior: os sintomas demonstrados pelas meninas eram
reais, e provinham de foras sobrenaturais.
No m das anlises chegam a uma deciso: as garotas devem ser induzidas
a dizer o nome da bruxa que as atormentava; e a bruxa deveria ser levada a
julgamento.
297
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
As garotas nomeiam com facilidade os nomes das trs bruxas que as aterro-
rizam: Tituba (uma escrava que tinha ligaes com o voodoo e a magia); Sara
Good (uma mulher que fumava cachimbo, conhecida como uma mendiga que
tratava mal as crianas); e Sara Osborne (uma mulher rica, mas que descuidava
da participao s funes religiosas e j tinha escandalizado a comunidade, pois
tinha convivido com um homem antes mesmo do matrimnio). As mulheres
acusadas eram todas membros marginais da comunidade. Na realidade, eram
todas outsiders, excludas antes mesmo que as acusassem.
As primeiras audincias so realizadas em uma casa onde, em geral, as pes-
soas se reuniam para as decises da vila e so presididas pelos magistrados, que
deveriam vericar se tinham evidncias sucientes para levar adiante o processo
penal. O caso era tido como srio, pois os puritanos interpretavam literal-
mente um verso da Bblia segundo o qual no se deve permitir que vivam as
bruxas. Vericam-se sinais evidentes de bruxaria, o que signica uma sano
iminente e pesada: a morte.
Sara Good e Sara Osborne (duas das acusadas) negam categoricamente
a prpria culpa. Mas, quando Tituba toma a palavra, o silncio cala sobre a
aula: a mulher confessa ter parte com o demnio e sugere que existiriam outras
mulheres na vila que eram suas cmplices. As trs mulheres so enviadas para
a priso.
A vila est em crise. A excitao d lugar ao medo e ao pnico. O diabo
andava rondando a vila procura de almas; as meninas atingidas pelo estranho
mal so os instrumentos que podem apontar para as bruxas consorciadas com
o demnio. As garotas parecem sempre mais satisfeitas pelo poder que lhes
tinha sido conferido: no perodo de seis meses levantaram suspeitas sobre cerca
de 200 pessoas, de consrcio com o demnio. At alguns cidados de bem so
acusados, como tambm outros, pertencentes s vilas circunstantes: agriculto-
res, avs, crianas e at um reverendo. Se as meninas diziam que o espectro de
298
Capitulo 12 Paradigma Construtivista: rotulao e identidade
algum lhes atormentava, eles vinham prontamente acusados, mandados para
a priso e para o juiz.
No nal daquele ano, mais de uma centena de pessoas so indagadas: 19
bruxas so enforcadas; dois dos acusados so mortos na priso, e um
agredido at a morte durante uma audincia.
Tudo corre bem, at quando as meninas comeam a acusar pessoas de bem
e sujeitos considerados respeitveis da vila: a partir da comeam a crescer as
dvidas por parte do chefe da vila. At as pessoas comuns comeam a duvidar
dos processos... Uma centena de pessoas colocada em liberdade; at mesmo
aqueles que tinham confessado ou sido considerados culpados. E assim termina
o episdio de histeria na vila de Salm.
O relato mostra como os ministros puritanos tinham total autoridade em
decidir em relao ao que era certo e o que era errado, o que era desviante e
o que era normal, ou seja, de decidir a relao entre o desvio e a moralidade.
Eles possuam o direito exclusivo de interpretar a Bblia, tida como a referncia
normativa da comunidade.
299
1. MODELO INTERPRETATIVO DO RISCO SOCIAL
Falar de risco social signica reconhecer que incidem sobre a condio juvenil
muitos fatores que so frutos da frustrao das necessidades humanas.
O conceito de risco desenvolveu-se inicialmente nas cincias fsicas, onde
mais facilmente identicado e onde so mais provveis os xitos positivos.
O conceito aplicado tambm no campo mdico para designar o perigo de
contgio de uma determinada doena.
No campo social, nos sculos XVIII e XIX, este conceito (mesmo no se
referindo tanto a risco seno a perigo) aplicado para distinguir a situao
dos ltimos imigrantes (irlandeses, hebreus e italianos) nos Estados Unidos.
Na opinio de quem tinha chegado antes, portanto dos primeiros imigrantes
que provinham do norte da Europa e que j tinham se estabelecido na colnia,
os que chegaram por ltimo tinham costumes diferentes que constituam uma
ameaa para o grupo j estabelecido. Tendo-se por base teorias genticas segun-
do as quais a inteligncia entendida como de gnese hereditria, o desajuste, a
privao e o desvio seriam interpretados como frutos de uma menor capacidade
Captulo 13
Paradigma Fatorialista: Categoria
Interpretativa do Risco Social
300
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
intelectual
1
. Tais interpretaes, que culpam os indivduos e so carregadas
de preconceitos so paulatinamente substitudas por teorias ambientalistas: a
privao cessa de ser explicada segundo razes genticas e passa a ser entendi-
da como privao cultural, causada pela ausncia de estmulos ambientais: os
culturalmente privados so os lhos de famlias pobres e minoritrias. Tal
concepo acaba por culpar a famlia e os grupos minoritrios pelo fato de
pertencerem a uma cultura diferente e diversa. De fato, o problema era colocado
em termos de privao de uma determinada cultura dominante, como se a so-
cializao diferenciada dentro de uma cultura minoritria, at ento tida como
subcultura, no pudesse ser socialmente aceitvel. Por isso que a partir dos
anos 70 se comea a falar de situao de risco em vez de privao cultural.
Outras interpretaes para elucidar o crescimento da perspectiva fatorialista
nas ltimas dcadas, acentuam a incapacidade das teorias fortes em explicar
comportamentos e estilos de vida desviantes, transgressivos e diversos. As
teorias utilitaristas, positivistas, culturalistas, funcionalistas se utilizam de uma
forte relao de causa e efeito na explicao dos desvios e da marginalidade.
Tal relao forte no teria mais possibilidade de explicar fatos e fenmenos
que acontecem, sobretudo, dentro de um contexto de sociedade complexa, onde
os limites da norma social, os cdigos e referenciais normativos mostram-se
amplamente exveis. E neste sentido que a perspectiva fatorialista nasceria
de uma renncia a explicaes fortes e de uma rendio s explicaes dbeis,
mas possveis e baseadas mais na lei das probabilidades que da relao causa
e efeito. No nal deste captulo, reservamos ulteriores consideraes metodo-
lgicas a esse respeito.
1 The social construction of the at-risk child (LUBECK; GARRETT, 1990, p. 330).
301
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
1.1. Interpretaes do risco social
O conceito pode ser utilizado segundo diversas perspectivas. Propomo-nos
a expor aqui algumas das perspectivas sociolgicas
2
que contemplam o
risco social: quando procurado pelo indivduo e, portanto, risco voluntrio
( perspectiva psicossocial emprica); como produto das decises que os
indivduos devem continuamente tomar para sobreviver na sociedade moderna
(perspectiva sistmica); e como relao inadequada entre desaos e recursos
(perspectiva relacional).
a) Perspectiva psicossocial emprica
uma perspectiva que trata o risco como uma atividade espontnea e
voluntria. S. Lyng
3
explica a busca de sensaes como uma experimentao do
risco nas suas modalidades mais extremas, por meio daquilo que ele denomina
como modelo de K. Marx e G. Mead: o sujeito, como produto social, vive
na sociedade industrializada entre espontaneidade e coero. Visto que a
sociedade moderna acentua a constrio (entre burocracia, controle, estresse
e ultra-socializao), o indivduo repele a passividade e busca compensaes
na vivncia pessoal, pela busca de si prprio realiza a individualidade por vias
diversas: o consumo narcisista, o desao aos prprios limites, a velocidade,
o inesperado. O risco voluntrio constitui o modo pelo qual muitas pessoas
procuram a si mesmas como resposta aos determinismos sociais, aos vnculos
e s presses externas. Lyng individualiza dois modelos interpretativos da
assuno dos comportamentos altamente arriscados: o modelo da predisposio
da personalidade e o da motivao intrnseca.
2 Famiglia e infanzia in una societ rischiosa: come leggere e affrontare il senso del rischio (DONATI,
1990, p. 7-38).
3 Edgework: a social psychological analysis of voluntary risk taking (LYNG, 1990, p. 851-886).
302
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
O primeiro modelo explica a assuno do risco voluntrio como uma
conseqncia de caractersticas da personalidade. Algumas pessoas buscam
situaes de risco (as personalidades narcisistas, os stress-seekers, os sensation-
seekers), enquanto outras as rejeitam (os fbicos e introvertidos). Esse modelo
no explica, porm, os motivos pelos quais o sujeito decide correr os riscos.
O segundo modelo, denominado da motivao intrnseca, interpreta a
assuno do risco como um desao que o sujeito faz a si mesmo para avaliar a
prpria capacidade de enfrentar uma situao arriscada. Os comportamentos
mais comuns so as atividades de edge-work
4
(ao ao limite), cujo exemplo
emblemtico nos oferecido pelos sky divers ou surstas do espao. Por meio
de tais aes-limite o sujeito joga com os extremos, entre o sentido ordenado
do prprio self e sua relao com o ambiente, contrastando tal senso de ordem
com a busca de uma desordem no self ou na relao com o ambiente
5
.
Se, por um lado, entende-se o risco como busca de sensaes e como resposta
para as necessidades de explorao de si mesmo e do ambiente, por outro, ele
pode ser explicado como resposta s presses sociais. Para quem se considera
sobrevivente na sociedade, para quem arma que no tem nada a perder, o
risco um comportamento normal. Entre os que no tm nada a perder
encontram-se muitos jovens atingidos por profundo mal-estar cujo sintoma
a droga, o abandono (os meninos de rua) e a aceitao passiva da prpria
condio de marginalidade.
Tal aspecto da assuno voluntria do risco parece ser o nico que encontra
um sentido na realidade de pobreza dos jovens brasileiros. Em tais condies,
porm, seriam analisadas a probabilidade ou a potencialidade de risco prove-
nientes da realidade estrutural e, portanto, do nvel macrossocial. Os indivduos
4 O termo foi inicialmente utilizado para descrever as experincias humanas anrquicas, por exemplo
com a droga, e depois se estendeu aos riscos voluntrios (como os assumidos pelos sky divers).
5 DONATI, 1990, op. cit., p. 16.
303
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
encontram-se diante da emergncia das necessidades bsicas motivadas por uma
situao de pobreza/misria. No esto movidos por motivaes provenientes
de opes voluntrias de risco, do tipo aventureiro ou para desaar o ambiente
e a si mesmos. Tais desaos encontram-se j presentes na prpria necessidade
de lutar pela sobrevivncia. E quando nos referimos a situaes de pobreza e
de misria, em vez de falarmos de comportamentos voluntrios de risco,
parece-nos mais adequado falarmos de um risco imposto pelas condies
estruturais, e no exatamente voluntrio.
b) Perspectiva sistmica
uma soluo luhmanniana de anlise do risco
6
. A busca de segurana
aumenta os riscos. O risco-perigo uma possibilidade objetiva de dano que
depende bem mais das decises dos outros, enquanto o risco que provm da
busca de segurana uma conseqncia de decises prprias de um sistema que
assume o risco, ou a probabilidade de sofrer danos. Os critrios de racionali-
dade no se aplicam ao risco visto que existem elementos que no permitem
facilmente esta racionalidade: a lgica das decises, o contexto e o futuro. O
dcit de racionalidade ou a racionalidade limitada do agir arriscado faz com
que a percepo e a avaliao dos riscos sejam puramente subjetivas, faltando
condies para um consenso baseado na experincia. No possvel um
clculo racional dos riscos (...) e no existe (...) deciso alguma que no seja
arriscada
7
.
Essa perspectiva interessa-se principalmente pelas sociedades tecnologi-
camente avanadas, que exigem decises sempre mais complexas e arriscadas.
O risco uma conseqncia do estilo hodierno de vida e exige constantes
6 The morality of risk and the risk of morality (LUHMANN, 2004, p. 87-101; LUHMANN,
1996).
7 DONATI, 1990, op. cit., p. 24.
304
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
reexes e decises. Tal modelo mostra-se pouco til para analisar situaes
de risco objetivo prprias dos pases de menor desenvolvimento tecnolgico
e, portanto, de baixa complexidade social.
c) Perspectiva relacional
Um outro tipo de perspectiva, denominada relacional por R. Donati,
interpreta o risco como fruto de uma relao inadequada entre desaos e
recursos: o risco consiste na existncia de um desequilbrio, ou seja, na falta
de adequao relacional (de encontro, dilogo) entre desaos e recursos em
um sistema relacional complexo
8
. O ator social, seja ele um indivduo ou um
sistema, sente-se desaado por um contexto que no consegue oferecer-lhe os
recursos apropriados para atingir as prprias aspiraes. Estabelece-se uma
situao de desequilbrio entre os desaos estimulados pelas necessidades e a
escassez, a inadequao ou a incongruncia dos recursos para fazer frente a tais
desaos. Desaos e recursos podem ser analisados como sendo de provenincia
tanto externa quanto interna. Os desaos externos dizem respeito, sobretudo,
s ofertas da estrutura social que se transformam para o adolescente em uma
demanda de educao, de formao prossional, de cuidados com a sade, de
trabalho, de pertena a um grupo, de vestir-se de acordo com a moda etc. No
segundo caso, os desaos internos tocam a subjetividade, ou seja, a capacidade
de resposta do sujeito s demandas sociais e individuais de ajustamento e de
formao.
O risco, ou a inadequao entre desaos provenientes da sociedade e os
recursos pessoais e sociais, seja ele de origem externa (objetiva) ou interna
(subjetiva), pode ser estudado a partir de trs modelos distintos mas comple-
mentares: a) o modelo das necessidades, medida que a insatisfao de certas
8 DONATI, 1989, p. 170.
305
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
necessidades pode provocar o risco; b) o modelo das transaes, utilizado para
analisar as circunstncias nas quais as demandas colocadas ao sujeito excedem
a sua capacidade de resposta, desencadeando uma crise; e c) o modelo das
transies, que permite focalizar os riscos inerentes s mudanas inesperadas
durante as quais o sujeito deve redenir a sua posio dentro do sistema ao
qual pertence.
O risco considerado tambm no seu aspecto positivo, enquanto pode
motivar o desejo de superao dos desaos, oferecendo assim uma oportu-
nidade de crescimento ao sujeito. A perspectiva relacional mostra-se mais
ampla e compreende alm dos aspectos (riscos) subjetivos internos, tambm
os aspectos (riscos) objetivos externos os quais independem do sujeito. As
outras duas perspectivas (psicossocial e sistmica) parecem mais restritivas: a
primeira devido ao seu conceito de edge-work, enquanto se preocupa com o risco
voluntrio; e a segunda, mais adaptada para a anlise do risco em sociedades
tecnologicamente avanadas, compreende decises sistmicas ou mesmo pes-
soais defronte s incertezas do mundo contemporneo.
O risco voluntrio (perspectiva psicossocial) ou fruto de reexo (perspec-
tiva sistmica) uma caracterstica subjetiva do sujeito como tal, que responde
aos determinismos sociais, a vnculos e presses externas do contexto prprio
do sujeito
9
. A condio de adolescentes e jovens brasileiros, no entanto,
recorda-nos principalmente o conceito de risco como probabilidade e premissa
para o desencadeamento de respostas problemticas e desviantes, com escassa
conscincia por parte do sujeito e alto constrangimento por parte do ambiente;
no se trata, obviamente, de risco voluntrio.
Os trs modelos (das necessidades, das transaes e das transies) refe-
rem-se a trs aspectos particulares que permitem a anlise da insatisfao das
9 DONATI, 1990, op. cit., p. 20.
306
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
necessidades, da incapacidade de respostas por parte do sujeito, e do perodo
adolescencial de crescimento e de transformao pessoal. De modo particular,
nesse ponto, podemos assumir um conceito de risco que considere explicita-
mente as necessidades, e particularmente a falta de dilogo entre os desaos
proporcionados pelo mundo circunstante e os recursos disponveis para respon-
der a esses desaos: uma situao na qual so frustradas ou mesmo negadas as
oportunidades racionais de satisfao das necessidades fundamentais
10
.
1.2. Conceituaes de risco
Vimos como o conceito de risco mostra-se elstico, podendo compreender
seja uma ao levada ao limite, seja uma eventual probabilidade de mau xito
diante de uma deciso, seja a condio de um adolescente em situao difcil,
pobre ou socialmente excludo
11
.
Para esclarecer o conceito de risco, partimos das distines analticas entre
risco subjetivo e objetivo, natural e articial, risco e perigo, risco e segurana. Em
seguida, analisamos o risco como construo social: como possvel alimentar
no senso comum, pela reao social a certas situaes de marginalizao e de
pobreza, uma representao social que refora e cria novos riscos. Por m, re-
tomamos a tipologia do risco subjetivo e objetivo, para identicar quais so, na
nossa sociedade, as principais manifestaes de cada um deles e para entender
o processo segundo o qual o risco se alimenta dentro das culturas marginais
e naquelas integradas ao sistema social, mas ao mesmo tempo redutivas em
relao a determinados valores ou pseudovalores.
10 MION, 1990, op. cit., p. 183.
11 LUBECK; GARRETT, 1990, op. cit., p. 327.
307
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
a) Tipologia
O risco objetivo visto como um dcit dos recursos materiais; estudado
em uma perspectiva estrutural: Famlia em situao de risco seria aquela que
apresenta um dcit em relao ao mnimo essencial de certos bens (casa,
instruo, sade fsica e psquica, renda)
12
. O risco subjetivo refere-se a um
dcit dos recursos individuais, e se manifesta pelas respostas problemticas
no mbito da assuno de valores, da formao de atitudes e racionalizaes
e das insatisfaes pessoais.
O risco objetivo tambm categorizado como risco natural, como objetivo,
proveniente da natureza e independente das decises humanas, como por
exemplo, um terremoto; o risco articial o seu contraponto, fruto e produto
da sociedade tecnologicamente avanada que, na busca de segurana, cria
sempre novos riscos.
O risco pode ser tambm distinguido como individual e coletivo. O pri-
meiro refere-se a condies psicolgicas: pode-se dizer que o indivduo est
em situao de risco em relao a um certo estado psicolgico e emotivo. O
risco no sentido coletivo, por sua vez, um atributo que se refere a condies
sociais compartilhadas por grupos de indivduos: um conjunto de caractersticas
comuns como a pobreza, o abuso, a negligncia, o handicap etc
13
.
O risco , muitas vezes, confundido com perigo, risco certo, objetivo
14
.
Alguns o relacionam com a busca de segurana na sociedade tecnologicamente
avanada
15
: o risco em sentido restrito, subjetivo, provm da necessidade de
fazer uma opo e, portanto, conseqncia de uma deciso. A sociedade atual
12 DONATI, 1990, op. cit., p. 14.
13 O risco como um atributo individual (FRYMIER; BARBER, 1992, p.142-146); e como uma
condio social; (EDELMAN, 1989 apud LUBECK; GARRETT, 1990, op. cit., p. 329).
14 Tal concepo caracterstica de uma perspectiva psicossocial (LYNG, 1990, op. cit., p. 851-886.)
15 Concepo desenvolvida segundo urna perspectiva sistmica por (LUHMANN, 1987, op. cit., p.
87-101 apud DONATI, 1990, op. cit., p. 23).
308
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
esfora-se por reduzir os riscos naturais e os perigos, multiplicando os riscos
sociais, subjetivos e articiais. Nas sociedades industrializadas eles so institu-
cionalizados: so um estilo de vida, como prxis, como auto-representao,
tanto que uma ao que no represente uma certa dose de risco no consi-
derada atraente, no excita, no diz nada, incolor, inodora e sem sabor
16
.
Chegados a esse ponto de nossa reexo, parece-nos til esclarecer breve-
mente a relao entre risco social e mal-estar. Partindo do conceito de risco
como frustrao das necessidades, podemos armar que o mal-estar recorda
um estado de insatisfao que se difunde hoje sobre toda (ou quase toda) a
juventude
17
, provocado por uma discrepncia entre os desaos provenientes
das demandas externas e internas do sujeito e os recursos disponveis para que
ele realize tais demandas. Preferimos uma perspectiva relacional, que interprete
o mal-estar como expresso da fadiga com que os sujeitos da socializao
enfrentam o fardo de sustentar o jogo da exibilidade dos percursos, das opes
e das atitudes
18
na gesto de desaos e de recursos que transitam dentro de
um sistema social ou de sistemas sempre mais complexos. Algumas situaes
de mal-estar podem produzir xitos problemticos para os jovens
19
. O
mal-estar vericado e medido em funo de sua probabilidade de produzir
um xito positivo nas formas de comportamentos irracionais, desviantes e
infracionais.
O sistema social apresenta desaos que o sujeito no est em condies de
enfrentar, ou por falta ou por inadequao dos recursos de que ele dispe. O
mal-estar provm da falta de comunicao entre o sujeito, o seu mundo vital
e o sistema social.
16 DONATI, 1990, op. cit., p. 12, 13.
17 MION, 1990, op. cit., p. 183.
18 NERESINI; RANCI, 1992, p. 25.
19 ARDIG, 1980, p. 15.
309
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
Em primeiro lugar, entendemos por mundo vital o mbito das relaes
intersubjetivas que precedem e acompanham a reproduo da vida quotidiana
e que, sucessivamente, por meio de comunicaes simblicas entre duas ou
mais pessoas, formam a faixa das relaes de intimidade, de familiaridade, de
amizade, de interao quotidiana, comportando plena compreenso recproca
do sentido das aes e da comunicao intersubjetiva
20
.
O mundo vital representa os lugares da vivncia intersubjetiva: o grupo de
coetneos, a famlia, o grupo do esporte etc.
Em segundo lugar, por sistema social entende-se um conjunto de relaes
sociais tipicadas, de comunicaes, de tramas normativas e de estruturas de
controle (...) capazes de sobreviver e de autodeterminar-se
21
graas sua ra-
cionalidade interna. Os sistemas sociais tornam-se sempre mais diferenciados
e complexos e de uma certa maneira fechados ou mesmo indecifrveis para os
jovens. Para exemplicar, tomemos em considerao o sistema de relaes de
trabalho, em que a empresa pode representar um sistema at ento indecifrvel
aos novos trabalhadores admitidos: imaginemos um jovem trabalhador, de 16
anos, vindo da favela, que deve enfrentar as relaes de trabalho dentro de uma
empresa, deve aprender os procedimentos prossionais, a maneira de relacionar-
se com os dirigentes, o modo de vestir-se e as normas disciplinares do ambiente
de trabalho. O choque entre o mundo da vida quotidiana (mundo vital) da
favela e o sistema social representado pela empresa no pode ser desprezado
na avaliao do desempenho educativo e prossional do adolescente.
20 Idem, p. 15.
21 Ibidem, p. 15.
310
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
b) O risco como construo social
Muitos autores entendem o risco como produto das representaes sociais
que nascem do senso comum
22
. Se verdade que so muitos os adolescentes
em situao de risco, tambm verdade que, segundo a reao social ao risco,
tais adolescentes so identicados pelo senso comum como representando
eles mesmos um risco para a sociedade: Um rapaz, mal vestido, girando
pelas estradas visto como um risco iminente, pode assaltar ou ferir. Sendo
adolescente, pobre, de sexo masculino, automaticamente suspeito de colocar
em risco a ordem e o bem-estar social
23
. A discriminao, o prejuzo e o estigma
que acompanham a gura do ator social menino pobre e maltrapilho podem
produzir o pivete como fator de risco. Alm de ter que viver pelas ruas, e, por-
tanto, em situao permanente de risco, tambm visto pela sociedade como
um risco: podemos imaginar, luz das teorias do interacionismo simblico, as
lacunas provocadas na formao da identidade desses adolescentes, considerados
eles mesmos um fator de risco.
c) O risco subjetivo
O risco subjetivo tem suas razes dentro do sujeito e diz respeito s atitudes,
s decises e s perturbaes psquicas pessoais. A sociedade tecnologicamente
avanada cria comportamentos voluntrios arriscados: tentativas, experincias,
busca de sensaes novas, de provar as fronteiras entre o mundo ordenado e
o fascnio da desordem e do desconhecido. Para os adolescentes, o confronto
com determinadas situaes arriscadas manifesta-se como uma tentativa de
armao de si e de vericao das prprias capacidades: a velocidade em cima
22 Alcune osservazioni sulluso delle statistiche ufciali nella valutazione delle condizioni di rischio
nelle famiiglie (SAPORITI, 1991, p. 46-58; DUCLOS, 1987, p. 17-42; LUBECK; GARRETT,
1990, op. cit., p. 330-331; SOUZA FILHO, H. 1991, p. 64; DONATI, 1989, op. cit., p. 174-175,
182).
23 SOUZA FILHO, 1991, op. cit., p. 64, 67.
311
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
das motocicletas, a busca de aventura, a experincia da droga, o surf atrs e em
cima dos nibus e trens, o desao polcia...
O prprio perodo adolescencial, como etapa de vida, comporta riscos parti-
culares. A adolescncia funciona como transao entre o indivduo e a sociedade
(famlia, grupo, instituies, associaes) e como transio entre a criana
e o adulto. O perodo adolescencial manifesta particulares necessidades, j
recordadas, entre as quais a necessidade de modelos referenciais adultos vlidos.
Muitas vezes, os adultos (pais e professores) escapam a essa responsabilidade
e delegam a sua funo normativa (prescries, obrigaes e normas) s insti-
tuies, com o m de evitar o conito direto com o adolescente. Em lugar da
ausncia e da renncia ao conito por parte de adultos signicativos, a sociedade
apresenta e oferece a possibilidade da participao no papel de consumidor (o
consumo) e de produtor (o trabalho). O adolescente em formao tem imediato
acesso ao consumo, sem que disponha ainda de adequado e proporcional critrio
dos limites (negados porque delegados pelos adultos a terceiros); muitas vezes
ele busca no consumismo a compensao e a evaso.
Constata-se na sociedade complexa uma crise de valores e uma falta de refe-
rncia de valores. Alm do ncleo familiar, o grupo de coetneos funciona como
ltro interativo para a proposta de valores proveniente do sistema social (mass
media, modelos de referncia, moda, atitudes). O ambiente familiar e de grupo,
se problemticos, podem funcionar como reforo no s para os pseudovalores,
mas tambm para os comportamentos desviantes. Para no se sentir excludo,
o adolescente se adapta proposta de valores e de atitudes compartilhada no
grupo, incorporando uma personalidade de baixo perl valorativo. Alm do
mais, existem tendncias culturais e falamos principalmente de tendncias
subculturais que se desenvolvem no ambiente ou nos grupos juvenis e que
aumentam o risco de marginalizao e de desvio.
O contato com determinadas subculturas de grupos excludos, nos quais
312
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
se encontrem presentes traos de instintividade, de falta de reexividade, de
preocupao pela sobrevivncia, de violncia, de falta de recursos, de indife-
rena e de desleixo com o perodo evolutivo, constitui e aumenta o risco social
no perodo infantil. Nas classes mdia e alta o risco pode ser mais forte se
situado num quadro de tenses estruturais prprias da modernidade, e pode
manifestar-se, por exemplo, em violncias psicolgicas, em vazios afetivos, em
depresso etc.
Existem tendncias culturais que podem ser denidas como redutivas e
outras como marginais. As redutivas veiculam somente uma parte dos valores
ou pseudovalores do sistema social, quando este no consegue fornecer ao
indivduo uma formao integral, concorrendo para o enfraquecimento da
sua personalidade. Outras culturas caracterizam-se como marginais, porque
emergem como uma alternativa s culturas de carter dominante. Algumas
dessas culturas
24
colaboram para a formao de atitudes com base nas quais
se justicam determinados comportamentos irracionais ou desviantes, como,
por exemplo:
- cultura do poder e da fora: Felicidade para mim ser forte, ter boa
aparncia e impor respeito;
- cultura da onipotncia pessoal: Cada um cuide de seus prprios
interesses, Cada um pra si e Deus pra todos;
- cultura do negativismo: A vida no tem sentido;
- cultura do desempenho ou da indiferena pelos problemas polticos e
sociais: No estou nem a...;
- cultura do infantilismo e da busca de emotividade como matriz de novas
experincias revelia da racionalidade;
24 MORO, 1992, p. 16-17.
313
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
- cultura da fuga e da evaso para esquecer e diminuir a ansiedade: Feliz
quem sabe curtir e gozar a vida;
- cultura da aparncia: o belo aquele que aparece, que fascina, que faz
notcia;
- cultura da esperteza e da cumplicidade: do sucesso a qualquer custo, do
levar vantagem em tudo, do silncio, da cumplicidade que refora as atitudes
servilistas e de esperteza nas relaes.
A essas tendncias culturais podemos acrescentar outras, como a cultura do
consumo, da irracionalidade, do retiro dimenso privada da vida, alm das
j referidas no tpico sobre as necessidades e sistemas de signicado. Algumas
dessas culturas tm a sua matriz no prprio sistema social; a sua aceitao
consiste no modo, mesmo que problemtico e redutivo, de participar no sistema
social: o modismo, o consumismo, a indiferena pelos problemas sociais e
polticos. Outras tendncias culturais crescem como alternativa e margem
do sistema: a subcultura da criminalidade organizada, da droga, da rua. Elas se
tornam duplamente uma premissa para o risco social, seja porque estimulam
a assuno de pseudovalores, seja porque crescem no terreno frtil da excluso
e da marginalidade: constituem lugares de cultura do risco enquanto dentro
delas mais fcil a reproduo de desequilbrios que os adolescentes no so
ainda capazes de enfrentar
25
.
d) Risco objetivo
Ao lado do risco subjetivo, vivido pelo sujeito como uma resposta aos de-
saos provenientes do ambiente, existem riscos objetivos, gerados no mbito
estrutural da frustrao das necessidades fundamentais da pessoa. possvel
identic-los nas condies de pobreza, nas situaes familiares problemticas
25 NICOLA, 1990, p. 51.
314
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
(famlia conituosa, desagregada, perfeccionista, violenta), nas falncias esco-
lares e de trabalho, na desocupao, na falta de opes para o tempo livre.
As vrias manifestaes do risco, sejam subjetivas ou objetivas, so especi-
cadas em determinados fatores.
1.3. Fatores de risco
O vocbulo fator provm do latim factor; signica autor, criador e
evoca uma causa, uma condio ou qualquer elemento que concorre para um
resultado
26
ou que contribui para um resultado. Na acepo adaptada para a
nossa anlise, entendemos por fator uma condio negativa (como a freqn-
cia a grupos que usam droga, a desestruturao familiar, a insatisfao com o
ambiente familiar, a falta de recursos bsicos como alimento e habitao etc.)
que favorece a produo do risco social. Ele tem sua origem na lacuna que se
desenvolve entre as metas propostas pelo sistema social e os meios disponveis
para atingi-las, teoricamente colocadas disposio de todos
27
. A essa lacuna
acrescente-se a diculdade relacional (fadiga, mal-estar) advertida pelo sujeito,
o qual desaado a perseguir metas propostas pela cultura sem ter acesso
aos recursos prometidos teoricamente a todos
28
. Um fator de risco constitui
prevalentemente um elemento negativo, uma condio objetiva e subjetiva de
mal-estar que, sozinho ou associado a outros fatores, comporta a probabilidade
de desencadear decises problemticas, em ato ou em potencial, sob as formas
da marginalizao e do desvio. E, neste sentido, quando tem a probabilidade
de desencadear o risco, o fator de risco, sozinho ou associado, funciona como
indicador de risco de desvio comportamental.
26 HOUAISS, 2004.
27 MERTON, 1977, op. cit., p. 208.
28 DONATI, 1989, op. cit., p. 170.
315
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
De acordo com as diferentes perspectivas, podemos distinguir diversos tipos
de risco e de fatores, cuja concorrncia comporta uma situao de risco. As
pesquisas
29
geralmente identicam estes fatores segundo critrios distintos: por
rea de anlise (risco fsico, consumista, formativo, de desvio); por sua natureza
(psicolgica, econmica); e segundo o mbito no qual eles se manifestam dentro
do sistema social (econmico, social, relacional, cultural).
Alguns estudiosos tendem a investigar o risco social 1) na situao juvenil,
familiar e social; outros 2) acentuam a relao entre causa-efeito ou as
correlaes entre determinados fatores de risco social e o xito desviante e
marginalizante. No primeiro caso, trata-se de pesquisas descritivas baseadas
no levantamento de situaes de risco social e de mal-estar, e nelas o conceito
de risco social se avizinha ao de mal-estar social. No segundo caso, trata-se de
pesquisas de carter explicativo pelas quais procura-se vericar o nexo causal
entre o risco social e suas provveis conseqncias nas formas de comporta-
mento transgressivo e de marginalidade.
P. Donati
30
partindo da anlise das necessidades das crianas, numa pers-
pectiva relacional, conclui pela necessidade de uma avaliao integral do risco
entendido como impossibilidade, por parte do indivduo, de satisfazer as
prprias necessidades; tal insatisfao comporta carncias em dois sentidos:
horizontal e vertical. No sentido horizontal, o autor distingue: a) o dcit
material devido no satisfao das necessidades materiais e instrumentais:
b) o dcit relacional devido no satisfao das necessidades ligadas
socializao e integrao social. No sentido vertical, o autor distingue: c) a falta
de sentido da vida, resultado da no satisfao das necessidades de sentido da
vida, de religiosidade e de valores d) e, por ltimo, o dcit na formao da
29 NICOLA, 1990, op. cit., p. 31-46; RINGHINI, 1984; SOUZA FILHO, 1991, op. cit., p. 64);
DONATI, 1989, op. cit., p. 160-179; CHIERA, 1994, op. cit., p. 224; FAUSTO; CERVINI, 1992,
p. 244).
30 DONATI, 1989, op. cit., p. 191.
316
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
personalidade causado pela frustrao das necessidades afetivas e cognitivas.
A distino proposta pelo autor permite-nos elaborar, com a contribuio
de outras pesquisas, uma rede de fatores de risco nos quatro mbitos acima
mencionados.
a) Fatores de risco no mbito material e instrumental
- Pobreza: privao cultural dos pais ou baixo nvel de escolaridade, baixa
qualicao prossional, baixa renda.
- Decincias de sade: uso de substncias prejudiciais (lcool, fumo, droga);
doenas originrias da condio de pobreza ou de misria (verminose,
anemia etc.).
- Excluso social: condio de desocupado, mendicante, imigrante, drogado.
- Habitao em territrio caracterizado pela ausncia de servios bsicos:
como estradas, luz, gua potvel, segurana e espaos para habitao.
- Trabalho precoce acompanhado de baixa renda, falta de proteo legal,
subocupao; relaes de trabalho caracterizadas pela prepotncia e dis-
criminao.
b) Fatores de risco no mbito da integrao social
- Formativos: falncias, reprovaes, abandono da escola, defasagem entre a
srie estudada e a idade; relaes conituosas com os professores.
- Associativos: freqncia a determinados ambientes com maior incidncia
de desvio (bar, discoteca, estdio, concerto de rock, cinema, rua); aceitao
de subculturas desviantes que oferecem oportunidades de pertena e um
baixo perl de valores.
- Relacionais: escassez de companhia, isolamento, falta de amizades e de
coetneos com quem se agrupar; insero problemtica no grupo de coet-
neos, com relaes de intensa dependncia em vez de um estilo de amizade
convencional.
317
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
- Relaes problemticas com as instituies, em especial com a famlia, a
escola e a igreja.
c) Fatores de risco no mbito da identidade cultural
- Evaso: tempo livre vivido como compensao e evaso.
- Falta de referncias culturais: desenraizamento cultural, condio de imi-
grante; socializao alternativa em subculturas minoritrias ou desviantes.
- Falta de referncias de valores: assuno apenas parcial de valores ou aceitao
de pseudovalores, que no conseguem sustentar um percurso formativo.
- Falta de signicado e sentido da vida.
d) Fatores de risco no mbito da formao da personalidade
- Conituosidade familiar: falta de comunicao com os pais, distanciamento
afetivo entre os pais, violncia fsica e sexual, ausncia dos pais por razes
de separao ou morte.
- Problemas psicolgicos: derivados de decincias, de doenas mentais, de
desajustes, de esquizofrenias.
- Experincias de institucionalizao, de contato com a polcia e com a justia,
- Falta de relaes signicativas com adultos credveis.
1.4. Notas metodolgicas anlise do risco
Na anlise do risco distinguimos alguns critrios metodolgicos: o critrio
normativo ou emprico para a identicao dos fatores de risco; o carter no
determinista, ou probabilista da relao causa-efeito entre risco e desvio com-
portamental; a resilincia, ou as potencialidades do sujeito para a superao das
situaes de risco, mesmo as mais graves; o potencial reativo positivo (vontade
de superao) que o risco pode provocar nos sujeitos.
318
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
Uma distino metodolgica diz respeito ao estudo do risco como ob-
servao (risk analysis) e como avaliao (risk assessment). As observaes so
recolhidas dos sintomas manifestados pelo indivduo, e pressupem instru-
mentos de descrio (indicadores e conceitos). A observao do risco permite
a avaliao dos nexos causais que mais ou menos levam aos resultados previstos;
a avaliao dos riscos mostra-se complexa visto que cada ao arriscada pode
ter xitos diferentes, dependendo do contexto e das caractersticas da pessoa
em questo.
Dada a complexidade e o dinamismo do xito de uma ao arriscada, uma
explicao do risco joga com probabilidades e jamais com determinismos
31
.
No campo fsico-natural a probabilidade de previso do risco mais fcil,
enquanto no campo psicolgico, social e cultural ela mais difcil, dada a
interferncia de variveis como a liberdade e a vontade humanas. Portanto,
quando caracterizado pela incerteza e pela instabilidade da liberdade e da
imprevisibilidade das decises humanas, o nexo causal entre fator de risco
social e desvio de comportamento tem a ver com a probabilidade e jamais
com o determinismo.
Sendo fruto de decises humanas, o xito dos comportamentos arriscados
no se deve somente a situaes objetivas (familiares e sociais) nas quais ele
se encontra, mas tambm responsabilidade moral do sujeito. Uma situao
de risco social, mesmo podendo provocar desvio comportamental, comporta-
mentos irracionais e marginalidade, no um fator irreversvel; funo dos
educadores e das instituies educativas fornecer ao sujeito os recursos (internos
e externos) necessrios para que ele possa identicar os riscos e enfrent-los com
menores probabilidades de xito negativo; em outras palavras, para aumentar
a sua capacidade de resilincia ou de resistncia e superao do risco. Daqui
resultam algumas conseqncias para a preveno: o carter preventivo da
31 DONATI, 1990, op. cit., p. 9.
319
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
ao educativa na adolescncia est no fato de poder contar com essa enorme
quantidade de energia, com essa capacidade de resilincia da juventude e de
saber provoc-la proativamente.
Na interveno preventiva nem todos os fatores de risco geram resultados ne-
gativos e no seria positivo um percurso formativo sem a ocorrncia de riscos
32
;
eles podem tambm provocar reaes positivas, quando capazes de provocar no
sujeito a necessidade de super-los. Uma situao de risco pode despertar no
sujeito as suas necessidades radicais. So, portanto, elemento potencialmente
utilizvel para o crescimento. Por outro lado, certos tipos de riscos devem ser
eliminados o mais rpido possvel, pois aprofundam desigualdades que podem
comprometer a evoluo normal do processo formativo: por exemplo, o aban-
dono escolar, as repetncias, as doenas fsicas e psicofsicas.
A interpretao probabilista e no determinista do risco social leva em
considerao a capacidade e a potencialidade dos sujeitos no enfrentamento
das situaes vividas; diante de situaes objetivas e subjetivas de risco, o sujeito
pode contar com os prprios recursos pessoais que, uma vez ativados, servem
sua superao.
A interveno orientada preveno do risco deve ser realizada de maneira a
no ampliar as situaes de risco. Uma maior visibilidade social de certas situaes
de risco pode desencadear reaes sociais, aumentar e criar novas situaes que
objetivamente poderiam ser evitadas. Imaginemos, por exemplo, de um lado, a
reao desproporcional da sociedade em relao aos meninos de rua, vistos como
perigosos, como indivduos que devem ser evitados e, de outro lado, a capa-
cidade de resposta defensiva desses meninos. Conscientes do perigo que
representam, e do medo que conseguem provocar nas pessoas, utilizam-no
como estratgia para a prpria sobrevivncia na rua. Essa ampliao do risco
pode provocar a construo de outros fatores de risco em vez de erradic-los;
32 MORO, 1992, op. cit., p. 9.
320
Capitulo 13 Paradigma Fatorialista: categoria Interpretativa do Risco Social
sem um projeto preventivo que leve em conta tal possibilidade de ampliao
do risco que pretendem erradicar, as polticas sociais, muitas vezes de tipo
contensivo e reparatrio, patologizante e medicalizante, podem produzir na
vida das crianas efeitos perversos.
1.5. Concluindo
O xito problemtico dos fatores de risco no tem carter determinista,
mas probabilista; so respeitadas assim as potencialidades, os recursos e a
capacidade de resilincia do sujeito, o qual pode ser preparado para enfrentar
criticamente as situaes de mal-estar e a reagir positivamente ao risco. Abre-se
assim o espao reconhecido para a ao educativa dirigida preveno. Visto
que o sujeito possui uma capacidade reativa e proativa imprevisveis, nem todos
os fatores de risco social provocam mal-estar, e nem todo mal-estar produz
marginalizao e desvio comportamental.
321
E
sta breve exposio pretende propor algumas orientaes para a pesquisa
social. Partimos de um ponto de vista histrico, para ressaltar determinadas
fases da pesquisa sociolgica. Seguem algumas consideraes tericas: trs
amplas perspectivas nas quais a pesquisa sociolgica move a cincia, entre corrente
voluntarista, objetivista e subjetivista. O campo de aplicao da pesquisa sociolgica,
entre uma anlise de tipo macro e microssociolgica; os diversos paradigmas que
se sucedem e se realam em alguns perodos histricos da sociologia; a devida
imaginao sociolgica do pesquisador como atitude fundamental; a relao
e os conns com as outras disciplinas; o objeto da pesquisa social e uma cate-
gorizao das pesquisas segundo o objeto que perseguem; e, enm, propomos
uma exemplicao e uma exercitao.
1. TRS PERSPECTIVAS DE FUNDO
a) O voluntarismo
Segundo essa perspectiva o homem um ser histrico e no se pode aplicar a
razo pura para interpretar o seu comportamento; enquanto o objeto das cincias
naturais so os fenmenos externos ao homem, o das cincias humanistas
Captulo 14
Observaes sobre a
Pesquisa Sociolgica
322
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
estuda o mundo das relaes entre as pessoas e histrico por excelncia. A
vontade dos seres humanos livre e, portanto, ningum est em condies de predizer
as suas aes e de avanar generalizaes que lhe dizem respeito. Esta concepo
consentiria somente o estudo de eventos nicos, sem previses e explicaes. A in-
terpretao acima denominada voluntarismo. Notvel representante dessa corrente
interpretativa Wlilhelm Dilthey
1
.
b) Objetivismo
Segundo essa perspectiva os fenmenos sociais so dotados de uma ordem
e podem ser generalizados. No existem grandes diferenas entre a cincia fsica
e natural e a cincia social. Notvel representante desta corrente na sociologia
Emile Durkheim
2
. Partindo do pressuposto segundo o qual o objeto tpico da
sociologia o fato social, ou seja, modos de agir, pensar e sentir exteriores
ao indivduo, existem fatos sociais normais e os patolgicos.
Essa perspectiva sob a qual se movem particularmente os positivistas,
tende a utilizar tcnicas quantitativas (elaborao de dados, construo de
escalas, anlises estatsticas etc.) e a formular hipteses. Para eles a sociologia
uma cincia explicativa forte e a realidade social concebida como objetiva
e determinada.
c) Subjetivismo
Uma aproximao intermediria entre os dois extremos do voluntarismo
e do positivismo. A sociologia no encontra o seu objeto no determinismo
das lei sociais (positivismo), e nem mesmo na historicidade e dinamicidade
fugaz da ao voluntria do homem (voluntarismo). Expoente dessa soluo
intermediria, Max Weber
3
, acredita que a vontade livre do homem exercitada
1 DILTHEY, 1982, Loc. 33-B-248.
2 DURKHEIM, 1970, Loc. 20-B-1826.
3 WEBER, 1974, Loc. 20-C-3032.
323
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
de um modo racional, portanto, a ao humana pode ser prevista mediante
a compreenso da ao racional. Para o autor legtima, mas inadequada, a
transposio dos mtodos cientcos das cincias naturais s cincias sociais.
Em muitos casos, esses podem ser utilmente substitudos pela compreenso
direta, possvel na cincia social, visto que o pesquisador faz parte do mundo
pesquisado; ele um membro do mesmo grupo que est estudado. O pesquisa-
dor social observa uma pessoa em uma determinada situao e condio, entra
em empatia com ela e compreende o que ela sente; tenta descobrir o sentido
e o signicado que essa pessoa d s aes que executa. O pesquisador tenta
descrever e explicar as conformaes histricas individuais e a regularidade do
agir social.
O objetivo da cincia o de descrever e explicar a realidade. O conheci-
mento cientco produzido pelas explicaes causais que se sustentam sob o
estudo de alguns aspectos do devir, de precisos fenmenos e no de todos os
fenmenos. Fazemos escolhas que compreendem: o fenmeno a ser estudado,
o ponto de vista sob o qual tal fenmeno estudado e, portanto, as causas de
tais fenmenos. Tais escolhas acontecem balizadas em certos valores.
A sntese dos conhecimentos, mesmo que fragmentada, pode conuir em
direo a um tipo ideal de fenmeno, mediante conexo de uma quantidade
de fenmenos particulares difundidos e discretos. O tipo ideal serve como
instrumento metodolgico para construir um quadro ideal para depois medir
ou comparar a realidade efetiva, entre aproximaes e distanciamentos entre
esta e o modelo.
Cada uma das aproximaes acima tem seus pontos fortes e pontos dbeis.
Depende do pesquisador encontrar o mtodo justo para atingir os objetivos
aos quais ele se prope.
324
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
2. O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA SOCIOLGICA
Podemos identicar algumas etapas do desenvolvimento da pesquisa social,
ou quatro grandes fases:
Perodo preparatrio: sculo XVII incio do sculo XIX, caracterizado
por diculdades de obteno das informaes sistemticas. O que se faz so
muito mais relevamentos de dados demogrcos (exemplo: Lavoasier na
nascente Repblica Francesa).
Perodo de desconhecimento: o sculo XIX at a primeira dcada do s-
culo XX. Tal fase caracteriza-se por motivaes sociais para as pesquisas e pela
falta de conhecimento de que se fazia tambm pesquisa social no momento em
que se ligavam dados estatsticos ou documentos relativos a fenmenos sociais.
Deste perodo, pertencem algumas pesquisas tpicas como as do suicdio de
E. Durkheim, sobre estatstica moral de Qutelet
4
; sobre as condies de
pobreza na Inglaterra de Rowntree.
Perodo das escolas: entre as duas grandes guerras nascem as grande esco-
las. Caracterizam-se especialmente pelo movente social, como a criminalidade
5
,
o desvio social, a assimilao dos imigrantes
6
, o conito racial
7
. Faz escola,
sobretudo, a Escola Ecolgica de Chicago que, com o estudo e a observao
dos territrios problemticos, preocupa-se com a descoberta das causas do
desvio social e da marginalidade presentes na cidade.
Perodo do ps-guerra: caracterizado pelo desenvolvimento das pesquisas
sociais segundo uma aproximao quantitativa de ampla inuncia, nacional e
internacional, utilizando-se j dos instrumentos informticos; e o desenvolvi-
mento tambm das pesquisas segundo uma aproximao qualitativa.
4 QUTELET, 1974; GUERRY, 1864, op. cit.
5 THRASHER, 1963, op. cit.
6 THOMAS; ZNANIECKI, 1968, op. cit.
7 JOHNSON, 1930.
325
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
Dentro da aproximao qualitativa podemos individuar trs endereos de
pesquisa, ou seja, o interacionismo simblico (e a labelling theory), a etnometo-
dologia e a teoria do estigma.
O primeiro endereo, o interacionista, focaliza o processo interativo que se
desenvolve entre as pessoas, entre as aes, as percepes da ao e a reao a
ela
8
de modo a provocar um processo de rotulao nos sujeitos que manifestem
comportamentos alternativos, estilos de vida, diversidade social
9
.
O segundo endereo, a teoria do estigma
10
(E. Goffman, 1968) caracteriza-
se pela concepo segundo a qual o ator social constri o seu mundo: a socie-
dade um palco onde acontecem inmeras representaes idealizadas. Cada
um aquilo que representa no palco da vida.
A terceira, a etnometodologia, por sua vez, origina-se das crticas s meto-
dologias empricas, ou pretenso dessas de descobrirem uma ordem social.
Nega-se assim a posio funcionalista, segundo a qual os fatos sociais possuem
realidade prpria; se preocupa, ao invs, de como as pessoas constroem, con-
tratam, tornam comum e depois percebem as regras comportamentais.
A etnometodologia uma das correntes que mais radicalmente adota esta
metodologia weberiana: assim no busca formular leis cientcas gerais, mas
sim concentra-se nas situaes nicas dos sujeitos e nos signicados que eles
do ao mundo que os circunda. Tende mais a trabalhar na reconstruo de
um fragmento particular da realidade social com base nos elementos que o
mecanismo estrutural postula, aumentando assim a visibilidade de outros
fragmentos, o autoconhecimento coletivo
11
.
A corrente qualitativa (ou humanista ou hermenutica) serve-se da ob-
servao. Tende a utilizar uma aproximao mais semelhante quela de M.
8 BECKER, 1963, op. cit.
9 MATZA, 1976, op. cit.
10 GOFFMAN, 1970, Loc. 33-B-45 23.
11 CARBONARO; GURRIERI; VENTURI, 1989, p. 51.
326
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
Weber. Concentra-se decididamente sobre a anlise das conversaes para
uma compreenso mais subjetiva dos objetos da sua pesquisa; coincide o mais
possvel com os modelos de anlise da cincia social com a percepo subjetiva
que os atores sociais tm dos prprios estilos de vida quotidianos. Ao invs
de conceberem a realidade social como objetiva e determinada, a concebem
como um problema sempre aberto. Ao invs de conceberem o indivduo como
produto da sociedade e condicionado por estruturas, por regras, por sistemas
de valores, essa corrente sustenta que dos indivduos emanam todas as formas
sociais. Ao invs de se moverem sob o plano das funes coletivas, dos ma-
crodeterminismos, preferem trabalhar sob o nvel das interaes que ocorrem
na vida quotidiana, sobre a pesquisa de signicados e sobre percepes que os
atores sociais tm da vida.
3. RELAO ENTRE TEORIA E PESQUISA CIENTFICA
3.1. Paradigmas
O termo paradigma signica um conjunto de proposies que formam uma
base de acordo sob a qual se desenvolve uma tradio de pesquisa cientca.
Em outras palavras, a linguagem com a qual so formuladas as teorias cient-
cas. No mbito das cincias sociais, nos referimos seja ao termo paradigma
sociolgico, seja ao termo tradio de pesquisa.
A maior parte dos paradigmas sociolgicos demonstram a probabilidade
de um risco determinista quando consideram as aes dos agentes sociais
como integralmente explicveis, partindo de elementos anteriores a tais aes
(limitaes estruturais, processo de socializao etc.). O determinismo cancela
a intencionalidade ou a vontade do agir humano. Estes paradigmas determi-
nistas so:
327
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
- o hiperfuncionalismo: em que a anlise dos papis, das normas e das
expectativas so executadas de modo rgido, como um dado, negando
qualquer criatividade e interpretao subjetiva dos papis;
- o hiperculturalismo: em que a interiorizao de normas e valores
determina a ao e os comportamentos;
- o realismo totalitrio: em que as escolhas do indivduo so determinadas
pela estrutura social.
3.2. A imaginao sociolgica
A imaginao sociolgica constitui uma espcie de atitude do pesquisador,
o qual deve observar a realidade social sob diversas dimenses:
- dimenso histrica: para que possamos perceber as transformaes que
ocorreram, que ocorrem e que se preguram em torno das formaes
sociais;
- dimenso antropolgica, ou a capacidade de superar a concepo
etnocntrica que acredita ter poder, a partir de uma cultura universal,
para julgar as outras culturas. O pesquisador deve ter a imaginao
sociolgica para utilizar instrumentos de pesquisa (questionrios,
escalas de avaliao) que sejam adaptados ao contexto cultural no qual
so usados. Por exemplo: a pergunta quantos lhos voc tem deve ser
seguida por uma interpretao que tome em considerao os signicados
que acompanham o desejo de ter ou no lhos: o apoio das polticas sociais
ao oramento familiar; o apoio quando os pais entrarem no perodo da
terceira idade; a realizao pessoal; o medo de no conseguir a auto-
sustentao.
328
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
Como conseqncia do posicionamento entre estas perspectivas, o campo
de aplicao da pesquisa sociolgica muda, entre realidade social objetiva e o
agir social subjetivo, entre macro e microssociologia, como tambm entre
teorizao e pesquisa emprica.
3.3. O campo de aplicao da pesquisa sociolgica
A inteira realidade social: aspectos estruturais, condutas coletivas. A pes-
quisa privilegia a quanticao da realidade social e se estuda as instituies
(como a famlia, a escola, os partidos polticos etc.), o condicionamento que
essas estruturas provocam sobre a percepo das pessoas e a reao delas a tais
condicionamentos.
O agir social estudado a partir da conjugao entre a compreenso dos fe-
nmenos sociais com a respectiva explicao (M. Weber): a pesquisa privilegia
o aspecto qualitativo das informaes, aprofunda a percepo dos indivduos
para explicar a histria individual com as regularidades do agir social.
Boudon (1970) distingue trs grandes categorias de pesquisa social:
a) Que tem como objeto as sociedades entendidas na globalidade:
- focalizadas sobre as mudanas sociais: por exemplo, a pesquisa de M.
Weber sobre a relao existente entre tica protestante e nascimento do
capitalismo moderno (qualitativa); de E. Durkheim sobre a diviso do
trabalho e sobre o suicdio (quantitativa);
- focalizadas sobre sistemas sociais: por exemplo, a pesquisa de T. Parsons
sobre a relao que ocorre entre o sistema econmico e o sistema da
socializao.
b) Que tem como objeto segmentos particulares da sociedade:
- referem-se no s sociedades no seu conjunto, mas a fenmenos parciais
que dizem respeito a indivduos e ao campo social no qual eles agem.
329
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
Baseiam-se sobre pesquisa de sondagem (survey). Por exemplo, a pesquisa
de M. Halbwachs sobre necessidades e as preferncias no consumo da
classe operria francesa; de G. Tarde sobre os comportamentos sociais
imitativos.
c) Que tem como objeto uma unidade social:
- o ponto de referncia no nem a sociedade global nem os segmentos
sociais, mas as unidades sociais naturais, como os grupos, as institui-
es e as comunidades. Por exemplo, a pesquisa de R. Lynd e H. Lynd
sobre a mudana da estraticao social dentro de uma comunidade
urbana, antes (no ano de 1929) e depois (no ano de 1937) da grande
depresso da economia dos Estados Unidos.
3.4. As relaes de circularidade entre teoria e pesquisa emprica
Encontramos na histria das cincias sociais uma contnua dialtica entre para-
digmas macro e microssociolgico e entre teoria e pesquisa emprica.
Por um lado, o problema da relao entre condicionamentos estruturais e o
agir individual determina uma variao das impostaes metodolgicas entre
os paradigmas macro e os microssociolgicos.
O paradigma macrossociolgico ocupa-se de processos extensos, tais como
o Estado, a classe social, a cultura, a organizao. E o mtodo mais utilizado
o da anlise histrico-comparativa, com uso de estatsticas ociais, da pesquisa
com amostragem (survey).
O paradigma microssociolgico, por sua vez, consiste na anlise detalhada
dos microprocessos da vida quotidiana: aquilo que se fala, que se faz, que se
pensa; o mtodo privilegia a observao direta (registro escrito, oral e visual).
Na questo entre a teoria e a pesquisa emprica, nota-se alguns desvios na
relao recproca entre essas duas dimenses da pesquisa. Por um lado, a teoria
330
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
conceitual como m em si mesma, ou a assim denominada grande teoriza-
o. Por outro, as sosticaes empricas levadas ao extremo no empirismo
abstrato. Ambas as impostaes tendem a ser evitadas.
R. Merton prope uma soluo para a relao entre teoria e pesquisa de
campo, e entre macro e micro-anlise sociolgica, que ele denomina de circular:
a reexo terica orienta o trabalho de pesquisa e este, por sua vez, inuencia
a teoria, a valida ou a substitui por um modelo mais vlido.
A circularidade realiza-se em dois tempos: 1) o primeiro tempo vale-se
de um percurso dedutivo no qual so enunciados formalmente as hipteses e
o quadro terico de referncia, que posteriormente so relacionados de modo
claro aos dados e s variveis a serem vericadas; 2) o segundo tempo trata de
ajustar os resultados obtidos, comparando-os com outros que antes pareciam
diferentes.
3.5. A relao com as outras disciplinas
Alm da relao que ocorre entre teoria e pesquisa de campo, consideramos
tambm o que ocorre entre a pesquisa sociolgica e as pesquisas de outras
disciplinas. A pesquisa social apresenta com mais freqncia ocasies de sobre-
posio ou de integrao com outras disciplinas como a antropologia cultural,
a psicologia social, a cincia poltica, a economia, a histria. necessrio estar
atento para no confundir os campos de atuao. Existem dois critrios para
individualizar a identidade e a autonomia da pesquisa sociolgica: uma resi-
dual e outra formal.
1. Residual: aqueles que seguem tal critrio crem que a pesquisa social
deva-se ocupar dos fenmenos humanos que no sejam objetos de uma outra
disciplina especializada. Pressupe, assim, conns claros entre as disciplinas.
Essa perspectiva muitas vezes criticada, visto que as diversas disciplinas
331
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
estudam substancialmente a mesma realidade fenomnica e as sobreposies
entre os conns entre as diversas disciplinas so mais numerosas que as reas
de separao entre elas.
2. Formal: a anlise desloca-se do contedo dos fenmenos sociais s
relaes que intercorrem entre os sujeitos individuais e coletivos. As vrias
disciplinas podem concentrar-se sobre um mesmo objeto e convergir os seus
recursos metodolgicos, de modo que interpretem-no segundo perspectivas
diferentes. Cada disciplina, pois, renuncia a uma possvel soberania territo-
rial sobre o objeto estudado, que no mais das vezes colabora somente para a
reicao do saber.
4. A PESQUISA NA PEDAGOGIA SOCIAL
4.1. Alguns endereos da pesquisa sociopedaggica
D. Izzo individualiza o desenvolvimento e a articulao da pedagogia social
segundo quatro endereos:
1. Como reexo da educao em geral, a pedagogia social tem dois obje-
tivos: de elaborar o conceito de educao em chave social e de contribuir para a
concordncia e integrao das nalidades expressas pelas vrias instituies sociais.
Depois o autor analisa: a) os fatores sociais da educao presentes nas instituies
que demonstram intencionalidade declaradamente educativa; b) os fatores sociais
da educao presentes nas instituies que, por si s, no tm intencionalidade
educativa, mas podem estar carregadas de potencialidade educativa; c) as nali-
dades educativas nos seus signicados e na sua magnitude social.
2. Como educao na sociedade, por meio da sociedade e para a socie-
dade (P. Natorp): o homem torna-se homem somente atravs da sociedade
humana. As instituies sociais podem ser, como construo do homem,
332
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
oportunidade para o homem, a favor do homem. Cresceu muito nos nossos
tempos, o compromisso com a formao e a cultura. O empenho alastra-se
por outros conceitos como de comunicao, de intercultura, de participao,
de cooperao etc.
3. Como pedagogia para os casos de necessidade, no sentido seja de
ajuda que de preveno. A pedagogia uma cincia prtica. O pedagogo um
homem imerso na realidade social: percebe a realidade com a sensibilidade
educativa e, premido por ela, responde s demandas emergentes. So exemplos
os educadores So Joo Bosco, Henrique Pestalozzi, Paulo Freire: homens de
convico. Em outras palavras, a fase da pedagogia social na qual o pedagogo
social concorre fortemente pela recuperao da dignidade humana.
4. Como ajuda para a vida: em um ltimo estdio, a pedagogia social
no responde somente a necessidades emergentes, mas as supera. A quarta fase
responde necessidade de solidariedade social que j est presente no Estado,
mas tambm na sociedade civil: voluntariado, instituies de acolhida, preven-
o, recuperao e reinsero social etc. a pedagogia do compromisso. o
momento da responsabilidade social em resposta s necessidades sentidas no
somente por parte dos socialmente excludos, mas tambm de quem ajuda.
4.2. O objeto
Do ponto de vista espacial: pode ser constitudo por grupos uniformemente
distribudos; ecologicamente concentrados; ou que compartilham o mesmo
espao lgico (classe escolar, setor de uma indstria); pessoas em transio sob
o territrio (imigrantes, nmades).
Do ponto de vista do aspecto temporal: a pesquisa pode ser transversal e lon-
gitudinal. Transversal quando se dedica ao estudo de um segmento diversicado
por idade, sexo, raa, religio, ocupao, renda, instruo, em um determinado
333
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
momento prexado. So mais adaptadas s anlises macrossociais, tpicas
das pesquisas por amostragem (surveys). A pesquisa longitudinal, por sua vez,
concentra-se sobre determinado grupo social, sobre um perodo de tempo
prolongado. Exemplo a pesquisa dos Lynd sobre a Middletown americana
(1927-1937). Servem mais s anlises das mudanas sociais, das correntes mi-
gratrias, das mobilidades sociais, da urbanizao, da colonizao, da integrao
racial etc.
A pesquisa sociopedaggica estuda a fenomenologia educativa em trs
dimenses: como fatos, eventos e interventos:
1. Os fatos educativos: dizem respeito s situaes ou s situaes de fato
que so acompanhadas no seu processo evolutivo (estruturas econmicas, taxas
de analfabetismo, desocupao intelectual, disperso escolar etc.).
2. Os eventos educativos so acontecimentos de natureza pedaggica e
no-pedaggica que condicionam, positiva ou negativamente, os fatos com
relevncia pedaggica: reformas escolares, transformaes econmicas, evolu-
es do mercado de trabalho etc. So eventos que, favorecendo a educao em
si, so denidos eventos educativos. Os resultados so denominados formao
(integrao, sociabilidade, prossionalizao etc.).
3. As intervenes educativas consistem nas atividades e nos processos da
educao intencional, com particular ateno aos grupos sociais e s institui-
es educativas.
4.3. A metodologia
Os principais tipos de pesquisa so dois:
a) A pesquisa pode ter um objetivo cognoscitivo, para o enriquecimento
do patrimnio das informaes. Ela no incide diretamente sobre a formao
das decises, mas formula hipteses, faz comparaes ou indica ulteriores
setores de pesquisa;
334
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
b) A pesquisa pode ter um objetivo operacional, de avanar propostas e,
portanto, de inuenciar as decises e as opes polticas. As opes e as deci-
ses polticas estariam na origem dos grandes eventos da natureza educativa ou
teriam o poder de inuenciar o universo educativo: o estado social, a formao
dos professores, a reforma escolar, a coordenao das polticas sociais, o direito
familiar, o direito da infncia e da adolescncia.
A pedagogia social mantm estes dois tipos de pesquisa (cognoscitiva e
operacional) coligadas entre si no circulo teoria-prxis-teoria da pesquisa ao.
Essa ltima se d quando o pesquisador orienta as prprias pesquisas em vista
de um m signicativo. Ele inicia uma relao de contnua vericao entre
conhecimento e operacionalidade; uma experimentao em vista do aperfei-
oamento do mtodo educativo.
A pesquisa sociopedaggica tem, portanto: carter interpretativo (pesquisa
cognoscitiva) quando quer analisar e explicar os contedos dos conhecimentos;
carter compreensivo (pesquisa-ao) quando compreende a reexo e a
descoberta; carter proposicional (pesquisa operacional) quando sua nalidade
ltima a projeo, a correo de rota no processo educativo e a interveno
educativa (Cf. Figura 1).
Figura 1 - Modelo metodolgico da pesquisa sociopedaggica (D. Izzo, 1997, 36).
Pesquisa cognoscitiva.
Descrio e
Interpretao
Pesquisa
Ao
Reexo e Descoberta
Pesquisa
operacional
Propostas de
intervenes
335
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
A pesquisa no somente pedaggica ou somente social, mas sociopedag-
gica. Ela tem como m modicar a realidade sob o perl educativo. Alm de
buscar fatores ligados a uma situao de fato, ou s variveis de um evento, a
pesquisa sociopedaggica entende promover intervenes mais oportunas para
melhorar ou modicar determinado aspecto da vida social: o da formao hu-
mana, em particular do itinerrio formativo infantil, adolescencial e juvenil.
4.4. Conceituao do objeto da pesquisa
A conceituao do objeto da pesquisa busca trazer clareza ao estudo e
abri-lo para confrontos e vericaes sucessivas. Os conceitos pelos quais o
objeto denido compem-se de abstraes racionalmente retalhadas do uxo
innito de experincias, entre as quais o fenmeno considerado se apresenta.
Analisa-se, pois, seja os signicados que so dados ao objeto por parte do
referencial terico existente, seja dos signicados que lhe so atribudos pelo
senso comum.
Os resultados da pesquisa no so generalizveis alm do mbito espao-
temporal entre o qual a amostra foi aleatoriamente escolhida.
O conhecimento terico necessrio para articular a hiptese, pois consegue
situar em qual quadro ela pode ser, metodologicamente, mais adequadamente
explicada.
Tomemos, como exemplo, o fato de que uma senhora d um tapa na
face de um senhor desconhecido. Podemos avanar trs hipteses: que ela
louca; que pensou se tratasse de outra pessoa; que tenha feito um movimento
desgovernado com os braos, atingindo-o involuntariamente. Se tomarmos
em anlise a primeira hiptese, de loucura, devemos nos orientar em direo
a um quadro terico que avalie as reaes dos doentes mentais. Para vericar
tal hiptese, devemos torn-la operativa.
336
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
5. ANLISE DE UM MODELO: PESQUISA SOBRE
DESVIO ENTRE ADOLESCENTES DE PERIFERIA
A ttulo de exemplificao, trazemos o percurso de uma pesquisa
socioeducativa que leva em considerao o risco de desvio social entre ado-
lescentes e jovens trabalhadores.
5.1. Fase preparatria
5.1.1. Denio dos objetivos e da hiptese inicial
O pesquisador motivado quase sempre por um questionamento sob de-
terminada realidade que se torna o motivo central, antes de tudo, do prprio
interesse, e depois, da elaborao da pesquisa. Em segundo lugar, ele deve xar
objetivos da pesquisa: onde quer chegar com uma provvel pesquisa no campo
escolhido: e depois formular hipteses iniciais.
5.1.2. Pesquisa de fundo
A pesquisa de fundo tem como nalidade recolher elementos de conheci-
mento, seja em nvel terico, seja emprico que j existam sobre o objeto a ser
pesquisado. Utiliza-se de maneira privilegiada a biblioteca para individualizar
documentos, textos e artigos que digam respeito ao argumento. Aconselha-se
a elaborao de um chrio sinttico dos textos consultados. Fazem parte da
pesquisa de fundo: a) o levantamento de pesquisas empricas ou qualitativas
previamente desenvolvidas sobre o tema; b) a reconstruo do contexto eco-
nmico, poltico, social e cultural dentro do qual o fenmeno estudado se
situa; c) o enriquecimento das informaes com as entrevistas aos experts e
testemunhas privilegiadas. Esses ltimos so os lderes formais (sindicalistas,
337
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
assessores, autoridades civis e religiosas, experts, polcia) e informais (o professor,
o carteiro, o educador de rua etc.).
Dentro da nossa exemplicao, os conceitos relacionados a serem conside-
rados no quadro terico so: necessidades humanas, pobreza, marginalidade,
risco social, desvio social.
5.1.3. Pesquisa bibliogrca
a fase em que o pesquisador freqenta a biblioteca, seja ela fsica ou virtual:
etapa dedicada leitura e sistematizao do quadro terico.
5.2. FASE DA ARTICULAO
5.2.1. Escrevendo o quadro terico
O quadro terico tem como objetivo situar a hiptese dentro do
conhecimento j obtido por outros pesquisadores at o presente momento.
Ele comporta, sobretudo, a exposio das principais correntes interpretativas
do fenmeno, a identicao e a justicao das correntes que parecem mais
adaptadas e o levantamento dos resultados das pesquisas mais recentes. No
se trata, pois, de construir um manual sobre o argumento em questo, mas
recordando que antes de ns existiram outros que interpretaram a mesma
realidade de utilizar de maneira adequada os recursos e as metodologias
disponveis na literatura cientca.
5.2.2. O avanamento de hipteses
Hiptese geral: As reaes irracionais e desviantes so conseqncia da
frustrao constante das necessidades da pessoa humana. A hiptese geral que
escolhemos para a nossa exemplicao pressupe a existncia de uma correlao
338
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
positiva entre frustrao das necessidades e sintomas do desvio social. A nossa
pesquisa prope-se a levantar as situaes de risco social nas diferentes reas
de vida (das necessidades, da famlia, do trabalho, da escola, do tempo livre),
confrontando-as com a varivel dependente, que no nosso caso corresponde
incidncia de desvio social.
5.2.3. Individualizao dos indicadores
Descobrir as diferentes modalidades de frustrao das necessidades, por
exemplo, no mbito familiar: no caso devemos identicar indicadores de risco
(frustrao) j identicados na literatura cientca pr-existente. Tais indica-
dores servem para a formulao das hipteses operativas:
No mbito da famlia partimos da hiptese de que exista maior incidncia
de desvio social entre os jovens que pertencem a famlias com problemas estru-
turais (famlias desestruturadas, com pais ausentes); que vivem em famlias cujo
ambiente manifesta acentuadamente relacionamentos conituosos; cujos lhos
demonstrem escasso nvel de participao nas responsabilidades domsticas;
que demonstrem insatisfao em relao vida afetiva familiar; e que assinalem
diculdades de comunicao com os pais.
5.2.4. Construo e aplicao do instrumento de investigao
Por exemplo, o questionrio, no qual se tenta traduzir as informaes
necessrias e os indicadores por meio de construtos coerentes, sem ambigidade
e de fcil compreenso. Os indicadores so informaes pelas quais possvel
individualizar uma escala de valores diferente dentro da demanda considerada.
Por exemplo, um indicador de risco familiar a percepo negativa que o
adolescente tem do clima familiar. Pode-se, ento, perguntar como ele avalia
339
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
o clima, entre excelente, bom, regular, pssimo, utilizando-nos de uma escala
Likert
12
.
Tcnicas de investigao:
a) A observao: passa pela percepo sensorial do pesquisador, que
busca ver e sentir muito mais coisas de quanto comumente o senso comum
deixa passar. A observao o levantamento de determinadas situaes de fato,
conduzidas em base a um plano preciso, no curso do qual o pesquisador se
coloca em uma atitude receptiva em relao ao objeto a ser estudado. A obser-
vao pode ser controlada ou no. A observao no controlada diz respeito
observao participante, na qual o pesquisador se insere no mesmo nvel dos
sujeitos observados. A observao controlada comporta a criao de condies
articiais ou de laboratrio para observar os sujeitos.
b) A entrevista: dilogo entre duas ou mais pessoas durante o qual uma
(o pesquisador ou entrevistador) interroga a outra com o m de conhecer suas
opinies e experincias sobre alguns temas ou fatos que o digam respeito. Em
geral, as entrevistas podem ser classicadas entre: a) entrevistas com ques-
tionrio: para grandes quantidades de entrevistados. Implica mais rigidez
das respostas; tcnicas eletivas das pesquisas quantitativas do tipo sondagem
(survey); b) entrevistas semi-estruturadas: so chas de recolhimento de dados
moderadamente rgidas, com espao livre para respostas abertas;
c) Entrevistas livres: conduzidas pelo entrevistador, o qual tem ampla
liberdade para conduzir e nalizar o colquio. Podemos distingui-la entre
aquelas no-diretivas, com ampla espontaneidade, consentida ao entrevistador;
12 Uma escala Likert, proposta por Rensis Likert em 1932, uma escala em que os respondentes so
solicitados no s a concordarem ou discordarem das armaes, mas tambm a informarem qual o
seu grau de concordncia/discordncia. A cada clula de resposta atribudo um nmero que reete
a direo da atitude do respondente em relao a cada armao. A pontuao total da atitude de
cada respondente dada pela somatria das pontuaes obtidas para cada armao.
340
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
aquelas focalizadas sob determinado tema; aquelas nalizadas ao levantamen-
to de histrias de vida (dados biogrcos); e aquelas efetuadas por meio de
contatos telefnicos.
Quanto modalidade de aplicao dos questionrios dizemos que eles
podem ser:
a) aplicados: quando conduzidos pelo entrevistador;
b) auto-aplicados: quando entregues aos sujeitos singularmente, que o res-
pondem autonomamente diante ou sem a presena do entrevistador;
c) enviados por meio postal (ou outro meio semelhante).
A linguagem do questionrio deve demonstrar equilbrio entre a ecincia,
a coerncia e a simplicidade, demonstrando ateno excessiva simplicao
e banalizao. Devem ser evitados os termos tcnicos ou especialsticos que
requerem alto nvel de instruo como aqueles prprios da linguagem prossional
(o sociologus), aqueles com frases coloquiais ou de grias e aquelas perguntas
viciadas ou tendenciosas.
5.3. Fase de elaborao dos dados e dos resultados
A fase de elaborao inclui a coleta e a elaborao dos dados que constitui-
ro as fontes com base nas quais o pesquisador poder descrever e interpretar
a realidade estudada.
a) Elaborao dos dados: quando os resultados dos questionrios chegam,
em um primeiro momento, eles podem ser colhidos por meio de um programa
adequado de computador. As modalidade de emisso dos dados e de softwares
disponveis so muitas e deve-se dar a preferncia queles que oferecem mais
segurana e simplicidade. Um segundo momento, diz respeito elaborao
341
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
dos dados quando o pesquisador deve fazer opes especcas sobre quais
variveis e quais caminhos percorrer para obter os resultados pregurados nas
hipteses. Os instrumentos estatsticos so variados: desde aqueles que nos
oferecem a possibilidade de uma simples descrio dos resultados (por exemplo,
os percentuais, a mdia ponderada) e aqueles mais sosticados que oferecem a
possibilidade de explicar e interpretar de maneira mais aprofundada os dados
(por exemplo, anlise fatorial, cluster analysis, path analysis).
b) Elaborao do relatrio: a elaborao do relatrio pode se servir tanto
da descrio dos dados quanto da sua interpretao. No primeiro caso, utili-
zamos a descrio dos dados, fazendo uma leitura das tabulaes dos diversos
pontos de vista (linear, cruzada etc.). A pesquisa interpretativa, por sua vez,
emprega instrumentos mais sosticados que permitem a explicao de hip-
teses mediante anlises de correlaes entre as variveis em questo. Exemplo
de instrumentos estatsticos em linha interpretativa so a anlise fatorial, a path
analysis e a cluster analysis.
5.4. Fase aplicativa
A fase aplicativa compreende elaborao dos principais resultados e
constri a ponte no caso da sociologia da educao entre a sociologia e
a pedagogia, entre o socio e o pedaggico, em vista da planicao das
aes educativas.
a) Principais resultados (concluses): o ltimo momento dedicado sntese
dos principais resultados da pesquisa descritiva e interpretativa e s concluses
operativas. o momento no qual o pesquisador confronta os resultados com
os objetivos da pesquisa: se a pesquisa se move em campo educativo ele deve
construir a ponte entre os resultados e a metodologia educativa que lhe consinta
intervir sobre a realidade estudada.
342
Capitulo 14 Observaes sobre a pesquisa sociolgica
b) Concluses operativas (aplicaes no mbito educativo): a pesquisa em
sociologia da educao tende a interpretar os fenmenos para depois colocar os
resultados como conhecimentos disponveis para os educadores. A pedagogia
tem um carter aplicativo, prtico e tem necessidade da pesquisa sociolgica
enquanto ela d explicaes mais precisas e atualizadas aos fenmenos que
ocorrem em pequenos grupos e coletividades e aos fenmenos condicionantes
da vida quotidiana de tais grupos e coletividades. O pesquisador deve, pois,
saber fazer a ponte entre uma margem, que tem um carter mais interpreta-
tivo (a pesquisa sociolgica) e a outra, que tem um carter mais normativo
(a metodologia pedaggica) para impostar de maneira coerente e ecaz as
intervenes educativas.
343
AGAZZI, A. (Org.). Educazione e societ nel mondo contemporaneo. Brescia: La Scuola,
1965.
A.A.V.V. West side studies: the Pittsburgh survey. New York: Survey Associates,
Russell Sage Foundation, 1914.
ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. (Org.). Retratos da juventude brasileira:
anlises de uma pesquisa nacional. So Paulo: Cidadania, Perseu Abramo,
2005.
ABRAMOVAY, M.; RUA, M. das G. Violncias nas escolas. Braslia: UNESCO,
2004.
_____ et al. Gangues, galeras, chegados e rappers. Braslia: UNESCO, 2002.
AGAZZI, A. (Org.). Educazione e societ nel mondo contemporaneo. Brescia: La Scuola,
1965.
Referncias Bibliogrficas
344
Referncias Bibliogrficas
AKERS, R.; HAWKINS, R. (Org.). Law and control in society. Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice-Hall, [1975].
_____. Deviant behavior: a social learning approach. Belmont, Calif.: Wadsworth
Pub. Co., [1973].
ALBOU, P. Sur le concept de besoin. Cahiers Internationaux de Sociologie, n. 22,
p. 197-238, 1975.
ALBUQUERQUE, R. C. de. Da condio de pobre de no-pobre: modelos
de ao pblica antipobreza no Brasil. In: VELLOSO, J. P. R.; ALBUQUER-
QUE, R. de (Orgs.). Modernidade e pobreza. So Paulo: Nobel, 1994.
ANDERSON, N. The hobo. Chicago: Univ. of Chicago Press, [1923].
ARDIG, A. Crisi di governabilit e mondi vitali. Bologna: Cappelli, 1980.
_____. Per una sociologia oltre il post-moderno. Bari: Laterza, 1988.
_____; CIPOLLA, C. Le bancarie: lavoro, strategie emancipative, partecipazione
e qualit della vita delle impiegate degli istituti di credito italiani. Milano:
Franco Angeli, 1985.
ARTO, A. Psicologia evolutiva: metodologia di studio e proposta educativa. Roma:
LAS, 1990.
BARON, R. S.; KERR, N. L.; MILLER, N. Group process, group decision, group
action. Pacic Grove: California Brooks-Cole, 1992.
BARRINGER, G. I. (Org.). Social change in developing areas: a reinterpretation of
evolutionary theory. Cambridge, Mass.: Scenkman Pub. Co., [1965].
BAUDRILLARD, J. La gense idologique des besoins. Cahiers Internationaux
de Sociologie, n. 47, p. 45-68, 1969.
345
Referncias Bibliogrficas
BECCARIA, C. Dei delitti e delle pene. Milano: Rizzoli, 1950. (Biblioteca uni-
versale Rizzoli; 123).
BECCEGATO, L. S. Pedagogia sociale: riferimenti di base. Brescia: La Scuola,
2001.
BECKER, H. S. Outsiders: saggi di sociologia della devianza. Torino: Gruppo
Abele 1987.
_____. Outsiders: studies in the sociology of deviance. New York: The Free
Press, 1963.
BENTHAM, J. Oeuvres de J. Bentham. Bruxelles: L. Hauman, 1829.
BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. A construo social da realidade. 24. ed. Petr-
polis: Vozes, 2004.
BIANCHI, G.; SALVI, R. Povert. In: NUOVO dizionario di sociologia,
1987.
BISOGNO, P. Scientic research and human needs. In: FORTI, A; BISOGNO,
P. (Org.). Research and human needs. Oxford: Pergamon Press, 1981. p. 11-48.
_____. _____. In: ENCICLOPEDIA Einaudi, 1977, v. 2.
BOUDON, R.; BOURRICAUD, F. Bisogni. In: DIZIONARIO critico di
sociologia. Roma: Armando, 1991.
BOYDEN, J.; HOLDEN, P. Children of the cities. London: Zed Books, 1991.
BROCHIER, H. Besoins conomiques. In: ENCYCLOPAEDIA universalis.
Paris: Editeur Paris, 1985.
346
Referncias Bibliogrficas
BROWN, C. C.; SAVAGE, C. (Org.). The drug abuse controversy. Baltimore, Mary-
land: National Educational Consultants, 1971.
BURGESS, R.; AKERS, R. A differential association: reinforcement theory
of criminal behavior. Social Problems, n. 14, p. 128-147, 1966.
CALIMAN, C. Das diretrizes a Santo Domingo, v. 92. In: CNBB. Diretrizes
1991-1994: caminhada desaos propostas. So Paulo: Paulinas, 1992.
CALIMAN, G. mbito sociolgico. In: PRELLEZO, J. M.; GARCIA, J. M.
(Org.). Invito alla ricerca: metodologia del lavoro scientico. Roma: [s.n.], 1998.
p. 187-196.
_____. Desaos, riscos, desvios. Braslia: Universa, Unicef, 1998.
_____. Giovani del Brasile e meninos da rua. Tuttogiovani Notizie. Roma: LAS,
p. 5-32, Gen./Mar. 1991.
_____. Lavoro non solo: lavoratori tossicodipendenti: modelli sperimentali
dintervento. Milano: Angeli, 2001.
_____. Normalit devianza lavoro. Roma: LAS, 1997. p. 460.
_____. Pedagogia sociale. In: PRELLEZO, J. M.; NANNI, C.; MALIZIA,
G. Dizionario di Scienze dellEducazione. Milano: Elle Di Ci, LAS, SEI, 1997. p.
802-803.
_____. Prevenzione del disagio: problemi e prospettive. In: VAN LOOY,
L.; MALIZIA, G. Formazione Professionale Salesiana: proposte in una prospettiva
multidisciplinare. Roma: LAS, 1998. p. 213-228.
347
Referncias Bibliogrficas
_____. Promuovere resilience come risorsa educativa. Orientamenti Pedagogici:
Rivista Internazionale di Scienze dellEducazione. Torino: Societ Editrice Internazio-
nale, v. 47, n. 1, p. 19-44, 2000.
_____. La prostituzione infantile in Brasile. Orientamenti Pedagogici: Rivista Inter-
nazionale di Scienze dellEducazione. Torino: Societ Editrice Internazionale, v. 260,
n. 2, p. 492-502, 1999.
_____. La strada come punto di partenza: un modello interpretativo di inter-
vento educativo per ragazzi di strada. Orientamenti Pedagogici: Rivista Internazionale
di Scienze dellEducazione. Torino: Societ Editrice Internazionale, v. 45, n. 1,
p.9-33, 1998.
_____; MILANEZI, F.; DALTON, A. A poltica de atendimento infncia
e adolescncia na RMGV. In: GOVERNO DO ESTADO DO ESPRI-
TO SANTO. IDS - ndice de desenvolvimento humano dos municpios do Esprito Santo:
relatrio 2004. Vitria: Instituto de Apoio Pesquisa e ao Desenvolvimento
Jones dos Santos Neves, 2004. p. 60-80.
CARBONARO, A.; GURRIERI, G. C.; VENTURI, D. La ricerca sociale: fun-
zioni, metodi e strumenti. Roma: La Nuova Italia Scientica, 1989.
CARDOSO, F. H.; FALETTO, E. Dipendenza e sottosviluppo in America Latina.
Milano: Feltrinelli, 1971.
CATTARINUSSI, B. Altruismo e societ: aspetti e problemi del comportamento
prosociale. Milano: Angeli, 1991.
CAVAN, R. S. Criminology. 3. ed. New York: Crowell, 1962.
CENTURIO, L. R. M. Identidade & desvio social: ensaios de antropologia social.
Curitiba: Juru, 2003.
348
Referncias Bibliogrficas
CHIERA, R. Meninos de rua: nelle favelas contra gli squadroni della morte.
Casale Monferrato: Piemme, 1994.
CHOMBART DE LAUWE, P.-H. La culture et le pouvoir. Paris: Stock, 1975.
_____. Immagini della cultura: ricerche sullo sviluppo culturale. Rimini: Guaraldi,
1973.
_____. Pour une sociologie des aspirations. Paris: Denoel, Gonthier, 1971.
COHEN, A. K. Delinquent boys: the culture of the gang. New York: The Free
Press, 1955.
_____. Deviance and control. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966.
_____. The sociology of the deviante act: anomie theory and beyond. The
American Sociological Review, v. 30, p. 5-14, 1965.
CONRAD, P.; SCHNEIDER, J. W. Deviance and medicalization: from badness to
sickness. Philadelphia: Temple University Press, 1992.
COOLEY, C. H. Lorganizzazione sociale. Milano: Edizioni di Comunit, 1963.
(Classici della sociologia).
CORNISH, D. B.; CLARKE, R. V. (Org.). The reasoning criminal: rational choice
perspectives on offending. Berlin: Springer Verlag, 1986.
COSTA, M. R. da. Os carecas de subrbio: caminhos de um nomadismo moderno.
So Paulo: Musa, 2000.
COTTERELL, J. Social networks and social inuences in adolescence. New York:
Routledge, 1996. p. 6.
349
Referncias Bibliogrficas
CRESSEY, D. R.; WARD, D. A. (Org.). Delinquency, crime, and social process. New
York: Harper and Row, 1969.
DAVIS, K. Mental hygiene and the class structure. Psychiatry: Journal of the Biology
and Pathology of Interpersonal Relations, p. 55-65, Feb. 1938.
DI NICOLA, G. P. II dovere, il piacere e tutto il resto: gli indicatori oggettivi della
qualit della vita infantile. Firenze: La Nuova Italia, 1989.
DILTHEY, W. Critica della ragione storica. Torino: G. Einaudi, 1982.
DINITZ, S.; DYNES, R. R.; CLARKE, A. C. (Orgs.). Deviance. New York:
Oxford University Press, 1969.
DOISE, W.; DESCHAMPS, J.-C.; MUGNY, G. Psicologia sociale. Bologna:
Zanichelli 1980.
DONATI, P. La famiglia come relazione sociale. Milano: Angeli, 1989.
_____. Famiglia e infanzia in una societ rischiosa: come leggere e affrontare
il senso del rischio. Marginalit e Societ, n. 14, p. 7-38, 1990.
_____. Lintegrazione dei servizi sociali e sanitari nellottica dei bisogni di
salute per la loro rilevazione e soddisfazione. La Rivista di Servizio Sociale, n. 3,
p. 3-29, 1981.
_____; DOYAL, L.; GOUGH, I. A theory of human needs. Critical Social
Policy, n. 1, p. 6-37, 1984.
DUCLOS, D. La construction sociale du risque: le cas des ouvriers de la chimie
face aux dangers industriels. Revue Franaise de Sociologie, n. 28, p. 17-42, 1987.
350
Referncias Bibliogrficas
DURKHEIM, . A diviso do trabalho social. So Paulo: Martins Fontes,
[1893].
_____. Le regole del metodo sociologico. Firenze: G. C. Sansoni, 1970.
_____. The rules of sociological method. New York: The Free Press, 1964.
_____. Il suicidio: leducazione morale. Torino: Unione Tipograco-Editrice
Torinese, 1969. (Classici della sociologia; 8).
_____. O suicdio: estudo de sociologia. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
EDELMAN, M. W. Children at risk. In: MACCHIAROLA, F.; GARTNER,
A. (Org.). Caring for Americas children. New York: The Academy of Political
Science, 1989.
ERIKSON, K. T. Wayward puritans: a study in the sociology of deviance. New
York: Allyn & Bacon, 2005.
ETZIONI, A. Basic human needs, alienation and inauthenticity. American
Sociological Review, n. 33, p. 870-885, 1968.
EYSENCK, H. J. Crime and personality. London: Routledge Kegan Paul,
1964.
_____. Smoking, health, and personality. New York: Basic Books, 1965.
FARIS, R. E. L. An ecological study of insanity in the city. [Chicago]: [s.n.], 1939.
_____. Mental disorder in urban areas. New York: Hafner Pub. Co., 1960.
FAUSTO, A.; CERVINI, R. O trabalho e a rua: crianas e adolescentes no Brasil
urbano dos anos 80. So Paulo: Cortez, 1992.
351
Referncias Bibliogrficas
FR, C. S. Dgnrscence et criminalit: essai physiologique. Paris: F. Alcan,
1888.
FERMOSO, P. Pedagogia social: fundamentacin cientca. Barcelona: Herder,
1994.
FERRI, E. Criminal sociology. New York: D. Appleton, 1897.
_____. Lomicida nella psicologia e nella psicopatologia criminale: lomicidio-suicidio, res-
ponsabilit giuridica. Torino: Unione Tipograco-Editrice Torinese, 1925.
_____. Sociologia criminale. 4. ed. Torino: Fratelli Bocca, 1900.
_____. La teoria dellimputabilit e la negazione del libero arbtrio. Firenze: [s.n.],
1878.
FICHTER, J. H. Sociologia fondamentale. [Roma]: ONARMO, 1961.
FISCHER, L. Prospettive sociologiche. Roma: La Nuova Itlia Scientica, 1992.
FIZZOTTI, E.; GISMONDI, A. Senso della vita e dinamiche familiari: una lettura
logoterapeutica. Roma: LAS, 1993.
FRANK, A. G. Capitalismo e sottosviluppo in America Latina. Torino: Einaudi,
1969.
FRANKL, V. Alla ricerca di un signicato della vita. Milano: Mursia, 1974.
FREUND, J. Thorie du besoin. LAnne Sociologique, p. 13-64, 1971.
FROMM, E. Psicanalisi della societ contemporanea. Milano: Edizioni di Comunit,
1981.
352
Referncias Bibliogrficas
FRYMIER, J. R.; BARBER, L. et al. Phi Delta Kappa study of students at risk: nal
report. Bloomington, Ind.: Phi Delta Kappa, 1992.
GADOTTI, G. Qualit della vita. In: DEMARCHI, F. ; ELLENA, A. ; CAT-
TARINUSSI, B. Nuovo Dizionario di Sociologia. Milano: Paoline, 1987.
GALLINO, L. Dizionario di sociologia. Torino: UTET, 1978.
GENNARO, G. Manuale di sociologia della devianza. Milano: FrancoAngeli,
1993.
GLASER, D. Social deviance. Chicago: Markham, 1971. (Markham series in
process and change in American society).
GLUECK, S. Unrevealing juvenile delinquency. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 1950.
_____; GLUECK, E. Dal fanciullo al delinquente. Firenze: Editrice Universitaria,
1957.
GOFFMAN, E. Asylums. Le istituzioni totali. Torino: G. Einaudi, 1970.
GOMES DA COSTA, A. C. Educao e vida. Belo Horizonte: Modus Faciendi,
2001.
_____. Lies de aprendiz. Belo Horizonte: Modus Faciendi, 2002.
GOODE, E. (Org.). Deviance, norms, and social reaction. In: GOODE, E.
(Org.). Social deviance. Boston: Allyn and Bacon, 1996.
_____. (Org.). Moral panics: the social construction of deviance. Oxford:
Blackwell, 1994.
_____ (Org.). Social deviance. Boston: Allyn and Bacon, 1996.
353
Referncias Bibliogrficas
_____; GORING, C. B. The English convict: a statistical study. Montclair, N. J.:
Patterson Smith, 1972.
GOTTFREDSON, M.; HIRSCHI, T. A general theory of crime. Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1990.
GRANT, J. P. Situao mundial da infncia 1994. Braslia: UNICEF, 1994.
GRITTI, R. (Org.). Limmagine degli altri: orientamenti per leducazione allo
sviluppo. Firenze: La Nuova Italia, 1985.
GUERRY, A.-M. Statistique morale de lAngleterre compare avec la statistique morale de la
France, daprs les comptes de ladministration de la justice criminelle en Angleterre et en France.
Paris: J.-B. Bailliere et ls, 1864. 166 p.
_____. A translation of Andre-Michel Guerrys Essay on the moral statistics of France
(1883): a sociological report to the French Academy of Science. Lewiston,
N.Y. : Edwin Mellen Press, 2002.
HAECKEL, E. H. P. A. Histoire de la cration des tres organiss daprs les lois naturelles.
2. ed. Paris: C. Reinwald et cie, 1877.
HALBWACHS, M. La classe ouvrire et les niveaux de vie. Londres: Gordon &
Breach, 1970.
_____. Esquisse dune psychologie des classes sociales. Paris: Librairie Marcel Rivire
et Cie, 1955.
HEB, D. O. A textbook of psychology. 3. ed. Philadelphia: Saunders, 1972.
HECKERT, A.; HECKERT, D. M. A new typology of deviance: integrating
normative and reactivist denitions of deviance. Deviant Behavior: An Interdisciplin-
ary Journal. Philadelphia, PA: Taylor & Francis, Inc., 2002.
354
Referncias Bibliogrficas
HEGEL, G. G. F. Lineamenti di losoa del diritto. Bari: Laterza, 1913. (Classici
della losoa moderna; 18).
HEITZEG, N. Deviance: rulemakers & rulebrakers. Minneapolis: West Publish-
ing Company, 1996.
HELLER, A. La teoria dei bisogni in Marx. Milano: Feltrinelli, 1980.
HIRSCHI, T. Causes of delinquency. New Brunswick: Transaction Publishers,
2005.
HOUAISS. Fator. In: DICIONRIO eletrnico Houaiss da lngua portuguesa.
So Paulo: Objetiva, 2004.
HULL, C. L. I principi del comportamento: introduzione alla teoria del comporta-
mento. Roma: Armando, 1978.
ILLICH, I. La convivialit. Milano: Mondadori, 1974.
INGLEHART, R. La rivoluzione silenziosa. Milano: Rizzoli, 1983.
IZZO, D. Manuale di pedagogia sociale. Bologna: CLEUB, 1997.
JEPHCOTT, P. Some young people. London: Allen and Unwin, 1954.
JOHNSON, C. S. The negro in American civilization. New York: H. Holt,
c1930.
KOBRIN, S. The social act as a unit in behavioral analysis. Chicago: Dept. of Research,
Institute for Juvenile Research, 1964.
_____; KLEIN, M. W. Community treatment of juvenile offenders: the DSO experi-
ments. Beverly Hills: Sage Publications c1983, 341 p.
355
Referncias Bibliogrficas
KRETSCHMER, E. Hombres geniales. Barcelona: Labor 1954.
_____. The psychology of men of genius. College Park, Md.: McGrath Pub. Co.,
1970.
KRISCHKE, P. J. Carncias e sujeitos sociais: uma estratgia para o seu des(en)
cobrimento. Sociedade e Estado, n. 2, p. 37-58, 1989.
KVARACEUS, W. C.. Prevention and control of delinquency: the school counselors
role. Boston: Houghton Mifin, 1971.
_____; MILLER, W. B. Delinquent behavior. 2.ed. Cestport, Conn.: Greenwood
Press, 1976.
LANZETTI, C. Qualit e senso della vita in ambiente urbano ed extraurbano. Milano:
Angeli, 1990.
LEELAKULTHANIT, O.; DAY, R. L. Quality of life in Thailand. Social
Indicators Research, v. 1, n. 27, p. 41-57, 1992.
LEISS, W. The limits to satisfaction: an essay on the problem of needs and com-
modities. Toronto: University of Toronto Press, 1976.
LEMERT, E. M. Devianza, problemi sociali e forme di controllo. Milano: A. Giuffr
1981. (Collana di psicologia sociale e clinica; 1).
_____. Human deviance, social problems, and social control. Englewood Cliffs N.J.:
Prentice-Hall, 1967.
LEWIS, O. La cultura della povert e altri saggi di antropologia. Bologna: Il Mulino,
1973.
356
Referncias Bibliogrficas
LOMBROSO, C. Luomo delinquente in rapporto allantropologia, giurisprudenza ed
alle discipline carcerarie: delinquente-nato e pazzo morale. 3. ed. Torino: Fratelli
Bocca, 1884.
_____. Positivismo e delinqncia. In: CIACCI M.; GUALANDI, V.. La
costruzione sociale della devianza. Bologna: Il Mulino, 1977.
LUBECK, S.; GARRETT, P. The social construction of the At-risk child.
British Journal of Sociology of Education, v. 3, n. 11, p. 327-340, 1990.
LUHMANN, N. Edgework: the sociology of risk taking. New York: Routledge,
2004.
_____. Sociologia del rischio. Milano: Mondadori, 1996.
LYMAN, S. M.; SCOTT, M. B. A sociology of the absurd. New York: Appleton-
Century-Crofts, [1970].
LYND, R. S.. Middletown. New York: Harcourt Brace World, 1929.
_____; LYND, H. M. Middletown in transition. New York: Harcourt, Brace
Company, 1937.
LYNG, S. Edgework: a social psychological analysis of voluntary risk taking.
American Journal of Sociology, v. 4, n. 95, p. 851-886, 1990.
MALINOWSKI, B. Teoria scientica della cultura e altri saggi. Milano: Feltrinelli,
1971.
MALLMANN, C. A. The quality of life and development alternatives. In:
FORTI, A.; BISOGNO, P. (Org.). Research and human needs. Oxford: Pergamon,
1981. p. 113-123.
357
Referncias Bibliogrficas
MARX, K. Opere losoche giovanili. Roma: Editori Riuniti, [1963].
_____; ENGELS, F. Manifesto del partito comunista. Roma: Editori Riuniti, 1976.
(Serie Le idee; 18).
MASINI, V. Comunit incontro. Roma: La Parola, 1987.
MASLOW, A. Higher and lower needs. The Journal of Psychology, v. 2, n. 25,
p. 433-436, 1948.
_____. The instinctoid nature of basic needs. Journal of Personality, v. 3, n. 22, p. 326-
347, 1954.
_____. Motivazione e personalit. Roma: Armando, 1973.
MATZA, D. Lafnit. In: _____. Come si diventa devianti. Bologna: Il Mulino,
1969. p. 145-160.
_____. Becoming deviant. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.
_____. Come si diventa devianti. [Bologna]: Il Mulino, 1976. (Serie Universale
paperbacks Il Mulino; 33).
_____; SYKES, G. M. Juvenile delinquency and subterranean values. American
Sociological Review, v. 3, n. 26, p. 712-719, 1961.
MAYS, J. B. (Org.). The social treatment of young offenders. London: Longman,
1975.
McCLEARY, R. A.; MOORE, R. Y. Subcortical mechanisms of behaviour. New
York: Basic Books, 1965.
McKENZIE, R. D. The metropolitan community. New York: McGraw-Hill Book
Company, Inc., 1933.
358
Referncias Bibliogrficas
MEAD, G. H. Mente, s e societ dal punto di vista di uno psicologo comportamentista.
Firenze: Barbra, 1966.
MELOSSI, D. Stato, controllo sociale, devianza. Milano: Mondadori, 2002.
MELUCCI, A. Nomads of the present: social movements and individual needs in
contemporary society. Philadelphia: Temple University Press, 1989.
MERTON, R. K. Social theory and social structure. London: The Free Press of
Glencoe, 1964.
_____. Struttura sociale e anomia. In: CIACCI, M. ; GUALANDI, V. (Org.).
La costruzione sociale della devianza. Bologna: Il Mulino, 1977.
_____. Teorie e struttura sociale. Bologna: Il Mulino, 1959. (Collezione di testi e
di studi. Scienze sociali; 7).
_____; NISBET, R. A. (Org.). Contemporary social problems. 2. ed. New York:
Harcourt, Brace & World, [1966].
MESSEDER, C. A. et al. Linguagens da violncia. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
MILANESI, G. Appunti di sociologia de devianza. Roma: Universit Ponticia
Salesiana, 1988.
_____. I giovani nella societ complessa: una lettura educativa della condizione
giovanile. Milano: ElleDiCi, 1989.
MILLER, W. B. Lower class culture as a generating milieu of gang delin-
quency. In: GOODE, E. (Org.). Social deviance. Boston: Allyn and Bacon, 1996.
p. 104-112.
359
Referncias Bibliogrficas
_____. Lower class culture as generating milieu of gang delinquency. Journal
of Social Issues, v. 3, n. 14, p. 5-19, 1958.
MION, R. (Org.). La conoscenza della problematica giovanile in Italia. Auto-
nomie Locali e Servizi Sociali, v. 3, p. 518-527, 1986.
_____. Emarginazione e associazionismo giovanile: emarginazione, disagio giova-
nile e prevenzione nella societ italiana dal 1945 ad oggi. Roma: Ministero
dellInterno, 1990.
_____. Sociologia della giovent. Roma: Universit Ponticia Salesiana, 1992.
(mimeo).
MORO, A. C. Societ rischiosa e preadolescenza. Il Bambino Incompiuto, v. 9, n.
3, p. 7-20, 1992.
MORRIS, R. T. A tipology of norms. American Sociological Review, n. 21, p.
610-613, 1956.
MORSELLI, E. A. Antropologia generale: luomo secondo la teoria dellevoluzione.
Torino: Unione Tipograco-Editrice Torinese, 1911.
NERESINI, F.; RANCI, C. Disagio giovanile e politiche sociali. Roma: La Nuova
Italia Scientica, 1992.
NICOLA. Tempo libero e minoria rischio in Abruzzo. [s.l.]: [s.n.], 1990.
NOVAES, R.; VANNUCHI, P. (Org.). Juventude e sociedade: trabalho, educao,
cultura e participao. So Paulo: Cidadania, Perseu Abramo, 2004.
PARETO, V. Trattato di sociologia generale. Firenze: G. Barbra, 1923.
PARK, R. E. The city. Chicago: U.C.P., 1929.
360
Referncias Bibliogrficas
_____; BURGESS, E. W.; McKENZIE, R. D. La citt. Milano: Edizioni di
Comunit, 1967.
PARSONS, T. The social system. Glencoe, Ill.: Free Press, [1951a].
_____. Toward a general theory of action. Cambridge: Harvard University Press,
1951b.
_____; BALES, R. F. Family, socialization and interaction process. Glencoe, Ill.: Free
Press, [1955].
PENNA FIRME, T.; STONE, V. I.; TIJIBOY, J. A.
The generation and obser-
vation of evaluation indicators of the psychosocial development of participants
in programs for street children in Brazil. In: MYERS, W. E. (Org.). Protecting
working children. London: Zed, UNICEF, 1991. p. 138-150.
PETRACCHI, G. Motivazione e insegnamento. Brescia: La Scuola, 1990.
PICK, D. Faces of degeneration: a european desorder, c.1848-c.1918. Cambridge:
Cambridge University Press, 1989.
PITCH, T. La devianza. Firenze: La Nuova Italia Editrice, 1986.
POLETTI, F. Le rappresentazioni sociali della delinquenza giovanile. Firenze: La Nuova
Italia, 1988.
POSTERLI, R. Violncia urbana: abordagem multifatorial da criminognese.
Belo Horizonte: Indita, 2000.
PRICE, R. H. Abnormal behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston,
1972.
PROUDHON, J. Systme des contradictions ou philosophie de la misre. Paris: Guillau-
min, 1846.
361
Referncias Bibliogrficas
QUTELET, A. Adolphe Qutelet: louvre sociologique et dmographique; choix
de textes. Bruxeles: Centre dEtude de la Population et de la Famille, 1974.
_____. Letters addressed to H.R.H. the Grand Duke of Saxe Coburg and Gotha, on the
theory of probabilities, as applied to the moral and political sciences. London: C. & E.
Layton, 1849.
_____. Lettres S.A.R. le duc rgnant de Saxe-Coburg et Gotha, sur la thorie des probabilits,
applique aux sciences morales et politiques. Bruxelles: M. Hayez, 1846.
QUIJANO, A. O. Notas sobre o conceito de marginalidade social. In: PEREI-
RA, L. Populaes marginais. So Paulo: Duas Cidades, 1978.
QUINTANA CABANAS, J. M. Pedagogia social. Madrid: Dykinson, 1984.
REALE, G.; ANTISERI, D. Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, v. 3: dai ro-
manticismo ai giorni nostri. Brescia: La Scuola, 1992.
RECKLESS, W. C. The crime problem. New York: Appleton-Century-Clofts,
1950.
_____. Delinquency vulnerability. American Sociological Review, v. 4, n. 27, p.
515-517, 1962.
_____. Self concept as an insulator against delinquency. American Sociological
Review, v. 6, n. 21, p. 744-746, 1956.
REICH, W. Psicologia di massa del fascismo. Milano: Sugar, 1971.
RELATRIO BRANDT, NORD-SUD: un programma per la sopravvivenza.
Milano: Mondadori, 1980.
REX, J. Approaches to sociology. London: Routledge Kegan Paul, 1974.
362
Referncias Bibliogrficas
RIGOBELLO, A. Storia del pensiero occidentale, v. 5: dal romanticismo al positiv-
ismo. Milano: Marzorati, 1974.
RINGHINI, G. Giovani e citt: percorsi giovanili a rischio. Brescia: Assessorato
alla Pubblica Istruzione, 1984.
RODRIGUEZ, J. Desde la perspectiva del subdesarrollo. Bogot: Centro Editorial
Universidad Nacional de Colombia, 1988.
_____. El muchacho de la calle - educacin vs. marginalidad o marginalidad vs.
educacin? In: DICASTERO DELLA PASTORALE GIOVANILE DELLA
CONGREGAZIONE SALESIANA. Emarginazione e pedagogia salesiana. Leumann:
ElleDiCi, 1987. p. 162-163.
RONCO, A. Introduzione alla psicologia, v. 1: psicologia dinamica. Roma: LAS,
1980.
ROSENBERG, M.; TURNER, R. H.; BACKMAN, C. W. Social psychology.
New York: Basics Books, 1981.
RUBINGTON, E.; WEINBERG, M. S. (Org.). Deviance. New York: Mac-
Millan, 1968.
RUNCIMAN, W. G. Ineguaglianza e coscienza sociale. Torino: Einaudi, 1971.
SALES, M. A.; MATOS, M. C. de; LEAL, M. C. (Org.). Poltica social, famlia e
juventude: uma questo de direitos. So Paulo: Cortez, 2004.
SALVINI, G. Vecchie e nuove povert in Italia. La Civilt Cattolica, n. 4, p.
244-256, 1991.
363
Referncias Bibliogrficas
SAPORITI, A. Alcune osservazioni sulluso delle statistiche ufciali nella
valutazione delle condizioni di rischio nelle famiglie. La Ricerca Sociale, n. 45,
p. 46-58, 1991.
SARBIN, T. R. Studies in behavior pathology. New York: Holt, Rinehart and
Winston, 1962.
SARPELLON, G. (Org.). Rapporto sulla povert in Italia. Milano: Angeli, 1984.
_____ (Org.). Secondo rapporto sulla povert in Italia. Milano: Angeli, 1992.
SCHELB, G. Z. Violncia e criminalidade infanto-juvenil: intervenes e encaminha-
mentos. Braslia: [s.n.], 2004.
SCHNEIDER, L. Marginalidade e delinqncia juvenil. So Paulo: Cortez, 1982.
SHAW, C. R. The Jack Roller: a delinquent boys own story. Chicago: University
of Chicago Press, 1930.
_____. The natural history of a delinquent career. Chicago: University of Chicago
Press, 1931.
_____; McKAY, H. D. Juvenile delinquency and urban areas. Chicago: The University
of Chicago Press, 1942.
SHILLING, C. Educating the body: physical capital and the production of
social inequalities. Sociology, v. 25, n. 4, p. 653-672, 1991.
SIDOTI, F. Povert, devianza, criminalit nellItalia Meridionale. Milano: Franco
Angeli, 1989.
SILLAMY, N. (Org.). Besoin. In: DICTIONNAIRE usuel de psychologie.
Paris: Bordas, 1983.
364
Referncias Bibliogrficas
SILVA, R. da. Os lhos do governo. So Paulo: tica, 1998. p. 208.
SIMMEL, G. La moda. Roma: Editori Riuniti, 1985.
SLOTTJE D.; SCULLY, J. G.; HIRSCHBERG, J. G. Measuring the quality of life
across countries: a multidimensional analysis. Boulder: Westview Press, 1991.
SMALL, A. W. Origins of sociology. New York: Russel & Russell, 1967.
SMITH, A. Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Milano: Mon-
datori, [1977].
SOROKIN, P. A. La dinamica sociale e culturale. Torino: Unione Tipograco-
Editrice Torinese, 1975.
SOUZA CAMPOS, M. C. S. Educao: agentes formais e informais. So Paulo:
EPU, 1985.
SOUZA FILHO, H. et al. Vidas em risco: assassinatos de crianas e adolescentes
no Brasil. [s.l.]: [s.n.], 1991.
SOUZA NETO, J. C. de. Crianas e adolescentes abandonados. So Paulo: Arte
Impressa, 2002. p. 191.
SPENCER, H. Illustrations of universal progress: a series of discussions. New York:
D. Appleton and Company, 1883.
SPRINGBORG, P. The problem of human needs and the critique of civilization. London:
George Allen & Unwin, 1981.
SPROUT, H.; SPROUT, M. The ecological perspective on human affairs, with special refer-
ence to international politics. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1965.
365
Referncias Bibliogrficas
SROLE, L. Social integration and certain corollaries: an exploratory study.
American Sociological Review, n. 21, p. 709-716, 1956.
STARK, R. Deviant places: a theory of the ecology of crime. Criminology, v,
25, n. 4, p. 893-909, 1987.
SUMMER, W. G. Folkways. New York: Ginn & Co., 1906.
SUTHERLAND, E. La criminalit dei colletti bianchi e altri scritti. Milano: Unicopli,
1986.
_____; CRESSEY, D. R. Principles of criminology. Chicago, Philadelphia: J.B.
Lippincott Company, 1947.
SYKES, G.; MATZA, D. Techniques of neutralization: a theory of delin-
quency. American Sociological Review, n. 22, p. 664-670, 1957.
TANNENBAUM, F. Crime and the community. New York: Columbia University
Press, 1938.
TARDE, G. Le leggi dellimitazione. In: FERRAROTTI, F. (Org.). Scritti
Sociologici di Gabriel Tarde. Torino: UTET, 1976.
TAYLOR, I.; TAYLOR, L. Politics and deviance. Harmondsworth: Penguin,
1973.
_____; WALTON, P.; YOUNG, J. The new criminology: for a social theory of
deviance. London: Routledge Kegan Paul, 1973.
THIO, A.; CALHOUN, T. C. Readings in deviant behavior. 3 ed. New York:
Pearson Education, 2004.
THOMAE, H. Dinamica della decisione umana. Verlag: PAS, 1964.
366
Referncias Bibliogrficas
THOMAS, W. I. The unadjusted girl. New York: Harper, 1923.
_____; THOMAS, D. S. The child in America. New York: A. A. Knopf, 1938.
_____; ZNANIECKI, F. W. Il contadino polacco in Europa e in America. Milano:
Edizioni di Comunit, 1968.
THRASHER, F. M. The gang: a study of 1.313 gangs in Chicago. Chicago:
University of Chicago Press, 1963.
TIMASHEFF, N. S. Sociological theory, its nature and growth. New York: Random
House, [1957].
TOFFOLETTO, E.; BRESCIA, H. La Scuola. [S.l.]: Ernst Heinrich HAECK-
EL, 1945.
TONOLO, G.; DE PIERI, S. (Org.). Let incompiuta: ricerca sulla formazione
dellidentit negli adolescenti italiani. Torino: Elle Di Ci, 1995.
TRASLER, G. The Formative years: how children become members of their
society. New York: Schocken Books, [1970].
_____. The shaping of social behaviour: an inaugural lecture, delivered at the Univer-
sity on 6th December 1966. Southampton: Southampton University, 1967.
TULLIO-ALTAN, C. I valori difcili: inchiesta sulle tendenze ideologiche e
politiche dei giovani in Italia. Milano: Bompiani, 1974.
UDE MARQUES, W. E. Infncias (pre)ocupadas: trabalho infantil, famlia e
identidade. Braslia: Plano Editora, 2001.
VANDENBURGH, H. Deviance: the essentials. New Jersey: Pearson Prentice
Hall, 2004.
367
Referncias Bibliogrficas
VEBLEN, T. La teoria della classe agiata: studio economico sulle istituzioni. Torino:
Einaudi, 1971.
VELHO, G. Desvio e divergncia: uma crtica da patologia social. 7. ed. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
_____. Individualismo e cultura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1981.
_____. Nobres e anjos. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas, 1998.
_____. Projeto e metamorfose. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.
_____. Subjetividade e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
_____. A utopia urbana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1973.
VITACHI.
Stolen childhood: in search of the rights of the child. Cambridge:
Polity Press, 1989.
WARD, D. A.; CARTER, T. J.; PERRIN, R. D. Social deviance: being, behaving
and branding. Boston: Allyn and Bacon, 1994.
WEBER, M. Antologia di scritti sociologici. Bologna: Il Mulino, 1977.
_____. Economia e societ. Milano: Edizioni di Comunit, 1974.
_____. Letica protestante e lo spirito del capitalismo. Firenze: Sansoni, 1965.
_____. Il mtodo delle scienze storico-sociali. Torino: Einaudi. 1958.
_____. A objetividade do conhecimento nas cincias sociais. In: COHN, G.;
FERNANDES, F. (Org.). Weber. So Paulo: tica, 2003.
368
Referncias Bibliogrficas
_____. Sociologia delle religioni. Torino: Unione Tipograco-Editrice Torinese,
1976.
WINSLOW, R. W. Society in transition. New York: The Free Press, 1970.
WIRTH, L. The problems of minority groups. _____. The science of man in the
world crisis. New York: Columbia University Press, 1945. p. 347-372.
ZAJCZYK, F. La povert oggi: alcuni spunti teorici e metodologici. Marginalit
e Societ, n. 13, p. 30-47, 1990.
ZALUAR, A. Integrao perversa: pobreza e trco de drogas. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2004.
ZANETI, H. Juventude e revoluo: uma investigao sobre a atitude revolucionria
juvenil no Brasil. Braslia: Editora Universidade de Braslia, 2001.
ZORBAUGH, H. W. The gold coast and the slum. Chicago: University of Chicago
Press, 1929.
You might also like
- CALIMAN Livro "Paradigmas Da Exclusão Social" 2008Document369 pagesCALIMAN Livro "Paradigmas Da Exclusão Social" 2008Geraldo CalimanNo ratings yet
- CALIMAN ParadigmasdaExclusaoSocialDocument357 pagesCALIMAN ParadigmasdaExclusaoSocialWilliam Bandeira PedrosoNo ratings yet
- A educação e o processo de socializaçãoDocument51 pagesA educação e o processo de socializaçãoRenata OuroNo ratings yet
- Fundamentos Sociologicos Da EducaçãoDocument15 pagesFundamentos Sociologicos Da EducaçãoCeli FerreiraNo ratings yet
- Viver em SociedadeDocument17 pagesViver em SociedadeSociologia75% (4)
- Extensivoenem Filosofia Bauman 11 10 2019Document11 pagesExtensivoenem Filosofia Bauman 11 10 2019David LimaNo ratings yet
- Marginalidade, pobreza e exclusão: uma questão históricaDocument331 pagesMarginalidade, pobreza e exclusão: uma questão históricaRoberto JarryNo ratings yet
- E. Mã Dio 1 Manhã Sociologia 28 02 2023 o Processo de Socializaã Ã oDocument23 pagesE. Mã Dio 1 Manhã Sociologia 28 02 2023 o Processo de Socializaã Ã ogabiinacio33No ratings yet
- Bressan, Suimar João. Fundamentos Das Ciências SociaisDocument122 pagesBressan, Suimar João. Fundamentos Das Ciências SociaisLeandro MaiaNo ratings yet
- Lucio Mauro - Atividade 1Document2 pagesLucio Mauro - Atividade 1lucio mauroNo ratings yet
- Dilemas e Contestacoes Das Juventudes No Brasil e No MundoDocument407 pagesDilemas e Contestacoes Das Juventudes No Brasil e No Mundojunioreis100% (1)
- Sociedade, Cultura e PensamentoDocument87 pagesSociedade, Cultura e PensamentoLeia FoxNo ratings yet
- Sociologia I 2024 1 Prof Bruno DurãesDocument3 pagesSociologia I 2024 1 Prof Bruno DurãesGabriel RezendeNo ratings yet
- ISCED/Luanda Sociologia CursoDocument3 pagesISCED/Luanda Sociologia CursoJonilson KiculoNo ratings yet
- Eo 23 2 AnoDocument4 pagesEo 23 2 AnoAndreia ChagasNo ratings yet
- Apostila de Sociologia - Ensino MédioDocument110 pagesApostila de Sociologia - Ensino MédioJuliana Lopes100% (1)
- Sociologia IIIDocument4 pagesSociologia IIIGabriel Oliveira SilvaNo ratings yet
- Teorias Sociológicas ClássicasDocument5 pagesTeorias Sociológicas ClássicasJúlio César FreitasNo ratings yet
- Introdução às Ciências Sociais: Curso de LicenciaturaDocument3 pagesIntrodução às Ciências Sociais: Curso de Licenciaturadeividvincent100% (2)
- Apostila SociologiaDocument27 pagesApostila SociologiaTaiara Souto AlvesNo ratings yet
- O surgimento da Sociologia a partir das revoluções industriais e francesasDocument15 pagesO surgimento da Sociologia a partir das revoluções industriais e francesasLeonora Ferreira100% (2)
- Questionário Homem e SociedadeDocument5 pagesQuestionário Homem e SociedadeMaria Isabel0% (1)
- Material Apostilado de SociologiaDocument345 pagesMaterial Apostilado de SociologiaManoel NasserNo ratings yet
- Projeto de PesquisaDocument6 pagesProjeto de PesquisaRonan GomesNo ratings yet
- Antropologia e Sociologia Da Educação-1Document147 pagesAntropologia e Sociologia Da Educação-1leticiapaula.paula00No ratings yet
- Sociologia para o ensino médioDocument36 pagesSociologia para o ensino médioFabiani Canabarro100% (1)
- Surgimento Da Sociologia + Vamos PraticarDocument11 pagesSurgimento Da Sociologia + Vamos PraticarNatalia AbdaNo ratings yet
- Pressupostos da reflexão antropológica sobre a velhiceDocument21 pagesPressupostos da reflexão antropológica sobre a velhiceÉwerton SampaioNo ratings yet
- C. Soc. Ficha ResumoDocument11 pagesC. Soc. Ficha ResumoCândido Albino NzualoNo ratings yet
- A Imaginacao SociologicaDocument7 pagesA Imaginacao SociologicaO Allen BoaneNo ratings yet
- Apostila de Sociologia - 1º Ano PDFDocument20 pagesApostila de Sociologia - 1º Ano PDFCassiano BritoNo ratings yet
- SOCIOLOGIADocument116 pagesSOCIOLOGIAJose Alves100% (1)
- RESUMO Livro - Introd. À Sociol. OLIVEIRA, Pérsio Santos deDocument7 pagesRESUMO Livro - Introd. À Sociol. OLIVEIRA, Pérsio Santos deManuel RaposoNo ratings yet
- 1º Ano SOCIOLOGIA, - Atividades ImpressasDocument6 pages1º Ano SOCIOLOGIA, - Atividades ImpressasdeisyNo ratings yet
- Apostila de Sociologia para o 1º Ano Ensino Médio 2019Document16 pagesApostila de Sociologia para o 1º Ano Ensino Médio 2019JAILMA BATISTA LIMANo ratings yet
- Ensino Médio Sociologia Plano BimestralDocument3 pagesEnsino Médio Sociologia Plano BimestralRafael DouglasNo ratings yet
- Resumoglobal Sociologia PDFDocument25 pagesResumoglobal Sociologia PDFeldp27No ratings yet
- Miolo Do Sociologia e Antropologia - Novo 2022.inddDocument178 pagesMiolo Do Sociologia e Antropologia - Novo 2022.inddYuri Figueiredo CostaNo ratings yet
- Aula 2 - TEORIAS PSICOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO - Aula 2Document36 pagesAula 2 - TEORIAS PSICOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO - Aula 2Daiane CorreiaNo ratings yet
- 2227-Texto Do Artigo-8018-1-10-20201104Document3 pages2227-Texto Do Artigo-8018-1-10-20201104pedro galhegoNo ratings yet
- Apoatila de Sociologia Ensino FundamentalDocument31 pagesApoatila de Sociologia Ensino FundamentalWaldenice Martins Pierre Fernandes100% (1)
- Roteiros Introducao SociologiaDocument11 pagesRoteiros Introducao SociologiagleidyssonNo ratings yet
- Educacao e Movimentos SociaisDocument68 pagesEducacao e Movimentos SociaisAllan Douglas SantiagoNo ratings yet
- A Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesFrom EverandA Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesNo ratings yet
- Sociologia+Hoje%3a+Apostila+de+Sociologia+Para+o+1%c2%Ba+Ano+Ensino+m%c3%89dio 1710692692657Document42 pagesSociologia+Hoje%3a+Apostila+de+Sociologia+Para+o+1%c2%Ba+Ano+Ensino+m%c3%89dio 1710692692657Priscila VanderleyNo ratings yet
- A Sociologia e o surgimento das ciências sociaisDocument9 pagesA Sociologia e o surgimento das ciências sociaisLeomir Lemos Dos SantosNo ratings yet
- Plano de Curso-Sociologia - 3º Ano - 2012Document7 pagesPlano de Curso-Sociologia - 3º Ano - 2012renildesrNo ratings yet
- Introdução à SociologiaDocument30 pagesIntrodução à SociologiaMaria MeloNo ratings yet
- Slide - Introdução A Sociologia - Parte IDocument34 pagesSlide - Introdução A Sociologia - Parte IAna Paula Rodrigues100% (2)
- Monica Salomon Org Atores Nao Estatais eDocument17 pagesMonica Salomon Org Atores Nao Estatais eAniella Ramírez MaglioneNo ratings yet
- Indivíduo na sociedadeDocument5 pagesIndivíduo na sociedadeKurt WilckensNo ratings yet
- Desigualdades Sociais na SociologiaDocument5 pagesDesigualdades Sociais na Sociologiaildomacomegmail.comNo ratings yet
- Aula 5 - A Imaginação Sociológica - Capitulo 1 - A Promessa - MILLSDocument3 pagesAula 5 - A Imaginação Sociológica - Capitulo 1 - A Promessa - MILLSestefannyalmeida3No ratings yet
- Narrativas de gênero: as várias faces dos estudos de gêneroFrom EverandNarrativas de gênero: as várias faces dos estudos de gêneroNo ratings yet
- Trimembração Social: sociedade orgânica, transcendendo direita e esquerdaFrom EverandTrimembração Social: sociedade orgânica, transcendendo direita e esquerdaNo ratings yet
- A Sociologia em Contexto de Crise: Análise de Temas ContemporâneosFrom EverandA Sociologia em Contexto de Crise: Análise de Temas ContemporâneosNo ratings yet
- Manacorda e Mészáros: O papel da educação escolar na transformação socialFrom EverandManacorda e Mészáros: O papel da educação escolar na transformação socialNo ratings yet
- Neurociências e A Terapia Cognitivo-Comportamental - SecadDocument67 pagesNeurociências e A Terapia Cognitivo-Comportamental - SecadCarla MachadoNo ratings yet
- Livro Do NomeDocument5 pagesLivro Do NomeCarla MachadoNo ratings yet
- Teste DislexiaDocument15 pagesTeste DislexiaCarla MachadoNo ratings yet
- ANJOS - Hildete - Crenças Pedagógicas Sobre Inclusão EscolarDocument21 pagesANJOS - Hildete - Crenças Pedagógicas Sobre Inclusão EscolarHildete Pereira Dos AnjosNo ratings yet
- Artigo Revista 30 de Marco de 2011Document22 pagesArtigo Revista 30 de Marco de 2011Carla MachadoNo ratings yet
- Atividades HojeDocument4 pagesAtividades HojeCarla MachadoNo ratings yet
- Atividades de ConcentraçãoDocument6 pagesAtividades de ConcentraçãoCarla Machado100% (1)
- Crenças Pedagógicas Sobre Inclusão EscolarDocument12 pagesCrenças Pedagógicas Sobre Inclusão EscolarCarla MachadoNo ratings yet
- Atividades AgostoDocument12 pagesAtividades AgostoCarla MachadoNo ratings yet
- Gab Enem 2018 Dia 1 Verde LibrasDocument1 pageGab Enem 2018 Dia 1 Verde LibrasCarla MachadoNo ratings yet
- Estudo Dirigid1Document1 pageEstudo Dirigid1Carla MachadoNo ratings yet
- Inclusão e exclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na históriaDocument17 pagesInclusão e exclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na históriaCarla MachadoNo ratings yet
- O Mito da Caverna: uma alegoria sobre a educação e a busca pelo conhecimentoDocument4 pagesO Mito da Caverna: uma alegoria sobre a educação e a busca pelo conhecimentoAna Beatriz PradoNo ratings yet
- O Pequeno PrincipeDocument44 pagesO Pequeno PrincipeCarla MachadoNo ratings yet
- Manual de Orientação Programa de Implantação de Sala de Recursos MultifuncionaisDocument33 pagesManual de Orientação Programa de Implantação de Sala de Recursos MultifuncionaisInstituto Helena AntipoffNo ratings yet
- Perfil DocenteDocument20 pagesPerfil DocenteCarla MachadoNo ratings yet
- Batalha NavalDocument6 pagesBatalha NavalCarla MachadoNo ratings yet
- SIMULADO FilosofiaDocument4 pagesSIMULADO FilosofiaCarla MachadoNo ratings yet
- Artes Visuais CADocument17 pagesArtes Visuais CAElina Padilha Fernandes FernandesNo ratings yet
- Cristina BruschiniDocument10 pagesCristina BruschiniNarryman SouzaNo ratings yet
- Capítulo 5 - MitoDocument10 pagesCapítulo 5 - MitoCarla MachadoNo ratings yet
- EticaDocument1 pageEticaCarla MachadoNo ratings yet
- RevisãoDocument28 pagesRevisãoCarla MachadoNo ratings yet
- Concepcao FormacaoDocument9 pagesConcepcao FormacaoCarla MachadoNo ratings yet
- Ped QuizDocument8 pagesPed QuizCarla MachadoNo ratings yet
- Avaliação de Arte FDocument2 pagesAvaliação de Arte FCarla MachadoNo ratings yet
- EXERCÍCIOSDocument9 pagesEXERCÍCIOSCarla MachadoNo ratings yet
- Avaliação Portugues 2 Tri EliDocument3 pagesAvaliação Portugues 2 Tri EliCarla MachadoNo ratings yet
- LivroDocument30 pagesLivroCarla Machado100% (1)
- Santo AgostinhoDocument27 pagesSanto AgostinhoCarla MachadoNo ratings yet
- Contrato de Locação em BrancoDocument2 pagesContrato de Locação em BrancoEdson GabrielNo ratings yet
- Gazhel 13Document4 pagesGazhel 13Denise SantiagoNo ratings yet
- Comunicado Exclusivo Aos NossosDocument3 pagesComunicado Exclusivo Aos NossosElaine BastosNo ratings yet
- Tome of Beasts 5Document2 pagesTome of Beasts 5Charta goNo ratings yet
- Texto e Enunciado Na Teoria Do Negócio JurídicoDocument2 pagesTexto e Enunciado Na Teoria Do Negócio JurídicoFILIPE FRANCONo ratings yet
- EJA Geografia e História bimestres 1 e 2Document7 pagesEJA Geografia e História bimestres 1 e 2Manoel JoãoNo ratings yet
- CCT 2022/23 fixa piso salarial Contadores PR R$7.088Document19 pagesCCT 2022/23 fixa piso salarial Contadores PR R$7.088CharliniNo ratings yet
- PCCE 3 Simulado Escrivao e Inspetor Folha de RespostasDocument24 pagesPCCE 3 Simulado Escrivao e Inspetor Folha de RespostasJohn WilliamysNo ratings yet
- Iva - Imposto Sobre O Valor Acrescentado: Formadora: Carina ReisDocument103 pagesIva - Imposto Sobre O Valor Acrescentado: Formadora: Carina ReisCarina ReisNo ratings yet
- Contrato de Locação ResidencialDocument4 pagesContrato de Locação ResidencialWinoco93% (15)
- CARTILHA DIREITOS DO DEFICIENTE E DO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES - Carlos Horácio Bonamigo Filho - GARRASTAZU ADVOGADOS - 2012Document53 pagesCARTILHA DIREITOS DO DEFICIENTE E DO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES - Carlos Horácio Bonamigo Filho - GARRASTAZU ADVOGADOS - 2012criacao19916No ratings yet
- Provas Orais Anteriores MPMG Com Respostas - 2017 e 2014Document591 pagesProvas Orais Anteriores MPMG Com Respostas - 2017 e 2014ANANo ratings yet
- Professor de economia com experiência no IBGE e publicações científicasDocument138 pagesProfessor de economia com experiência no IBGE e publicações científicasHedileno Monteiro100% (2)
- 5 Guia ITCD Finalizada IDocument3 pages5 Guia ITCD Finalizada IGustavo F LimaNo ratings yet
- Lei Complementar 39 2006 de Ribeirão Das Neves MGDocument61 pagesLei Complementar 39 2006 de Ribeirão Das Neves MGD'jockey CyberderiNo ratings yet
- Manual para Elaboraçao Do TCC em Formato de Artigo 2023.2Document19 pagesManual para Elaboraçao Do TCC em Formato de Artigo 2023.2Tiago RuivoNo ratings yet
- NF NortesysDocument1 pageNF NortesysTonydes SousaNo ratings yet
- Normas urbanísticas e edificações UbáDocument47 pagesNormas urbanísticas e edificações UbáEstela Duarte GabrielNo ratings yet
- Unidade II - Policiamento Comunitário e Suas PráticasDocument89 pagesUnidade II - Policiamento Comunitário e Suas PráticasPaulo RobertoNo ratings yet
- A arte de respirar bemDocument9 pagesA arte de respirar bemroseliverissimoNo ratings yet
- Políticas Educacionais Inclusivas para A Criança Com Transtorno Do Espectro de Autismo Na Educação InfantilDocument14 pagesPolíticas Educacionais Inclusivas para A Criança Com Transtorno Do Espectro de Autismo Na Educação InfantilVanessa Maghry De AndradesNo ratings yet
- Laudo Tecnico - ImóvelDocument14 pagesLaudo Tecnico - ImóvelLetícia OliveiraNo ratings yet
- TAVARES, Juarez. Teoria Do Crime Culposo.Document298 pagesTAVARES, Juarez. Teoria Do Crime Culposo.Erick Lucas Bonfim SantanaNo ratings yet
- Funções Do Direito Penal - Legitimação Versus, Deslegitimação Do Sistema Penal PDFDocument131 pagesFunções Do Direito Penal - Legitimação Versus, Deslegitimação Do Sistema Penal PDFMaurício Lopes FilhoNo ratings yet
- Material Complementar de Química - 1º Ano Professora TalitaDocument2 pagesMaterial Complementar de Química - 1º Ano Professora TalitaViKiNgX BrUnOdANo ratings yet
- Contando com a parlendaDocument14 pagesContando com a parlendaIvony Gonçalves100% (1)
- TEORIA GERAL DO ESTADO E CIÊNCIA POLÍTICA EMDocument10 pagesTEORIA GERAL DO ESTADO E CIÊNCIA POLÍTICA EMMarcella MouraNo ratings yet
- Diário Oficial do Rio de Janeiro de 04/04/2023Document7 pagesDiário Oficial do Rio de Janeiro de 04/04/2023Ailana SousaNo ratings yet
- Diagrama de Pareto - EX1Document2 pagesDiagrama de Pareto - EX1Sayonara Salvatti MüllerNo ratings yet
- Licitações e Contratos AdministrativosDocument3 pagesLicitações e Contratos AdministrativosJaqueline CalderonNo ratings yet