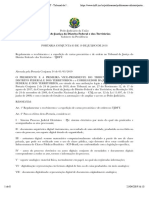Professional Documents
Culture Documents
GNERRE - Linguagem Escrita e Poder PDF
Uploaded by
Mário LamenhaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
GNERRE - Linguagem Escrita e Poder PDF
Uploaded by
Mário LamenhaCopyright:
Available Formats
TEXTO E LINGUAGEM TEXTO E LI NGUAGEM TEXTO LINGUAGEM TEXTO E LINGUAGEM TEXTO E LINGUAGEM
W3DVTDNn 3 01X31W3DvnSNIl 3 01X31 W3DVHDNn 3 01X31lAI33Vn3Nll 3 01X31lAI33VnDNIl 3 01X31
to '
e
s
e
n
v
o
^-
i
m
e
n
t
o
d
o
D
i
s
c
u
1
p"
o
n >
o
i
p"
Tl
Q
' V
O
I
U
1
X
O
J
as
l
a
n
a
m
e
n
t
o
s
"
g
5"
a.
TO
P
a
s
s
a
g
e
m
J
o
P I
o
W
a
n
d
e
r
l
e
y
G
e
r
a
l
C L
s
1
TO
T
e
x
t
u
a
l
i
d
a
d
e
S
p"
o.
P
O
p
p
O
o
P
L -
b
< a
EL a-
p >
r-'' > *
C O *C) '
P 5
O ;
TO
^
s,
O
O
o"
|
W
o
P
o
1-1
p
c ^-
TO
a S
5 t>
i
t
e
r
a
t
u
r
a
e
E
s
c
o
l
n
a
o
d
o
g
o
s
t
o
1
i
S
u
b
s
d
i
o
p
a
r
a
M
a
r
i
a
d
o
R
o
s
r
i
l
e;
f * ^
o ^
ET l
f " "*^j
&^
> tt
h^ O
^'
c g g
bi
s
c
u
r
s
o
^
$
5"
TO
?
TO
|:
w
o"
T
o
C l
on
C O
P!
b
S'
a-
TO
O
C l
i '
P
P"
P
P
c "
i
O
o
C L
^
C T]
1
O
-a
TO
5"
a
<> 2
^
TO
'-i "
C
a'
c n
N
(D
JD
S.
2.
-3
o
O-
Q
O
O-
P
X
J
p1 2-
c j "1^
C Q ^
C 2
S sj -
td TO
^ a
In *J
o C5
D. |
^ ,
SS'
S 1
r
2.
p"
o
o
n
5".
N"
C O
p
C /
O
s^
TO '
3.
H"
a
i -
t-.
TO
"
2
x
o
r--
1
&
o
-l
a
o
a.
i
M
a
u
r
i
z
z
i
o
G
n
t
^ f
i -i
O)
Er
t
TO
C )
?
S
S
S
s
"D
2
rS
a
i
o
C L
o
|~T^
O
1 1
p
f ti
a
0
a'
5
a
a
TO'
TO
k
ta
TO
Tl
5
R
. hi
* * >
TO
C )
= r
i
i
w
era
i ^-<
-5
a-
c ^
d
e
R
e
d
u
c
i
r
P
c
o
r
a
O
o
~
^ Ml
P O
"i d.
P s
c -
11
o
3 >
re C .
f S
C r* C
rc o
-i
C /)
s' ~
Q. EO
O
C n
3T
O"
n
^ &
p
^.
[-!
W^
B
x
o
Wri
l-^J ;
L
I
N
G
U
A
G
E
M
w
TEXTO E LINGUAGEM TEXTO E LINGUAGEM TEXTO LINGUAGEM TEXTO E LINGUAGEM TEXTO E LINGUAGEM
5 -I
LU
o
<
CD
z .
o
x
LU
P
c;'
N
N
Q
p
LU
CD
Z)
CD
e
m
m
X
O
O
m
S
H
m
X
O
m
O
C
>
o
m
g
H
rri
X
m
n>
o
x
G)
m
lAI3DVn DNIl 3 01X31 LM3E)Vn E)Nll 3 01X31 tM30Vn 3NI1 3 01X31 3 01X31 W3E)Vn D NIl 3 01X31
Copyrighi by Livraria Martins Fontes Editora Ltda.
So Paulo, 1991
3." edio brasileira: abril de 1991
Reviso e preparao: Cristina Sarteschi
Reviso tipogrfica:
urea Regina Sartori
Maurcio Balthazar Leal
Produo grfica: Geraldo Alves
Composio: Adcmlde L. da Silva
Capa: Alexandre Martins Fontes
Todos os direitos para a lngua portuguesa reservados
LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA.
Rua Conselheiro Ramalho, 330/340 Tel.: 239-3677
01325 So Paulo SP Brasil
NDICE
Apresentao l
Captulo l Linguagem, Poder e Discriminao 5
Introduo 5
1. Uma perspectiva histrica 11
2. Uma perspectiva lingustica 19
3. Gramtica normativa e discriminao..... 24
Referncias bibliogrficas 33
Captulo 2 Consideraes sobre o campo de .
estudo da escrita 35
Introduo 35
LA constituio do campo de pesquisa da
escrita 40
1.1 As crenas sobre a escrita 44
1.1.1 As dvidas sobre a escrita 47
1.2 Escritas alfabticas e no-alfabticas 62
1.3 A escrita e o estudo da linguagem 67
2. Algumas contribuies recentes para o
canipo de estudo da escrita 70
2.1 Algumas posies tericas . 72
2.2 Contribuies de psiclogos e antroplogos 78
Referncias bibliogrficas 95
Captulo 3 Da oralidade para a escrita: o pro-
cesso de "reduo" da linguagem 101
APRESENTAO
No quadro deficitrio e deformado da edu-
cao brasileira, lugar-comum alarmar-se dian-
te da fragilidade do desempenho verbal sobre-
tudo, escrito do conjunto de seus protagonis-
tas, no apenas discentes. Entretanto, raras ve-
zes esse alarme evolui claramente para uma ava-
liao crtica sria e abrangente dos problemas
de diferentes ordensjnanifesjados.nessa rea. Ge-
ralmente, ele tende a diluir-se nas-frrnulas bem
conhecidas do conformismo didtico de tcnicas
supostantente motivadoras e criativas. A evitar
atitudes desse tipo, preciso atentar, pelo menos,
para uma exigncia bsica: a adoo de um pon-
to de vista noconvencional sobre a linguagem,
sua natureza, seus modos de funcionamento, suas
eventuais finalidades, suas relaes com a cultura
e as implicaes complexas que ela mantm com
a ideologia. preciso partir de uma concepo
de linguagem que no a confine a uma coletnea
arbitrria de regras e excees, e, tampouco, a
um rgido bloco formalizado, imune s variaes
e diferenas existentes nas situaes concretas
em que a linguagem se torna, de fato, um proces-
so de significao.
Entretanto, especialmente nas discusses
que vm se travando a propsito de escrita e al-
fabetizao, bem como sobre suas decorrncias
polticas, essa exigncia tem sido negligenciada.
Via de regra, as aparentes propostas tm-se for-
mulado sobre incontveis chaves que ocultam
uma espcie de preguia mental ou, o que mais
grave, uma espcie de charlatanice intelectual
que facilmente descamba para atitudes intensa-
mente demaggicas. Assim podem ser avaliadas
generalidades do tipo "toda linguagem ideol-
gica", "a linguagem est a servio do poder", ''al-
fabetizar conscientizando", etc. Os dois textos que
compem este volume apontam em profundida-
de para os fatores que permitem conjugar Lin-
guagem, Escrita e Poder, e dispem os seus pro-
blemas bsicos de maneira inteiramente original,
numa perspectiva cuidadosa, capaz de alertar pa-
ra os riscos de atitudes tericas precipitadas e
de tcnicas de ltima hora. Nesse sentido, se a
linguagem tem relao com o poder, ser preci-
so um exame rigoroso das formas mais sutis pe-
las quais a prpria linguagem instrumenta esse
mesmo poder. Da mesma forma, se se considera
a alfabetizao como um processo comprometi-
do com mecanismos sociais suspeitos ser pre-
ciso colocar sob suspeita tambm a nossa prpria
forma de avaliao desse processo, enquanto
membros de uma civilizao grafocntrica.
Profundamente responsvel em suas coloca-
es mais radicais, Maurizzio Gnerre consegue
discutir essas questes, carreando para as suas
reflexes de lingustica elementos de natureza po-
ltica, histrica e antropolgica extremamente
bem fundados e vivamente contemporneos. A
utilidade de seus trabalhos no est, obviamen-
te, em fornecer modelos e solues para os pro-
blemas levantados, mas sim em fornecer os sub-
sdios imprescindveis para a formulao de qual-
quer tipo de resposta consequente que se queira
dar a tais problemas.
Antnio Alcir B. Pcora
Haquim Osakabe
CAPTULO l
LINGUAGEM, PODER E DISCRIMINAO
Introduo
A linguagem no usada somente para vei-
cular informaes, isto , a funo referenciai de-
notativa da linguagem no e^naTfnia"ntre ou-
tras; entre estas ocupa uma posio central a fun-
o de comunicar ao ouvinte a posio que o fa-
lante ocupTde fato ou acha que ocupa fia socie-
dade em que vive. As pessoas falam para serem
"ouvidas", s vezes para serem respeitadas e tam-
bm para exercer uma influncia no ambiente em
que realizam os atosjingsticos. O poder da pa-
lavra o poder de mobilizar a autoridade acumu-
lada pelo falante e concentr-la num ato lingus-
tico (Bourdieu, 1977). Os casos mais evidentes em
relao a tal afirmao so tambm os mais ex-
treraos: discurso poltico, sermo na igreja, au-
la, etc. As produes lingusticas deste tipo, e tam-
bm de outros tipos, adquirem valor se realiza-
das no contexto social e cultural apropriado. As
regras que governam a produo apropriada dos
atos de linguagem levam em conta as relaes so-
ciais entre o falante e o ouvinte. Todo ser huma-
no tem que agir verbalmente de acordo com tais
regras, isto , tem que "saber": a) quando pode
[alar e quando no pode, b) que tipo de conte-
dos referenciais lhe so consentidos, c) que tipo
de variedade lingustica oportuno que seja usa-
da. Tudo isto em relao ao contexto lingustico
e extralingiistico em que o ato verbal produzi-
do. A presena de tais regras relevante no s
para o falante, mas tambm para o ouvinte, que,
com base em tais regras, pode ter alguma expec-
tativa em relao produo lingustica do fa-
lante.tjEsta capacidade de previso devida ao fa-
to de que nem todos os integrantes de uma so-
ciedade tm acesso a todas as variedades e mui-
to menos a todos os Contedos referenciais! S-
mente uma parte dos integrantes das sociedades
complexas, por exemplo, tem acesso a uma va-
riedade "cuta" ou "padro", considerada geral-
mente "a lngua", e associada tipicamente a con-
tedos de prestgio. A lngua padro um siste-
ma comunicativo ao alcance de uma parte redu-
zida dos integrantes de unia comunidade; um
sistema associado a um patrimnio cultural apre-
sentado como um "corpus" definido de valores,
fixados na tradio escrita._
Uma variedade lingiisUQa^'y_ale_^ o.que.."_va-
lem" na sociedade os seus falantes, isto , vale
como reflexo do poder e da autoridade que eles
tm nas relaes econmicas e sociais. Esta afir-
mao vlida, evidentemente, em termos "in-
ternos", quando confrontamos variedades de uma
mesma lngua, e em termos "externos" pelo pres-
tgio das lnguas no pl ano internacional. Houve
poca em que o francs ocupava a posio mais
alta na escala de valores internacionais das ln-
guas, depois foi a vez da ascenso do ingls. O pas-
so fundamental jia,afirmao de uma variedade
sphiie. as outras sua_associao escrita e, con-
seqentemente, sua transformao em uma va-
riedade usada na transmisso de informaes de
ordem poltica e "cultural". A diferenciao po-
ltica um elemento fundamental, para favorecer
a diferenciao lingustica. As lnguas europeias
comearam a ser associadas escrita dentro de
restritos ambientes de poder: nas cortes de prn-
cipes, bispos, reis e imperadores. O uso jurdico
das variedades lingusticas foi tambm determi-
nante para fixar uma forma escrita. Assim foi que
o falar de e-de-France passou a ser a lngua fran-
cesa, a variedade usada pela nobreza da Saxnia
passou a ser a lngua alem, etc.
O caso da histria do galego-portugus sig-
nificativo neste sentido. Os caracteres mais es-
pecficos do portugus foram acentuados talvez
j no sculo XII. Esta tendncia a reconhecer os
caractgres^ma^ls^sperricoT^sh^^us semelhan-
tes pode ser acentuada,, como.foi.no caso do por-
tugus e do galego,..quandp^a regio de uso de
umajda_s_duas variedades lingusticas constitui
um ce.nUlQ.J5pd.e.rPsp, como foi a Galcia, desde o
sculo XI. A lngua literria chamada galego-
portugus que se di fundi u na Pennsula Ibrica
a parti r do sculo XII era a expresso, no plano
lingustico, do prestgio de Santiago de Cornpos-
tela. . '
A associao entre uma determinada varie-
dade lingustica e a escrita o resultado histri-
co indirelo de oposies entre grupos sociais que
eram e so "usurios" (no necessariamente fa-
lantes nati vos) das diferentes variedades.,Cqm a_
emergncia poltica e._ econmica de grupos-de,
uma determinada regio, a~ variedade por eles
usada chega mais ou menos rapidamente a ser
associada de modo estvel com a escrita. Asso-
ciar a uma variedade li ngusti ca a comunicao
escrita implica i ni ci ar um processo de reflexo
sobre tal variedade e um processo de "elabora-
o" da mesma.|Escrever nunca foi e nunca vai
ser a mesma coisa que falar: uma operao que
i n f l ui necessariamente nas fornias escolhidas e
.nos contedos reJejcenclajs.JNas naeFcla EurcT-
pa Ocidental a fixao de uma variedade na es-
crita precedeu de alguns sculos a associao de
tal variedade com a tradio gramatical greco-
Jatina. Tal associao foi um passo fundamental
no processo de ' legitimao" de urna norma. O
conceito de "legitimao" f undamental para se
entender a i nsti tui o das normas lingusticas.
A legitimao "o processo de dar ' idoneidade'
ou ' dignidade' a uma ordem de natureza polti-
ca, para que seja reconhecida e aceita" (Haber-
mas, 1.976). A part i r de uma determi nada tradi-
o cultural, foi extrada e def i ni da uma varie-
dade lingustica usada, como j dissemos, em gru-
pos de poder, e tal variedade foi reproposta co-
rno algo de central na identidade nacional, en-
quanto portadora de uma tradio e de uma
cultura.
Assim como o Estado e o poder so apresen-
tados como entidades superiores e "neutras",
tambm o cdigo aceito "oficialmente" pelo po-
"Her Tpontado como neutro e superior, e todos
os cidados tm que produzi-lo e entend-lo nas
relaes corn o poder. M. Balchtin e V. Volshi-
nov em sua obra de 1.929 apontavam quatro prin-
cpios orientadores de uma tpica viso "oficial"
e conservadora da linguagem dentro da tendn-
cia que ele chamava de "objetivismo abstraio":
1. A lngua um sistema estvel, imutvel, de
formas lingusticas submetidas a uma norma for-
necida tal qual conscincia individual e peremp-
tria para esta.
2. As leis da lngua so essencialmente leis
lingusticas especficas, que estabelecem ligaes
entre os signos lingusticos no interior de um sis-
tema fechado. Estas leis so objetivas relativa-
mente a toda conscincia subjetiva.
3. As ligaes lingusticas especficas nada
tm a ver com valores ideolgicos (artsticos, cog-
nitivos ou outros). No se encontra, na base dos
fatos.lingusticos, nenhum motor ideolgico. En-
tre a palavra e seu sentido no existe vnculo na-
tural e compreensvel para a conscincia, nem
vnculo artstico.
4. Os atos individuais de fal a constituem, do
ponto de vista da lngua, simples refraes ou va-
riaes fortuitas ou mesmo deformaes das for-
mas normativas. Mas so justamente estes atos
individuais de f al a que explicam a mudana his-
trica das formas da lngua; enquanto tal, a mu-
dana , do ponto de vista do sistema, irracional
e mesmo desprovida de sentido. Entre o sistema
da lngua e sua histria no existe nem vnculo
nem. afinidade de motivos. Eles so estranhos en-
tre si. (1979: 68).
. Os cidados, apesar de declarados iguais pe-
Vante a lei, so, na realidade, discriminados j na
base do .mesmo cdigo em que a lei redigida.
A maioria dos cidados no^tem-acesso ao cdi-
go, ou,_s vezes,, tem uma possibilidade reduzfda
de aeesst^rcnstltuda pela~scola e pela 'norma
pedaggica" ali ensinada. Apesar de~fizer,parte
da experincia de cada um>o fato de as pessoas
serem discriminadas pela maneira como falam,
fenmeno que se pode verificar no mundo todo,
no caso do Brasil no dif cil encontrar afirma-
es de que aqui no existem diferenas dialetais.
Relacionado com este fato est o da distino que
se verifica no interior das relaes de poder en-
tre a norma reconhecida e a capacidade efetiva
de produo lingustica considerada pelo falan-
te a mais prxima da norma. Parece que alguns
nveis sociais, especialmente dentro da chamada
pequena burguesia, tm tendncia hDercore-
_ono esforo de alcanar a norma reconhecida.
Talvez no seja por acaso que, em geral, o fator
da pronncia. considerado sempre como uma
marca de provenincia regional, e s vezes social,
sendo esta a rea da produo lingustica mais
dificilmente "apagada" pela instruo.
V j A separa~dntf"vri'edo!e^"rc5ulta'' ou "pa-
arao" e as outras to profunda devido a vrios
motivos; a variedade culta associada -escrita,
como j dissemos, e associada tradio gra-
matical; inventariada nos dicionrios e a por-
tadora legtima de uma tradio cultural e de
uma identidade nacional. este o resultado his-
trico de um processo complexo, a convergncia
de uma elaborao histrica que vem de longe, i
1. Uma perspectiva histrica
Associar a urna determinada variedade l in-
gustica o poder da escrita foi nos l timos scu-
los da Idade Mdia uma operao que respondeu
a exigncias pol ticas e cultui-ais. Eram grandes
as diferenas entre as variedades lingusticas cor-
rentes e o latim, modelo de lngua e de poder, na
Europa da Idade Mdia. As variedades lingusti-
cas associadas com a escrita passaram por um
claro processo de "adequao" lexical e sintti-
ca, no qual o modelo era sempre o l atim. Nas
obras de Rei Alfonso X, que "traduzia" no scu-
lo XIII do latim para o castelhano, encontramos
constantemente termos emprestados do latim e
introduzidos na variedade usada com uma expli-
cao anexa: tirano, que quiere dezii" rey cruel. Co-
locar uma variedade oral nos moldes da lngua
escrita (tendo em vista a complexidade do latim)
foi operao complexa, principalmente na sinta-
xe. Na rea das conjunes e da subordinao.
10 11
por exemplo, at o estabelecimento de expresses
do tipo "apesar de", "a fim de", etc., o processo
foi demorado. Nos textos mais antigos as ambi-
auidades que muitas vezes encontramos so de-
vidas exatamente ao fato de que umas constru-
es usadas na lngua escrita estavam ainda em
fase de elaborao e definio. As lnguas rom-
nicas levaram tempo para chegar a ser varieda-
des escritas de complexidade comparvel do
modelo a que visavam, o latim.
A segunda etapa no pi-ocesso de fixao de
uma norma foi constituda pela associao da va-
riedade j estabelecida como lngua escrita com
a tradio gramatical greco-latina. A tradio gra-
matical at o comeo da idade moderna era as-
sociada somente com as duas lnguas clssicas.
O pensamento lingustico grego apontou o ca-
minho da elaborao ideolgica de legitimao
de uma variedade lingustica de prestgio. Des-
de o "legislador" platnico que impe e escolhe
os nomes apropriados dos objelos, at chegar '
tradio gramatical divulgada, estruturada tal-
vez na poca alexandrina, a elaborao da ideo-
logia e da reflexo relativas linguagem foi cons-
tante. Na nossa perspectiva aluai, nos primrdios
desta tradio da especulao lingustica se co-
loca Plato e a viso quase que mtica de um ori-
ginrio escolhedor de nomes que atribua os no-
mes apropriados aos objetos. Tal viso estava ain-
da longe do processo de elaborao nos moldes
conceituais dentro dos quais foi colocada a ln-
gua grega na idade alexandrina, e mais tarde a
lngua latina. Era inspirada porm pela atitude
de total confiana no valor da lngua tica, que
12
merecia mitos de origem e especulao lgico-
fiosfica.
Somente com o comeo da expanso colonial
ibrica, na segunda metade do sculo XV, e com
a estruturao definitiva dos poderes centrais dos
estados europeus, os moldes da gramtica greco-
l atina (segundo a tradio de sistematizao de
Dionsio de Trcia) foram utilizados para valori-
zar as variedades lingusticas escritas, j associa-
das com os poderes centrais e/ou com as regies
economicamente mais fortes. A afirmao de unia
variedade lingustica era, no caso da Espanha e
de Portugal do fim do sculo XVI, uma dupla afir-
mao de poder: em termos internos, em relao
s outras variedades lingusticas usadas na po-
ca que eram quase que automaticamente reduzi-
das a "dialetos" e, em termos externos, em rela-
o s lnguas dos povos que ficavam na rea de
infl u ncia colonial. Na introduo da primeira
gramtica de uma lngua diferente das duas ln-
guas clssicas, a da lngua castelhana, de Ant-
nio de Nebrija (.1492), encontramos as justifica-
tivas da existncia da mesma gramtica. Tais jus-
tificativas so colocadas em termos de utilidade
da sistematizao gramatical para a difuso da
lngua entre os povos "brbaros". No contexto da
corrida para as conquistas coloniais e da concor-
rncia entre Espanha e Portugal facilmente ex-
plicvel o fato de que comeasse a ser elaborada
para a lngua portuguesa uma construo ideo-
lgica para elev-la e para orden-la nos moldes
gramaticais. Ferno de Oliveira, na introduo da
sua gramtica de 1536, mencionava a expanso
da lngua portuguesa entre os povos das terras
13
descobertas e conquistadas. Foi Joo de Barros,
porm, que realmente considerou o papel da ln-
gua portuguesa na expanso colonial. O que re-
levante aqui evidenciar que nem Nebrija, nem
Ferno de Oliveira, nem Joo de Barros percebe-
ram-a operao da quai eles estavam participan-
do em termos de uso interno da variedade "gr a-
maticalizada". A lngua era um instrumento cu-
jo poder nas relaes externas e.ra reconhecido;
os autores, porm, no mencionavam o instru-
mento de poder interno, apesar de termos alguns
indcios tambm nesta direo. Assim, Nebri-
ja escrevia na introduo da sua gramtica:
"a lngua sempre acompanhou a dominao
e a seguiu, de tal modo que juntas comearam,
juntas cresceram, juntas floresceram e, afinal,
sua queda foi comum". Joo de Barros, quase cin-
quenta anos depois, apresentava uma viso mais
articulada: a lngua para ele (no Dilogo em Lou-
vor da nossa Linguagem] um instrumento para a
difuso da "doutrina" e dos "costumes", mas
no somente instrumento de difuso, pois
"as armas e padres portugueses [...] materiais
so e pode-os o tempo gastar, pro no gastar
a doutrina, costumes e a linguagem que os Por-
tugueses nestas terras deixaram". Quer dizer, a
lngua ser o.instrumento para perpetuar a pre-
sena portuguesa, tambm quando a dominao
acabe.
A legitimao um processo que tem como
componente essencial a criao de mitos de ori-
gem. Assim, quando a gramtica das inguas ro-
mnicas foi instituda como um dos instrumen-
tos de legitimao do poder de uma variedade lin-
1 4
gstica sobre as outras, desenvolveu-se toda uma
perspectiva ideolgica visando a justific-la. D^s-
de a metade do sculo XVI, comeou uma corri-
da dos letrados e dos humanistas para conseguir
demonstrar genealogias mticas para as lnguas
das casas reinantes s quais serviam. Johan Van
Gorp Becan, de Anturpia, propunha em 1 569 que
todas as lnguas fossem derivadas das lnguas ger-
mnicas e Guillelm Posters e Stefano afirmavam
que a lngua dos antigos gauleses era a origin-
ria, para demonstrar a propriedade do francs.
O valor do instrumento da linguagem era clara-
mente apreciado no sculo XVI e a construo
de aparato mtico-ideolgico em torno das lnguas
de "cultura" foi um empenho srio dos letrados
e humanistas.
Leite de Vasconcelos (1 931 , p. 865), referindo-
se histria da tradio gramatical e filolgica
portuguesa entre o sculo XVI e a idade pomba-
lina, escreveu que "este perodo da nossa filolo-
gia pode caracterizar-se pelo seguinte: preocupa-
o, nos gramticos, da semelhana da gramti-
ca latina com a portuguesa... e sentimento patri-
tico da superioridade da lngua portuguesa em
face das outras, principalmente da castelhana,
sua concorrente temvel".
A lngua dos gramticos um produto ela-
borado que tem a funo de ser uma norma im-
posta sobre a diversidade. Duarte Nunes de Leo,
na Origem da Lngua Portuguesa (1 606) escrevia:
"E por a muita semelhana que a nossa lngua
tem com ella (a latina) e que he a maior que ne-
ha lngua tem com outra, & tal que em muitas
1 5
palavras & perodos podemos fallar, que sejo
juntamente latinos & portugueses". Falando 'de
tal semelhana, Nunes de Leo se refere, na rea-
lidade, ao produto lingustico do trabalho liter-
rio e gramatical, lngua "construda" durante
sculos de elaborao contnua para ser utiliza-
da como lngua do poder poltico e cultural. Por
isto ele aponta a "bom uso" lingustico da corte
e alerta contra as possveis influncias negativas
de provenincia plebeia.
A distncia entre a lngua codificada na gra-
mtica e a realidade da variao devia ser enor-
me j na poca em que a associao entre uma
variedade e a escrita, antes, e a tradio grama-
tical, depois, foram realizadas, M. Bakhtin-V. Vo-
loshinov aponta as relaes entre a sistematiza-
o formalista e a produo cultural:
Os criadores iniciadores de novas correntes
ideolgicas nunca sentem necessidade de formali-
zar sistematicamente. A sistematizao aparece quan-
do nos sentimos sob a dominao de um pensamento
autoritrio aceito como tal. preciso que a poca de
criatividade acabe: s a que ento comea a
sistematizao-formalizao; o trabalho dos herdei-
ros e dos epgonos dominados pela palavra alheia que
parou de ressoar. A orientao da corrente em evolu-
o nunca pode ser formalizada e sistematizada. Esta
a razo pela qual o pensamento gramatical formalis-
ta e sistematizante desenvolveu-se com toda plenitu-
de e vigor no campo das lnguas mortas e, ainda, so-
mente nos casos em que essas lnguas perderam, at
certo ponto, sua influncia e seu carter autoritrio
sagrado. A reflexo lingustica de carter formal-
sistemtico foi inevitavelmente coagida a adotar em re-
16
lao s lnguas vivas uma posio conservadora e aca-
dmica, Esto , a tratar a lngua viva como se fosse al-
go acabado, o que implica uma atitude hostil em rela-
o a todas as inovaes lingusticas. (1979: 89)
No Brasil, ainda no conhecemos (cientifica-
mente) os fatores das classes mais cultas, de mo-
do que a norma presente nas gramticas uni
conjunto de opinies sobre como a lngua deve-
ria ser, segundo os gramticos. Antnio Houaiss
escrevia em 1960, p. 73, citado por Castilho, 1973:
"a realidade nua e crua que, malgrado o nme-
ro pondervel de estudos gramaticais, no sabe-
mos efetivamente o que e como a lngua por-
tuguesa, sobretudo no Brasil, e assistimos estar-
recidos ao divrcio crescente entre a norma gra-
matical cannica e a criao literria viva". Una
projeto que visa a reconhecer as caractersticas
da norma culta do Brasil est sendo desenvolvi-
do atualmente (Castilho, 1973). Em relao a es-
te desconhecimento da efetiva realidade lingus-
tica do pas, podem ser lembradas as tendncias
de raiz romntica, que durante muitas dcadas
propunham a ideia de unia lngua "brasileira",
a ser defendida e cultivada. Talvez tenha sido Jos
de Alencar o intelectual mais conhecido que de-
fendeu nos seus escritos, implcita e explicitamen-
te, a ideia de lngua "brasileira". As ideias de
Alencar so influenciadas por uma perspectiva
nativista segundo a qual a lngua "brasileira" de-
veria se adequar "simplicidade" de pensamen-
to e da expresso do ndio e do sertanejo. Como
esc.reveu Silvio Elia (1978, pp. .1.13-135):
17
Quem no sentir latejar por detrs de tal afirmao
o mito do homem em estado natural de Rousseau, ain-
da no corrompido pelas instituies sociais? Foi es-
sa mesma concepo romntica do povo-dono-da-ln-
gua, aliada doutrina naturalista da evoluo fatal e
irreversvel dos acontecimentos sociais que gerou a es-
cola da "lngua brasileira", novo rebento neolatino ali-
mentado nestas plagas do Atlntico. Assim como o po-
vo simples e cheio de vida das pocas pretritas havia
feito o portugus sair do latim, assim tambm a nossa
gente I nculta, mas boa e virtuosa do interior, estaria
fazendo brotar do velho portugus d' alm-mar o juve-
nil e espontneo brasileiro das Amricas. Um dos mais
entusiasmados representantes dessa corrente chegou
a distinguir entre a l ngua dos doutores e a do povo,
dando naturalmente primazia a esta sobre aquela. Era
o mito de uma l ngua "natural" autntica, a f l u i r livre-
mente dos lbios puros, isto , incultos, do homem do
povo, em contraposio linguagem artificial dos dou-
tos, coisa morta...
Na segunda metade do sculo passado e nas
primeiras dcadas do presente sculo o interes-
se que muitos intelectuais brasileiros manifesta-
ram pela l ngua tupi originava-se na tendncia
que procurava valorizar ao mximo os reduzidos
rastros lexicais deixados pelas lnguas ind genas
na lngua "brasileira". No mostravam muito in-
teresse, porm, pela presena mais ampla de ori-
gem africana na lngua. Ainda uma vez o interes-
se estava em construir um mito de origem para
a lngua, e para este fim a "nobre" imagem do
antigo ndio construda na Europa iluminista
e, herdada pelo Romantismo era muito mais
aproveitvel, j que extinta e longe da realidade,
do que a imagem do negro, escravo ou no, viva
e presente na vida cotidiana, e associada a um
portugus socialmente marcado.
18
2. Uma perspectiva lingustica
Os dicionrios, inventrio dos signos "legi-
timados", forneceram aos vocbulos a recolhi-
dos uma existncia abstraa que os torna total-
mente diferentes dos signos excludos do inven-
trio. No entanto, as palavras no tm realidade
fora da produo lingustica; as palavras existem
nas situaes nas quais so usadas. Isto to ver-
dadeiro que a identidade da forma atravs das
variaes dos contextos pode passar despercebi-
da. Entender no reconhecer um sentido inva-
rivel, mas "construir" o sentido de uma forma
no contexto no qual ela aparece. Os dicionrios
so instrumentos centrais no processo chamado
de Estandardizao que constitui um dos aspec-
tos lingusticos do processo mais amplo da "le-
gitimao". Os dicionrios esto geralmente em
relao complexa e talvez "diabtica" com a lite-
ratura aceita e em geral com o que considera-
do o "corpus" escrito de uma lngua, na medida
em que no s sancionam a aceitao de itens le-
xicais j produzidos na lngua, mas tambm cons-
tituem a base de futuras aceitaes. Os dicion-
rios fornecem definies "ex cathedra" do con-
tedo referencial de inmeras palavras altamente
relevantes na sociedade. Gramticas e dicionrios
podem ser, como no caso de vrias lnguas euro-
peias, produzidos por academias nacionais de le-
tras ou da lngua. Tais academias podem ter ti-
do ou manter at o presente uma complexa fun-
o-de intermedirias entre o poder poltico e eco-
nmico, de um lado, e o conjunto de valores e
ideologias a serem associados ou j associados
19
com a lngua. As academias podem interferir ao
chamar a ateno da nao para obras literrias
e ao selecionar o lxico "aceitvel" da lngua e
a gramtica "oficial''. Quando em 1779 foi fun-
dada em Lisboa a Academia Real das Cincias, fo-
ram indicados como objetivos a elaborao de um
dicionrio e de uma gramtica oficiais,
O poder das palavras enorme, especialmen-
te o poder de algumas palavras, talvez; poucas cen-
tenas, que encerram em cada cultura, mais no-
tadamenle nas sociedades complexas como as
nossas, o conjunto de crenas e valores aceitos
e codificados pelas classes dominantes. Se pen-
sarmos em palavras como progresso, por exem-
plo, podemos constatar que exprimem certos con-
tedos ideolgicos cuja origem historicamen-
te identificvel. Progresso uma palavra relati-
vamente recente cuja efetiva definio variou
atravs das diferentes situaes histricas pelas
quais o pas passou. Assim, se a forma das pala-
vras ficou igual a si mesma, quantos foram os di-
ferentes contedos a elas atiibudos? Isto acon-
teceu com muitas palavras-chaves da cultura oci-
dental do sculo XX como democracia, ditadu-
ra, etc. Na variedade padro, ento, so introdu-
zidos contedos ideolgicos, relativamente sim-
ples de manipular, j que as formas s quais es-
to associados ficam imobilizados favorecendo,
assim, quase que uma comunicao entre grupos
de iniciados que sabem qual o referente concei-
tuai de determinadas palavras, e assegurando que
as grandes massas, apesar de familiarizadas corn
asj;ormas das palavras, fiquem, na realidade, pri-
yaclas..do. contedo associado.
20
A linguagem pode ser usada para. impedir a
comunicao de informaes para grandes seto-
res da populao. Todos ns sabemos quanto po-
de ser entendido das notcias polticas de um Jor-
nal Nacional por indivduos de baixo nvel de edu-
cao. A linguagem usada e o quadro de refern-
cias dado como implcito constituem um verda-
deiro filtro da comunicao de informaes: es-
tas podem ser entendidas somente pelos ouvin-
tes j iniciados no s na linguagem padro mas.,
tambm nos contedos a elas associados. Assim,
tambm, se a televiso e o rdio alcanam uma
enorme difuso, a comunicao de notcias e in-
formaes fica restrita a grupos relativamente re-
duzidos entre os que tm acesso aos instrumen-
tos de tais comunicaes.
\s sociedades complexas como as nossas,
necessrio um aparato de conhecimentos scio-
polticos relativamente amplo para poder ter urn
acesso qualquer compreenso e principalmen-
te produo das mensagens de nvel scio-
poltico. Adquirir os conhecimentos relevantes e
produzir mensagens est ligado, em primeiro lu-
gar, competncia nos cdigos lingusticos de n-
vel alto. Para reduzir ou ampliar a faixa dos even-
tuais receptores das mensagens polticas e cul-
turais suficiente ajustar a sintaxe, o quadro de
referncias e o lxico. Uma construo sinttica
mais complexa pode ser suficiente para dirigir
a um grupo mais restrito uma mensagem encai-
xada de dentro de um discurso de nvel geral mui-
to mais acessvel.
Em um recente trabalho (Lemle, M., Naro A.
J., 1977) 110 qual foi estudada a complexidade sin-
21
ttica na f al a de sujeitos de classe social baixas
(mobralenses) do Rio de Janeiro, lemos nas con-
cluses (p. 145):
.1) Em termos de competncia linguistica de que j dis-
pe pelo domnio da l ngua fal ada, o adulto alfabeti-
zado no dever ter maiores dificuldades em tornar-
se um leitor de variedades da lngua escrita equivalen-
tes enVcomplexidade das histrias em quadrinhos,
fotonovel as e (boa parte de) a literatura nacional.
2) Na leitura dos jornais, encontrar uma percentagem
pequena de sentenas de complexidade maior do que
aquelas que esto dentro dos seus limiares superiores
de uso.
Isto simplesmente em termos de complexi-
dade sinttica, mas quantos seriam os fato rs le-
xicais e de contedo que, alm das construes
sintticas, poderiam dificul tar a comunicao?
Como j notamos, o problema , por um la-
do, de compreenso de mensagens e contedos
e, por outro lado, de produo de mensagens. A
comear do nvel mais elementar de relaes com
o poder, a linguagem constitui o arame f arpado
mais poderoso para bloquear o acesso ao poder.
Para redigir um documento qualquer de algum
valor jurdico realmente necessrio no somen-
te conhecer a lngua e saber redigir frases inteli-
gveis, mas conhecer tambm toda uma fraseo-
logia complexa e arcaizante que de praxe. Se
no necessrio redigir, necessrio pelo menos
entender tal fraseologia por trs do complexo sis-
tema de clichs e f rases feitas.
Este aspecto especfico da linguagem usada
nos documentos jurdicos semelhante ao fen-
22
meno lingustico das linguagens especiais, cons-
titudas em geral de lxicos efetivamente espe-
ciais usados nas estruturas gramaticais e sint-
ticas das variedades lingusticas utilizadas na co-
munidade. J f uno central 'de todas as lingua-
gens especiais social: elas tm um real valor co-
municativo mas excluem da comunicao as pes-
soas da comunidade l ingustica externa ao gru-
po que usa a linguagem especial e, por outro la-
do, tm a funo de reaf irmar a identidade dos
integrantes do grupo reduzido que tem acesso
linguagem especial. 'A funo de comunicao se-
creta (defesa do ambiente externo) e de conser-
vao de noes e tecnologias das quais o grupo
mais restrito portador estritamente associa-
da funo central das linguagens especiais.
Existem linguagens especiais (no sentido de l-
xicos especiais) reservadas no tanto a determi-
nados ambientes sociais quanto a ocasies deter-
minadas (jogos, atividades esportivas, etc.).
Tpicas l inguagens especiais so as grias de
malandros e semelhantes, das quais existem mui-
tos lxicos compilados desde o sculo passado em
Portugal e no Brasil. Na realidade, entre tais lin-
guagens e jarges profissionais, dos fsicos, por
exemplo, dif cil apontar urna discriminante em
termos lingusticos e de funo social. Os jarges
profissionais podem ser s vezes muito conser-
vadores e s vezes mais inovadores. comum que
uma lngua especial faa uso de lxico provenien-
te de alguma lngua estrangeira ou externa ln-
gua da comunidade e tambm de lxico elabora-
do pelos integrantes do grupo restrito e s vezes
coiistaiitemente renovado, para poder manter a
23
funo central da linguagem especial, de definir
o grupo em relao ao ambiente lingustico em
que vive.
Para as grias e os jarges tambm relevan-
te considerar o universo conceituai e referencial
em relao ao qual existem. claro que no su-
ficiente "conhecer" o lxico para entender unia
mensagem em gria ou em jargo. necessrio
ser de alguma forma "interno" aos contedos re-
ferenciais para entender algo das mensagens.
Neste aspecto, as grias e os jarges podem ser
comparados aos usos mais especficos da varie-
dade padro de uma lngua associados com as co-
municaes, mais relevantes em termos de poder:
comunicaes jurdicas, econmicas, polticas,
etc., quase que impenetrveis s grandes massas,
no s pela variedade lingustica usada para
transmiti-las, mas tambm pela complexidade e
especificidade dos contedos dos referenciais
transmitidos. Os dois aspectos no so indepen-
dentes; as variedades padres so como so, tam-
bm porque foram desde vrios sculos o cdi-
go em que certos tipos de informaes foram co-
dificadas e muitas informaes puderam ser
transmitidas e elaboradas, a partir do fato de que
existia uma variedade lingustica adequada.
3. Gramtica normativa e discriminao
Por que nas ltimas dcadas a discusso e o
questionamento da natureza e da prpria existn-
cia de uma norma lingustica veio a ser tema to
frequente para os linguistas e os educadores?
24
Talvez exista uma contradio de base entre
ideologia democrtica e a ideologia que impl-
cita na existncia de uma norma lingustica. Se-
gundo os princpios democrticos nenhuma dis-
criminao dos indivduos tem razo de ser, com
base em critrios de raa, religio, credo polti-
co. A nica brecha deixada aberta para a discri-
minao aquela que se baseia nos critrios da
linguagem e da educao. Como existe uma con-
tradio de base entre a ideia fundamental da de-
mocracia, do valor intrinsecamente igual, dos se-
res humanos, e a realidade na qual os indivduos
tm uni valor social diferente, a lngua, na sua
verso de variedade normativa, vem a ser um ins-
trumento central para reduzir tal conflito. Da a
sua posio problemtica e incmoda de media-
dora entre democracia e pi~opriedade.
Em lingustica a posio antinormativa foi
estabelecida como uma viso abstrata segundo
a qual todos os dialetos tm um valor intrnseco
igual em termos estritamente lingusticos. Este
credo, que tem suas razes na tendncia que M.
Bakhtin-V. Voloshinov (1929) chamou de "obje-
tivismo abstraio", aprofundou a distncia entre
os linguistas e os professores de lngua. Os lin-
guistas, como consequncia desta posio abstra-
ta que assumiram, ficaram quase que por um aca-
so terico, eu diria, ao lado dos credos democr-
ticos, contra a viso, generalizada e enraizada na
sociedade, da desigualdade entre lngua padro,
de um lado, e os falares ou "dialetos" do outro.
A gramtica normativa escrita um resto de
pocas em que as organizaes dos Estados eram
25
r
explicitamente ou declaradamente autoritrias e
centralizadas.
Nas democracias, as pessoas que tm que to-
mar decises para a coletividade tm o poder de
tomar tais decises legitimado de alguma forma
com base no saber de que elas dispem: o princ-
pio seria de que o saber necessrio para tomar
decises coletivas diferente em qualidade e em
quantidade do saber necessrio para tomar de-
cises de valor ou alcance individual ou familiar.
Para tomar tais decises necessrio conhecer
noes teis para a subsistncia diria. Ao con-
trrio, no saber considerado relevante para legi-
timar decises de carter pblico, importante
uma componente de saber que no tem aplicaes
prticas, tal como filosofia, histria, lnguas cls-
sicas, literatura. Estas reas de saber e de ativi-
dade intelectual esto em relao estrita com a
verbalizao e a expresso lingustica em geral,
e a retrica em particular.
Na fase de definio do conceito e da ("uno
da norma lingustica para as lnguas das monar-
quias europeias, fase que coincidiu com a poca
histrica de fortalecimento das grandes monar-
quias, foi o saber clssico que foi usado para dar
valor e credibilidade s gramticas dos falares
"vulgares" e para expandir os lxicos atravs de
urna quantidade de emprstimos do Latim e do
Grego.
O corpus de conhecimento constitudo pela
tradio clssica, no utilitrio em sentido trivial,
est associado com a virtude, com a sabedoria,
com a respeitabilidade, caractersticas estas que
constituem um amparo de legitimao para exer-
2
cer o poder das decises de alcance pblico. Tam-
bm a avaliao da quantidade de valor social
atribuda a cada pessoa no sistema de seleo bu-
rocrtica de massa realizada por pessoas cuja
posio foi legitimada por outras pessoas em ou-
tra posio e assim, digamos, numa cadeia de le-
gitimaes cuja histria perde-se alm do alcan-
ce da memria individual. O fato que na cadeia
de legitimao do saber no aconteceu nenhuma
revoluo, nenhuma mudana do poder absolu-
to para o constitucional, nenhuma mudana da
monarquia para a repblica, etc. A cadeia de le-
gitimao do saber vem em linha direta de des-
cendncia. A gramtica normativa o elemento
privilegiado nesta linha direta de poder absolu-
to. Afi nal , as cincias e a prpria filosofia admi-
tem a crtica e a refutao explcita do que pre-
cedeu ou de fases de atividade intelectual. No
o mesmo para a lngua padro. Uma srie de
pequenas mudanas caracterizam as gramticas
normativas de diferentes pocas: assim que uma
gramtica de hoje estabelece uma norma que cer-
tamente diferente da que encontramos numa
gramtica do sculo XVIII ou na gramtica de
Ferno de Oliveira. Porm, tal como na religio,
nos valores morais e ticos, na norma lingusti-
ca no aparece uma crtica explcita de fases an-
teriores. Pelo contrrio, a impresso que trans-
mitida de continuidade. O paralelo com a reli-
gio e a formalizao da srie de crenas e valo-
res til: podemos pensar na distncia, em ter-
mos de dogmas, prticas e crenas, entre o cato-
licismo do sculo XV e o atual. Ainda assim a
ideia que transmitida como caracterstica ceu-
27
trai da igreja a de continuidade e estabilidade.
As metforas fortemente ideolgicas nas quais a
figura social do professor, pea-chave do processo
burocrtico-seletivo da escola do Estado "demo-
crtico" moderno, apresentada como a de cum-
pridor de uma "misso" (quase que sagrada) do
ensino so altamente significativas para pensar
este paralelo lngua-religio.
Se as pessoas podem ser discriminadas de for-
ma explcita (e no encoberta) com base nas ca-
pacidades lingusticas medidas no metro da gra-
mtica normativa e da lngua padro, poderia pa-
recer que a difuso da educao em geral e do
conhecimento da variedade lingustica de maior
prestgio em particular ura projeto altamente
democrtico que visa a reduzir a distncia entre
grupos sociais pai~a uma sociedade de "oportu-
nidades iguais" para todos. Acontece, porm, que
este virtual projeto democrtico sustenta ao mes-
mo tempo o processo de constante redefinio de
uma norma e de um novo consenso para ela. A
prpria norma constantemente redefinida e re-
colocada na realidade scio-histrica, acumulan-
do assim ao mesmo tempo a prpria razo de ser
e o consenso. Os que passam atravs do proces-
so so diferentes dos que no o conseguiram, e
constituem um contingente social de apoio aos
fundamentos da .discriminao com base na le-
gitimao do saber e da L ngua de que eles (for-
malmente) dispem. Neste sentido, poderamos
dizer que a gramaticalizao de muitas lnguas
europeias que aconteceu no sculo XVI, num con-
texto histrico especfico, continua a se reprodu-
zir de outra forma at nas sociedades "democr-
28
ticas" com altos nveis de educao. Este proces-
so em parte devido ao fenmeno, bem conheci-
do por antroplogos, que Bourdieu e Boltanski
(1975) chamam de "amnsia da gnesis". A curta
memria social e histrica permite um tipo de le-
gitimao que no seria possvel se a origem das
instituies sociais e o seu significado e funo
fossem perfeitamente explcitos para todos. A am-
nsia da gnesis, pelo contrrio, permite que se
aprenda a gramtica normativa fora das condi-
es polticas de sua instituio, "contribuindo,
assim, para fundar a legitimidade da lngua ofi-
cial" (Bourdieu e Boltanski, 1975: 6). Esta amn-
sia leva a um tipo de "explicao" tautolgico:
j que existe uma norma para ser ensinada, bom
que todo inundo aprenda esta norma. Da mesma
forma, muitos rituais so "explicados" pelos na-
tivos de forma tautolgica: "fazemos isso porque
isso sempre foi feito". Esta ideia de continuida-
de e de necessidade um trao fundamental do
processo de legitimao.
Processos que so considerados "democr-
ticos" e liberadores, tais como as campanhas de
alfabetizao, de aumento das oportunidades e
dos recursos educacionais, esto muitas vezes
conjugados com processos de padronizao da
lngua, que so menos obviamente democrticos
e "liberadores". A chave da unidade profunda
destes processos a funo, que eles vo assumin-
do, de instrumentos para aumentar o controle do
Estado sobre faixas menos controlveis da popu-
lao. Os grupos sociais que mantm poucos con-
tatos com a variedade padro da lngua, que usam
e produzem pouco material escrito, so mais di-
29
r
fceis de ser controlados, uma vez que pode fal-
tar a eles um instrumento poderoso para deter-
minar sua posio social relativa. Isso num mun-
do "democrtico", em que outras importantes
marcas explcitas de posies sociais podem ser
reduzidas. Passar forosamente as pessoas atra-
vs do tnel da educao formal significa forne-
cer a elas alguns parmetros para reconhecer as
posies sociais e fornecer um mapa da estrati-
ficao social com alguns diacrticos relevantes
para o reconhecimento de quem quem: um ins-
trumento a mais para medir a desigualdade so-
cial. Neste sentido tambm a educao parte
de um processo que visa a produzir cidados mais
"eficientes", isto , mais produtivos, mais funcio-
nais ao Estado burocrtico moderno, abertos pa-
ra sistemas padronizados de comunicao e pron-
tos para interagir na sociedade.
Estas reflexes nos levam para um segundo
nvel mais sutil de discriminao lingustica. Este
derivado da ideia de l ngua como geralmente
aceita. A viso tradicional da lngua muito res-
tri ta, com uma nfase forte sobre as estruturas
lingusticas. Como uma viso derivada da tra-
dio escrita, fatos como "sotaque", prosdia e
outras caractersticas "menores" no so consi-
derados formalmente como parte da lngua, mas
obviamente eles desempenham urn papel central
na real comuni cao face a face. Quando os lin-
guistas e, ainda mais, os donos da gramtica nor-
mativa fazem referncia s estruturas lingusti-
cas ou s regras, eles fazem referncia somente
a parte de totalidade dos sinais da comunicao,
descontextualizados da totalidade dos sinais co-
30
municativos que se do na real interao verbal
face a face. Este tipo de abstrao permite na rea-
lidade uma discriminao que vai alm do sim-
ples domnio e uso da gramtica normativa. At
no caso em que algum consegue controlar as es-
truturas gramaticais e o lxico da variedade lin-
gu sti ca padro, ele ou ela ai nda dever passar
atravs do teste da interao face a face, que im-
plica a produo de uma fonologia e de uma pro-
sdia aceitveis, um bom controle do tempo, do
ritmo, da velocidade e da organizao das infor-
maes ou dos contedos. Alm destas caracte-
rsticas estritamente relacionadas lngua, h ou-
tras, tais como as posturas do corpo, a direo
do olhar, etc. Tudo isso entra, na realidade, no
"julgamento" atravs do qual uma pessoa tem
que passar, mas nada disso est implicitamente
mencionado ou legislado na gramtica normativa.
Nesta perspectiva, a gramtica normativa
um cdigo incompleto, que, como tal, abre espa-
o para a arbitrariedade de um jogo j marcado:
ganha quem de sada dispe dos instrumentos pa-
ra ganhar. Temos assim pelo menos dois nveis
de discriminao lingustica: o dito ou explcito
e o no dito ou implcito. Esta "dupla articula-
o" da discriminao lingustica foi individua-
li zada e discutida por A. Gramsci no ltimo dos
seus cadernos de anotaes, de 1935 (1975).
Gramsci, trabalhando num contexto cultural co-
mo o da Itlia, em que a questo da lngua nacio-
nal continuou viva at o sculo XIX, se coloca o
problema: "o que a gramtica?". A resposta que
ele elabora se articula sobre a distino entre
"gramtica normativa no escrita" e "gramti-
31
ca normativa escrita". Para Gramsci a realidade
lingustica nacional constituda pela articula-
o destes dois tipos de gramticas normativas.
A primeira a expresso da sociedade civil, re-
presenta um momento de consenso espontneo
- norma lingustica dos grupos sociais hegem-
nicos. J a gramtica normativa escrita " sem-
pre uma escolha, um endereo cultural, isto ,
sempre um ato de poltica cultural-nacional.
Poder-se- discutir sobre a melhor maneira de
apresentar a 'escolha' e o 'endereo' para que seja
aceita facilmente, isto , podemos discutir os
meios mais oportunos para conseguir a finalida-
de", mas esta gramtica representa um momen-
to de imposio de uma norma lingustica atra-
vs das instituies do Estado, controladas pela
sociedade poltica. "As gramticas normativas es-
critas tendem a abraar todo um territrio na-
cional e todo o 'volume lingustico' para criar uni
conformismo lingustico nacional unitrio, que
por outro lado coloca o 'individualismo expres-
sivo' num plano mais alto, porque cria um esque-
leto mais forte e homogneo para o organismo lin-
gustico nacional, do qual cada indivduo o re-
flexo e o intrprete" (Lo Piparo, 1979).
O profundo mal-estar que muitos linguistas
e educadores manifestam de vez em quando, de
forma mais ou menos tmida e disfarada, com
relao gramtica normativa , na realidade, di-
rigido principalmente contra o que Gramsci cha-
mava de "gramtica normativa escrita". Se ver-
dade que um tipo de "gramtica normativa no
escrita" existe at em pequenos grupos de socie-
dades grafas onde no se formou o Estado, co-
32
mo Bloomfield quis demonstrar para o Menomi-
ni (1927), certamente onde existe um Estado, unia
tradio escrita, a escola e uma gramtica nor-
mativa escrita, a "gramtica normativa no es-
crita" assume um valor especial, uma funo de
equilibrador hegemnico que desempenha um pa-
pel de apoio e de polarizador de consenso para
o ncleo central do poder lingustico, represen-
tado pela gramtica normativa escrita, manifes-
tao explcita do poder centralizador e onipre-
sente do Estado.
Referncias bibliogrficas
Bakhtin, M. e Volshnov, V. 1978 Marxismo e Filosofia da
Linguagem. So Paulo: Hucitec.
Bloomfield, L.. 1927 "Literate and Tlliterate Speech". Ame-
rican Speech 2:432-439 (reimpresso em ff y m es, D., Langua-
ge in Culture and Sociey. New York: Harper &Row, 1964,
pp. 391-6).
Bourdieu, P. 1977 "L'conomie ds changes linguistiques",
em Langue Franaise, 34, Paris: Larousse.
Bourdieu, P. e Boltanski, L. 1975 "L ftichisme de Ia lan-
gue", em Actes de Ia recherche en sciences sodales, 4.
Castilho, A. Teixeira de. 1973 "O estudo da norma culta do
portugus do Brasil", em Revista de Cultura Vozes, 8, Pe-
trpolis: Vozes.
Gramsci, A. 1975 Quaderni dei crcere. Edizione critica deli'
Istituto Gramsci, A Cura di V. Gerratana, Torino: Einaudi.
Elia, S. 1978 "Romantismo e lingustica", em O Romantis-
mo, organizao de J. Guinsburg. So Paulo: Perspectiva.
Habermas, J, 1976 "Legitimation Problems in the Modern
. State", em Communicaion and the evoluion of society,
Boston: Beacon Press.
33
Houaiss, A. 1960 Sugestes para uma poltica da lngua, Rio
de Janeiro: Instituto Nacional do Livro.
Leite de Vasconcelos, J. 1931 Opsculos, vol, IV, Coimbra.
Lemle, M. Naro, A. J. .1977 Competncias bsicas do portu-
gus, Rio de Janeiro: Mobral.
Lo Piparo, F. 1977 Lngua Intelletual, Egemonia in Grams-
ci, Bari: Laterza.
34
CAPITULO 2
CONSIDERAES SOBRE O CAMPO
DE ESTUDO DA ESCRITA
Uma vez f izeram de um homem branco
um Sacerdote do Arco, ele estava l fora com
os outros Sacerdotes do Arco, ele tinha linhas
pretas sobre o seu corpo branco.
Os outros disseram suas rezas de dentro
dos seus coraes mas ele leu a sua de uni
pedao de papel.
Andrew Peynetsa, ndio Zuni
(citado por D. Tedlock, 1979: 392)
Introduo
A dicotomia conceituai bsica entre povos
que tm e povos que no tm um sistema de es-
crita dicotomia que est na base da distino
entre histria e pr-histria foi a nica contra-
35
posio conceituai que o pensamento europeu
produziu com relao escrita, quando no eram
conhecidas na Europa alternativas ao sistema de
escrita do tipo alfabtico.
Durante o sculo XVI alguns europeus estu-
daram os sistemas hierogl ficos elaborados pe-
las culturas Nahuatl e Maya mas certamente tais
trabalhos no surtiram um efeito decisivo na
mentalidade europeia, talvez por existir urna d-
vida profunda sobre a possibilidade de incluir os,
povos do Mxico, considerados idlatras que pra-
ticavam sacrifcios humanos, entre os povos "ra-
cionais" civilizados.
A partir do sculo XVII, o conhecimento da
escrita e da cultura chinesa foi um fator decisi-
vo para o estabelecimento de um continuam con-
ceituai: ausncia de escrita/escrita no-alfabti-
ca/escrita alfabtica, com todos os possveis es-
tgios intermedirios.
A posio mais alta desse continuum concei-
tuai era ocupada pelas elites cultas da Europa.
Estas tambm ocupavam a posio mais alta de
um outro continuum: aquele interno s socieda-
des europeias, que tinha, na base, as massas de
analfabetos, para chegar, no topo, s pessoas le-
tradas e "cultas". Tanto o primeiro continuum
conceituai, aquele que ordenava, de alguma for-
ma, diferentes tipos de escrita, quanto o segun-
do tipo de continuum conceituai, aquele que clas-
sificava atravs da capacidade de ler e escrevei-
os indivduos de uma mesma sociedade, passa-
ram por uma histria complexa. Os requisitos m-
nimos para um indivduo ser considerado alfabe-
tizado mudaram atravs do tempo. Sabemos que
36
em muitos pases, no passado e ainda hoje, a ca-
pacidade de assinar era (e ainda ) considerada
uma evidncia satisfatria para considerar uma
pessoa alfabetizada. Em anos recentes, testes tais
como o de copiar um texto breve foram conside-
rados necessrios para poder qualificar uma pes-
soa como alfabetizada. O sentido disso tudo que
definies divergentes, e at mesmo conflitantes,
sobre quem seria uma pessoa alfabetizada tm
consequncias para a definio de "escrita" en-
quanto conceito abstraio.
Com relao a este lti mo ponto, temos que
lembrar aqui que entre as principais lnguas eu-
ropeias somente o ingls dispe de uma palavra
como Uteracy, que faz referncia de fornia abs-
traa a todos os possveis aspectos de envolvimen-
to social e individual com a prtica de escrever.
Em outras lnguas dispomos de palavras como
criLure, schrift, escrita, scrittura, que fazem re-
ferncia tanto atividade concreta de escrever
quanto ao produto concreto de tal atividade. A
palavra inglesa para essas atividades concretas
writing. Com respeito palavra Uteracy, no New
English Dictionaiy 011 Historical Principies, lemos
(vol. VI: 340) que a palavra foi usada pela primeira
vez em ingls nos Estados Unidos somente no fi-
nal do sculo passado "como oposto de illiteracy.
Surpreendentemente, illiteracy encontra-se docu-
mentada desde 660 na Inglaterra" (vol. V: 44).
Descobrimos, assim, que illitemcy apareceu co-
mo o oposto positivo de um nome preexistente,
de sentido negativo: "falta de capacidade de ler
e escrever". Podemos interpretar esses fatos le-
xicais numa perspectiva de lngua e classes so-
37
L
i V
ci ai s: do ponto de vi sta dos que escrevi am e fi xa-
vam a lngua escri ta, o marcado era o no escre-
ver (que em termos soci olgi cos era a caracters-
ti ca rnai s comum) e como tal mereci a um ti po de
codi fi cao explci ta no lxi co da lngua, i sto ,
uma palavra especi al para tal caractersti ca.
Dei xando de lado as questes termi nolgi cas,
podemos constatar que at poucas dcadas atrs
no teri a si do possvel escrever sobre a escri ta
como uma rea de reflexo e de pesqui sa. Hoje,
porm, di spomos at mesmo de uma extensa bi -
bli ograf i a sobre os estudos relati vos escri ta,
suas i mpli caes, consequnci as culturai s, so-
ci ai s e cogni ti vas (G raf f , 1981),
No entanto, se procurarmos nessa bi bli ogra-
fi a os nomes de G odf rey R. Dri ver, Paulo Frei re
ou Jaques Derri da, para menci onar somente trs
nomes de autores que produzi ram obras i mpor-
tantes em di ferentes reas da reflexo sobre a es-
cri ta, no os encontraremos. Isso no deve neces-
sari amente soar como uma crti ca bi bli ografi a
de G raf f , mas como um i ndci o de que a vasta rea
de i nvesti gao sobre os problemas da escri ta es-
t ai nda longe de uma padroni zao. Os proble-
mas termi nolgi cos j menci onados podem ser
relevantes: na mai ori a das lnguas europei as, nas
quai s mui tas contri bui es i mportantes foram
produzi das, no encontramos, como j di sse, pa-
lavras que correspondem em nvel de abstrao
ao i ngls literacy. Seri a este, assi m, um proble-
ma para preparar uma bi bli ografi a com base em
"palavras-chaves".
38
A um nvel de expli cao mai s convi ncente,
a meu ver, podemos constatar que mui tas con-
tri bui es, hoje consi deradas i mportantes para
a rea de estudo da escri ta, foram produzi das no
contexto i ntelectual de reas to di ferentes co-
mo a fi lologi a clssi ca, a antropologi a, as comu-
ni caes, a psi cologi a, a educao, a soci ologi a.
Podemos di zer que o campo de estudos da escri -
ta, como foi consti tudo nas lti mas dcadas,
um cruzamento esti mulante das pri nci pai s reas
de categori zao das ati vi dades i ntelectuai s tra-
di ci onai s no pensamento oci dental, tai s como a
hi sti i a, a li ngusti ca, a soci ologi a, a educao,
a antropologi a e a psi cologi a. Por essa razo, al-
canar uma boa compreenso da sri e de f atos
e de i dei as que so relevantes para o campo de
estudos da escri ta uma f aanha complexa.
O estudo da escri ta e de suas i mpli caes e
consequnci as urna rea de pesqui sa to com-
plexa que, ai nda que concordemos sobre a cen-
trali dade de um ncleo de problemas, di fci l es-
tabelecer ordens de pri ori dade ou de relevnci a
para outras reas de pesqui sa com relao a es-
se ncleo. Cada ti po de ordem de pri ori dade ou
de relevnci a de objetos e a i ncluso ou a exclu-
so de algumas reas de pesqui sa representa urna
vi so do prpri o campo de estudo da escri ta.
bvi o que autores di ferentes trabalham sobre de-
fi ni es di ferentes do que "escri ta". Uma defi -
ni o do ti po "sri e de operaes e produtos ma-
teri ai s que tm relao com a pi ~oduo e o uso
dos si stemas grfi cos" (Cardona, 1981: 32) pode-
ri a ser consi derada adequada, mas ai nda exi ge
a defi ni o do que consi deraramos um "si stema
39
grfico". Gelb (1952) definiu escrita como "um sis-
tema de intercomunicao humana atravs de
marcas convencionais visveis" (1952:12). Esta de-
finio bastante ampla para ser aplicada tam-
bm a "sistema grfico". Poderamos, porm,
pensar definies mais especficas, que evitem in-
cluir atividades tais como a produo e uso de
pictografias ou semelhantes". Neste caso, devera-
mos acrescentar algo como "altamente conven-
cionalizados" definio de Cardona.
Hoje, uma pergunta central sobre o estudo
da escrita : por que e como, em anos relativa-
mente recentes,-um campo como este constituiu-
se como o centro especfico de interesses? Unia
resposta a esta pergunta implicar uma interpre-
tao do crescimento e coeso do campo de pes-
quisa. No que segue, pretendo esboar minha
perspectiva sobre: 1) o conjunto de ideias e con-
tribuies que parecem ter desempenhado um pa-
pel relevante no estabelecimento da rea de pes-
quisa da escrita, e que lhe fornecem um contex-
to amplo para as contribuies mais recentes; 2)
algumas contribuies produzidas nos ltimos
vinte anos que podem ser consideradas centrais
no campo de pesquisa.
1. A constituio do campo de pesquisa da escrita
Parece bvio que a definio de novos cam-
pos de reflexo e de pesquisa, assim como os ru-
mos de campos "tradicionais", so em geral con-
sequncias de presses histricas de natureza
scio-cultural sobre pensadores e pesquisadores.
40
A resposta nossa pergunta de por que e co-
mo foi estabelecido um campo de pesquisa da es-
crita seria de um tipo, se a nossa perspectiva fosse
mais tcnica. Seria de outro tipo, se a nossa pers-
pectiva fosse mais humanstica e mais orienta-
da pela histria da cultura. No primeiro caso,
uma resposta possvel seria que a escrita veio a
ser o objeto de pesquisa nas ltimas dcadas de-
vido a duas razes bsicas: o aumento dos pro-
gramas de alfabetizao e de educao no mun-
do todo (como consequncia de presses de no-
vas condies econmicas e polticas) por um la-
do, e, por outro, a padronizao escrita de mui-
tas lnguas at ento sem tal tradio. Estas si-
tuaes novas criaram problemas prticos e con-
cretos que no se colocavam da mesma forma, em
larga escala, at a Segunda Guerra Mu n d i al . Es-
ta perspectiva foi adotada por um autor que re-
centemente produziu um livro sinttico sobre a
escrita (Oxenham, 1981).
Uma perspectiva mais crtica, porm, com-
pararia a difuso a nvel mundial da escrita e da
educao bsica, durante as ltimas duas dca-
das, a uma "liquidao" de tecnologia obsoleta
a pases do assim chamado "Terceiro Mundo",
numa poca em que tecnologias muito mais po-
derosas e eficientes esto ao alcance dos pases
tecnologicamente avanados. Esta posio pode
nos conduzir a uma segunda resposta possvel
nossa pergunta: a escrita, e a reflexo do impac-
to da escrita sobre as sociedades humanas, veio
a ser um objeto de interesse quando ela, assim
como praticada em moldes e formas tradicionais,
parece ter j alcanado o seu apogeu e estar pres-
r
tes a se tornar uma ati vi dade obsoleta. Enquan-
to os centros importantes de decises manipulam
bilhes de dados e de informaes atravs de to-
da uma srie de novas tecnologias, a escrita tra-
dicional vai perdendo lentamente a sua posio,
antes exclusiva e, neste processo, torna-se aos
poucos tambm um objeto de reflexo. Talvez es-
ta reflexo sobre a escrita tradicional preencha
tambm uma funo de colocar as novas tecno-
logias de processamento de dados numa perspec-
tiva histria e ideolgica.
A resposta segunda pergunta (como o cam-
po de estudos da escrita se desenvolveu?) no po-
de deixar de ser relacionada resposta primei-
ra. O campo de estudos desenvolveu-se a part i r
de uma viso evolucionista e mtica da escrita.
Evolucionista porque opera a part i r do pressu-
posto da existncia de uma srie linear de est-
gios na hi stri a da escrita, que, iniciando com
smbolos "pictpgrficos" e "ideogrficos", alcan-
a o nvel mais alto de abstrao com a escrita
alfabtica; mtica porque assume que a escri-
ta, e em especial a escrita alfabtica, que repre-
senta um avano substancia] numa perspectiva
cultural e cognitiva. Em geral trabalhamos pres-
supondo que alguns produtos da atividade huma-
na podem ser claramente reconhecidos como uma
forma de escrita, enquanto muitos outros produ:
tos (a maioria, na realidade) claramente no so
classificveis dentro da categoria conceituai de
"escrita". Nesta perspectiva, haveria um ponto
na histria em que comea alguma ati vi dade que
pode ser identificada como "escrita" e a part i r
deste ponto a mai ori a dos outros smbolos que
42
existiam anteriormente tenderiam a desaparecer.
O fato que formas "intermedir-ias" de comu-
nicao grfica ("intermedirias" segundo uma
perspectiva centrada na escrita alfabtica) esto
presentes em sociedades com ou sem tradio es-
crita. Como escreve Cardona:
Ser difcil para ns, do interior do nosso mundo gr-
fico, reconstruir de forma adequada os universais do
pensamento que se expressaram de outras formas; se-
r di fci l fugir da tentao de dar a eles um julgamen-
to de valor a partir do al t o da ponte em que nos situa-
mos. Foi por no ter conseguido sair desta perspecti-
va que Garcilaso de Ia Vega recriminou secamente os
Inas, aos quai s hoje aprendemos a associar uma das
formas de comunicao grfi ca mais exuberantes e
multi medi ai s, por no terem nunca chegado a 'cono-
cer Ias letras1. (1982: 6)
Entretanto, se claro que em mui tas cultu-
ras e tradies no encontramos forma nenhuma
de comunicao grfica, em outras culturas en-
contramos formas de comunicao grfica e at
mesmo nas poucas culturas em que ficou estabe-
lecida uma tradio escrita encontramos, como
j dissemos, fornias paralelas de comunicao
grfica que desempenham Funes importantes,
sobretudo nas sociedades com limitado nmero
de pessoas que conhecem a escrita.
O que ns consideramos "escrita" coexistiu
durante milnios com outras formas de coniuni-,
cao, visual que no consideramos "escrita". Tais
so, por exemplo, os smbolos de Famlias na Eu-
ropa da Idade Mdia (com complexas conexes
com a origem da assinatura, Guigne, 1863), a tra-
43
iirr
dio de marcas de f abricant es no vasilhame e
os monogramas na cermica e na porcelana (Chaf-
fers, 1946), as marcas de pastores (Silvestrini,
1982), as marcas de casas em comunidades dos
Alpes ( Zug Tucci, 1982) e muit os outros sistemas
de smbolos deste tipo. Hoje encont ramos cente-
nas de "ideogramas" ou "logotipos" no ambien-
te urbano. Ter um bom logotipo pode ser um pas-
so importante numa at ividade comercial, como
demonstra a expanso dessa atividade grfica. Es-
tes poucos exemplos t irados de diferentes tradi-
es culturais deveriam sugerir modelos de coe-
xistncia de diferentes sist emas grficos.
1 . 1 . As crenas sobre a escrita
As crenas implcitas ou explcit as sobre os
efeitos da alfabet izao no desenvolviment o eco-
nmico, social e at mesmo cognitivo esto em
relao com uma perspectiva que recusa qual-
quer espao pai~a formas intermedirias de co-
municao grfica.
Existe hoje um verdadeiro "mito" da alfabe-
tizao, compartilhado pela mai ori a (ou a totali-
dade) dos governos, tanto de pases em desenvol-
viment o como de pases industrializados, e pela
prpria UNESCO. Trata-se de uma perspectiva
de extrema valorizao dos aspectos positivos da
alfabetizao, vista como o passo central num
processo de "modernizao" dos cidados. A al-
fabet izao seria o passo decisivo para que gran-
des massas mergulhadas nas culturas orais aban-
donassem valores e formas de comportamento
44
"pr-industrial", se tornassem mais disponveis
para processos de industrializao e cooperassem
de forma at iva no processo de expanso do po-
der do Estado. A aceitao bsica.do valor indis-
cutivelmente positivo da escrita foi intocvel du-
rant e dcadas. Um mtodo de alfabetizao co-
mo o de Paulo Freire que inclui a participa-
o ativa e o envolvimento dos membros de pe-
quenas comunidades no processo de discusso e
de elaborao dos mat eriais bsicos para a alf a-
betizao no inclua em nenhum estgio um
debate aberto com os alf abet izandos sobre a na-
tureza e as implicaes da escrita e da leitura.
A capacidade de ler e de escrever considerada
int rinsecament e boa e apresentando vantagens
bvias sobre a pobreza da oralidade. Como tal,
a escrita uni bem certamente desejvel.
Quando refletimos sobre a alfabetizao de-
vemos pensar que os alfabetizandos, sejam eles
crianas ou adultos, so necessariamente mem-
bros de grupos tnicos e de classes sociais,-assim
como os prprios alfabetizadores. Eles compar-
tilham at it udes, crenas, hipteses sobre a escri-
ta, sua natureza, suas funes e os valores que
a ela esto associados, da mesma forma que ns
(os alfabet izadores reais ou em termos scio-
histricos) compartilhamos atitudes, crenas, bi-
ppteses sobre a escrita. S se partimos de uma
perspectiva deste tipo podemos perceber que es-
tamos envolvidos num processo de interpretao
recproca: assim como em outras atividades, tam-
bm na atividade especfica do processo de alfa-
betizao, interpretaes recprocas defrontam-
se: .ns os interpretamos e ao seu mundo,'proje-
45
T
r
tamos sobre eles a nossa perspectiva profunda-
mente letrada e grafociitrica do nosso mundo
scio-cultural. Eles nos interpretam como porta-
dores de valores diferentes ou, no mnimo, de
uma tcnica e de um saber que eles por uma ra-
zo ou outra no controlam. Temos assim que
pensar num processo dinmico de interpretao
recproca e de negociao das representaes que
acontece naquele tipo especfico de interao so-
cial que a situao de alfabetizao. Se em lu-
gar de pensar em termos do processo dinmico
ou interpretao recproca, como uni conjunto de
hipteses que um constri sobre o outro, opera-
mos com grandes abstraes histrica e ideolo-
gicamente constitudas, tais como "lngua" e "es-
crita", ficamos simplesmente internos ao nosso
universo de referncia conceituai e no nos rela-
tivizamos, mas nos assumimos como medida, ou
ponto de chegada do processo de alfabetizao.
Este processo seria ento uma espcie de rito de
passagem que reduziria a diferena entre os "ou-
tros", sejam eles crianas ou adultos, e ns, cons-
t rui ndo um indi.vduo nossa imagem e seme-
lhana. Num trabalho muito importante, que
uma contribuio til para esta linha de interpre-
tao, E. Ferreiro e A. Teberosky (1.979) mostram
como as crianas constrem hipteses diferentes
sobre o sistema de escrita, antes de chegar a com-
preender as hipteses bsicas do sistema alfab-
tico, que os adultos alfabetizadores assumem im-
plicitamente.
Tentarei dizer, aqui, algo para estimular a re-
flexo sobre a natureza deste processo interpre-
tativo recproco. Temos que refletir tanto sobre
4
as atitudes, as expectativas e as crenas que ou-
tros grupos tnicos, outras classes sociais ou ou-
tros grupos de idade podem ter sobre a escrita,
como sobre as atitudes e as crenas sobre a es-
crita compartilhadas dentro da prpria tradio
escrita, elaborada por minorias letradas ligadas
ao poder poltico e econmico. Deixaremos de la-
do o problema da construo da imagem do pr-
prio alfabeto, em contraposio imagem de ou-
tros tipos de escrita, problema este que delinea-
mos em outra parte deste nosso trabalho, e so-
mente falaremos um pouco das crenas implci-
tas ou explcitas sobre a escrita.
Nos ltimos anos muitas contribuies de an-
troplogos, psiclogos e linguistas discutiram os
efeitos da alf abetizao no desenvolvimento eco-
nmico, social e at mesmo cognitivo.
1.1.1. As dvidas sobre a escrita
difcil achar qualquer avaliao explcita
dos aspectos positivos das culturas orais, s ve-
zes definidas de forma negativa como culturas
"sern tradio escrita". Talvez a primeira refle-
xo crtica relativa escrita na tradio ociden-
tal seja a que encontramos no Pedro de Plato,
onde Scrates pe Fedro em guarda sobre os pe-
rigos que o logos escrito comportaria. Scrates
fala do deus egpcio Theuth, descobridor da arit-
mtica, da geometria, da astronomia, do jogo dos
dados e das letras. Ele foi anunciar suas inven-
es ao rei Thamous em Thebas:
47
Chegou, por fim, a vez de [alar dos caracteres da es-
crita: Eis, Rei, disse Theuth, um conhecimento que
ter por efeito tornar os egpcios mais instrudos e mais
aptos a memorizar: a memria e a sabedoria encontra-
ram o seu remdio. Replicou o Rei: Incomparvel e su-
premo artista, Theuth, aquele que capaz de inven-
tar uma arte, no sabe, porm, ver qual o malefcio ou
a utilidade que tal inveno pode fazer aos homens que
dela se vierem a aproveitar. Neste momento, eis que,
na qualidade de progenitor das letras, a elas atribus
o contrrio do seu verdadeiro efeito. Porque este co-
nhecimento ter por resultado, naqueles que o adqui-
rirem, tornar-lhes as almas esquecidas, pois deixaro
de exercer a memria: pondo a confiana no escrito,
graas s duradouras letras, ser do exterior e no do
interior e graas a si prprios que se lembraro das
coisas. No foi, pois, para a memria, mas para a re-
memorao que tu encontraste um remdio. Quanto
ao ensino da sabedoria no a verdade, mas a aparn-
cia dela que lhe ds. Assim que, com a tua ajuda, esti-
verem cheios de conhecimentos sem terem recebido o
ensino, podem parecer aptos a julgarem sobre mil coi-
sas, mas quase sempre nada conhecem; sero insupor-
tveis porque, em vez de serem sbios, parec-lo-o. (...).
Pedro:
Tens razo de me dares reguadas, mas j aceito que
inteiramente verdade o que disse sobre a palavra es-
crita o homem de Thebas.
Scrates:
Concluindo: aquele que imagina ter deixado nos ca-
racteres escritos aos vindouros um conhecimento tc-
nico e aquele que por sua vez o recebe na convico
de que esses caracteres promovem a certeza e a soli-
dez, um e outro manifestam assim uma grande inge-
nuidade e mostram-se incapazes de compreender a pre-
dio.de Arnmon. Pois no imaginam que um manus-
crito muito mais do que aquilo que realmente e: um
meio, para aquele que sabe, de recordar as matrias
sobre que versa o escrito?
Fedro:
Nada mais certo.
Scrates:
O que h de assustador, penso eu, na palavra escri-
ta que se parea tanto com a pintura. Na verdade,
os seres que esta d luz tm o aspecto de seres vivos;
todavia, se lhes fizermos qualquer pergunta, cheios de
dignidade no respondero! O mesmo acontece com os
escritos: julga-se que o pensamento anima o que eles
dizem; interrogue-se, porm, um deles com a finalida-
de de nos elucidarmos sobre o que afirma, sempre res-
pondero uma s coisa, a mesma sempre! Alm disso,
uma vez definitivamente composto, segue um livro.a
sua. viagem sem saber se cair nas mos dos sbios ou
dos ignorantes e, j na partida, no sabe a quem se des-
tina. Se algum discordar do que diz, refutando-o in-
justamente, para se defender, precisa sempre da aju-
da do pai que o gerou: por si s mudo, fraco e indefe-
so. (Plato, Fedro, 247c-275e.)
Como recentemente Ricoeur notou:
Este ataque platnico contra a escrita no um exem-
plo isolado na histria da nossa cultura. Rousseau e
Bergson, por exemplo, estabelecem uma relao, por
razes diferentes, entre os males principais que asso-
lam a civilizao e a escrita... Com a escrita comeou
a separao, a tirania, e a desigualdade... A fragmen-
tao da comunidade de falantes, a diviso da terra,
a analiticidade do pensamento, c o reino do dogmatis-
mo foram todos originados com a escrita. (Ricoeur,
1976: 39)
Derrida (1967) discutiu em profundidade as
posies de Rousseau e de outros autores, como
Lvi-Strauss, que se preocuparam com a escrita.
O que nos importa aqui deixar claro que a tra-
dio de discusso ou de questionamento teri-
49
co da escrita uma tradio minoritria na cul-
tura europeia.
Outro seria o discurso necessrio para uma
histria da perspectiva expl icitamente poltica so-
bre a escrita. Podemos lembrar, por exemplo, que
... os reformadores de impostao leiga tiveram uma ati-
tude dupla com relao educao popular. Ainda que
desconfiando (...) de grande parte cia cultura oral tradi-
cional, eles temiam por outro lado que a educao pu-
desse causar nos pobres uma sensao de insatisfao
com as prprias condies de vida e estimular os cam-
poneses a abandonarem as Terras, Alguns deles, como
Voltaire, tinham a opinio de que maioria das crian-
as no se deveria ensinar a ler e escrever; outros, co-
mo Jovenalles, achavam que os camponeses deveriam
aprender somente a ler, escrever e contar. (Burke, 1980:
244-245}
Certamente falta-nos uma viso de conjunto
sobre a posio e o prestgio da escrita em outras
reas culturais do mundo, onde, apesar de existir
uma longa tradio escrita, tal como a cultura da
ndia, atribui-se grande valor memorizao.
Como escreveu o autor ceilons Cooma-
raswamy:
Do ponto de vista hindu podemos dizer que uma pessoa
conhece somente o que ela memoriza; se ela capaz de
lembrar alguma coisa somente atravs do uso de um li-
vro, ela somente tem um conhecimento superficial da-
quele tpico. Ainda hoje, a cada dia, centenas de milha-
res de hindus repetem de cor todo ou boa parte do Bha-
gavad Git; outros hindus, mais cultos, so capazes de
repetir centenas de milhares de versos de textos mais
longos. Eu mesmo cheguei a conhecer pela primeira vez
os versos de um clssico como o poeta persa Jal ad-Din
50
Rumi escutando-os de um cantor no Ksmir. Desde
tempos muito antigos os hindus pensam que um ho-
mem culto no um que l muito, mas um que rece-
beu um ensino profundo. (1947: 27; citado porBright,
1982:16)
Sabemos que Garidhi, nos primeiros dias de
sua atuao poltica, manifestou restries srias
no que diz respeito generalizao da alfabeti-
zao na ndia. Considerava ele que a alfabetiza-
o generalizada era uni instrumento perigoso,
que ia expor milhes de indianos a formas de pen-
samento ocidental. Mais tarde, porm, Gandhi
modificou suas ideias e no teve mais restries
alfabetizao.
Contribuies recentes de Ben-Amos (1978),
Cevrier (1980), Clanchy (1979) so revises crti-
cas das contraposies entre oralidade e escrita,
e so menos preconceituosas que a maioria das
outras contribuies que consideram a comuni-
cao escrita como uni passo frente em qual-
quer sociedade. O aumento de interesse por al-
gumas riqussimas tradies orais levou recen-
temente a contribuies importantes, como uma
bibliografia detalhada da "literatura" oral da
frica (Grg, 1981).
A reflexo sobre as atitudes relativas escri-
ta me parece particularmente relevante no so-
mente para desvendar a interpretao recproca
presente na situao de alfabetizao, mas tam-
bm.para chegar a alguma proposta prtica, pa-
ra os processos de alfabetizao em geral, na ten-
tativa de superar algumas das dificuldades que
os alfabetizadores encontram. bastante bvio,
51
ou deveria ser, pelo menos, que nas culturas so-
mente ou principalmente orais, onde a comunica-
o verbal acontece sempre em presena dos que
es to comunicando, isto , face a face, a escrita seja
percebida, pelo que diz respeito ao valor de infor-
mao que ela carrega nas suas atuaes comuni-
cativas, como algo incompleto, parcial, pouco con-
fivel, falsificvel. A comunicao face a face ao
mesmo tempo verbal, gestual, s acontece na pre-
sena da pessoa. , por assim dizer, viva e tridi-
mensional. Nela no existem palavras na sua ver-
so abstraa: o abstraio rabisco bidimensional cus-
ta a ser levado a srio, a ser considerado to leg-
timo (ou mais, como para ns) quanto a comuni-
cao face a face. Certamente a introduo de ti-
pos de comunicao como a telefnica ou a radio-
fnica representa um passo na direo de uma
maior abstrao da mensagem lingustica de ou-
tros canais paralelos, presentes na i.nterao fa-
ce a face. De qualquer forma, ain da para quem es-
teja acostumado com este tipo de comunicao,
as vantagens da escrita em muitas situaes no
so nem um pouco bvias. Em geral, nas culturas
orais a escrita no vm a substi tuir a memria, no
mximo ela usada como uni complemento, um
suporte visual de informaes essencialmente me-
morizadas.
Deveramos talvez repercorrer, ainda que ra-
pidamente, o caminho tradicional da antropolo-
gia, o de ir longe, observando a alteridade cultu-
ral, a diferena, para poder achar a chave para a
reflexo sobre o que est perto, o que nos parece
bvio e. o que nos parece naturalmente conheci-
52
do, isto , para produzir uma maiutica das nos-
sas prprias hipteses implcitas sobre a escrita.
Muitas vezes descobrimos em culturas que
no dispem de uma tradio escrita, ou em clas-
ses subalternas das nossas sociedades, uma po-
laridade de atitudes: ou a rejeio total, ou a acei-
tao total e acrtica do que est escrito e, ainda
mais, impresso, acompanhada, esta ltima atitu-
de, por declaraes tautolgicas, do tipo "tudo
que est escrito importante, porque foi escri-
to" (Beduschi, 1982: 92). Por outro lado, a "rejei-
o do que est em relao com a escrita, do li-
vro, desconfiana corn relao a tudo que no
pode ser controlado, que provm de fora". (So-
brero, 1979:24)
Um caso recente de consciente rejeio mi-
litante da escrita o do lder ndio norte-ameri-
cano Russel Means:
O nico incio cabvel numa declarao deste gnero
que eu detesto escrever. O prprio processo resume
o conceito europeu do pensamento legtimo: o que
escrito tem' uma importncia que negada ao falado.
A minha cultura, a cultura lakota, tem tradio oral
e, portanto, eu usualmente rejeito escrever. Um dos
meios de que se vale o mundo dos brancos para des-
truir as culturas de povos no europeus impor uma
abstrao relao falada de um povo.
Por isso, o que voc l aqui no o que escrevi. o
que eu disse e outra pessoa escreveu. Permito que as-
sim seja feito porque me parece que a nica via de co-
municao com o mundo dos brancos so as folhas
mortas e secas dos livros. (Means, 1981: 49)
Em um recente artigo, Bright (1982) lembra
algumas atitudes de rejeio da palavra escrita
53
r
encontradas no mundo moderno. Um caso que ele
cita o do movimento messinico dos Shakers,
entre os ndios do Noroeste dos Estados Unidos.
Naquele movimento era rejeitado qualquer livro
ou papel escrito que mediasse a comunicao en-
tre o indivduo e Deus (Barnett, 1957).
Especialmente com relao ao livro impres-
so existe uma distncia incalculvel entre o pro-
dutor do texto, o escritor e o leitor. H uma qua-
se que impossibilidade para quem apenas alf a-
betizado em se imaginar como escritor diante da
pgina impressa (Beduschi, 1982: 92). A mediao
tecnolgica entre o eventual manuscrito e o livro
impresso incontrolvel. Num depoimento, pro-
duzido vrias dcadas atrs, Tuivii, um homem
samoano que viajou pela Europa, descreveu o
mundo dos Papalagui (homens brancos) nos ter-
mos seguintes, no que diz respeito aos livros e
educao formal:
particularmente ruim, nef asto que todos os pensa-
mentos, bons e maus, sejam logo inscritos em umas es-
teiras f inas, brancas. Ento, diz o Papalagui que "es-
to impressos", quer dizer, o que aqueles doentes pen-
sam escrito por uma mquina, muitssimo estranha,
esquisita, que tem mil mos e que encerra a vontade
poderosa de muitos grandes chefes. E no uma vez
s, nem duas, mas mui t as vezes inf indveis, que ela es-
creve os mesmos pensamentos. Depois, comprimem-
se muitas esteiras de pensamentos em pacotinhos, cha-
mados "livros", que so enviados para todas as partes
do pas. Todos que absorvem estes pensamentos, num
instante contaminam-se. Eles engolem estas esteiras
como se fossem bananas doces. Levam estes livros pa-
ra casa, amontoam-nos, enchem com eles bas intei-
ros, e todos, moos e velhos, roem-nos F eito ratos que
54
roem a cana-de-acar. por isso que existem to pou-
cos Papalaguis capazes ainda de pensar com sensatez,
de ter ideias naturais, como so as de qualquer samoa-
no ajuizado.
Da mesma f orma metem-se na cabea das crianas tan-
tos pensamentos quanto se pode, obrigando-as, todos
os dias, a roer certa quantidade de esteiras com pen-
samentos. S as mais sadias repelem esses pensamen-
tos ou deixam que lhes passem pelo esprito como se
este fosse uma rede. A mai or parte, no entanto,
sobrecarrega-se com tantos pensamentos que j espa-
o no resta para que a luz penetre. o que se chama
f ormar o esprito. O que sobra de tamanha conf uso
o que chamam instruo. A instruo se espalha por
toda a parte.
Instruo quer dizer: encher a cabea de saber at as
bordas. Quem tem instruo sabe a altura da palmei-
ra, o peso do coqueiro, o nome de todos os seus gran-
des chef es, e quando que guerrearam. Sabe de que
tamanho a lua, as estrelas, e todos os pases do mun-
do. Conhece todos os rios pelo nome, todos os animais,
todas as plantas. Sabe tudo, tudo mesmo. Se fizeres
qualquer pergunta a um homem que tenha instruo,
ele te dispara a resposta antes de fechares a boca. A
cabea dele est sempre carregada cie munio, sem-
pre pronta para disparar. No h europeu que no d
os mais belos momentos da sua vida ao trabalho de,
transf ormar a cabea no tubo de fogo mais rpido pos-
svel. Mesmo quem tenta escapar obrigado a se ins-
truir porque todo Papalagui tem que saber e tem que
pensar. (Tuivii, 1983: 91-92)
Estas palavras de Tuivii claramente expres-
sam a sensao de que a leitura seria percebida
como urna renncia de si prprio para aderir ao
texto. Esta renncia seria necessria para a con-
quista de uma suposta condio mais alta den-
tro da sociedade de classes.
55
r
Neste contexto poderamos lembrar talvez o
caso de F. H. Cushing, o etnlogo que passou niui-
tos anos entre os Zuni e foi considerado uni dos
poucos casos de uni branco que chegou a
entrosar-se profundamente no grupo com que vi-
veu, at o ponto de ser feito Sacerdote, dentro das
complexas hierarquias religiosas dos Zuni. Anos
atrs, o ndio Zuni Andrew Peynetsa perguntou
ao antroplogo D. Tedlock o que ele sabia de
Cushing. Tedlock respondeu que Cushing havia
escrito a respeito da sua iniciao como Sacer-
dote do Arco. Andrew Peynetsa lembrou ento a
breve histria que transcrevi no comeo deste tra-
balho (Tedlock, 1979: 392). Que a histria seja ou
no relativa a Cushing pouco importa, o que im-
porta aqui o fato da contraposio entre os sa-
cerdotes nativos e o sacerdote branco ser simbo-
lizada atravs da leitura e, como Tedlock obser-
va, tambm atravs da metfora das linhas pre-
tas sobre o corpo do sacerdote branco que, devi-
do ao contraste cromtico, parecia de alguma for-
ma estar ele mesmo escrito.
Muitos viajantes, missionrios e at mesmo
antroplogos que viveram em contato com cul-
turas orais relataram situaes de contato de "na-
tivos" analfabetos com a escrita. Infelizmente, s
encontramos relatos em que transparece a admi-
rao e a maravilha dos "nativos", nunca sua des-
confiana e sua critica. Por outro lado, previs-
vel que os que operam como agentes ideolgicos
e econmicos do Ocidente no meio de outras cul-
turas tm a tendncia a acreditar que os nativos
nutrem uma incondicional admirao pelo nos-
so mundo. Eni muitos relatos nada mais achamos
56
que a mistificadora mesquinhez de Anhangeras
letrados vangloriando suas artes de deixar os "na-
tivos" admirados com as capacidades dos homens
ocidentais.
Um depoimento deste tipo, nem mais nem
menos tolo que muitos outros, de um missio-
nrio Wesleyano nas Ilhas Fiji:
Uma manh havia ido ao trabalho sem minha esqua-
dra de marceneiro; assim, com um pedao de carvo,
escrevi num pedao de madeira um pedido para mi-
nha -mulher, para que ela me mandasse o instrumen-
to. /O pedao de madeira foi entregue a um chefe do
lugar para que o entregasse./ O chefe ficou perplexo
c perguntou: Que que devo fazer?-... "Voc no deve di-
zer nada", respondi, "o pedao de madeira vai dizer
tudo que eu quero." Com um olhar estarrecido e preo-
. cupado, ele segurou o pedao de madeira e disse: "Co-
mo que isso pode falar? Por acaso tem uma boca?"
/Depois que o homem cumpriu o pedido/ durante v-
rios dias o vimos frequentemente cercado por um gru-
po que o escutava com interesse intenso enquanto ele
narrava as maravilhas que aquele pedao de madeira
havia cumprido. (Clammer, 1976: 67; citado por Scrib-
ner e Cole, 1981: 3)
Talvez o primeiro autor a escrever pginas
de importantes reflexes sobre a escrita nas so-
ciedades, a partir de experincias com socieda-
des orais, tenha sido Lvi-Strauss..Com base em
uma sua experincia especfica entre os Nharn-
bikuara do Brasil Central, o antroplogo francs
elaborou uma reflexo de ordem histrico-
cultural, numa linha de crtica atitude corren-
te e corriqueira de glorificao e louvor da escrita
e de suas consequncias:
57
r
Depois que eliminamos todos os outros critrios que fo-
ram propostos para estabelecer uma distino entre bar-
bri e e civilizao, tentador preservar pelo menos es-
te: existem povos com e povos sem escrita, os primeiros
so capazes de armazenar suas conquistas intelectuais...
enquanto os outros... parecem condenados a ficar pre-
sos numa histria flutuante.
Ao contrrio, desde a inveno da escrita at o surgimen-
to da cincia moderna, o mundo viveu durante alguns
milhares de anos durante os quai s o conhecimento flu-
tuou rnai s que cresceu... De qualquer forma este o pa-
dro tpi co de desenvolvimento que observamos desde
o Egito at a China, ao tempo em que a escrita apareceu
pela primeira vez: parece ter favorecido a explorao dos
seres humanos, mais que sua iluminao.
Minha hiptese, se correta, nos obrigaria a reconhecer
o fato de que a funo pri mri a da comunicao escrita
a de favorecer a escravido... Ainda que a escrita no
haja sido suficiente para consolidar o conhecimento, ela
foi talvez indispensvel para fortalecer a dominao...
A luta contra o analfabetismo est ento em relao com
um crescimento da autoridade dos governos sobre os ci-
dados. Todos tm que ser capazes de ler, de fornia que
o governo possa dizer: a ignorncia da lei no descul-
pa. (Lvi-Strauss, 1974 [1955]: 336-8)
Desenvolvendo a mesma temtica, M. Rahne-
ma escreve, do interior das estruturas das Naes
Unidas: "a luta contra o analfabetismo est no pon-
to de se transformar numa luta contra os analfa-
betos". E, analisando o contedo das grandes cam-
panhas de alfabetizao que foram lanadas em
todas partes do mundo nos ltimos^sessenta anos,
a parti r da primeira campanha, a da Unio Sovi-
tica, escreve:
Estas campanhas, que muitas vezes foram concebidas
pelos privilegiados da escrita, foram quase sempre ca-
58
racterizadas por um estado de espri to de cruzada de
que somente hoje medimos toda a gravidade. Seus ins-
piradores as conceberam como cruzadas de carter
quase que maiiiquesta e redentor. No quadro daque-
las campanhas encontramos referncias'constantes
vergonha que consti tui o analfabeti smo.
Por toda parte se tinha a impresso de que se tratava
de uma nova mi sso ci vi li zadora, desta vez empreen-
dida por bons "colonos" de tipo novo: uma operao
de cari dade que devia quase que impor a dignidade s
categorias i nferi ores da populao que vi vi am mergu-
lhadas na vergonha da oralidade. (Rahnema, 1982: 5)
Esta pressa em alfabeti zar, se por um lado
responde a exigncias muito justas e profunda-
mente ticas, por outro lado implica uma viso
dos alfabetizandos quase como seres amorfos aos
quais, como j disse, sumariamente atribumos
o desejo de serem alfabeti zados. Talvez seja jus -
to em termos gerais operar com esta hiptese,
mas certamente necessrio refeti r um pouco
sobre ela. Esta hiptese nada mais que uma in-
terpretao que ns construmos sobre os outros
e consequncia dela uma vi so da alfabeti zao
bastante tcnica: a alfabetizao cada vez mais
vi sta e discutida como um processo tcnico no
qual o fator tempo importante para a avaliao
dos mtodos. Ao contrrio, deveramos lembrar
que as aspiraes dos alfabeti zandos variam no
somente de acordo com diferenas de idade, de
classe social, de grupo tni co, mas tambm de
acordo com as relaes de classe prprias de ca-
da momento histrico. Certamente h momentos
histricos que parecem favorecer o sucesso de
grandes campanhas de alfabetizao. Parece-me
59
que.podemos buscar estes momentos em situa-
es revolucionrias nas quais existe em grandes
massas uni tipo de esperana no futuro, na pos-
sibilidade de mudar as relaes de classe e com
elas tambm os contedos da cultura dominan-
te, esperana esta que certamente falta na maio-
ria das situaes cie alfabetizao. Parece, ento,
que existem raros momentos histricos em que
as atitudes com relao escrita mudam e favo-
recem o processo de alfabetizao.
Motivaes fortes para um uso ativo da es-
crita foram estimuladas algumas vezes em situa-
es histricas de opresso, nas quais se produ-
ziu a separao .forada da famlia e da comuni-
dade. Estas situaes foram, na histria de v-
rios pases europeus, a migrao e a Primeira
Guerra Mundial. Isto , em termos mais gerais,
a escrita comeou a ser usada de forma ativa em
. situaes de necessidade, nas quais j era dispo-
nvel um tipo de infra-estrutura dos Estados mo-
dernos, o sistema de correios. No so muitos os
casos conhecidos de usos ativos da escrita quan-
titativamente significativos em grupos sociais di-
ferentes das elites cultas.
No trabalho de alfabetizao rotineiro temos
que encontrar estratgias que contribuam para '
novas atitudes com relao escrita, que sugi-
ram hipteses interessantes sobre o uso e as fun-
es da escrita e que, longe de apressar o proces-
so de alfabetizao, tratem de preparar o contex-
to psicolgico e scio-cultural mais adequado pa-
ra que ele se realize.
W. Bright, no trabalho que j citei, escreve:
60
Ns, os alfabetizados com uma tradio escrita, no
podemos jogar fora a escrita, que veio a ser parle de
ns mesmos, mas podemos chegar a ter conscincia dos
custos da escrita, e podemos tentar conquistar algu-
mas das virtudes perdidas que a falta de escrita apre-
senta. (Bright 1982: 19)
jry Um problema que me parece central na al-
fabetizao de crianas e adultos o da ausn-
cia ou da reduo extrema dos momentos e dos
instrumentos tericos e prticos para a media-
o entre oralidade e escrita. Na medida em que
no damos espao fase de mediao entre ora-
lidade e escrita, complicamos de forma desneces-
sria o momento j intrinsecamente difcil de al-
fabetizao, visto como interpretao recproca
do alfabetizador e do alfabetizando. justamen-
te esta fase de mediao que precisa ser fortale-
cida de vrias formas: temos que tentar devolver
o gosto e a confiana na oralidade, o prestgio da
arte verbal, a discusso sobre as hipteses rela-
tivas ao que seria a escrita, a leitura oral em voz
alta de livros escritos e impressos e a discusso
dos seus contedos, comparados com contedos
de histrias da tradio oral. Todas estas, e ou-
tras, seriam as prticas necessrias para forta-
lecer ou at mesmo instituir a fase de mediao
entre oralidade e escrita. Desta forma tentaremos
evitar que acontea o que Lord, no seu belssimo
livro sobre a tradio homrica e a tradio dos
bardos cantores da "Jugoslvia, escrevia:
Quando a escrita introduzida e comea a ser usada
com a finalidade de reproduzir cantos narrativos... a
velha arte desaparece gradualmente. Os cantos desa-
61
pareceram nas cidades... porque as escolas comearam
nas cidades e a escrita enraizou-se firmemente na ma-
neira de v da dos moradores, das cidades... (Lord, 1960:
20)
Repensar nestes termos a riqueza da orali-
dade comporta repensar todo o nosso mundo gra-
focntrico e, na medida em que vai ser dado uni
novo espao criatividade da oralidade, recebe-
remos resultados na criatividade escrita, cujos
produtos podem circular e produzir mais criati-
vidade e maior confiana dos indivduos na ex-
presso dos seus prprios pensamentos.
1.2. Escritas alfabticas e no-alfabticas
Alm da dicotomia amplamente aceita entre
escrita e oralidade, unia outra dicotomia impor-
tante, que mencionei na introduo deste traba-
lho, est presente de fornia impl cita ou explci-
ta na literatura. a oposio entre escrita alfa-
btica e no alfabtica. At o comeo do sculo
XVII os europeus tiveram que lidar com sistemas
de escrita extra-europeus que eram basicamen-
te alfabticos, tais como o sistema rabe e o he-
braico. O contato de poucos missionrios, con-
quistadores e homens cultos das cortes da Euro-
pa com os sistemas hieroglficos ou pictogrficos
dos Astecas e dos Mayas no abalou de forma sig-
nificativa as certezas que equiparavam escrita
com alfabeto. Porm, desde os primeiros anos do
sculo XVII as notcias sobre o sistema de escri-
ta do poderoso e "civilizado" imprio da China
abalaram as certezas dos europeus.
62
No final daquele sculo, um filsofo como
Leibnitz considerava a escrita chinesa um siste-
ma completamente racional. Na segunda meta-
de do sculo XVIII, porm, parece que se esta-
beleceu de vez uma perspectiva evolucionista so-
bre a escrita. Naquela perspectiva o sistema de
escrita alfabtica era considerado o melhor pos-
svel. O dilogo que segue, entre Samuel Johnson
e James Boswell, tirado da Life of Samuel John-
son de Boswell (1791), significativo para ilus-
trar o debate e as confuses dos intelectuais in-
gleses da poca:
[Johnson chamou os ndios orientais de brbaros.]
Boswell: O Senhor far exceo dos chineses.
Johnson: No Senhor.
Boswell: O que o Senhor diz dos caracteres escritos da
l ngua deles?
Johnson: Senhor: eles no possuem alfabeto. Eles no
foram capazes de formar o que outras naes
formaram.
Boswell: H mais sabedoria na l ngua deles que em
qualquer outra, uma vez que eles dispem de um n-
mero imenso de caracteres.
Johnson: somente mais dif cil devido a sua rudirnen-
taridade: assim como mais trabalhoso cortar uma r-
vore com uma pedra que com um machado, (citado por
Havelock, 1982: 2)
Um outro autor ingls contemporneo escre-
veu:
Chins: Esta l ngua no tem alfabeto, sendo composta
de um nmero grande de sons muito limitados, e se-
ria impossvel compreend-la em qualquer outro ca-
ractere. No tem seno 328 sons e monosslabos, apli-
63
caveis a 80.000 caracteres dos quais esta lngua est
composta. (Fry, 1799: 45)
No sculo XIX a confrontao direta entre
Europa e China, e a fcil supremacia europeia,
"convenceram muitos autores que uma causa prin-
cipal da "inferioridade" chinesa poderia ser pro-
curada no sistema de escrita. Alm disso, no co-
meo do sculo XIX uni novo elemento importan-
te contribuiu para a conscincia dos europeus so-
bre a relevncia dos sistemas de escrita numa
perspectiva histrica: a decifrao dos hiergli-
fos egpcios por Champollion. A conquista do Egi-
to por Alexandre podia ento ser comparada ao
controle econmico e poltico sobre o imenso im-
prio chins pelos europeus: urna potncia nova,
com um sistema de escrita alfabtico, era capaz
de dominar um imprio antigo que no possua
escrita al fabtica. Nesta perspectiva, o alfabeto
foi gl orificado e isto viria a ser uma metfora da
prpria glorificao da civilizao ocidental. Um
filsofo ingls escrevia:
Entre as diversas causas que promoveram a civiliza-
o do homem, no h nenhuma, poderamos quase di-
zer, que teve tanto futuro quanto a inveno do alfa-
beto. (...) O tpico da escrita egpcia merece uma inves-
tigao to detal hada, que devemos nos dar por satis-
feitos afirmando o que nos parece ser uma concluso
segura: a de que a l ngua originariamente hierogl fica
se consumiria natural mente at que os caracteres per-
dessem quase toda caracterstica da sua formao ori-
ginal, e se tornassem um dia a mera representao dos
poderes fonticos, primeiramente talvez como slabas
e depois como simples letras. (Key, 1S44: 13)
Talvez no tenha sido por acaso que o egip-
tologista ingls, Sir Flinders Petrie, foi o primei-
ro autor que escreveu coisas teoricamente mais
elaboradas sobre as mudanas de pensamento-
que aconteceriam durante os "estgios" que vo
desde os ptctograrnas at o alfabeto:
Atualmente entre os fellahin analfabetos... as mulhe-
res talham uma marca sobre suas jarras de gua para
distinguir suas respectivas propriedades. Como ns re-
paramos, estas marcas ainda que sem sentido para
ns sem dvida tm algum sentido na mente dos
usurios.
...O estgio sucessivo seria o de usar as marcas para
denotar a palavra, sem considerar o seu significado co-
mo signo de propriedade...
Depois veio um outro grande avano do pensamento,
quando os signos comearam a ser associados aos sons,
e no ao sentido da forma original, e quando foi poss-
vel us-los para uma palavra, para uma parte de uma
palavra, como um rebus. (1912: 4)
Voltando agora viso da China e de sua es-
crita na Europa, podemos constatar que o ponto
final do processo de progressiva reduo da ci-
vilizao na perspectiva europeia foi alcanado
nos primeiros anos do presente sculo, quando
autores como Durkheim, Mauss (1903) e Lvi-
Bruhl (1910) no hesitaram em incluir os chine-
ses entre os exemplos de povos "primitivos" ou
"pr-lgicos". At mesmo muitos intelectuais chi-
' neses chegaram a se convencer de que a escrita
.alfabtica apresentava muitas vantagens sobre o
sistema de escrita tradicional. A partir do come-
o deste sculo, os reformadores chineses chega-
ram a pensar que a substituio dos caracteres
65
i I I
tradi ci onai s pela escri ta alfabti ca seri a um fa-
tor poderoso de moderni zao. Os defensores do
si stema de escri ta tradi ci onal eram em geral con-
servadores.
As i mpli caes sci o-hi stri cas da escri ta chi -
nesa foram objeto de reflexo de Gramsc (no ca-
derno 5, de 1930-32) no quadro do problema da
relao dos i ntelectuai s com a nao:
A posi o dos grupos i ntelectuai s na Chi na determi -
nada pelas formas polti cas que a organi zao mate-
ri al da cultura assumi u hi stori camente. O pri mei ro ele-
mento desta espci e o si stema de escri ta, a i deogr-
fi ca. (...) o i deograma no est organi camente li gado a
urna lngua determi nada, mas serve a toda aquela s-
ri e de lnguas que so faladas pelos chi neses cultos,
i sto , o i deograma tem um valor "esperanti sta": um
si stema de escri ta "uni versal" (dent ro de um determi -
nado mundo cultural). (...) Nestas condi es no pode
exi sti r na Chi na uma cultura popular de grande di fu-
so. (...) Ser necessri o, em um determi nado ponto,
. i ntroduzi r o alfabeto si lbi co. (...) A i ntroduo do al-
fabeto si lbi co ter consequnci as de grande alcance
na estrutura cul t ural chi nesa: desapareci da a escri ta
"uni versal", vo aparecer as lnguas populares e de-
poi s novos grupos de i ntelectuai s com base nesta no-
va reali dade. (...)
Para alguns aspectos, a si tuao chi nesa pode ser com-
parada com a queda da Europa oci dental e central na
I dade Mdi a, com o "cosmopoli ti smo catli co", i sto ,
quando o mdi o l at i m era a lngua das classes domi -
nantes e de seus i ntelectuai s; na Chi na a funo do
"mdi o-lati m" preenchi da pelo "si stema de escri ta"
prpri o das classes domi nantes e dos seus i ntelectuai s.
(Gramsci , 1975, I )
Esta foi na reali dade a li nha central da di s-
cusso sobre o si stema de escri ta que teve lugar
66
na prpri a Chi na. Depoi s de uma hi stri a de ci n-
quenta anos de debates, afi nal a Repbli ca Popu-
lar adotou em 1958 ura si stema de transcri o ba-
seado no alfabeto lati no (Serruys, 1962).
Apesar da i mportnci a atri buda escri ta al-
fabti ca numa perspecti va sci o-hi stri ca, a es-
cri ta em geral e a escri ta alfabti ca em parti cu-
lar vei o a ser teori camente margi nal pri mei ro na
fi losofi a oci dental e depoi s no prpri o estudo da
li nguagem. Podemos lembrar aqui Foucault co-
mo autor representati vo desta posi o de quase
i rrelevnci a atri buda escri ta:
Uma hi ptese que di fi ci lmente podemos di spensar: a
escri ta alfabti ca , em si mesma, uma forma de du-
pli cao, uma vez que ela representa no o si gni fi ca-
do mas os elementos fonti cos atravs dos quai s se si g-
ni fi ca; o i deograma, por outro lado, representa di reta-
mente o si gni fi cado, i ndependentemente de um si se-
ma fonti co que outro, modo de representao. A es-
cri ta, na cultura oci dental, sugere automati camente
que ns nos colocamos no espao vi rtual de auto-
representao e da redupli cao. (Foucault, 1980: 55-56)
1,3. A escrita e o estudo da linguagem
A escri ta e a lngua escri ta foram objetos ou
completamente i nternos ou completamente exter-
nos para os li ngui stas. Desde o comeo da refle-
xo grega sobre a li nguagem encontramos que o
grmma (o si gno grfi co, escri to) est no foco cen-
tral da ateno, de tal forma que o pri mei ro tra-
balho de que ternos notci as como formulao
li ngusti co-gramati cal da tradi o fi losfi ca so-
67
l '
' - ' I)
bre a linguagem uma "arte da palavra escrita"
ou "de escrever" (Techn Grammatik). A lingua-
gem histrica desenvolveu-se a partir da crtica
do texto, que chegou a ser uma disciplina na po-
ca em que a oposio entre "velhos" manuscri-
tos e "novos" livros impressos tornou-se unia rea-
lidade (Chaytor, 1945). O f ato de a crtica textual
e a reconstruo filosfica terem se tornado uma
prtica intelectual foi em parte consequncia da
difuso do processo tecnolgico da imprensa,
atravs do qual os livros manuscritos tornaram-
se obsoletos e, por esta razo, objetos dignos de
estudo e de pesquisa (Reynalds e Wilson, 1968;
Lowry, 1979). A lingustica histrica que se de-
senvolveu a partir da crtica dos textos continua-
va tendo os documentos escritos como seu ma-
terial prprio de pesquisa. Conseqiientemente, a
escrita lhe era interna, como uni pr-requisito pa-
ra sua prpria existncia e, enquanto tal, no po-
dia vir a ser um objeto de investigao. Apenas
a natureza grfica das escritas foi estudada em
reas de pesquisa tais como a epigrafia e a pa-
leografia, mas estas reas de investigao eram
e ainda so percebidas como instrumentais para
reas de investigao1.mais substanciais como a
arqueologia e a histria.
Quando comeou a aparecer a dialetologia,
como produto tardio e indireto do movimento ro-
mntico europeu, as lnguas faladas ("dialetos")
tornaram-se os objetos preferidos de investiga-
o. A escrita e os produtos da tradio escrita
seriam considerados externos ao objeto central.
Para Saussure, a palavra f alada tem priori-
dade sobre a palavra escrita, que somente a
"imagem" da primeira. Chegaramos at a suge-
rir'que nest,a atitude de Saussure podemos pro-
curar uma das razes prof undas do seu "siln-
cio" enquanto escritor, nos ltimos anos de sua
vida (Agamben, 1977).
Num fragmento de um rascunho de carta de
Saussure, lemos: "estou na obrigao de confes-
sar que tenho uni horror doentio da caneta e que
esta redao representa para m i m um suplcio
inimaginvel..." (citado por Starobinski, 1971).
possvel, portanto, que o bloqueio psicolgico de
Saussure com relao escrita no fosse inde-
pendente da sua posio terica sobre ela.
Para Sapir, as formas escritas so smbolos
secundrios dos smbolos falados, "smbolos dos
smbolos" (1921). Esta posio de Sapir pode ser
interpretada dentro do quadro de referncia te-
rica que estava subjacente sua obra terica. Sa-
pir demonstrava simpatia para com posies de
carter idealista. Anos antes, ele havia publica-
do um importante trabalho sobre Herder (1907)
e no livro de 1921. um dos pouqussimos autores
citados o filsofo idealista B. Croce. Na pers-
pectiva de Sapir, a escrita certamente secund-
ria, mas a possibilidade de fiel reproduo das
formas faladas d escrita de tipo alfabtico uma
dimenso privilegiada sobre qualquer outro tipo
de escrita.
Entre os autores que contriburam para o es-
tabelecimento do campo de estudo da escrita qua-
se no encontramos nenhum linguista.
O artigo de Bloomfield sobre "fala de alfa-
betizado e fala de analfabeto" (1927/1964) trata
muito mais do problema dos padres lingusti-
cos num grupo sem tradio escrita (o Menonri-
ni) que dos problemas das diferenas entre ln-
gua raiada e escrita onde uma tradio escrita fi-
cou estabelecida. Para Bloomfield, porm, a re-
levncia da anlise do que era considerado Me-
nomini "bom" ou "ruim" estava em demonstrar
como funcionavam as atitudes lingusticas em re-
lao ao ingls "correto" nos Estados Unidos. Em
outras palavras, "o mrito (da lngua correta)
secundrio, adquirido no contexto social, no pri-
mrio, isto , intrnseco na forma lingustica"
(Hymes, 1964: 388).
2. Algumas contribuies recentes para o campo
de estudo da escrita
Quando observamos o crescimento do cam-
po de pesquisa da escrita, nos damos conta de que
temos contribuies importantes de historiado-
res, classificadores, socilogos e antroplogos so-
ciais. Nomes como os de Lord, Havelock, Innis,
Ong e Goody, Leroi-Gourhan so hoje bsicos pa-
ra o campo como um todo. Tambm alguns psi-
clogos cognitivistas deram importantes contri-
buies. Deveramos mencionar pelo menos
Vygotsky, Luria e Bruner, entre aqueles que con-
triburam com pesquisas ou com reflexes rele-
vantes para os problemas das mudanas cogniti-
vas que a escrita comportaria para as crianas
e para as sociedades. Dentro desta tradio sur-
giu uma das contribuies mais importantes pa-
ra o campo de estudo da escrita, a pesquisa de
S. Scribner e M. Cole (1981).
A ausncia de pesquisas lingusticas e psico-
lingusticas na fase em que o campo de estudo da
escrita se definiu e, por outro lado, a presena
de longos debates sobre o pensamento "primiti-
vo" e "civilizado" foram dois fatores que levaram
formulao de hipteses muito fortes. Estas
grandes hipteses contriburam para a aceitao
de uma perspectiva quase que mtica sobre a es-
crita. Quando, em anos recentes, aquelas hipte-
ses foram testadas, resultou que as evidncias
empricas no davam suporte a nenhum tipo de
grande polarizao ou de dicotomia. Muitos au-
tores escreveram sobre a escrita em tons mticos
com base em informaes falhas ou de segunda
mo. Por esta .razo, grandes especulaes hist-
ricas e hipteses cognitivas cresceram rapida-
mente. Demoraram para aparecer pesquisas cui-
dadosas em que aquelas especulaes e hipte-
ses fossem consideradas somente hipteses a se-
rem testadas e no quase-certezas construdas so-
bre as especulaes.
Um resultado da tendncia para especular,
em lugar de conduzir observaes lingusticas e
etnogrficas diretas de situaes existentes, ou
de pesquisar na medida do possvel casos anti-
gos de escrita, foi um conjunto de hipteses so-
bre "consequncias" lingusticas, cognitivas e so-
ciolgicas que a escrita comportaria, como se es-
se conjunto de "consequncias" fosse desencadea-
do quase que automtica e simultaneamente pe-
la introduo da escrita numa sociedade.
A partir do final dos anos 50 foram produzi-
das algumas obras importantes sobre a escrita.
Estas eram: Ramus, M.ethod and the Decay ofDia-
71
logue de Ong (1958); The Singer of Tales de Lord
(1960), obra que representou um ponto de chega-
da de uma longa temporada de pesquisa come-
ada por M. Parry; Preface to Plato de Havelock
(1963), obra relacionada com o ambiente intelec-
tual de Parry e Lord e o artigo de Goody e Watt,
"The Consequences of Literacy" (.1963). Alm do
aparecimento destas contribuies novas, foi tra-
duzido para o ingls nos mesmos anos o livro Lin-
guagem e pensamento de Vygotsky, publicado em
russo em 1934. Algumas pginas daquele livro es-
to dedicadas ao desenvolvimento da lngua es-
crita na criana. Na Frana, as primeiras contri-
buies mais importantes apareceram poucos
anos depois. Devemos lembrar aqui a obra de Le-
roi-Gourhan, L geste et Ia parole (1965), a de Da-
vid. L dbat siir ls critures et l'hiroglyphe ame
XVJ1 et XVIU sicles (1965) e a importante con-
tribuio de Derrida, De Ia gramrnatologie (1967).
Os autores provinham de reas diferentes e
produziram um conjunto de obras que se torna-
ram referncia obrigatria nos anos a seguir, le-
vando ao estabelecimento do que se considera-
ria hoje o campo de estudo da escrita.
2.1. Algumas posies tericas
Levarei em conta aqui uma'dentre estas
obras, que foi particularmente influente: o ensaio
de Goody e Watt (1963). Um ponto crucial e criti-
cvel nas posies desses e de outros autores da
poca foi o fato de que pensaram somente as
72
consequncias da escrita nas sociedades como to-
talidades e no como grupos sociais privilegia-
dos que controlavam o poder de uso da escrita.
Ilustrarei esta posio atravs de duas afirmaes
de Goody e Watt, uma sobre as consequncias cul-
turais da escrita e outra sobre as consequncias
lingusticas:
As sociedades com escrita, simplesmente porque no
dispem de sistema de eliminao, nem de uma amn-
sia estrutural, evitam que o indivduo participe plena-
mente do total da tradio cultural, ao passo que isso .
possvel nas sociedades grafas. (Goody e Watt, 193,
1968: 32)
impossvel fazer generalizaes como "so-
ciedades com escrita": tradicionalmente, existiam
e existem somente grupos sociais com escrita, e
s em casos muito recentes e especficos pode-
mos falar de "sociedades" com escrita. O nico
caso de uma sociedade pr-industrial que pare-
ce caracterizada por uma difuso generalizada de
um sistema de escrita o dos Hanuno das Fili-
pinas, tal como foi descrito por Conklin (1949) e
lembrado recentemente por Frake (1983):
Durante centenas de anos nas montanhas de Mindoro
quase todos os Hanuno, homens e mulheres, sem uti-
lizar nenhuma escola, aprenderam um slaba rio de ori-
gem indiana bastante difcil. Porm, esta alfabetizao
historicamente antiga c muito difundida no usada
para manter documentos, para rituais, ou para a pes-
quisa, mas, ao contrrio, quase que exclusivamente, pa-
ra o romance. (Frake, 1983)
A ideia segundo a qual as sociedades com tra-
dio escrita no dispem de um "sistema de eli-
73
v
minao, nem de uma amnsia estrutural" urna
interpretao muito simplista da acumulao dos
materiais escritos naquelas sociedades. Existe
uma forma de "amnsia" que em geral contro-
lada por alguns grupos sociais. Podemos pensar
em alguns exemplos relev antes na histria da
transmisso da informao escrita: quanto foi
preserv ado at ns da produo escrita no mun-
do clssico disponv el, digamos, no ano 500 d.C.
(considerando tanto documentos de natureza bu-
rocrtico-administrativ a como documentos lite-
rrios)? Quanto do que foi "perdido" foi conse-
quncia de uma atitude consciente de no copiar
e no preserv ar os documentos e os liv ros? Quan-
tos arquiv os e colees de liv ros foram destru-
dos por razes ideolgicas? Por outro lado, co-
mo dev eramos interpretar a existncia de inscri-
es em pedras e monumentos em muitas socie-
dades com tradio escrita? A difuso das inscri-
es em pedra em sociedades que dispunham am-
plamente de outros meios muito mais prticos e
manusev eis para registrar informaes escritas
seria, a meu v er, uma ev idncia suplementar do
fato de que as sociedades com escrita dispem
de sistemticos e eficientes dispositiv os de "am-
nsia". O uso de meios como a pedra ou os me-
tais para registrar informaes pode ter sido (e
ainda ser, em muitos casos) uma tentativ a para
fugi r daqueles processos de amnsia. Segundo
Goody e Watt, parece tambm que as sociedades
com tradio escrita no dispem de um sistema
de eliminao ao nv el lingustico, de forma que
as lnguas faladas naquelas sociedades apresen-
tariam um lxico enorme, resultado de acurau-
74
lao de sculos de tradio. Por outro lado, com
relao s lnguas das sociedades grafas, eles es-
crev em:
Malinowski informou que nas ilhas Trobriand os ele-
mentos do mundo natural eram nomeados somente na
medida em que apresentav am alguma utilidade, utili-
dade no sentido mais amplo (Malinowski, 1936 [1923]);
e existem ev idncias bastantes para apoiar a v iso se-
gundo a qual h uma estrita adaptao funcional da
lngua nas sociedades sem escrita, o que v ale no so-
mente para os smbolos relativ amente simples e con-
cretos que mencionamos mas tambm para as catego-
rias de compreenso mais gerais e para a tradio cul-
tural como um todo. (Goody e Watt, 1963, 1968: 28)
Estas observ aes sobre a linguagem so v -
lidas no somente para as sociedades orais mas
- tambm para muitos daletos chamados no-
padres em sociedades em que uma tradio es-
crita e uma lngua escrita ficaram estabelecidas.
Nov amente, o problema principal est em pen-
sar emt termos de sociedades como um todo e de
lnguas como um todo: tentar fazer grandes ge-
neralizaes em lugar de olhar para realidades
especficas.
Goody e Watt lev antaram a hiptese de que
os gregos, em consequncia do uso de urna escrita
completamente alfabtica, cumpriram um passo
decisiv o na direo de um desenv olv imento cog-
nitiv o. Quando trabalhamos sobre a comparao
simplificada de sociedades contemporneas sem
escrita com "sociedades" que usam um sistema
de escrita, tratadas como uma totalidade, somos
lev ados necessariamente a construir uma hip-
75
tese histrica sobre os primeiros tempos da es-
crita no mundo mediterrneo. Mas ser uma hi-
ptese simplificada que deixar de incluir arti-
culaes importantes de difer/enas dentro das so-
ciedades.
Alguns estudiosos de literatura clssica, co-
mo M. Parry e, depois dele, A. Lord, comearam
a pesquisar sobre temas especficos relacionados
a problemas tradicionais da Biologia clssica.
Desde a segunda metade do sculo XVIII, um pro-
blema central, tanto terico como ideolgico, foi
o da "arte potica" de Homero, enquanto poeta
"analfabeto". Parry, no seu trabalho sobre os poe-
mas homricos, sugeriu que os poetas orais dis-
punham de um repertrio de sequncias de pa-
lavras metricamente organizadas. Mtodos de
composio oral podiam dar conta da estrutura
formal do verso homrico. Esta hiptese (numa
verso mais detalhada) foi testada por Parry e por
Lord entre os poetas narrativos, analfabetos, da
lugoslvia meridional. Lord descobriu (1960) que
b que era considerado pelos poetas-cantores iu-
goslavos o mesmo poema cantado, no era nun-
ca repetido exataniente da mesma forma. Os poe-
tas, porm, afirmavam nas entrevistas com O au-
tor~que eles eram capazes de repetir exataniente
o mesmo poema pico cantado. A comparao das
gravaes de execues diferentes do "rnesrnojf
poema demonstrou que a ideia que os poetas ma-
nifestavam sobre a prpria capacidade de memo-
rizao no encontrava suporte na real execuo
dos poemas. Este tipo de evidncia era importan-
te para demonstrar de forma ntida a diferena
entre a variabilidade inerente nos "textos" orais
7 6
tradicionais e a unicidade e fixidez dos textos es-
critos. Lord no levou muito longe, numa dire-
o mais geral, a sua interpretao daquela ca-
racterstica que ele apurou empiricamente, mas
no seu livro encontramos uma tendncia, bastan-
te nica na poca, de "defesa" das "virtudes" da
oral idade:
Quando a escrita introduzida e comea a ser usada
com a finalidade de reproduzir cantos narrativos
orais... a velha arte desaparece gradualmente. Os can-
tos desapareceram nas cidades... porque as escolas co-
mearam nas cidades e a escrita cnraizou-sc firmemen-
te na maneira de vida dos moradores das cidades... Pa-
ra apreciar e para compreender o processo de compo-
sio que chamamos oral, temos que eliminar primei-
ro o nosso preconceito contra os cantores "analfabe-
tos". (Lord, 1960: 20)
A contribuio de Havelock (1.963), em rela-
o s pesquisas de Perry e de Lord, foi uma re-
flexo e uma re-lnterpretao da cultura grega
antiga. Havelock estabeleceu uma ligao entre
as origens da filosofia grega e a introduo da es-
crita. O pensamento analtico de Plato veio a ser
possvel somente no "novo" contexto criado pe-
los efeitos da escrita. A escrita possibilitou a in-
trospeco e urna reflexo sobre o "mundo obje-
tivo" corn relao ao sujeito pensante. Havelock
interpretou a o.bra de Plato como urna rejeio
da cultura oral. Os poetas, culturalmente asso-
ciados com o mundo das tradies orais, foram
excludos da Repblica platnica. Enquanto
Parry, Lord e Havelock trabalhavam sobre pro-
blemas de interpretao histrica da passagem
77
r
da cultura totalmente oral para o aparecimento
da escrita, Ong, nos mesmos anos, estava traba-
lhando sobre um outro momento histrico da
maior importncia: a introduo na Europa da
imprensa de um uso "restrito" da escrita para um
uso muito mais generalizado. Ong (1958) apontou
para o fato de que os quadros nos quais as infor-
maes esto organizadas em ordem horizontal
e vertical manifestam ura tipo de organizao do
pensamento que consequncia no s da escri-
ta, mas da imprensa (1958: 307-8). Ong analisou
o trabalho de Pierre de Ia Rame (Petrus Ramus)
e a sua "epistemologia corpuscular", numa cor-
respondncia entre conceitos, palavras e referen-
tes (1958: 203-4), que comeou a existir depois da
introduo da imprensa e dos usos grficos que
foram feitos dela. Recentemente, Eisenstein
(1979) forneceu abundantes evidncias sobre os
efeitos importantssimos que a imprensa teve na
sociedade europeia do sculo XVI. O prprio Ong
discutiu aquele tema geral em outros trabalhos
(1982).
2.2. Contribuies de psiclogos e antroplogos
Uma outra srie.de contribuies importan-
tes para o campo de estudo da escrita apareceu
na dcada de 70. Havelock (1976) definiu mais al-
guns conceitos apresentados no seu trabalho an-
terior, quando ele estabeleceu uma relao entre
a origem do pensamento grego e o fato especfi-
co de que comearam a ser usados smbolos pa-
ra as vogais. Segundo Havelock, aquela adapta-
78
-co dos sistemas de escrita semticos preexisten-
tes representa um nvel de codificao mais abs-
trata da fonologia da lngua. As escritas semti-
cas comportavam um conhecimento externo ao
texto, uma vez que o leitor'devia "interpretar"
a escrita para poder "ler". Com a introduo dos
smbolos para as vogais, o texto, na interpreta-
o de Havelock, veio a ser mais autnomo. Nes-
te sentido, o alfabeto grego era mais "democr-
tico" e menos "elitista" que as escritas do Medi-
terrneo oriental. Devemos salientar aqui que Di-
ringer (1948) havia apresentado uma viso mui-
to semelhante sobre a "inovao" da introduo
dos smbolos alfabticos para as vogais.
Na mesma poca Olson (l 977) num artigo que
teve muita repercusso definiu a comunicao co-
mo sendo necessariamente ligada ao contexto nas
culturas orais. Porm, quando a escrita comea
a ser difundida numa sociedade, o significado fi-
ca mais concentrado nos textos escritos, que, as-
sim, ficariam "livres" do contexto. A viso que
Olson apresenta criticvel porque uma esque-
matizao extrema da histria social da escrita
na medida em que ele formula sua hiptese co-
mo se a partir da "inveno" (sic) do alfabeto, a
maioria das populaes de diferentes sociedades
tivessem sido automaticamente alfabetizadas. Ao
contrrio, a escrita foi controlada essencialmente
por grupos reduzidos e as "culturas orais" exis-
tiram lado a lado com as tradies escritas dos
g.rupos de elite. Olson no levou em considera-
o importantes aspectos da lngua escrita tra-
dicional, tais como os usos jurdicos, as frmu-
79
Ias religiosas ou as expresses formais burocr-
ticas, quando escreveu:
Informaes significativas cm lnguas sem tradio es-
crita, para serem memorizadas, devem ser moldadas
dentro de unia forma oral potica. Consequentemen-
te, [...] estas informaes no dzem diretamente o que
elas pretendem dizer. Com a inveno da escrita, as li-
mitaes da memria oral vieram a ser menos crticas.
(Olson, 1977: 264)
Uma simplificao com que Olson opera
aquela segundo a qual os gregos "inventaram'' o
alfabeto:
O estgio final na inveno do alfabeto, o passo dado
pelos gregos, foi o da inveno do alfabeto'fonmico.
(Olson, 1977: 204-265)
Segundo ele, a diminuio da ambiguidade
dos smbolos, por exemplo, a diminuio do n-
mero de homgrafos, deveria corresponder a um
aumento da liberdade de uso do cdigo escrito,
que levaria a formas altamente sofisticadas, co-
mo o uso retrico da prpria lngua falada (en-
quanto reflexo dos estilos elaborados atravs dos
usos escritos), Olson discute tambm o "aumen-
to de explicitao da linguagem" e afirma que "as
frases foram escritas para ter somente um sen-
tido". Na realidade, ele estava construindo uma
hiptese sobre um processo scio-histrico, mas
infelizmente tratou a hiptese como se fosse um
fato j conhecido e comprovado por evidncias
empricas. O ponto fi nal e supremo no processo
de descontextualizao e de uso abstraio da lin-
80
guagem foi representado pela tcnica dos ensas-
tas ingleses do sculo XVIII.
Os gregos aperfeioaram o sistema alfabtico e come-
"aram a desenvolver o estilo escrito que, incrementa-
do pela inveno da imprensa c pela forma de textos
extensos que ele permitiu, culminou na tcnica dos en-
sastas. (Olson, 1977: 270)
Urna afirmao importante que ele faz de
carter geral, e no especfico cia sua hiptese s-
cio-histrica:
Que todo o significado possa ou no ser explicitado no
texto talvez menos decisivo do que a crena em que
o significado possa ser explicitado e que conseguir is-'
s seja uma empresa cientfica de valor (...) A explici-
tao do significado cm outras palavras pode ser pen-
sada melhor como um fim a ser alcanado do que co-
mo algo j alcanado. Mas este um fim apropriado
somente para o uso particular e especial da linguagem
que chamei texto. (Olson, 1977: 275)
O artigo de Olson etnocntrico porque es-
sencialmente mal informado e simplifica desne-
cessariamente fatos histricos bem conhecidos.
O maior problema terico que encontramos na-
quele trabalho que no dada pelo autor ne-
nhuma definio de "explicitao". Parece que
Olson identifica "linguagem autnoma" com "ex-
plicitao".
Uma contribuio importante para a reflexo
sobre as consequncias da introduo da escrita
e da educao formal em sociedades camponesas
foi a publicao da pesquisa de Luria realizada
81
em 1931-32 sobre as mudanas cognitivas entre
os camponeses do Uzbekistan e da Kirghizia. O
trabalho foi publicado pela primeira vez em rus-
so em 1974 e em traduo inglesa em 1976. A pes-
quisa, tal como originalmente planejada, no ti-
nha como objeto imediato o problema das con-
sequncias cognitivas da escrita, mas a alfabeti-
zao foi uma varivel importante nas mudanas
sociais, no processo de "modernizao" que Lu-
ria observou. A pesquisa estava orientada para
demonstrar que' mudanas cognitivas significa-
tivas estavam acontecendo entre os "camponeses
antes atrasados" da sia Central Sovitica como
consequncia dos processos de coletivizao dax
economia e de difuso da educao formal.
Nas sociedades da sia Central, a tradio
escrita estava bem estabelecida, mas o acesso
escrita estava controlado de forma rgida por pe-
quenos grupos. Luria no foi claro sobre este pon-
to no seu livro,.provavelmente porque ele estava
inclinado a apresentar a mudana social como ura
todo e suas consequncias cognitivas. No des-
creveu que tipo de contatos aqueles camponeses
mantinham com a escrita. Este aspecto est um
pouco em conflito com outras caractersticas da
pesquisa, que tem uma forte nfase etnogrfica.
O mtodo de trabalho de campo de Luria era mui-
to sensvel a instncias de ordem antropolgica.
Ele tentava sempre minimizar a" artificialidade
das situaes experimentais. Os testes que apli-
cava compreendiam problemas de identificao
de figuras geomtricas, agrupamentos de objetos
atravs de algum tipo de categorizao abstraa,
silogismos, definies de objetos comuns e auto-
avaliaes. claro que os camponeses analfabe-
tos no estavam acostumados com nenhuma da-
quelas tarefas, enquanto aqueles que j haviam
passado atravs de algum tipo de educao for-
mal tinham maiores possibilidades de sucesso
nos testes.
O estudo de Luria poderia nos levar natural-
mente para a discusso da pesquisa de Scribner
e Cole (1981) sabre os efeitos cognitivos da escri-
ta entre os Vai da Libria. Porm, antes de dis-
cutir alguns aspectos daquela pesquisa, parece-
me necessrio mencionar alguns aspectos do li-
vro de Goody (1977), certamente uma das contri-
buies mais importantes sobre.o tema das con-
sequncias da escrita, numa perspectiva scio-
histrica. No prefcio de seu livro, Goody escreve:
Durante algum tempo eu quis elaborar o tema do con-
traste entre sociedades com escrita e sociedades gra-
fas para tentar levar adiante um pouco a anlise dos
efeitos da escrita sobre os modos de pensamento (ou
processos cognitivos), por um lado, e por outro lado
sobre as instituies mais importantes da sociedade.
Este livro resolve a primeira das duas tarefas. (Goody,
1977: I X ]
Qual o fundamento da separao entre "pro-
cessos cognitivos" e "instituies mais importan-
tes da sociedade"? Quem produz as "instituies
mais importantes"? Em que sentido no podemos
dizer que a prpria escrita uma "instituio" im-
portante? No sero as prprias "instituies" fa-
tores centrais para estimular algum tipo de desen-
volvimento cognitivo entre os membros dos gru-
pos sociais que controlam as "instituies mais
82
83
importantes"? O conceito que Vygotsky elaborou
de "histria das funes da mente" (J 978} prova-
velmente daria conta deste problema terico que
achamos de sada na perspectiva de Goody.
Vygotsky sugeriu que a mente humana desen-
volve-se como uma funo da histria humana no
sentido de que a organizao funcional da men-
te depende, entre outros faiores, da interao do
indivduo com o ambiente cultural que histori-
camente determinado. A separao assumida por
Goody entre "processos cognitivos" e "institui-
es mais importantes da sociedade" est em re-^
lao profunda com o fato de ele fazer refern-
cia quase que o tempo todo a "sociedades" e no
a grupos sociais que dispem da escrita. Em al-
gumas partes Goody parece chegar perto da ideia
de que grupos sociais e no "sociedades" contro-
lam a escrita:
Quando a escrita faz o seu aparecimento ela muitas
vexes a tcnica divinatria mais popul ar exatamente
porque ela possibiiila o acesso aos "segredos". Os adi-
vinhos ento so levados a elaborar ideias complexas
e pr era relao entre eles aspectos diferentes do uni-
verso. (Goody, 1977: 30}
O problema que Goody tende a parar ine-
vitavelmente no nvel individual. Existem indiv-
duos adivinhos, indivduos intelectuais... e no
grupos sociais. No captulo sobre a existncia de
intelectuais em sociedade sem escrita, Goody es-
creve:
No tempo da conquista colonial, muitas sociedades da
frica e da Eursia estavam j sob a i nfl unci a do ad-
vento da escrita que, ainda que de forma restrita, ha-
via produzido a sua prpria tradio culta. At mes-
mo em sociedades sem escrita no h evidncia de que
os indivduos sejam prisioneiros de esquemas pre-
determinados, de classificaes primitivas, das estru-
turas do mito. Delimitados, sim, prisioneiros, no. Al-
guns, pelo menos, entre eles, podiam usar e usavam
a linguagem cie unia forma produtiva, elaborando me-
tforas, inventando contos e "mitos", criando divinda-
des, procurando novas solues para problemas e de-
safios recorrentes, mudando o universo conceituai.
(Goody, 1977: 33)
O corte entre "processos cognitivos" e proces-
sos sociolgicos e culturais ("instituies principais
da sociedade") encontra-se reproduzido na contra-
posio entre sociedades e indivduos. Esta pola-
rizao de focos permite a Goody evitar os proble-
mas de desigualdade social que esto em relao
com o controle da escrita. Esta perspectiva sobre
as sociedades que no considera os grupos sociais
manifesta-se ern nveis diferentes, at mesmo nos
pontos mais especficos. Com relao s listas le-
xicais dos documentos sumrios, Goody escreve;
A difuso da... ativdade de fazer listas associada por
Lansberger (1967-71) natureza da lngua sumria; de-
vido sua est rut ura transparente e no ambgua, ela
estaria particularmente apt a para classificar o mun-
do. Ainda di r i a que foi a l i st a lexical que ajudou a fa-
zer do sumrio uma lngua no ambgua, ou, no mni-
mo, menos ambgua, e que a i nfl unci a da escrita so-
bre o uso da lngua foi mais importante que aquela da
lngua sobre o uso da escrita. (Goody, 1977: 99)
Propondo este argumento, Goody no pensa
em termos da elaborao de uma lngua escri-
85
ta artificial, controlada por algum grupo social,
mas em termos de "lngua sumrica" como uma
entidade abstraa e acima das contraposies de
grupos sociais. A viso de Goody sobre os "efei-
tos" da escrita nas capacidades cognitivas, nos
processos cognitivos ou "modos de pensamento"
muito polarizada e no deixa espao para me-
diao entre os plos estabelecidos a p rio ri. Co-
mo foi apontado por Basso (1980), Goody no de-
fine o que deveramos esperar que acontecesse
num processo de introduo da escrita; desta for-
nia, ele evita explicitar o seu pensamento num
ponto crucial. O problema bsico, a rneu ver,
que ele no opera uma distino clara entre "mo-
dos de pensamento", "processos cognitivos" e
"capacidades cognitivas"; conseqentemente, ele
nunca formula uma hiptese clara.
Scribner e Cole (1981), como j disse, pesqui-
saram as consequncias da escrita sobre as ca-
pacidades cognitivas.
Eles conseguiram encontrar uma situao
muito peculiar, a dos Vai da Libria, para con-
duzir a sua pesquisa. Naquele grupo tnico ps- ^
svel observar a escrita independentemente da es-
colarizao formal: desde o sculo passado os Vai
dispem de uma escrita silbica para sua lngua.
O livro de Scribner e Cole o relatrio final de
uma pesquisa longa e muito cuidadosa.
Depois de uma srie de testes os autores de-
claram honestamente:
Comeamos com grandes e velhas especulaes a res-
peiio do impacto da escrita sobre a histria, a filoso-
fia, e as mentes dos indivduos. Acabamos em detalhes
de experincia sobre alividades comuns, da vida de to-
dos os dias (...) Em lugar de mudanas generalizadas
nas Habilidades cognitivas, encontramos mudanas lo-
calizadas em habilidades cognitivas manifestadas em
contextos experimentais relativamente esotricos. (...)
Se estivssemos levando em considerao somente con-
sequncias gerais como merecedoras de ateno sria,
deveramos considerar as atividades ligadas escrita
entre os Vai como sendo de pequeno interesse psico-
lgico. (Scribner e Cole, 1981: 234)
Em lugar de dar aqui uma reviso do livro
inteiro, p refiro'dar uma viso mais de detalhe de
um captulo longo e muito importante sobre o
"conhecimento" metalingustico dos Vai alfabe-
tizados em relao aos analfabetos. Os autores,
depois de uma srie de testes, acharam que o "co-
nhecimento" metalingustico entre os Vai no
um "fenmeno unitrio". Em primeiro lugar de-
vemos nos perguntar sobre o tipo de "saber" ou
de prtica intelectual que os autores estavam pro-
curando. Se falamos de "conhecimento", como
Scribner e Cole fazem, supomos que existe um
objeto a ser conhecido ou, dizendo de forma me-
nos direta, supomos a existncia de um objeto his-
toricamente constitudo que vem a ser, como con-
sequncia, um objeto passvel de ser "conhecido".
Scribner e Cole comearam a pesquisa assumin-
do uma viso implcita de lngua que derivada
da nossa tradio. Eles simplesmente assumiram
que entre os Vai podiam procurar uma ideia de
lngua de alguma forma comparvel ou semelhan-
te nossa ideia de lngua. bvio, porm, que
a nossa ideia de lngua foi constituda historica-
mente como resultado de uma longa tradio es-
87
cri ta e de usos especficos da linguagem por parte
das elites polticas e culturais do mundo ociden-
tal. No nem bvio nem necessrio que povos
externos nossa tradio pensem o objeto "ln-
gua" de uma forma relativamente descontextua-
lzada ou formal. Esta observao poderia ser v-
lida, a meu ver, tambm para as classes das so-
ciedades ocidentais que no compartilham his-
toricamente da tradio ' intelectual das elites,
mas que mantm uma complexa interao com
aquela tradio. A lngua, enquanto fato social,
na sua prtica cotidiana, um trao entre uma
srie de outros que no conjunto constituem as re-
laes sociais e interpessoais. Parece-me que nes-
te caso seria mais apropriado fal ar de "conscin-
cia" em lugar de "conhecimento", uma vez que
no sabemos em que medida um possvel objeto
. "lngua" foi historicamente constitudo na cultu-
r dos Vai. Scribner e Cole, uma vez assumida
a ideia de que o objeto "lngua" existia entre os
Vai, comearam a medir qual era o "grau" de "co-
nhecimento" de tal objeto. Certamente no s o
objeto a ser medido mas os prprios instrumerK
tos para esta medio foram constitudos a prio-
r pelos autores, com base na prpria etnofiloso-
fia da linguagem.
Um dos testes que Scribner e Cole aplicaram
era relativo ao conceito de "palavra". Em uma
primeira etapa eles pediram aos informantes pa-
ra dizerem a "palavra mais comprida que eles po-
diam pensar". Os autores explicam que "pergun-
tas sobre as palavras pressupem que na lngua
Vai exista uma palavra para 'palavra'":
Ns descobrimos rapidamente que no existe nenhum
I tem lexical que possa ser identificado sem equvoco
com "palavra" do ingls. A expresso Vai mais prxi-
ma em significado Koall Kul que se traduz aproxi-
madamente como "fragmento de fala" ou "enunciado".
(...) Resultados fragmentrios com relao ao concei-
to de "palavra" dos que usam a escrita Vai'so dif-
ceis de avaliar. Eles poderiam significar que as hip-
teses de base estavam erradas, mas poderiam simples-
mente comprovar a inadequao das nossas tcnicas
de pesquisa. (Scribner e Cole, 1981: 143-145)
Scribner e Cole parece que no tiraram as de-
vidas concluses da primeira experincia, e pre-
pararam urna outra verso do teste:
Pedimos aos alfabetizados que nos mostrassem as uni-
dades que eles consideravam referentes apropriados
de Koali Kul. (...) Ns vimos logo que os segmentos
niais frequentemente produzidos como exemplo eram
mais amplos que aqueles que ns identificaramos co-
mo palavras.
Os resultados deste teste com os alfabetiza-
dos levou-os a concluir que:
Unidades bsicas para os Vai que escrevem so as sen-
tenas que carregam uma unidade de significado (que
s vezes consistem de uma palavra s) e no palavras
no sentido que ns entendemos. (Scribner e Cole, 1981:
149)
Scribner e Cole foram guiados por uma hi-
ptese como a de Goody de natureza muito ge-
ral, para elaborar os testes psicolingsticos, sem
nenhuma mediao entre a perspectiva histrico-
cultural de Goody e os testes psicolingsticos s-
bre indivduos. Falar e escrever so processos so-
ciais que comportam algum tipo de conscincia
metalingustica. Porm outros fatos sociais, tais
como a presena de eventos lingusticos forma-
lizados, de retrica, de treinamento especial em
habilidades lingusticas, tanto relativas lngua
falada como lngua escrita, a existncia de um
lxico jurdico e muitas outras caractersticas
deste tipo podem mudar a natureza da conscin-
cia metalingustica. Esta pode estar em relao
com a escrita, mas no de uma forma simples e
determinista, como uma interpretao dos escri-
tos de Goody sugeriria, e como os testes de Scrib-
ner e Cole parecem implicar. A escrita em si no
seria uma condio necessria para o crescimen-
to de uma conscincia metalingustica. So as es-
pecificidades das formas e das modalidades de
uso tanto da lngua falada como da lngua escri-
ta que so relevantes. Uma vez mais, se operamos
com grandes abstraes como "lngua", "escri-
ta", para formular hipteses, corremos o risco de
no captar nenhuma generalizao significativa.
Em um dos testes, Scribner e Cole verifica-
ram as ideias dos Vai sobre a arbitrariedade dos\s sugerindo a permutabilidade dos nomes
do sol e da lua. Devemos colocar uma pergunta
preliminar sobre a prpria hiptese que levou
Scribner e Cole a testar aquele tipo de "conheci-
mento" nietalingstico. Por que a escrita deve-
ria aumentar "a capacidade de compreender as
relaes arbitrrias entre nomes e coisas"?
Quando observamos o teste a partir da hip-
tese bsica, uma primeira pergunta relativa
seleo de "sol" e "lua" como exemplos para o
90
teste. Esta escolha consequncia de uma viso
abstraia da linguagem, uma viso em que as pa-
lavras e as sentenas so consideradas simples-
mente exemplos do objeto, a lngua. Um uso des-
te tipo das palavras ele prprio consequncia
da viso segundo a qual um nome arbitraria-
mente associado a um referente. esta a viso
que os autores queriam-testar entre os Vai. Eles
escolheram "sol" e "lua" para repetir um teste
realizado por Piaget com crianas de Genebra.
Acontece que a seleo daqueles dois "exemplos"
foi particularmente infeliz:
Respondendo possibilidade de mudar os nomes (Aa-
mah) fez uma distino entre objctos feitos pelos ho-
mens e objetos criados por Deus (naturais), mantendo
que os nomes criados por Deus no so arbitrrios por-
que Deus os criou. Ao mesmo tempo, ele entendeu o
argumento sobre a mudana dos nomes mas o rejei-
tou com base em argumentao teolgica. Poderamos
concluir com base na sua resposta questo "podemos
mudar os nomes do sol e da lua?", que ele um realis-
ta nominalista que no faz distino entre palavras e
referentes. Esta concluso parece ser falha no somen-
te com base na evidncia interna da discusso que a
pergunta comportou, mas tambm porque ele mante-
ve resolutamente que os nomes e os objetos no podiam
ser substitudos reciprocamente nas respostas aos de-
mais testes. (Scribner e Cole, .1981: 142)
. Scribner e Cole podiam obter provavelmen-
te resultados diferentes se eles tivessem usado,
digamos, ."cadeiras" e "mesa". As relaes que
os falantes de Vai mantm com as palavras e seus
referentes ilustrada pelo teste de definio das
palavras. Os resultados mais altos (para todos os
9 1
sujeitos dos testes metalingsticos) encontram-
se para definies de palavras tais como "veado",
"cadeira" e "mar". Este fato significa que para
os falantes as relaes entre palavras e referen-
tes so diferentes de caso para caso. As palavras
(ou melhor, os "lexemas") no so somente
"exemplos" da lngua. Classes diferentes de re-
ferentes mantm tipos diversos de relaes__com
sua representao lingustica. Alguns nomes re-
ceberam quase que um resultado nulo no teste
de definio. Estes nomes eram "nome" e "pala-
vra". Quase nenhum dos Vai entrevistados foi ca-
paz de dar qualquer definio "satisfatria" da-
queles conceitos. O fato que, como j vimos, os
autores tiveram dificuldade em encontrar expres-
ses "satisfatrias" que pudessem expressar um
conceito semelhante ao de "palavra" em Vai. No
final do captulo eles escrevem:
A considerao destas prticas de usar os nomes en-
tre os Vai e das crenas teolgicas sugere que as atitu-
des das pessoas com relao aos nomes precisa ser en-
carada no contexto mais amplo do sistema de crenas
culturais e das regras que permitem a entrada de no-
vas palavras no lxico, e no simplesmente como um
ndice de desenvolvimento cognitivo. (Scribner e Cole,
1981: 15 1)
Um grupo de homens que conhece tanto a es-
crita Vai como-a rabe conseguiu resultados mui-
to altos em vrios testes. Este era provavelmen-
te urn grupo de intelectuais que no eram somen-
te conhecedores de duas escritas mas que prati-
cavam de fornia ativa e consciente certas ativi-
dades intelectuais. Este grupo de 19 homens ti-
92
nh uma mdia de idade de 51 anos (a mdia mais
alta) e conhecia e usava a escrita Vai desde mui-
to mais tempo que os outros grupos testados (co-
nhecedores somente da-escrita Vai). Alm disso
tudo, a mdia de anos de estudo do Alcoro, na-
quele grupo, era de 13 anos. A anlise especfica
-dos dados deste grupo de intelectuais com rela-
o aos dados de outros grupos testados nos su-
gere que no a escrita em si que desencadeia
um processo de capacidades metalingsticas es-
peciais, mas a prtica e o uso da escrita. Este gru-
po de 19 intelectuais manifestou uma certa fami-
liaridade com problemas de ordem lingustica. O
mesmo grupo, porm, no teve um desempenho
especial no teste do silogismo. Scribner e Cole
acharam que:
...quando a todos os outros testes seguiram problemas
lgicos, o grau de respostas tericas foi significativa-
mente mais alto, parecendo confirmar a noo de que
o contexto discursivo afetava a maneira pela qual o.tes-
te lgico era compreendido. (Scribner e Cole, 1981: 156)
A resposta a um silogismo seria ento, entre
outros fatores, consequncia de um processo em
que algumas operaes mentais so ativadas. Se-
ria, assim, a consequncia de uma prtica em ter-
mos tanto longos quanto curtos. O grupo de 19
intelectuais da pesquisa metalingstica alcanou
resultados muito altos para os testes que pres-
supunham uma prtica de reflexo. Seria impor-
tante entender por que eles no alcanaram ne-
nhum resultado mais brilhante nos testes com os
silogismos.
93
No fi nal da monografia, Scribner e Cole for-
necem uma representao esquemtica dos efei -
tos que seriam associados ao conhecimento da es-
crita Vai, rabe e latina (ingls). O que nos pare-
ce interessante, neste resumo final, que, das tre-
ze categorias amplas de "efeitos" das escritas que
os autores testaram, a escrita (e a escolarizao)
associada ao conhecimento do ingls teve efeitos
sobre onze deles. Para as outras duas escritas os
efeitos seriam mui to mais restritos. A suspeita
bvia de que estamos ainda dentro do crculo
fechado: achamos o que procuramos e procura-
mos o que consideramos relevante achar.
A crtica de algum grau de circularidade na
pesquisa de Scribner e Cole nos leva outra vez
tendncia de minimizar o status da escrita no-
al fabti ca e tendncia de assumir as elites cul-
tas das sociedades ocidentais como sendo a me-
dida de todo o resto. Uma perspectiva mais aberta
nos levaria a colocar algumas questes. Em que
sentido os modos de pensamento dos membros
de uma sociedade sem tradio escrita so dife-
rentes daqueles de um indivduo que no conhe-
ce a escrita em uma sociedade em que usada
uma escrita de tipo no-alfabtico? Tais modos
de pensamento so diferentes dos de um analfa-
beto em uma sociedade em que usada uma es-
crita al fabti ca? E, se houver diferena, em que
sentido ela seria o reflexo de diferentes tipos de
complexidade social e de elaborao tecnolgi-
ca? Hoje a'i:efiexo e a pesquisa sobre cul turas
orais ou grafas, e sobre "modos de pensamen-
to" dos que no compartilham, seno de forma
reflexa e i ndi reta, das tradies intelectuais ba-
94
seadas na escrita, urna tarefa urgente, porque
sobre o terreno comum da falta de escrita que
podemos construir uma perspectiva mais aber-
ta sobre tipos diferentes de usos das escritas e
suas consequncias sociais e cognitivas.
Referncias bibliogrficas
Agamben, G. 1977 "La barri era e Ia piega", era Stanze. La
parola e . il fantasma ne lla cultura occide niale . Torino:
Einaudi.
Al l eton, V. 1970 L'Ecriture chinolse . Paris: Presses Uni ver-
sitaires de France.
BarneU, H. G. 1957 Indian Sliake rs: A Me ssianc Cidt of the
Pacific Northwe st. Carbendal e: Southern Illinois Univer-
si ty Press.
B ISSO, K. H. 180 "Review of Goody", em Langitage in So-
cie ty 9: 72-80.
Ben-Amos, D. 1978 "The Modera Local Histonan in fri ca",
em R. M. Dorson ed. Folklore In lhe Mode rn World. The
Hague: Mouton 327-43.
Beduschi, L., 1982, "AUeggi amenLi e ideologie delia tradi-
zione orale", em La rice rca folklorica, 5, pp. 87-102.
Bl oomfi el d, L. 1927 "Literate and Tl l i terate Speech", em
Ame rican Spe e ch 2; 432-439 (repri nted in Hymes, D. ed.
Language . in Culture and Socie iy. New York: Harper and
Row, 1964, pp. 391-96).
Bri ght, W. 1982 "L vi rt dell' analfabetismo", em Cardona
ed. La Scrillura: Funzioni e ide ologie . La Ricerca Folklo-
rica, 5. Brescia: Grafo.
Burke, P. 1978 Popular Culture in Early Mode rn Europe .
New York: Harper and Row.
Chaffers, W. M. 1946 Marks and Monograrns on Europe an
and Orie ntal Potte ry and Porce tain. Los Angeles: Borden
Publ i shi ng Co.
Cardona, G. R. ed. 1982 La Scritttira: funzioni e ide ologie .
La Rice rca Folklorica, 5. Brescia: Grafo.
95
Cardoird, G. R. 1981 Antropologia delia Scrlttura. Torino:
Loescher Editore.
Chaytor, H. J. 1945 From Script lo P ri n l: An Introdttction
to Medieval Literature. Cambridge: Canibridge University
Press.
Chevrier, J. 1980 "Conditions et limites de 1'oralit dans
1'criture africaine contemporaine". Komparatistiche H ef -
ie J: 61-66.
Clanchy, M. T. 1979 From Memory to Written Record: En-
gland 1066- 1307. Cambridge: Harvard University Press.
.Cohen, M. 1958 La grande, nvention de 1'criture et son evo-
hition. Paris: Imprimerie Nationale. 3 Vols.
Cook-Gumperz, J.' and John Gumperz 1982 "From Oral to
Written Culture: TheTransition to Literacy", em Mareia
Farr Whi t man ed. Vatiation in Writing. Baltimore: Law-
rence Erlbaum Associates.
Coomaraswamy, A. K. L947 "The Bugbearof Literacy", em
Am l My Brother's Keeper? New York: Day, pp. 19-35.
David, M. V. 1965 L dba snr ls critures et Vhiraglyphe
aux XVIIe- et XVIIIa slcles. Paris.
Derrida, J. 1967 De Ia grammaologe. Paris: Ls Editions
de Minuit.
D ringer, D. 1948 The Alphabe:A Key lo theH istory o f Man-
kind. New York: Philosophical Library.
_ Driver, G. R. 1948 Semitic Writing: From P ictograph to Al-
phabet. London: Oxford.
Durheim, E. e Mareei Mauss 1901-2: "De quelques formes
primitives de classification: contribution 1'tude ds re>v
prsentation collectives", emAnne Sociologque, VI: 1-72.
1963 P rimitive Classif ication. (Translated and edted by
R. Needham) Chicago: University of Chicago Press.
Eiseiislein, E. 1979 The P rinting P ress as an Agen of Chan-
ge: Communications and Cultural Transf ormalions in
Early- Modern Europe. 2 Vols. New York: Cambridge Uni-
versity Press.'
Ferreiro, E. e Teberosky, A. 1979, Los sistemas de escritura
en el desarrolo dei nino. Mxico: Siglo Veinteuno Editores.
Fl nders, PetrieW. M. 1912 The Fonnaion of tlie Alphabet.
Bntish School of Archaeology in Egypt. Studies Serive. Vol.
III. London: _ MacM llian and Bernard.
Foucault, M. 1980 Language to Injinity, em D. F. Bouchard
ed. Language, Counler- Memory, P racice. Ithaca: Nornell
University Press.
Freire, P. 1967 Educao como prtica da Uberdade. Rio de
Janeiro: Paz e Terra. 1970 Pedagogia do Oprimido. Rio de
Janeiro.
Fry, Edmund 1979 P antographia: Conaining Acciirate Co-
pies of ali the Known Alphabets in the World: together wih
an English Explanation of lhe P eculiar Force of P ower of
Each Letter. London: Coopcr and Wilson.
Gelb, I. J. 1952 A Study o f Writing. Chicago: Chicago Uni-
versity Press.
Gorg, V. 1981 Littrature orale d'Af rique Noire, Bibliogra-
pliique et Analytiqiie. Paris: Maison Neuve et Larose.
Goody, J. ed. 1968 Literacy m Tradicional Sodeies. London:
Cambridge University Press.
Goody, J. 1977 The Domesicaiion of the Savage Mind. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Goody, J. e Watt, I. P. 1968 "The Consequences of Literacy"
em Goody 1968 (Publicado originalmente em Comparai-
ve Studies in H istoiy and Sodety, 5, pp. 304-345, 1963).
Graff, H. J. 1981 Literacy in H islory. An Interdisdplinary Re-
search Bibliography. New York: Garland Publishing.
Gramsci, A. 1975 Quaderni dei crcere, Edizione critica
deU' Instituto Gramsci a cura de V. Gerratana. Torino.
Gregg, L. W. and E. R. Steinberg, eds. 1980 Cognitive P ro-
cesses in Wriing. Hillsdale: LTA
Guigne, M. C. 1863 De 1'originede Ia stgnature et de son em-
ploi au Adoyen Age principal dans ls pays de Droit ciit,
avec quarante- huit plances. Paris: Dumaulin, Libraire.
Gumperz, J., Kaltman, H. e O'Connor C. 1981 The Transi-
tion lo Literacy. Berkeley: University of Califrnia.
Gumperz, J. 1980 "The Socioltnguistic Basis of Speech Act
Theory". Versus. Quaderni di Studi Semotici 26/27, pp.
101-121.
Havelock, E. . 1963 P ref ace to P laio. Cambridge: Harvard
University Press. 1976 Origns of Western Literacy, Toron-
to: Ontario Institute for Studies in Education. 1982 The
Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequen-
ces. Princeton: Princeton University Press.
96 97
Hymes, D. 1 9 6 6 "Introducdon to Part Vil", em Language in
Culture and Society. New York: Harper and Row.
Jensen, H. 1925 Geschichte der Schrift, Hannover. 1935 Die
Sclirjt in Vergangenbeit and Gegemvarl, Gliickstadt Au-
gustin. 1970 Sign, Symbol, and Scripl: An Account o f Man's
E ffor to Wrie.
Key, T. H. Lonclon: Allan y Unwin.
1844 The Alphabet. London: Charles Knight and Co.
Leroi-Gourhan, A. 1964/5 L geste et I a parole, I: Technique
et langage; II: La mmoire et ls rythmes. Paris: Alb in
Michel.
Lvi-Bruhl, L. 1910 Ls Fonctions Mentales dans ls Sod-
ts I njrieiires. Paris: Travaux de 1'Annce Sociologique.
Lvi-Strauss, C. 1955 Tristes Tropiques. Paris: Plon. 1962:
La Pense Sauvage. Paris: Plon.
Lord, A. B. 1960 "The Singer of Tales". Harvard Studies in
Compara!ive Literature, 24. Camb ridge: Harvard Univer-
sity Press.
Lowry, M. 1979 The World of Aldus Manutius: Business and
Scholarshp in Renaissance Ventce. Khaca: Nornell Uni-
versity Press.
Luria, A. R. 1976 Cogntve Development: I ts Cultural and
Social Foundations. Cambridge: Harvard University Press.
Malinowski, B. 1923 "The Problem of Meaning in Primitive
Languages", em C. K. Ogden e I. A. Richards, The Mea-
ning of Meanng. New York: Harcourt, Brace.
Means, R. 0.1981 "Marxismo e as tradies indgenas", em\ e Sociedade, 7, julho.
Olson, D. R. 1977 "From Utterance to Text: The Bias of Lan-
guage in Speech and Writing", em Harvard E ducational
Revew, 47:3.
Ong, W. J. 1958 Ramiis, Mehod and the Decay of Dialogue.
Camb ridge: Harvard University Press. 1982 Orality and
Literacy: The Techiiologizing of the World. London:
Methuen.
Oxenham, J. i 980 Literacy, Writing, Readng and Social Or-
ganizaion. London: Patledge and Keagan Paul.
Rahnema, M. 1982 "Ps d' alphab etisation sans ls ' analpha-
betes'", I FDA Dossier, 31 (Sept./Oct.).
Reynolds, L. D. and N. G. Wilgon 1974 Scribes and Scholars.
A Cuide to the Transmission of Greek and Latin Literatu-
re. Oxford Clarendon Press (2? ed.).
Ricoeur, P. 1976 I nterpretation Theory: Discotirse and the
Surplus of Meanng. Fort Worth: The Texas Christia.ii Uni-
versity Press.
Sapir, E. 1921 Language. New York: Harcourt, Brace.
Scribner, S. e Cole M. 1981 The Psychology of Literacy: Cam-
bridge: Harvard University Press.
Serruys, P. L. M. 1962 Survey of the Cldnese Language Re-
form and theAnti-I llileracy Movement in Communist Chi-
na. Berkeley: University Califrnia.
Silvestrini, E. 1982 "Pastor! e scritura", em G. R. Cardona
ed. La scritura: funzioni e ideologie. La Ricerca Folklori-
ca 5. Brescia: Grafo.
Sobrero, A. M. 1970 "Problemi di ricostruzione delia men-
talit subalterna: letteratura e circolazione culturale al-
ia fine delPSQ O", em Problemi dei socialismo, 20, 16.
Starobinski, J. 1971 Ls mots sons ls mots. Ls anagram-
mes de Ferdinand de Saussure. Paris: Gallimard.
Tuivii 1983 O papalagui. Comentrios rscolliidos porE rich
Scheunnann. Rio de Janeiro: Marco Zero.
Tedlock, D. 1979 "The aiialogical tradition and the emergen-
ce of a dialogical anthropology", em Journal of Anthro-
pological Research. Vol. 35, e, pp. 387-400.
Vygotsky, L. S. 1962 Thought and Language,. Cambridge: MIT
Press.
Zug Tucci, H. 1982 "II marchio di casa nell' uso italiano",
em G. R. Cardona ed. La scritura: funzioni e ideologie. La
Ricerca Folklorica 5 Brescia: Grafo.
99
You might also like
- Língústica Aplicada Ao Ensino Do PortugêsDocument13 pagesLíngústica Aplicada Ao Ensino Do PortugêsJonathan TeixeiraNo ratings yet
- Gêneros Textuais, Tipificação e InteraçãoDocument3 pagesGêneros Textuais, Tipificação e InteraçãoMonahyr CamposNo ratings yet
- Ensinar A Ensinar Capitulo 1Document20 pagesEnsinar A Ensinar Capitulo 1Francisco Josélio Rafael100% (1)
- Atitudes Linguísticas e Avaliações Subjetivas de Alguns Dialetos BrasileirosFrom EverandAtitudes Linguísticas e Avaliações Subjetivas de Alguns Dialetos BrasileirosNo ratings yet
- Livro - Teoria Da Aquisicao Da Linguagem e Estudos LinguisticosDocument149 pagesLivro - Teoria Da Aquisicao Da Linguagem e Estudos LinguisticosMaria ClaraNo ratings yet
- Introdução à linguística: domínios e fronteiras - volume 1From EverandIntrodução à linguística: domínios e fronteiras - volume 1Rating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Texto 2 Alguns Elementos de Historia A Nocao de Discurso Dominique MaingueneauDocument15 pagesTexto 2 Alguns Elementos de Historia A Nocao de Discurso Dominique MaingueneauKelvin SouzaNo ratings yet
- Introdução à linguística: domínios e fronteirasFrom EverandIntrodução à linguística: domínios e fronteirasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Padrões Sociolinguísticos by William LabovDocument196 pagesPadrões Sociolinguísticos by William LabovMaria SilvaNo ratings yet
- Leitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensFrom EverandLeitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensNo ratings yet
- Linguagem Discurso e PoderDocument59 pagesLinguagem Discurso e PoderLucielmaLobato100% (1)
- Da cibercultura, literatura à leitura digital: uma proposta de ensinoFrom EverandDa cibercultura, literatura à leitura digital: uma proposta de ensinoNo ratings yet
- Educação LiteráriaDocument101 pagesEducação LiteráriaFabianaNascifNo ratings yet
- A Caligrafia de DeusDocument12 pagesA Caligrafia de DeusMikaela DuarteNo ratings yet
- Práticas colaborativas de escrita via internet: Repensando a produção textual na escolaFrom EverandPráticas colaborativas de escrita via internet: Repensando a produção textual na escolaNo ratings yet
- 2º Cap - Literatura Infantil - A Narrativa - de João Luís CeccantiniDocument20 pages2º Cap - Literatura Infantil - A Narrativa - de João Luís CeccantiniMVNBRNo ratings yet
- Literatura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)From EverandLiteratura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)No ratings yet
- A Norma Oculta - Marcos BagnoDocument17 pagesA Norma Oculta - Marcos BagnoFranklin Dias RochaNo ratings yet
- A Retextualização de Gêneros: leitura interacional do gênero contoFrom EverandA Retextualização de Gêneros: leitura interacional do gênero contoNo ratings yet
- O Que É Linguística - Eni Puccinelli OrlandiDocument42 pagesO Que É Linguística - Eni Puccinelli OrlandiFernanda LellesNo ratings yet
- STREET, B. Letramentos Sociais - ResenhaDocument10 pagesSTREET, B. Letramentos Sociais - ResenhaDenilson Lopes100% (2)
- PRETI, Dino (Org.) - Análise de Textos OraisDocument119 pagesPRETI, Dino (Org.) - Análise de Textos OraisBrena Brito100% (1)
- Gêneros Textuais EnsinoDocument11 pagesGêneros Textuais EnsinoMaria da Conceição de SouzaNo ratings yet
- Dicionário de Lingüística e FonéticaDocument276 pagesDicionário de Lingüística e FonéticaVania Laube BomfimNo ratings yet
- SantaellaDocument141 pagesSantaellathaislari613No ratings yet
- Semantica e AprendizagemDocument60 pagesSemantica e Aprendizagemsilvinholira100% (3)
- DIVERSIDADE TEXTUAL: Os Gêneros Na Sala de AulaDocument135 pagesDIVERSIDADE TEXTUAL: Os Gêneros Na Sala de AulaCeel Ufpe100% (4)
- Alfabetização e Letramento Múltiplos - ROXANE ROJODocument24 pagesAlfabetização e Letramento Múltiplos - ROXANE ROJONatália FaberNo ratings yet
- KOCH, I. A Construção Dos Sentidos No Texto - Coesão e CoerênciaDocument8 pagesKOCH, I. A Construção Dos Sentidos No Texto - Coesão e CoerênciaAdriana OliveiraNo ratings yet
- Bakhtin, Mikhail - Estética Da Criação VerbalDocument48 pagesBakhtin, Mikhail - Estética Da Criação Verbalglaufer100% (3)
- Gêneros Textuais e Ensino-AprendizagemDocument248 pagesGêneros Textuais e Ensino-AprendizagemMarcos Philipe100% (2)
- Parret (1988) Enunciação e Pragmática PDFDocument244 pagesParret (1988) Enunciação e Pragmática PDFAraújo Júnior100% (2)
- MUSSALIM BENTES 2012 Introdu A Linguistica Vol 2-1Document306 pagesMUSSALIM BENTES 2012 Introdu A Linguistica Vol 2-1Islan LisboaNo ratings yet
- O Que É LeituraDocument46 pagesO Que É LeituraMarcelo Vieira VieiraNo ratings yet
- Marcos Bagno e o Preconceito LinguisticoDocument14 pagesMarcos Bagno e o Preconceito LinguisticoFernanda Piedade de Freitas100% (1)
- Os Gêneros Do Discurso Por Bakhtin, MDocument24 pagesOs Gêneros Do Discurso Por Bakhtin, MLuis Carlos Soares100% (1)
- A História Da LeituraDocument8 pagesA História Da LeituraellereslarissaNo ratings yet
- MAINGUENEAU, Novas Tendências em Análise Do Discurso (1993) PDFDocument190 pagesMAINGUENEAU, Novas Tendências em Análise Do Discurso (1993) PDFmilton_mauadc100% (4)
- Rojo LetramentosDocument15 pagesRojo LetramentosCarolina Domingos75% (4)
- Angela B. Kleiman - A Formacao Do LeitorDocument25 pagesAngela B. Kleiman - A Formacao Do LeitorMarco Marzulo100% (1)
- E-Book Gêneros Na Linguística e Na LiteraturaDocument342 pagesE-Book Gêneros Na Linguística e Na LiteraturaNestor Pinheiro100% (1)
- Leitura e Multiplos Olhares PDFDocument6 pagesLeitura e Multiplos Olhares PDFJucely RegisNo ratings yet
- Dionísio Livro Fala e Escrita ExcellentDocument210 pagesDionísio Livro Fala e Escrita ExcellentJM100% (1)
- Fiorin - A Linguagem em UsoDocument22 pagesFiorin - A Linguagem em UsoLudmila NogueiraNo ratings yet
- ZILBERMAN, R. Discurso, Memória e OralidadeDocument10 pagesZILBERMAN, R. Discurso, Memória e OralidadeLeticia de OliveiraNo ratings yet
- Maria Helena Martins - o Que É LeituraDocument91 pagesMaria Helena Martins - o Que É LeituraDayane Pontes100% (1)
- Ana Maria Gama Florêncio - Belmira Magalhães - Helson Flávio Da Silva Sobrinho - Maria Do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante - Análise Do Discurso - Fundamentos & Prática-EDUFAL (2009)Document68 pagesAna Maria Gama Florêncio - Belmira Magalhães - Helson Flávio Da Silva Sobrinho - Maria Do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante - Análise Do Discurso - Fundamentos & Prática-EDUFAL (2009)Leidijane Rolim100% (2)
- Texto Da BellotoDocument159 pagesTexto Da BellotoBruno Martins100% (1)
- Lyons, J. Introdução À Linguística TeóricaDocument8 pagesLyons, J. Introdução À Linguística TeóricaJuliana Cipolla75% (4)
- O Que É LinguagemDocument26 pagesO Que É LinguagemMoisés silvaNo ratings yet
- Bakhtin, Michael - O Discurso No RomanceDocument147 pagesBakhtin, Michael - O Discurso No RomanceRobert Tuneca SoaresNo ratings yet
- Gênero Textual Agência e TecnologiaDocument15 pagesGênero Textual Agência e TecnologiaJeannie FontesNo ratings yet
- Estudo Da FábulaDocument20 pagesEstudo Da FábulaJosé Ricardo CarvalhoNo ratings yet
- O PONTO DE VISTA, UMA CATEGORIA TRANSVERSAL Por Alain RABATELDocument10 pagesO PONTO DE VISTA, UMA CATEGORIA TRANSVERSAL Por Alain RABATELEdgley TavaresNo ratings yet
- Cardápio Semanal - FuncionáriosDocument1 pageCardápio Semanal - FuncionáriosMário LamenhaNo ratings yet
- HARRISON - A Cultura ImportaDocument10 pagesHARRISON - A Cultura ImportaMário Lamenha50% (2)
- FOUCAULT, Michel (Et Al.) - O Homem e o Discurso (A Arqueologia de Michel Foucault)Document132 pagesFOUCAULT, Michel (Et Al.) - O Homem e o Discurso (A Arqueologia de Michel Foucault)Rodrigo Duarte100% (1)
- Rev 07Document13 pagesRev 07Mário LamenhaNo ratings yet
- Guia de Divulgação Científica - Museu Da Vida - FiocruzDocument48 pagesGuia de Divulgação Científica - Museu Da Vida - FiocruzCarla CostaNo ratings yet
- Praticas de Integracao Do Portugues Como Disciplina Transversal PDFDocument272 pagesPraticas de Integracao Do Portugues Como Disciplina Transversal PDFCarolina ContrerasNo ratings yet
- Espanhol Primeiros PassosDocument41 pagesEspanhol Primeiros PassosRuskkaNo ratings yet
- O CARÁTER VERBO-NOMINAL DO ASPECTO EM ESPERANTO Sem AnexosDocument201 pagesO CARÁTER VERBO-NOMINAL DO ASPECTO EM ESPERANTO Sem AnexosMarcos Coelho BissoliNo ratings yet
- Unioeste IV EencontroDocument169 pagesUnioeste IV EencontroAndre AguiarNo ratings yet
- Avaliação Diagnostica - Curso de Libras JequitinhonhaDocument4 pagesAvaliação Diagnostica - Curso de Libras JequitinhonhaparacelssoNo ratings yet
- Lista de Trabalhos AprovadosDocument10 pagesLista de Trabalhos Aprovadosapi-361638057No ratings yet
- 7º Ano - Atividade DiagnósticaDocument7 pages7º Ano - Atividade DiagnósticaPaulo José100% (1)
- Portaria Conjunta 83 - TJDFT - Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e Dos TerritóriosDocument8 pagesPortaria Conjunta 83 - TJDFT - Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e Dos Territóriosmarcelo barrosNo ratings yet
- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ACÁCIO PESSOA Recuperaçao 9 AnoDocument6 pagesESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ACÁCIO PESSOA Recuperaçao 9 AnoElenice Nogueira SantosNo ratings yet
- Headlines ExplosivasDocument30 pagesHeadlines ExplosivasDevair F MoraisNo ratings yet
- Camilla TCC FinalDocument22 pagesCamilla TCC FinalCamilla Giovanna De SousaNo ratings yet
- PET COMPLEMETAR 1º ANO Língua PortuguesaDocument7 pagesPET COMPLEMETAR 1º ANO Língua PortuguesaRosane Roque SimõesNo ratings yet
- Exercício Problematizando A DescriçãoDocument2 pagesExercício Problematizando A DescriçãoJorge Viana de MoraesNo ratings yet
- Inclusão Digital Software Livre - Sérgio AmadeuDocument26 pagesInclusão Digital Software Livre - Sérgio AmadeuJaqueCerqueira0% (1)
- Análise Dos Movimentos Seeker Sensitive e EmergenteDocument30 pagesAnálise Dos Movimentos Seeker Sensitive e EmergentewilsonnascNo ratings yet
- Aula 1 - Linguagem Coloquial e Norma CultaDocument19 pagesAula 1 - Linguagem Coloquial e Norma CultaElizabeth HussNo ratings yet
- Dispositivos Moveis EvoluçãoDocument5 pagesDispositivos Moveis EvoluçãoJoao PimentelNo ratings yet
- Perspectivas Da Gestao em Turismo e HotelariaDocument541 pagesPerspectivas Da Gestao em Turismo e HotelariaRafael ArrudaNo ratings yet
- Catequese #3 Do 7 Ano FatimaDocument11 pagesCatequese #3 Do 7 Ano FatimaLisete SilvaNo ratings yet
- Artigo EBD 1Document11 pagesArtigo EBD 1Tamyres Felipe Tamyres100% (1)
- A Arte de Se ComunicarDocument4 pagesA Arte de Se ComunicarAilton RuizNo ratings yet
- Fonética e Fonologia Do PortuguêsDocument6 pagesFonética e Fonologia Do Portuguêsrobson_moura_175% (4)
- Manual KWP 2000 - OkDocument19 pagesManual KWP 2000 - OkAntonnio Savio Leite67% (3)
- Caminhos Da Semiótica LiteráriaDocument206 pagesCaminhos Da Semiótica LiteráriaDomingos machadoNo ratings yet
- Técnica Vocal para Coros - COELHO, Helena WohlDocument40 pagesTécnica Vocal para Coros - COELHO, Helena WohlFayllaMoon92% (13)
- Corpo e Contemporaneidade. Uma Abordagem Crítica Sobre Os Padrões de Beleza e Consumo Estético Da Mulher Veiculados Pelas MídiasDocument127 pagesCorpo e Contemporaneidade. Uma Abordagem Crítica Sobre Os Padrões de Beleza e Consumo Estético Da Mulher Veiculados Pelas MídiasLuis Otavio MendesNo ratings yet
- A Importância Da MensagemDocument10 pagesA Importância Da MensagemLeonardo Rodrigues PereiraNo ratings yet
- Questoes Praticas de Língua PortuguesaDocument2 pagesQuestoes Praticas de Língua PortuguesaGeisiane LiviaNo ratings yet
- Pim 1 Lojas CemDocument22 pagesPim 1 Lojas CemClaudio FG100% (1)