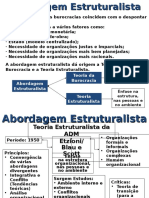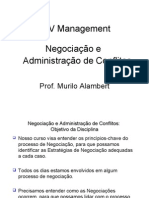Professional Documents
Culture Documents
Explorando o Ensino Sbs Material Diadático
Uploaded by
Ozimar BovióCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Explorando o Ensino Sbs Material Diadático
Uploaded by
Ozimar BovióCopyright:
Available Formats
C
O
L
E
O
E
X
P
L
O
R
A
N
D
O
O
E
N
S
I
N
O
V
O
L
U
M
E
1
5
S
O
C
I
O
L
O
G
I
A
Sociologia:Layout 1 04/03/11 14:48 Pgina 1
Presidncia da Repblica
Ministrio da Educao
Secretaria Executiva
Secretaria de Educao Bsica
Sociologia:Layout 1 04/03/11 14:48 Pgina 2
COLEO EXPLORANDO O ENSINO
SOCIOLOGIA
VOLUME 15
ENSINO MDIO
COLEO EXPLORANDO O ENSINO
Vol. 1 Matemtica
Vol. 2 Matemtica
Vol. 3 Matemtica
Vol. 4 Qumica
Vol. 5 Qumica
Vol. 6 Biologia
Vol. 7 Fsica
Vol. 8 Geografa
Vol. 9 Antrtica
Vol. 10 O Brasil e o Meio Ambiente Antrtico
Vol. 11 Astronomia
Vol. 12 Astronutica
Vol. 13 Mudanas Climticas
Vol. 14 Filosofa
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Centro de Informao e Biblioteca em Educao (CIBEC)
Sociologia : ensino mdio / Coordenao Amaury Csar Moraes. -
Braslia : Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Bsica, 2010.
304 p. : il. (Coleo Explorando o Ensino ; v. 15)
ISBN 978-85-7783-039-8
1.Sociologia. 2. Ensino Mdio. I. Moraes, Amaury Csar. (Coord.)
II. Brasil. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Bsica. III. Srie.
CDU 316:373.5
MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA
SOCIOLOGIA
Ensino Mdio
Braslia
2010
Coordenao da obra
Amaury Cesar Moraes
Autores
Amaury Cesar Moraes
Andrea Cardarello
Antonio Carlos de Souza Lima
Claudia Fonseca
Elisabeth da Fonseca Guimares
Emerson Giumbelli
Ileizi Luciana Fiorelli Silva
Janina Onuki
Joo Feres Jnior
Jos Ricardo Ramalho
Juarez Tarcsio Dayrell
Jlio Assis Simes
Magna Incio
Maria do Socorro Sousa Braga
Maria Stela Grossi Porto
Melissa de Mattos Pimenta
Paula Montero
Sergio Ricardo Rodrigues Castilho
Thamy Pogrebinschi
Tom Dwyer
Universidade Federal de So Paulo
UNIFESP
Instituio responsvel pelo processo
de elaborao dos volumes
Secretaria de Educao Bsica
Diretoria de Polticas de
Formao, Materiais Didticos e
de Tecnologias para
Educao Bsica
Coordenao-Geral de Materiais
Didticos
Equipe Tcnico-pedaggica
Andra Kluge Pereira
Ceclia Correia Lima
Elizangela Carvalho dos Santos
Jane Cristina da Silva
Jos Ricardo Alberns Lima
Lucineide Bezerra Dantas
Lunalva da Conceio Gomes
Maria Marismene Gonzaga
Equipe de Apoio Administrativo
Gabriela Brito de Arajo
Gislenilson Silva de Matos
Neiliane Caixeta Guimares
Paulo Roberto Gonalves da Cunha
Tiragem 27.934 exemplares
MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA
Esplanada dos Ministrios, Bloco L, Sala 500
CEP: 70047-900
Tel: (61) 2022 8419
Sumrio
APRESENTAO .................................................................................................7
INTRODUO .....................................................................................................9
AMAURY CSAR MORAES
PRIMEIRA PARTE
CONTEXTO HISTRICO E PEDAGGICO DO ENSINO DE SOCIOLOGIA
NA ESCOLA MDIA BRASILEIRA
Captulo 1
O ensino das Cincias Sociais/Sociologia no Brasil: histrico e perspectivas .. 15
ILEIZI LUCIANA FIORELLI SILVA
Captulo 2
Metodologia de Ensino de Cincias Sociais: relendo as OCEM-Sociologia ......45
AMAURY CESAR MORAES
ELISABETH DA FONSECA GUIMARES
SEGUNDA PARTE
TEMAS BSICOS DAS CINCIAS SOCIAIS
Captulo 3
A juventude no contexto do ensino da sociologia: questes e desafos .............65
JUAREZ TARCSIO DAYRELL
Captulo 4
Trabalho na sociedade contempornea ............................................................ 85
JOS RICARDO RAMALHO
Captulo 5
A Violncia: possibilidades e limites para uma defnio ................................103
MARIA STELA GROSSI PORTO
Captulo 6
Religio: sistema de crenas, feitiaria e magia ............................................... 123
PAULA MONTERO
Captulo 7
Diferena e Desigualdade .................................................................................139
MELISSA DE MATTOS PIMENTA
Captulo 8
Sociologia, Tecnologias de Informao e Comunicao .................................. 163
TOM DWYER
Captulo 9
Cultura e alteridade ..........................................................................................187
JLIO ASSIS SIMES
EMERSON GIUMBELLI
Captulo 10
Famlia e parentesco ........................................................................................ 209
CLAUDIA FONSECA
ANDREA CARDARELLO
Captulo 11
Grupos tnicos e etnicidades ............................................................................231
ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA
SERGIO RICARDO RODRIGUES CASTILHO
Captulo 12
Democracia, Cidadania e Justia .................................................................... 249
JOO FERES JNIOR
THAMY POGREBINSCHI
Captulo 13
Partidos, Eleies e Governo ............................................................................267
MARIA DO SOCORRO SOUSA BRAGA
MAGNA MARIA INCIO
Captulo 14
O Brasil no sistema internacional ................................................................... 289
JANINA ONUKI
7
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Apresentao
A Coleo Explorando o Ensino tem por objetivo apoiar o tra-
balho do professor em sala de aula, oferecendo-lhe um material
cientfico-pedaggico que contemple a fundamentao terica e
metodolgica e proponha refexes nas reas de conhecimento das
etapas de ensino da educao bsica e, ainda, sugerir novas formas
de abordar o conhecimento em sala de aula, contribuindo para a
formao continuada e permanente do professor.
Planejada em 2004, no mbito da Secretaria de Educao Bsica
do Ministrio da Educao, a Coleo foi direcionada aos professores
dos anos fnais do ensino fundamental e ensino mdio e encaminha-
da s escolas pblicas municipais, estaduais, federais e do Distrito
Federal e s Secretarias de Estado da Educao. Entre 2004 e 2006
foram encaminhados volumes de Matemtica, Qumica, Biologia,
Fsica e Geografa: O Mar no Espao Geogrfco Brasileiro. Em 2009,
foram cinco volumes Antrtica, O Brasil e o Meio Ambiente An-
trtico, Astronomia, Astronutica e Mudanas Climticas.
Agora, essa Coleo tem novo direcionamento. Sua abran-
gncia foi ampliada para toda a educao bsica, privilegiando
os professores dos anos iniciais do ensino fundamental com seis
volumes Lngua Portuguesa, Literatura, Matemtica, Cincias,
Geografia e Histria alm da sequncia ao atendimento a pro-
fessores do Ensino Mdio, com os volumes de Sociologia, Filosofia
e Espanhol. Em cada volume, os autores tiveram a liberdade de
apresentar a linha de pesquisa que vm desenvolvendo, colocando
seus comentrios e opinies.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
8
A expectativa do Ministrio da Educao a de que a Coleo
Explorando o Ensino seja um instrumento de apoio ao professor,
contribuindo para seu processo de formao, de modo a auxiliar na
refexo coletiva do processo pedaggico da escola, na apreenso
das relaes entre o campo do conhecimento especfco e a proposta
pedaggica; no dilogo com os programas do livro Programa Na-
cional do Livro Didtico (PNLD) e Programa Nacional Biblioteca
da Escola (PNBE), com a legislao educacional, com os programas
voltados para o currculo e formao de professores; e na apropria-
o de informaes, conhecimentos e conceitos que possam ser
compartilhados com os alunos.
Ministrio da Educao
9
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
A aprovao da obrigatoriedade do ensino de Sociologia
nas escolas de Ensino Mdio (Parecer CNE/CEB 38/2006 e Lei n.
11.684/2008) imps a necessidade de uma discusso ampla a res-
peito da formao dos professores da disciplina e encaminhamen-
tos para o apoio de seu trabalho em sala de aula. Esta j era uma
demanda prevista pelos proponentes da reincluso da disciplina
nos currculos da escola mdia. Prevamos que alm dos eventos
seminrios, congressos, encontros etc. , dever-se-ia iniciar um
processo de elaborao e divulgao de materiais didticos e para-
didticos que pudessem contribuir para as discusses, preparao
e atualizao dos professores em atividade ou que entrariam no
mercado de trabalho em seguida. Alm disso, nunca esteve fora de
nossos objetivos que as Orientaes Curriculares para o Ensino M-
dio, no caso as OCEM-Sociologia, deveriam passar por um amplo
processo de discusso e aperfeioamento para implantao. No
que as OCEM, segundo entendemos, sejam em si algo de difcil
compreenso, pois procuramos redigi-las dentro de um esprito
de aproximao com os professores, mas tambm de tentativa de
sistematizao e correo de percursos para consequente elevao
do nvel dos debates, aprimoramento efetivo das condies do
trabalho, garantia da qualidade do ensino e autorreflexo sobre a
Amaury Csar Moraes*
* Doutor em Educao. Professor de Metodologia de Ensino de Cincias Sociais
da Faculdade de Educao da USP.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
10
profisso e exerccio do ensino de Sociologia no nvel mdio. Para
isso, a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) vem desenvolvendo
atividades, pela sua Comisso de Ensino, quer na divulgao das
OCEM-Sociologia (I Seminrio Nacional sobre Ensino de Sociologia
no nvel mdio, USP, So Paulo, maro de 2007), quer na divulgao
de pesquisas sobre o ensino de Sociologia (XIII Congresso Brasileiro
de Sociologia, UFPE, Recife, GTs Ensino de Sociologia, maio e junho
de 2007; I Seminrio Nacional de Educao em Cincias Sociais,
UFRN, Natal, maro de 2008; I Encontro Estadual de Ensino de So-
ciologia, UFRJ, Rio de Janeiro, junho de 2008; I Simpsio Estadual
sobre a Formao de Professores de Sociologia, UEL, Londrina,
setembro de 2008; I Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia
na Escola Bsica, UFRJ, Rio de Janeiro, julho de 2009). Acresce que
h uma demanda, que se vinha reprimindo h dcadas, a respeito
de materiais didticos para apoio aos professores: coletneas de
textos, resenhas, informaes sobre pesquisas no campo, material
para alunos, etc. Mas, essa demanda que planejamos ir atenden-
do mais alentadamente, conforme fssemos desenvolvendo outras
atividades principalmente a divulgao das OCEM-Sociologia
, acabou se impondo de imediato, em vista justamente das con-
tingncias produzidas pela prpria intermitncia da presena da
disciplina Sociologia nas escolas de nvel mdio do Pas: formao
dos professores, professores em exerccio formados em Cincias
Sociais h muito tempo, professores formados em outras disciplinas
que ensinam Sociologia, falta de material didtico de qualidade,
entre outros. Assim, partindo das OCEM-Sociologia, elaboramos o
presente volume com o objetivo de contribuir para a formao do
professor e o aprimoramento de suas atividades de ensino.
As discusses sobre o que se ensina na disciplina Sociologia no
nvel mdio continuam. Desse modo, seria necessrio ainda retomar
o debate sobre a presena das trs Cincias Sociais Antropologia,
Cincia Poltica e Sociologia nos contedos ensinados como Socio-
logia. Isso se deve formao dos licenciados em Cincias Sociais,
mas tambm variedade de temas que se inscrevem muitas vezes
em uma ou outra dessas cincias e ainda a uma certa continuidade
que autores, temas ou conceitos descrevem, construindo pontes e
no levantando muros entre essas cincias.
11
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Por isso, para a elaborao do livro, contamos com a colabora-
o inestimvel da Associao Brasileira de Antropologia (ABA) e da
Associao Brasileira de Cincia Poltica (ABCP), que prontamente
designaram membros de seus quadros para elaborar captulos fun-
damentais no campo dessas cincias, o mesmo fazendo a SBS no
que se refere a captulos de Sociologia.
Entendemos que neste volume da Coleo Explorando o Ensino,
dedicado disciplina Sociologia, a definio dos captulos ainda se
refere retomada e sistematizao do que se tem feito nesse campo
de ensino e pesquisa. Assim, dividimos o volume em duas partes:
na primeira, visa-se contextualizao pedaggica e histrica para
a prtica de ensino de Sociologia na escola mdia brasileira. So
captulos que se referem s OCEM-Sociologia, a questes de Me-
todologia do Ensino da disciplina e Histria e Perspectivas do
Ensino de Cincias Sociais no Brasil. De algum modo, pensamos
num quadro que contribua para a formao e atualizao dos pro-
fessores, com textos que sintetizam as principais referncias hoje
para o ensino de Sociologia entendida sempre como um espao
disciplinar correspondente ao campo das Cincias Sociais.
A segunda parte versa sobre o recorte de temas, objetos e
questes das Cincias Sociais, que constituem os contedos da dis-
ciplina Sociologia no ensino mdio; nesta parte, visa-se, com sua
apresentao, subsidiar os professores no processo de elaborao
de propostas programticas de ensino, no constituindo em si um
programa. Esse conjunto de temas, objetos ou questes pesquisa-
dos e/ou debatidos pelas Cincias Sociais pode servir de referncia
para os professores do Ensino Mdio organizarem suas propostas
de curso, aulas e demais atividades de ensino. Visa-se no esgotar
uma lista de contedos que tanto mais exaustiva fosse, menos
realista e prtica seria , mas convidar os professores a pensarem
em tantos outros temas possveis e necessrios, tendo em vista as
realidades to diversas em que as escolas esto inseridas. Pretende-
se, ainda, que cada captulo, escrito por especialistas, e a partir de
suas pesquisas, traga informao, atualize debates e, se no apre-
sentar modelos ou receitas de aulas a serem trabalhados em sala, ao
menos, e especialmente, fornea quadros tericos, metodolgicos e
empricos para a abordagem de tais temas.
Com a publicao deste volume, mantemos nosso compromisso
com a formao dos jovens e a interveno responsvel na Educao
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
12
Bsica nacional, atendendo quele objetivo enunciado por Florestan
Fernandes, em 1954, durante o I Congresso Brasileiro de Sociologia:
debater a convenincia de mudar a estrutura do sistema educacional
do pas e a convenincia de aproveitar, de uma maneira mais cons-
trutiva as cincias humanas no currculo da escola secundria.
13
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Primeira Parte
Contexto Histrico e Pedaggico
do Ensino de Sociologia na
Escola Mdia Brasileira
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
14
15
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
A incluso da Sociologia nos currculos do Ensino Mdio, mais
uma vez, amplia as possibilidades de insero dos saberes das Ci-
ncias Sociais nos nveis de formao bsica. Sabemos que muitas
justifcativas, argumentos e aes tero que ser mobilizados nas
escolas a fm de legitimar essa disciplina nos projetos poltico-peda-
ggicos de cada unidade. Ter uma histria, mesmo que fragmentada
e intermitente, ajuda-nos a comear o debate. Ajuda-nos, ainda, a
conscientizarmo-nos de nossas origens, percebendo que fazemos
parte de uma histria maior e que temos pontos de partida para a
continuidade do processo de consolidao da disciplina nos currcu-
los e nos projetos poltico-pedaggicos. Imaginamos ainda que pensar
sobre nosso movimento e marcos ao longo da histria potencializa
nosso repertrio de explicaes sobre nossa cincia/disciplina diante
dos alunos da educao bsica. Com esse esprito e motivao tra-
zemos uma possibilidade, entre tantas outras, de pensar a trajetria
das Cincias Sociais/Sociologia no sistema de ensino brasileiro.
Captulo 1
O ensino das Cincias
Sociais/Sociologia no Brasil:
histrico e perspectivas
Ileizi Luciana Fiorelli Silva*
* Doutora em Sociologia. Professora Adjunto da Universidade Estadual de Lon-
drina
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
16
1. Histria e perspectivas: introduzindo as questes
pertinentes e persistentes
Pode-se afrmar que, desde o fnal do sculo dezenove, pratica-
se o ensino das Cincias Sociais no Brasil. Se incluirmos nesse campo
a Antropologia, a Cincia Poltica, a Economia, o Direito, a Histria,
a Geografa, a Psicologia, a Estatstica e a Sociologia, observare-
mos que h livros, manuais didticos, artigos e documentos que se
constituem em fontes secundrias sobre como ocorreu e como tem
ocorrido o ensino dessas disciplinas. Ao longo desse tempo todo,
quase mais de um sculo, o processo de institucionalizao contou
com lutas por autonomia das disciplinas mencionadas acima, que
se estenderam at os dias de hoje. Os conhecimentos das Cincias
Sociais entraram nos currculos da antiga escola secundria atravs
da Sociologia. Entraram tambm via Histria, Geografa, Econo-
mia, Psicologia, Educao Moral e Cvica, Estudos Sociais. Mas,
de forma explcita, e buscando autonomia cientfca em relao s
outras disciplinas, pode-se considerar que foi com a incluso da
Sociologia, no perodo de 1925 a 1942, que identifcamos evidncias
da institucionalizao e sistematizao de uma cincia da sociedade
(MEKSENAS, 1995; MEUCCI, 2000; GUELFI, 2001). O que curioso
que foi pela dimenso do ensino que, inicialmente e ofcialmente,
a Sociologia instalou-se no Brasil.
Quando se busca elucidar a confgurao das Cincias Sociais/
Sociologia no Brasil partindo da sua produo cientfca, no pos-
svel encontrar, at 1933, espaos ofciais de formao e produo
acadmica e por isso revela-se uma fase anterior pr-acadmica, em
que se praticavam as Cincias Sociais de forma autodidata e no ensi-
no nos cursos de preparao para o exerccio do magistrio, nas Es-
colas Normais, e nas ento denominadas Escolas Secundrias. Nessa
fase, produziram-se muitos manuais de Sociologia (MEUCCI, 2000),
alguns eram traduzidos da lngua francesa e outros foram escritos e
editados aqui no Brasil, por pensadores e professores formados em
outras reas, mas que passaram a dedicar-se Sociologia.
1.1. A nomencl atur a
Note-se que, ao iniciarmos nossas reflexes sobre a histria
do ensino das Cincias Sociais/Sociologia, deparamo-nos de ime-
diato com a diversidade na terminologia, as definies de reas e
17
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
disciplinas, e logo percebemos que pisamos em um terreno ain-
da muito movedio, acolhedor de diversas explicaes para uma
mesma nomenclatura. Alguns dicionrios de Cincias Sociais e
enciclopdias internacionais definem quais disciplinas compem
esse campo. Por exemplo, a Enciclopdia Britnica inclui as se-
guintes disciplinas/cincias: Economia, Cincia Poltica, Sociologia,
Antropologia, Psicologia Social, Estatstica Social e Geografia So-
cial. No inclui a Histria, que para os franceses uma disciplina
das Cincias Sociais. Para Giddens, Passeron e Jose Arthur Rios,
Histria e Geografia so Cincias Sociais.
Essa problemtica no pode ser desprezada quando intentamos
refetir sobre o ensino de Sociologia na Educao Bsica (MACHA-
DO, 1987, p. 116; GUELFI, 2001). As defnies dos currculos para o
Ensino Mdio retomam essas dvidas, essas disputas e modulam as
grades, hierarquizando as disciplinas, incluindo e excluindo tendo
como movimento separ-las ou agrup-las dependendo da com-
preenso e da fora dos agentes e agncias envolvidos na luta em
torno do desenho curricular. Cada pas estabeleceu fronteiras entre
essas disciplinas segundo suas tradies intelectuais, suas origens
histricas, seus estilos de pensamento. Gleeson & Whity (1976, p.
10-11), ao analisarem esse problema na Inglaterra, ressaltam:
[...] no devemos esquecer ainda que, at muito recentemente,
os professores de cincias sociais eram professores poliva-
lentes ou tinham entrado nestes domnios por via de outras
matrias-histria, geografa, Ingls, entre as mais comuns.
Recentemente, um nmero crescente de graduados em cin-
cias sociais tem vindo a dirigir-se para a docncia nas escolas
secundrias e nmero tambm crescente de outros tem con-
seguido estudar sociologia a nvel avanado, especialmente
em cursos de ps-graduao. No obstante, e no futuro prxi-
mo, continuaremos a ser um grupo heterogneo, de passado
cientfco muito diverso e representando um grande leque
de opinies sobre o que devam ser os estudos sociais. No
existe, portanto, uma tradio defnida de ensino das cincias
sociais, que possa servir de guia para os professores.
Esses autores referem-se realidade da Inglaterra, nos anos
de 1970, perodo em que, segundo Bernstein (1996), houve uma
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
18
intensificao da regionalizao das disciplinas agrupadas em re-
as, com apelos de aplicabilidade e o aprofundamento da auto-
nomizao do campo pedaggico. No Brasil, foi o momento em
que mais nos aproximamos das influncias anglo-americanas nas
definies curriculares. Nos currculos do ensino de primeiro e
segundo graus dos anos de 1970, as elaboraes das propostas
foram centralizadas no Governo Federal, contando com a asses-
soria de tcnicos americanos, o que pode explicar a fora que os
Estudos Sociais ganharam como rea de regionalizao da Histria,
Geografia, Sociologia, Economia, entre outras.
Outrossim, quando nos propomos a refletir sobre a histria do
ensino das Cincias Sociais/Sociologia enredamos por um caminho
cruzado pelo campo das cincias e pelo campo da educao. O
modo como o Brasil constituiu seu sistema de educao e seu sis-
tema cientfico e como cada rea se desenvolveu no interior desses
sistemas na verdade um enorme e complexo objeto de estudos
para historiadores e socilogos do conhecimento, da cincia e da
educao. As relaes entre esses dois campos, o da cincia e o
da educao, a relao entre as reas e os sistemas cientfico e de
educao tambm so elementos importantes quando pensamos
a constituio do ensino de qualquer disciplina no interior dos
currculos elaborados nos sistemas de reproduo cultural, nota-
damente no educacional.
O fato que tradicionalmente nossos cursos de graduao
foram organizados e intitulados de Cincias Sociais e nos currcu-
los do Ensino Mdio e dos cursos profissionalizantes a Sociologia
tem logrado espao como disciplina. Quando o Governo Militar
criou os Estudos Sociais, justificando que essa rea contemplava
os conhecimentos de Antropologia, Histria, Geografia, Economia
e Sociologia, contribuiu para aprofundar os problemas de defini-
es e denominaes cientficas, disciplinares e profissionais. Sem
dvida que, quando iniciamos levantamentos sobre o ensino de
Sociologia na escola secundria, imediatamente nos deparamos com
esses desafios tendo que criar critrios de definies para poder
eleger os documentos, contedos e disciplinas que consideraremos
referentes s Cincias Sociais e/ou Sociologia especialmente.
Esse imbrglio apareceu tambm neste esboo da trajetria da
Sociologia no sistema de ensino, conforme se ver na sequncia.
19
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
1.2 As cr onol ogi as e seus mar cos hi str i cos
Existem vrias cronologias para as duas dimenses da histria
das Cincias Sociais/Sociologia: o campo da pesquisa, da formao
dos profssionais e da disciplina nas escolas de Educao Bsica,
sobretudo no Ensino Mdio. Consideramos que elas se complemen-
tam e ajudam a demarcar a trajetria do campo. H muitas frentes
de pesquisas a serem exploradas, fontes a serem construdas e/ou
investigadas, sobretudo no ensino de Sociologia nas escolas secun-
drias, profssionalizantes/tcnicas, de formao de docentes, entre
outras modalidades do nvel mdio e tecnolgico.
No momento, nos interessa demonstrar o que foi possvel ela-
borar em termos de organizao de fatos e marcos que nos ajudam
a comear as pesquisas sobre cada perodo ou contexto dessa tra-
jetria. Propomos neste texto a juno das cronologias encontradas
separadas para a histria das Cincias Sociais/Sociologia e para o
ensino de Sociologia na escola secundria, buscando ressaltar que,
embora tenham especifcidades, momentos e ritmos por vezes di-
ferentes, elas se cruzam e se retroalimentam das condies institu-
cionais que lograram ao longo da histria.
Elaboramos um quadro sinptico, baseando-nos nos textos de
Oracy Nogueira (1981), Sergio Miceli (1989, 1995) e Enno Dagoberto
Liedke Filho (2003, p. 225-227) para a histria das Cincias Sociais/
Sociologia e nos textos de Celso Machado (1987), Paulo Meksenas
(1995), Wanirley Guelf (2001), Mario Bispo Santos (2002) e Erlando
Reses (2004) para a histria do ensino de Sociologia nas escolas
secundrias/Ensino Mdio.
A segunda metade do sculo XIX foi amplamente agitada pelas
lutas de independncia dos pases latino-americanos e no Brasil. Os
temas do abolicionismo e da constituio da repblica perpassavam
os debates e as refexes polticas. Nessa fase, mais ou menos de
1840 a 1930, observa-se a busca da cientifcizao das explicaes
sobre a natureza e sobre a sociedade. Seguindo o modelo das ci-
ncias naturais, os autores apontam que nesse perodo ocorreram
incorporaes de teorias e conceitos sociolgicos ao discurso de
polticos e intelectuais, surgindo pensadores sociais muito infuencia-
dos pelo iluminismo, positivismo e evolucionismo (LIEDKE FILHO,
2003; NOGUEIRA, 1981). Despontam, ainda, vrios especialistas
autodidatas, as primeiras iniciativas de pesquisa emprica e a im-
plantao do ensino da disciplina em cursos no especializados
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
20
(NOGUEIRA, 1981, p. 202). Note-se que, desde 1870, registram-se
iniciativas de intelectuais no sentido de incluir a Sociologia nos cur-
sos de Direito, de formao de militares, da escola secundria. o
caso de Rui Barbosa que nos, debates sobre a reforma de ensino em
1882, propunha as disciplinas Elementos de sociologia e direito cons-
titucional para a escola secundria e Sociologia no lugar do Direito
Natural nas faculdades de Direito, elaborando justifcativas baseadas
nos textos de Augusto Comte (MACHADO, 1987, p. 117). Em tais
textos observamos a insatisfao do intelectual com as explicaes
herdadas do passado, como as dos catlicos, e do Direito flosfco
e metafsico. Considerava-se que eram insufcientes para responder
aos dilemas da poca. Essa proposta no chegou a ter andamento
no Parlamento. Mas, em 1890, a Reforma de Benjamim Constant,
ento Ministro da Guerra, institua o ensino de Sociologia e Moral
nas Escolas do Exrcito (Decreto n. 330, de 12 de abril de 1890 apud
MACHADO, 1987, p. 117). Em seguida, como Ministro da Instruo
Pblica, Correios e Telgrafos, ele empreendeu a chamada Refor-
ma Benjamim Constant em toda a instruo pblica, incluindo a
Sociologia em todos os nveis e modalidades de ensino. Entretan-
to, tal reforma no foi efetivada, sendo completamente modifcada
em 1897. Nessa nova regulamentao, a Sociologia desaparece dos
currculos do Ginsio e do Ensino Secundrio.
As disputas entre as explicaes catlicas e jurdicas versus as
explicaes positivistas, evolucionistas e cientifcistas duraram vrias
dcadas e aparecero nos Manuais de Sociologia que proliferaram
aps 1925, quando a Reforma de Joo Luis Alves-Rocha Vaz incluiu
a Sociologia nas Escolas Normais e na Escola Secundria (MEUCCI,
2000). Esse um dos marcos fundamentais para a institucionalizao
das Cincias Sociais/Sociologia no sistema de ensino e no processo
de sistematizao dos conhecimentos sociolgicos. O fato de essa
disciplina ser ensinada nas escolas criava um mercado de ideias, de
circulao de contedos que precisava ser ordenado e dinamizado.
O primeiro mercado a ser potencializado foi o de livros didticos.
Em seguida, a criao de faculdades e universidades para formar
os professores especializados nas novas reas. Muitos pensadores
autodidatas nas Cincias Sociais, formados em Direito, Medicina,
Engenharia, entre outras, especializaram-se em Sociologia e exer-
ceram o ensino nas novas ctedras criadas nas Escolas Normais
e Faculdades de Direito. Gilberto Freyre em Recife, Fernando de
21
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Azevedo em So Paulo, Delgado Carvalho no DF, Artur Ramos no
Rio de Janeiro; esses pensadores lanaram-se em pesquisas e em
esforos de sistematizao da nova cincia. Escreveram manuais de
Sociologia destinados ao ensino, mas que acabaram por contribuir
com a organizao e elaborao das teorias e mtodos sociolgicos
no Brasil (MEUCCI, 2005).
Todas as medidas de reformas no ensino at 1940 ampliaram
os espaos de disseminao e de institucionalizao das Cincias
Sociais/Sociologia no Brasil. Assim podemos afrmar que uma se-
gunda fase, entre 1931 e 1941, demonstra elementos do processo
de confgurao do ensino de Sociologia na Escola Secundria e no
Ensino Superior:
1931 A Reforma Francisco Campos organiza o Ensino
Secundrio num ciclo fundamental de cinco anos e num
ciclo complementar dividido em trs opes destinadas
preparao para o ingresso nas faculdades de Direito, de
Cincias Mdicas e de Engenharia e Arquitetura. A Socio-
logia foi includa como disciplina obrigatria no 2 ano dos
trs cursos complementares.
1933 Criao da Escola Livre de Sociologia e Poltica de
So Paulo.
1934 Fundao da Universidade de So Paulo, que conta
com Fernando de Azevedo como o primeiro diretor de sua
Faculdade de Filosofa, Cincias e Letras, e catedrtico de
Sociologia.
1935 Introduo da disciplina Sociologia no curso normal
do Instituto Estadual de Educao de Florianpolis, com
o apoio de Roger Bastide, Donald Pierson e Fernando de
Azevedo.
1942 A Reforma Capanema retira a obrigatoriedade da
Sociologia dos cursos secundrios, com exceo do curso
normal.
Embora no perodo seguinte, de 1942 a 1964, registramos uma
infexo da Sociologia nas escolas secundrias, os espaos de pesqui-
sa e ensino nas universidades e centros de investigao que foram
criados e patrocinados pelos governos estaduais e federal e por
agncias internacionais continuaram sendo ampliados. Nogueira
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
22
(1981) considera que, de 1930 a 1964, ocorreu a formao da comu-
nidade dos socilogos. Meksenas (1995) destaca que, de 1925 a 1941,
vivemos os anos dourados da Sociologia. De fato, ento, podemos
afrmar que todo esse contexto dos anos de 1930 a 1964, com a ex-
panso do capitalismo, urbanizao e industrializao provocaram
mudanas profundas nos sistemas simblicos e seus aparatos cul-
turais e educacionais. Essas mudanas abriram possibilidades para
a formalizao das Cincias Sociais/Sociologia.
Essa continuidade na ampliao dos processos de solidifcao
da Sociologia como cincia, como espao de formao nos cursos de
graduao e de ps-graduao se estendeu tambm durante as duas
dcadas de ditadura militar e aps, com a redemocratizao. Contu-
do, h que se pensar em como as condies para essa expanso foi
potencializada nos anos dourados (1925 a 1941). O perodo em que a
Sociologia existia como disciplina em cursos no especializados e na
Escola Secundria no teria criado as condies para sua formalizao
como cincia? Os estudos de Meucci (2000, 2005) ajudam-nos a evi-
denciar essa hiptese, pois, tanto na dissertao de mestrado como na
tese de doutorado, eles trazem dados fundamentais desse processo.
1.3. Os estudos, os problemas e os desafos tericos e
pr ti cos par a o ensi no das Ci nci as Socai s/ Soci ol ogi a
Os problemas centrais nesses estudos sobre a histria das cin-
cias e disciplinas consistem em elucidar os sentidos da pesquisa e do
ensino em cada contexto. E h ainda muito para se pesquisar, fontes
a serem exploradas. No caso do ensino de Sociologia, vislumbramos
algumas questes abertas e ainda a serem mais bem exploradas:
Onde, quando e como foi efetivamente ensinada a Sociologia
no Brasil? H uma necessidade de buscar fontes, documen-
tos, criar dados primrios sobre as prticas de ensino de
Sociologia nas Escolas Normais, nas Escolas Secundrias,
no Segundo Grau, entre outros.
As justifcativas para a incluso da Sociologia nos currculos
uma dimenso do problema de pesquisa que ainda hoje
merece refexo. No exatamente isso que os alunos do
Ensino Mdio nos cobram? Por que devemos estudar So-
ciologia? Por que ela deve ser tambm uma disciplina da
Educao Bsica?
23
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Os sentidos da cincia em relao s demandas da escola,
dos jovens e da sociedade em geral.
Os critrios de seleo dos contedos e das metodologias a
serem desenvolvidas nas escolas.
Para quem vamos ensinar Sociologia? Quem so nossos
alunos? O que pensamos sobre os jovens e alunos e porque
consideramos que eles devam aprender os contedos da
Sociologia?
Quem vai ensinar Sociologia? Em quais cursos vamos formar
o professor de Sociologia?
Como os cursos devem formar os professores de Sociologia?
Temos materiais didticos disponveis? Quais? Quais os
contedos presentes neles? Eles atendem s necessidades
dos professores e alunos?
Quais as polticas ofciais para os currculos, para os con-
tedos das disciplinas, para os materiais didticos, para a
formao de professores?
Ao mapearmos os estudos existentes sobre as prticas de
ensino de Sociologia, encontramos os problemas menciona-
dos acima; alm disso, encontramos abordagens e caminhos
tericos e de pesquisa empregados para responder a essas
questes. o que demonstraremos sinteticamente a seguir.
2. A confgurao do campo de pesquisa sobre o
ensino das Cincias Sociais/Sociologia:
sistematizando os principais estudos
As idas e vindas da Sociologia nos currculos das escolas de
ensino fundamental e mdio constituem-se em um amplo objeto de
estudos e em um programa de investigaes ainda em fase de estru-
turao no campo de pesquisas da educao e das Cincias Sociais.
Dessa forma, muitas afrmaes sobre o ensino de Sociologia nos
diferentes perodos da histria da educao so, ainda, hipteses
e pistas para aprofundamentos tericos e empricos em frentes de
investigaes que tragam mais subsdios para a compreenso mais
prxima possvel da realidade do que foi e do que tem sido prati-
cado como ensino das Cincias Sociais/Sociologia.
Os surtos de pesquisas sobre a temtica acompanharam as con-
junturas polticas que indicaram as Cincias Sociais, especialmente,
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
24
a Sociologia como componente curricular ou como contedos ne-
cessrios para a formao das crianas e dos jovens. Em suma, as
pesquisas apareceram e aparecem mais nos perodos em que as buro-
cracias educacionais e outros espaos que defnem os currculos das
escolas selecionam esses saberes como dignos de serem ensinados
aos jovens e adolescentes. Nas diferentes reformas educacionais en-
contramos a presena das Cincias Sociais/Sociologia e quando elas
se destacam e permanecem por algum perodo nas escolas, surgem
tambm estudos e anlises sobre sua institucionalizao e sobre os
problemas relativos ao seu ensino nos nveis bsicos do sistema de
educao. Com isso, queremos ressaltar que h descontinuidade na
produo pedaggica e na produo cientfca em torno dos fen-
menos do ensino das Cincias Sociais/Sociologia, causando maiores
difculdades de compreenso desses processos e nas defnies de
contedos e mtodos adequados s prticas de ensino dessas cin-
cias, especialmente da Sociologia.
Analisando a produo sobre o ensino das Cincias Sociais/So-
ciologia no Brasil, observa-se que nos estudos, sobretudo nos estudos
voltados para a Sociologia no Ensino Mdio, h uma tendncia de
privilegiar a histria da legislao (MACHADO, 1987, 1996), sem uma
pesquisa mais detalhada dos agentes que produziram a legislao e
o movimento dos vrios sujeitos em torno dessas legislaes e, espe-
cifcamente, do processo de incluso dessa disciplina nos currculos
das escolas. Os estudos tm avanado para anlise do contedo e
dos sentidos atribudos ao ensino da Sociologia em diferentes con-
textos (PACHECO FILHO, 1994; GIGLIO, 1999; GUELFI, 2001), tendo
sido enriquecidos nas ltimas dcadas com pesquisas sobre manuais
(MEUCCI, 2000; SARANDY, 2004), representaes de professores
e alunos de Sociologia (PENTEADO, 1981; SANTOS, 2002; RESES,
2004), funes do ensino de Sociologia e problemas de defnies de
contedos e mtodos (CORREA, 1993; GOMBI, 1998; MOTA, 2003).
Entretanto, no se verifcam anlises que contemplem como esses
espaos foram formados e a partir de quais sujeitos/agentes, ou seja,
quem se movimentou, em quais sentidos, junto e a partir de quais
estruturas/instituies para criar a possibilidade de constituio da
Sociologia como disciplina escolar. Tambm tem sido comum nos
estudos sobre o ensino das Cincias Sociais/Sociologia na educao
superior o desvio do problema da dicotomia na formao do ba-
charelado e do licenciado, da formao para a pesquisa e da forma-
25
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
o para o magistrio no Ensino Mdio (BOMENY; BIRMAN, 1991;
PESSANHA; VILLAS BAS, 1995; WERNECK VIANNA et al., 1994,
1995, 1998). Dessa forma, no se investiga a conexo entre os dois
problemas: o da constituio das Cincias Sociais/Sociologia como
disciplinas escolares e o da formao de professores para lecionarem
essas disciplinas nas escolas de Ensino Fundamental e Mdio.
Evidentemente que so processos diferentes, que em diversos
momentos se articulam; por exemplo, nos cursos de Cincias Sociais,
disseminam-se, sim, discursos pedaggicos, mesmo que os docentes
no tenham conscincia disso ou que explicitem essa dimenso de
suas prticas. Nos trabalhos de orientao de monografas, disserta-
es e teses, os docentes universitrios esto formando pesquisadores
e professores, notadamente para o Ensino Superior. Werneck Vianna
et al. (1994, 1995, 1998) destacam essa tendncia nas Cincias Sociais,
no Brasil, em levantamentos efetuados nos cursos de graduao e
de ps-graduao. Assim, os autores destacam que a formao nas
Cincias Sociais estaria mais vinculada ao ensino, formao para
o ensino nos cursos de graduao, do que pesquisa.
O ensino das Cincias Sociais/Sociologia nas escolas de Ensino
Fundamental e Mdio no logrou ser uma preocupao nos cursos de
Cincias Sociais. O levantamento que Amaury Moraes (2003) fez para
o artigo Licenciatura em cincias sociais e ensino de sociologia: entre o ba-
lano e o relato evidencia esse fato, demonstrando que a intermitncia
da Sociologia nos currculos do Ensino Mdio foi acompanhada da
intermitncia nas refexes no interior da comunidade das Cincias
Sociais, provocando um mal-estar com relao licenciatura.
O descaso dos estudos diante da necessidade de elaborao
de explicaes articulando os dois eixos, Ensino Superior e Ensino
Mdio, ajuda a evidenciar o quanto existem divises claras entre os
problemas do ensino e da pesquisa e, portanto, da formao para
a pesquisa e para o ensino. A ideia ou a imagem de fronteiras
instigante porque revela que aquilo que seria apenas uma diferena
entre dimenses (ensino e pesquisa) de um campo tornou-se uma
diviso e uma distino. Assim, os elementos internos ao campo das
Cincias Sociais, que poderiam ajudar a explicar o problema da
constituio dessas cincias em disciplinas nas escolas, no so in-
vestigados mais profundamente. As conexes e interconexes entre
agentes do campo acadmico e do campo escolar, que tm em co-
mum identifcar-se com o campo das Cincias Sociais, no tm sido
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
26
exploradas nos estudos sobre o seu ensino, seja no nvel mdio, seja
no nvel superior.
Alguns princpios j foram estabelecidos nos estudos sobre a
histria e a constituio do campo das Cincias Sociais, tais como:
contexto histrico, condies sociais e econmicas, atores/autores
protagonistas, pensamentos hegemnicos, constituio do campo de
pesquisa como elementos j incorporados nos estudos das histrias
das cincias, das ideias, dos intelectuais e na Sociologia do conheci-
mento (FERNANDES, 1980; MICELI, 1989, 1995). Entretanto, esses
princpios necessitam de mais uma camada no processo de formao
dos campos cientfcos e educacionais, como, por exemplo, as ins-
tituies de ensino, a legitimao e a institucionalizao do ensino
das disciplinas. Mesmo sem um aparato de pesquisa, a dimenso
do ensino precisa ser levada em considerao em sua vertente de
produo e reproduo dos agentes da cincia e da pesquisa, e na
vertente da reproduo nos nveis escolares mais bsicos, ou seja,
a cincia como cultura escolar tambm
1
.
3. A situao da Sociologia nos currculos do Ensino
Mdio como resultado da movimentao dos agentes
nos campos da educao, das Cincias Sociais e das
burocracias governamentais
Vivemos um perodo de expanso da disciplina e de seus con-
tedos nos currculos escolares desde a dcada de 1980. Notada-
mente, aps 1984, em alguns estados do Pas e, aps 1996, em todo
o Pas. Como antecedentes da LDB (Lei de Diretrizes e Base da
Educao Nacional) de 1996, temos iniciativas dos Estados de So
Paulo, Paran, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Par, Maranho, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, que, na dcada de 1980, realizaram
reestruturaes curriculares no que se chamava Segundo Grau e
atualmente denominado de Ensino Mdio. Tais reestruturaes
procuravam adequar os currculos aos tempos de redemocratizao
e os textos recontextualizados nos rgos ofciais refetiram a produo
1
Somando-se artigos em peridicos e captulos de livros, temos 90 textos sobre
a temtica entre 1942 a 2009, sessenta e sete anos. Somando-se os 16 trabalhos
desenvolvidos em ps-graduao, resultam 106 textos nesse mesmo perodo, com
uma mdia de 1,5 trabalho por ano; mas na verdade a produtividade aumentou
entre 1996 e 2009 ou nos ltimos treze anos (SILVA, 2009).
27
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
da crtica ao regime militar nos centros de pesquisa das universi-
dades. Existia uma crtica contundente obrigatoriedade do ensino
profssionalizante no Segundo Grau e s concepes tecnicistas dos
currculos de modo geral. Assim, as equipes que assumiram as ta-
refas de reformas da educao nos Estados procuraram retomar o
Ensino Mdio propedutico ou o Ensino Mdio integrado (ensino
geral e profssionalizante ao mesmo tempo).
No Rio de Janeiro, o processo inicia-se em 1991, com encontros
para estabelecer regras sobre o ensino de Sociologia, uma vez que
a constituio do Estado do Rio de Janeiro, de 1989, tornava essa
disciplina obrigatria. No Esprito Santo, o processo se iniciou em
1994, em torno da elaborao de leis que tornassem a disciplina
obrigatria. Os debates se estenderam at 2001, quando foi derru-
bado o veto do governador Jos Igncio Ferreira ao projeto de lei
estadual que estabelecia a obrigatoriedade do ensino de Sociologia
e Filosofia no Ensino Mdio, Lei n 6.649, de 11 de abril de 2001.
Porm, ao contrrio do que se esperava, a aprovao da lei no teve
maior efeito, talvez somente pela desmobilizao dos que estavam
comprometidos com a implantao da disciplina, situao agravada
pelo fato de 2002 ter sido ano eleitoral.
No Par, tambm, a Constituio Estadual incluiu a Sociologia
obrigatoriamente nos currculos e desde ento tem ocorrido a ex-
panso da disciplina nas escolas. Podemos identifcar uma srie de
movimentos em torno de reformulaes curriculares em diferentes
unidades do Pas, que vo persistir, como rotina, a cada incio de
novos governos, numa eterna modernizao da educao. At aqui
a questo da Sociologia no Ensino Mdio estava pautada mais em
debates locais, nos Estados. A promulgao da Lei de Diretrizes e
Bases da Educao Nacional (LDB), em dezembro de 1996, impul-
sionar o debate para o mbito nacional.
No Paran, ocorreu um concurso pblico para professores de
Sociologia e publicaram-se as Propostas de Contedos de Sociologia
em 1994 e 1995.
Assim, observou-se a produo de diretrizes curriculares, livros
didticos, dissertaes de mestrado e artigos sobre esses processos.
Tais iniciativas ajudaram a elaborar mais problemas e desafos para
o ensino de Sociologia. Obrigaram agentes das universidades a se
dedicarem a essa temtica, notadamente formao de professores
para o Ensino Bsico e assessoria junto s secretarias de Estado,
junto ao MEC, entre outros.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
28
Note-se que, conforme o debate foi sendo adensado por diversos
agentes oriundos de sindicatos de socilogos, sindicatos de profes-
sores da educao bsica, professores universitrios, professores do
Ensino Mdio, associaes cientfcas (como a SBS), rgos internos
das universidades, mais demandas foram atendidas e tantas outras
foram criadas. Um exemplo foi a incluso da Sociologia e/ou dos
seus contedos nas provas de vestibulares. A partir de 1997, na
Universidade Federal de Uberlndia (UFU) e, a partir de 2003, na
Universidade Estadual de Londrina (UEL). A Universidade Federal
do Paran (UFPR) aprovou a incluso da sociologia nas provas de
vestibular, a partir de 2007. Vrias universidades e faculdades esto
em processo de mudana do estilo e dos contedos de suas provas
de vestibular, indicando a Filosofa e a Sociologia como contedos
a serem cobrados nos concursos de ingresso.
Para cada ganho de espao, outras demandas surgiram, tais como:
necessidade de diretrizes e orientaes para seleo de contedos e
mtodos de ensino, de materiais didticos, de professores capacitados,
de incremento nas licenciaturas dos cursos de Cincias Sociais, de
espaos de formao continuada nas universidades, de elaboradores
de questes para as provas de vestibulares, de concursos pblicos
para professores da disciplina, de professores de Sociologia para as
burocracias educacionais, entre tantas outras demandas e desafos que
se multiplicaram a partir dessa expanso crescente aps 1996.
Entretanto, conhecer o campo de luta, que o currculo, nos
ajuda a entender que toda essa expanso no signifca consolidao
defnitiva da disciplina ou de seus contedos nas escolas. Lembrar
de que como vem ocorrendo a legalizao e a legitimao possibilita
uma postura mais comedida diante do processo. Postura comedida
no sentido de reconhecer que ainda temos que estar atentos s refor-
mas educacionais, mudanas curriculares e alteraes na conjuntura
poltica do Pas e dos Estados. Alm disso, sensato admitir que
temos que estruturar as reas de metodologia e estgio nos depar-
tamentos de educao e de cincias sociais para garantir a formao
inicial e continuada dos professores, ns temos que multiplicar a
produo de materiais didticos, negociar concursos pblicos para
professores licenciados na rea, desenvolver a pesquisa sobre o en-
sino da Sociologia, entre outras tarefas.
A compreenso sobre o campo de lutas em torno dos currculos
pode ser ampliada quando observamos o processo de normatizao
29
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
da Sociologia como disciplina a partir da Lei 9394/96 (LDBEN), art.
36, 1, inciso III ( 1
o
. Os contedos, as metodologias e as formas de
avaliao sero organizadas de tal forma que ao fnal do ensino mdio
o educando demonstre: III domnio dos conhecimentos de Filosofa e
Sociologia necessrios ao exerccio da cidadania.). A regulamentao
desse artigo deu-se com muita discusso e refexo no interior do Con-
selho Nacional de Educao. A primeira regulamentao materializou-
se nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Mdio (DCNEM),
parecer CNE/CEB 15/98 e Resoluo CNE/CEB 03/98. Tais Diretrizes
pretendiam que os sistemas de ensino estaduais estruturassem seus
currculos de maneira mais fexvel e que organizasse os saberes por
reas e no por disciplinas. Por isso, os Parmetros Curriculares Na-
cionais do Ensino Mdio (PCNEM) de 1999 propunham a diviso
por grandes reas, incluindo a Sociologia e a Filosofa nas Cincias
Humanas e suas Tecnologias. No mbito do parlamento tivemos a
aprovao da lei do Deputado Federal Padre Roque, em 2001, e o
veto do presidente da Repblica Fernando Henrique Cardoso, sendo
coerente com a concepo curricular da DCNEM (1998).
2
Em 2003 se inicia um processo de reestruturao dos PCNEM, a
partir do documento do MEC, de 2004, intitulado Orientaes Curricu-
2
O principal desfecho de todo o debate de oito anos aps a promulgao da
Constituio Federal de 1988, em torno da organizao da educao nacional,
deu-se com a promulgao da Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional
em dezembro de 1996. Essa lei representou os confitos de interesses entre pro-
jetos para o Pas, sendo vitorioso, naquela ocasio, um projeto de modernizao
dependente da dinmica de mundializao do capital; isso signifcou garantir
a fexibilizao do sistema de ensino, criando um complexo aparato de diviso
de tarefas que foram totalmente descentralizadas entre os sistemas municipais
e estaduais. A ideia de autonomia no sentido liberal da gesto de cada unidade
e de cada sistema no mbito da educao foi usada e abusada no processo de
confgurao da estrutura e da cultura do ensino, desde o fnanciamento at os
currculos. A regulamentao da LDB de 1996 em termos de currculos est em
curso at os dias atuais, mas foi efetivada e acelerada de 1997 a 2001, com a ela-
borao de Parmetros e Diretrizes. Sendo assim, quando o MEC e a Presidncia
da Repblica depararam-se com a aprovao da lei que obrigava o ensino de
Filosofa e de Sociologia nas escolas do nvel mdio, no titubearam em manter
a prerrogativa de uma educao voltada para habilidades cognitivas primrias
e competncias sociais adaptativas aos novos tempos de desregulamentao das
relaes trabalhistas e econmicas, no aprovando a lei. O sentido do veto de
Fernando Henrique Cardoso deve ser compreendido no contexto mais complexo
de toda a poltica econmica e educacional dos oitos anos de seu governo, no
se admitindo explicaes ligeiras e simplistas. Para maiores esclarecimentos, ler
Moraes (2004, p. 105-111).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
30
lares do Ensino Mdio, demonstrando um novo patamar de defnies
de princpios para a reformulao curricular e, consequentemente,
para o ensino de Sociologia. Nesse documento, Amaury Moraes,
Elizabeth Guimares e Nelson Tomazi, elaboraram uma crtica aos
PCN-Sociologia e s DCNEM, pontuando novas posies sobre o
papel da Sociologia nos currculos do Ensino Mdio. Eles defendem
que a Sociologia seja compreendida como disciplina do ncleo co-
mum do currculo e que se faa um esforo de elaborao de pro-
postas de contedos e de metodologias de ensino sintonizadas com
os sentidos do Ensino Mdio, da juventude e das escolas, ou seja,
propostas adequadas aos propsitos de formao dos adolescentes,
jovens e adultos que estaro no Ensino Mdio nos prximos anos.
Como resultado desse processo de redefnio constante dos
currculos do Ensino Mdio desde os anos de 1980, o debate chegou
a uma fase de crtica ao modelo de currculo das competncias, mas
no unvoca. O material organizado por Maria Ciavata e Gaudn-
cio Frigoto (2004), Ensino Mdio: cincia, cultura e trabalho, contm
inmeros textos de vrios educadores e pesquisadores brasileiros,
levantando elementos para delinearmos um Ensino Mdio que rompa
com a dualidade entre formao geral e para o trabalho, at agora,
predominante em nosso Pas. Alm disso, h vrios textos reforando
a necessidade de superao das DCNEM (1998) e dos PCNEM (1999).
O prprio texto j mencionado, elaborado por Amaury Moraes, Nel-
son Tomazi e Elizabeth Guimares, publicado no documento Orien-
taes Curriculares do Ensino Mdio, constitui-se em uma proposta de
rompimento com os PCNEM e, sobretudo, com as DCNEM. H uma
compreenso de que a Sociologia s ser uma disciplina escolar em
um modelo curricular que valorize as cincias de referncias.
Essa equipe de elaboradores das novas Orientaes Curriculares
Nacionais provocou um debate no interior do MEC. Em 2005, Moraes
(2007) elaborou um Parecer detalhado sobre a legislao educacional,
desde a LDB de 1996 at as DCNEM (1998). Nesse Parecer consegue
explicitar que as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Mdio
de 1998 no estavam cumprindo a LDB, pois no garantiam que os
currculos oferecessem, de fato, os conhecimentos de Filosofa e de
Sociologia, apenas como temas transversais.
3
3
Em 24/11/2005, foi protocolado no Conselho Nacional de Educao o Ofcio
n 9647/GAB/SEB/MEC, de 15 de novembro de 2005, pelo qual o Secretrio
de Educao Bsica do Ministrio da Educao encaminhou, para apreciao,
documento anexado sobre as Diretrizes Curriculares das disciplinas de Sociologia
e Filosofia no Ensino Mdio, elaborado pela Secretaria, com a participao de
representantes de vrias entidades.
31
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Esse Parecer (MORAES, 2007) entrou na pauta das reunies da
Cmara de Educao Bsica do Conselho Nacional de Educao, em
abril de 2006. Um amplo debate disseminou-se pelo Pas, alimentado
pelas diferentes associaes sindicais e cientfcas de socilogos e
flsofos, com o intuito de sensibilizar os conselheiros.
No dia 7 de julho de 2006, a Cmara de Educao Bsica apro-
vou por unanimidade o Parecer 38/2006 que alterou as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Mdio, tornando a Filosofa e a
Sociologia disciplinas obrigatrias. A Resoluo n 4, de 16 de agosto
de 2006, alterou o artigo 10 da Resoluo CNE/CEB n 3/98, que
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Mdio,
incluindo a Filosofa e a Sociologia como disciplinas curriculares
obrigatrias. Ainda em 2006, foram publicadas as Orientaes Cur-
riculares para o Ensino Mdio de Sociologia, aperfeioando o texto
publicado em 2004
4
.
O impacto dessas modifcaes legais em cada Estado dever ser
estudado e avaliado com maior cuidado. Entretanto, alguns estados
questionaram a validade dessas mudanas nas DCNEM, como por
exemplo, o Estado de So Paulo que resistiu a essa determinao e
segue implementando outra concepo de currculo coerente com
o esprito das DCNEM desde sua elaborao em 1997 e 1998. Dessa
forma, evidencia-se que a composio do campo ofcial de recon-
textualizao pedaggica , de fato, uma operao complexa, mul-
tifacetada, diferenciada em cada Estado do Pas. Todo esse aparato,
o campo ofcial da recontextualizao pedaggica, um campo de
lutas e disputas em torno de projetos educacionais extremamente
diversos. O Estado do Rio Grande do Sul tambm consultou o Con-
selho Estadual e titubeou, adiando ao mximo a implantao de
medidas que efetivassem a incluso da Filosofa e da Sociologia. Na
verdade, a maioria dos Estados foi cautelosa na implementao das
medidas e consultou o CNE sobre o modo como deveria organizar
4
Paralelamente s movimentaes no Legislativo e nas burocracias educacionais,
a discusso foi sendo reintroduzida em nossas sociedades cientfcas, como a
Associao Nacional de Ps Graduao em Cincias Sociais (ANPOCS) e a Socie-
dade Brasileira de Sociologia (SBS) que realizou, junto com a USP, o 1
o
Seminrio
Nacional de Ensino de Sociologia, nos dias 28 de fevereiro a 2 de maro de 2007
na Faculdade de Educao da USP. Criou-se, em junho de 2007, a Comisso de
Ensino de Sociologia no Congresso da SBS em Recife e mantm-se o GT Ensino
de Sociologia entre outras tantas atividades. Alm disso, o Sinsesp e a Apeoesp
organizaram o 1 Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia e de Filosofa,
em julho de 2007, em So Paulo, com a participao de cerca de 800 pessoas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
32
os currculos, o tempo de adaptao e implantao. Cumpre destacar
que nem todos questionaram a validade da medida, pois j vinham
incluindo a Filosofa e a Sociologia nos currculos, notadamente o
Distrito Federal, Par, Paran, Santa Catarina, Mato Grosso, Gois,
Rio de Janeiro
5
, entre outros.
Esse tipo de comportamento dos sistemas estaduais de educa-
o provocou uma reao das entidades de socilogos, sobretudo
do Sindicato dos Socilogos de So Paulo e da Federao Nacional
de Socilogos, que se articularam com deputados e senadores no
sentido de aprovar uma lei que obrigasse defnitivamente o ensino
das duas disciplinas e resolvesse, de uma vez, as dvidas sobre a
mudana nas DCNEM, realizadas em 2006. O projeto de lei ordenou
a incluso das duas disciplinas nas trs sries do Ensino Mdio. A
Lei n 11.684/08, que altera o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educao (LDB), de 20 de dezembro de 1996, foi sancionado em
2 de junho de 2008. Recentemente, o CNE regulamentou o modo
de implantao da Filosofa e Sociologia nas trs sries do Ensino
Mdio pela Resoluo n 01, de 15 de maio de 2009, ordenando que
se conclua a efetivao dessa medida at 2011.
4. Sntese da trajetria da disciplina nos currculos
e consequncias metodolgicas para o ensino da
Sociologia: lies para as aulas
No primeiro semestre de 2009 assistimos a implantao da So-
ciologia em todas as escolas de ensino mdio de todos os estados
do pas
6
. H variaes no modo como cada burocracia organizou
5
Esses Estados citados elaboraram Diretrizes Curriculares ou Propostas de Con-
tedos Ofciais para a Sociologia no Ensino Mdio nas dcadas de 1980, 1990
e 2000, cito alguns Estados e as datas dos documentos entre parnteses: Par
(1987); Amap (1994); Paran (1994, 2006, 2009); Distrito Federal (2000); Santa
Catarina (1998); Mato Grosso (1997); Minas Gerais (1990; 2008); So Paulo (1986;
1990, 2008); Rio de Janeiro (1997; 2005). Coordenamos uma pesquisa ainda em
fase inicial sobre as propostas curriculares de Cincias Sociais/Sociologia para o
Ensino Mdio nos Estados do Pas e j pudemos observar que, desde a dcada
de 1980 vrias propostas foram elaboradas nos Estados. Depois da promulgao
da LDB de 1996, esse processo foi acelerado.
6
A Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) realizou o I Encontro Nacional de
Ensino de Sociologia na Educao Bsica, nos dias 25 a 27 de julho de 2009 na
UFRJ (participao de cerca de 300 pessoas) e manteve o GT Ensino de Sociologia
no seu Congresso bianual, realizado na seqncia e que comemorou os 60 anos
de existncia da entidade.
33
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
as grades curriculares. Tem sido comum inclu-la com uma hora
aula em cada srie ou uma ou duas horas aulas em uma das s-
ries, normalmente na terceira. Tendo em vista que as escolas tm
autonomia relativa para defnir suas grades curriculares, h esco-
las que a incluram com duas horas aulas em cada srie e estados
como o Distrito Federal que desde 2000 padronizou o currculo e
determinou a insero da Sociologia e da Filosofa com duas horas
aulas semanais em cada srie (na primeira, segunda e terceira). O
Estado de So Paulo decidiu inseri-la com uma hora aula em cada
srie e iniciou a elaborao de Cadernos de apoio aos professores e
aos alunos, j produziram dois volumes referentes a cada uma das
sries para professores e alunos
7
.
O Estado do Paran, em conjunto com os professores fez revi-
ses nas Diretrizes Curriculares de Sociologia de 2006 e publicou
uma nova e ampliada em 2009. Tambm revisou o Livro Didtico
Pblico de Sociologia, escrito por vrios professores da rede de
ensino e publicado em 2006
8
.
Temos notcias de que na maioria dos estados h movimentao
de produo de materiais didticos para os alunos e/ou de apoio
aos professores, instigando vrios agentes da academia, das escolas,
das burocracias a pensarem nas Cincias Sociais/Sociologia para os
adolescentes, jovens e adultos matriculados em nossas escolas.
Desafamos os professores a contriburem com esses processos
e, como sugesto metodolgica de operao, com os contedos da
histria do ensino das Cincias Sociais/Sociologia, propomos duas aes
pedaggicas, ambas baseadas nos seguintes pressupostos: do pro-
fessor como intelectual e produtor de saberes sobre sua prtica, sua
escola, seus alunos e sua disciplina; do estudante como sujeito do
processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a pesquisa torna-
se um instrumento interessante para o docente no seu tempo de
elaborao das aulas e nas aulas junto com os alunos.
7
SO PAULO. Secretaria de Estado da Educao. CENP. Caderno do Professor:
sociologia, ensino mdio - vrios volumes. Equipe Heloisa Helena Teixeira de
Souza Martins, Melissa de Matos Pimenta, Stella Christina Schrinemaekers. So
Paulo: SEE, 2009. A mesma equipe elaborou o Caderno do Aluno (dois volumes
para cada srie, totalizando, at julho de 2009, seis cadernos de alunos e seis
cadernos dos professores).
8
Tanto as Diretrizes Curriculares como o Livro Didtico Pblico de Sociologia
podem ser acessados e copiados no stio: htp://www.diaadiaeducacao.pr.gov.
br/diaadia/diadia/
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
34
Situao 1
Elaborao do Projeto Poltico-Pedaggico da escola. Todas as
escolas no Brasil so obrigadas a elaborar seus Projetos Poltico-
Pedaggicos (PPPs). A cada dois anos, as secretarias de educao
solicitam atualizaes e sempre que o MEC e as prprias SEEDs
lanam novas regulamentaes sobre os currculos, formas de pro-
gresso dos estudantes, projetos e programas, as escolas tm que
rever seus PPPs. Por exemplo, com as medidas que exigem a inclu-
so da Sociologia nos currculos, as escolas tm se obrigado a rever
suas grades curriculares e, certamente, os professores de Sociologia
devero participar das reformulaes. Como usar esse espao para
ajudar a escola a ampliar suas possibilidades de aes? Como inserir
a Sociologia no projeto maior da escola? Como a histria da disciplina
poderia nos indicar contedos e metodologias? Quais as justifcativas
para o ensino de Sociologia? O que a histria demonstra?
No seria interessante fazer um levantamento sobre o ensino da
Sociologia no municpio, no Estado e na escola? Essa disciplina j
foi ensinada em outras pocas? H programas de ensino na escola
e/ou livros e materiais sobre esse ensino? H diretrizes de contedos
antigos e atuais? O que elas propem?
A ideia central aqui potencializar o conhecimento sobre a
nossa tradio de ensino de Sociologia. Alm disso, poderamos ex-
trair da memria construda mais justifcativas e metodologias de
legitimao da disciplina no interior da prpria escola.
Alm da histria da disciplina na escola e/ou no Estado de atu-
ao, interessante colocar disposio da escola os instrumentos
de diagnsticos que os socilogos dominam, ajudando os demais
agentes na realizao de uma verdadeira anlise da situao da
escola e dos estudantes para subsidiar a criao do projeto poltico-
pedaggico da unidade educativa.
Situao 2
Poder-se-ia pensar em pesquisas sobre a memria da Sociologia
junto com os alunos, que se mobilizariam para questionar seus pais,
familiares, vizinhos, colegas de trabalho sobre as representaes que
fazem da Sociologia, se j ouviram algo sobre essa cincia, o que
ouviram ou aprenderam sobre ela. Na prpria escola, os estudan-
tes possibilitariam a elaborao de instrumentos, enquetes sobre
as expectativas em torno da disciplina e sobre como professores de
35
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
outras reas tiveram contato com esses contedos, enfm, h que se
imaginar formas de tambm contar com os alunos na construo e/
ou apropriao da histria e da memria do ensino de Sociologia
nas diferentes regies e escolas do Pas.
Livros e textos para as atividades na escola
CARVALHO, Lejeune Mato Grosso (Org). Sociologia e ensino em debate: experi-
ncias e discusso de sociologia no ensino mdio. Iju: Ed. Uniu, 2004.
CRONOS. Revista do Programa de Ps-Graduao em Cincias Sociais da UFRN.
Natal: UFRN, v. 8, n. 2, jul./dez. 2007. (publicado em 2008). Dossi Ensino da So-
ciologia no Brasil. Disponvel em: <htp://www.cchla.ufrn.br/cronos/atual.html>.
Acesso em: 28 ago. 2009.
HANDFAS, Anita; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de (Org.). A Sociologia vai Escola:
Histria, Ensino e Docncia. Rio de Janeiro: Quartet; Faperj, 2009.
MEDIAES. Revista de Cincias Sociais do Programa de Ps-graduao da Univer-
sidade Estadual de Londrina. Londrina: UEL, v. 12, n. 1, jan./jun. 2007. (publicado
em 2008). Dossi Ensino de Sociologia. Disponvel em: <htp://www2.uel.br/revistas/
mediacoes/mediacoes_v12n1_2007.html>. Acesso em: 28 ago. 2009.
MEUCCI, Simone. A Institucionalizao da Sociologia no Brasil: os primeiros
manuais e cursos [1900-1948]. 2000. Dissertao (Mestrado em Sociologia) IFCH-
Unicamp, Campinas, 2000.
PLANCHEREL, Alice Anabuki; OLIVEIRA, Evelina Antunes F. (Org.). Leituras
sobre Sociologia no Ensino Mdio. Macei: Edufal, 2007.
RESES, Erlando da Silva. ...E com a Palavra: Os Alunos Estudo das Representa-
es Sociais dos Alunos da Rede Pblica do Distrito Federal sobre a Sociologia no
Ensino Mdio [2002-2003]. Braslia, DF: UnB, 2004.
SANTOS, Mrio Bispo dos. A Sociologia no Ensino Mdio: O que pensam os
professores da Rede Pblica do Distrito Federal [1997-2002]. 2002. Dissertao
(Mestrado em Sociologia) Instituto de Cincias Sociais, Universidade de Braslia,
Braslia, DF, 2002.
SARANDY, Flvio Marcos Silva. Sociologia. In: SILVEIRA, Ronie A.; GHIRALDELLI
JNIOR, Paulo (Org.). Humanidades. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 27-48.
Referncias
BERNSTEIN, Basil. A Estruturao do discurso pedaggico: classes, cdigos e
controle. Petrpolis: Vozes, 1996.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
36
______. A Pedagogizao do conhecimento: estudos sobre recontextualizao. Ca-
dernos de Pesquisa, So Paulo, n. 20, p. 75-110, nov. 2003.
BOMENY, Helena M. B. Educao Moral e Cvica: uma experincia de socializao
poltica. Dados, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 151-170, 1980.
______; BIRMAN, Patrcia (Org.). As assim chamadas Cincias Sociais: formao
do cientista social no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, 1991.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional -
LDB. Lei n 9.394/96. Braslia, 1997.
BRASIL. MEC. SEMTEC. Parmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Mdio
Bases Legais. Braslia: Ministrio da Educao, 2000.
CAJU, Andria Vnia Ferreira. Anlise da disciplina Sociologia na Educao Pro-
fssional: refexes a partir de um estudo de caso. 2005. 129 f. Dissertao (Mes-
trado em Educao Agrcola) Seropdica, Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
CARVALHO, Lejeune Mato Grosso (Org). Sociologia e ensino em debate: experi-
ncias e discusso de sociologia no ensino mdio. Iju: Ed. Uniu, 2004.
CIAVATTA, Maria; FRIGOTTO, Gaudncio (Org.). Ensino Mdio: cincia, cultura
e trabalho. Braslia: MEC, Semtec, 2004.
CORREA, Lesi. A Importncia da disciplina Sociologia, no currculo de 2
o
. Grau:
a questo da cidadania, problemas inerentes ao estudo da disciplina em 2 escolas
ofciais de 2
o
. Grau de Londrina-PR. 1993. Dissertao (Mestrado em Educao)
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, So Paulo, 1993.
CRONOS. Revista do Programa de Ps-Graduao em Cincias Sociais da UFRN.
Natal: UFRN, v. 8, n. 2, jul./dez. 2007. Dossi Ensino da Sociologia no Brasil. Dispo-
nvel em: <htp://www.cchla.ufrn.br/cronos/atual.html>. Acesso em: 28 ago. 2009.
ERAS, Lgia Wilhelms. O trabalho docente e a discursividade da autopercepo
dos professores de Sociologia e Filosofa no ensino mdio em Toledo/PR: entre
angstias e expectativas. 2006. Dissertao (Mestrado em Letras Interdisciplinar em
Linguagem e Sociedade) Universidade Estadual do Oeste do Paran, 2006.
FERNANDES, Florestan. A Sociologia no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1980.
GIDDENS, Anthony. Notas Crticas: Cincia Social, Histria e Geografa. In: ______.
A Constituio da Sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 1989. p. 287-300.
GIGLIO, Adriano Carneiro. A Sociologia na Escola Secundria: uma questo das
Cincias Sociais no Brasil - Anos 40 e 50. 1999. 88 f. Dissertao (Mestrado em
Sociologia) Iuperj, Rio de Janeiro, 1999.
GLEESON, D; WHITTY, G. O ensino das Cincias Sociais: inovaes no ensino
secundrio. Lisboa: Livros Horizonte, 1976.
GOMBI, Rosemary Batista de Oliveira. A Disciplina sociologia no ensino mdio
e sua contribuio para a formao da cidadania. In: BERBEL, Neusi A. Navas.
37
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Metodologia da Problematizao: experincias com questes do Ensino Superior,
Ensino Mdio e Clnica. Londrina: EDUEL, 1998. p. 197-232.
GUELFI, Wanirley Pedroso. A Sociologia como disciplina Escolar no Ensino Se-
cundrio Brasileiro: 1925-1942. 2001. 194 f. Dissertao (Mestrado em Educao)
Setor de Educao da Universidade Federal do Paran, Curitiba, 2001.
HANDFAS, Anita; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de (Org.). A Sociologia vai Escola:
Histria, Ensino e Docncia. Rio de Janeiro: Quartet, Faperj, 2009.
LIEDKE FILHO, Enno Dagoberto. Sociologia brasileira: tendncias institucionais
e epistemolgico-tericas contemporneas. Sociologias, Porto Alegre, ano 5, n. 9,
p. 216-245, jan./jun. 2003.
MACHADO, Celso de Souza. O Ensino da Sociologia na escola secundria bra-
sileira: levantamento preliminar. Revista da Faculdade de Educao, So Paulo,
v. 13, n. 1, p. 115-142, 1987.
MACHADO, Olavo. O Ensino de Cincias Sociais na Escola Mdia. 1996. 199 f.
Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade de
So Paulo, So Paulo, 1996.
MARTINS, Carlos Benedito et al. Mestres e doutores em Sociologia. BIB: Boletim
Informativo e Bibliogrfco de Cincias Sociais, Rio de Janeiro, n. 53, p. 119-142,
2002.
______. A Ps-graduao e os cursos de Sociologia no Brasil. Braslia: Ed. UnB,
1995. p. 35-54.
MEDIAES. Revista de Cincias Sociais do Programa de Ps-graduao da Univer-
sidade Estadual de Londrina. Londrina: UEL, v. 12, n. 1, jan./jun. 2007. (publicado
em 2008). Dossi Ensino de Sociologia. Disponvel em: <htp://www2.uel.br/revistas/
mediacoes/mediacoes_v12n1_2007.html>. Acesso em: 28 ago. 2009.
MEKSENAS, Paulo. O ensino de Sociologia na Escola Secundria. In: GRUPO DE
PESQUISA EM SOCIOLOGIA DA EDUCAO. Leituras & Imagens. Florianpolis:
Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, 1995. p. 67-79.
MEUCCI, Simone. A Institucionalizao da Sociologia no Brasil: os primeiros ma-
nuais e cursos. 2000. 157 f. Dissertao (Mestrado em Sociologia) IFCH-Unicamp,
Campinas, 2000.
______. Sociologia para normalistas: a experincia docente de Gilberto Freyre na
Escola Normal Ofcial de Pernambuco (1929-1930). Trabalho apresentado no XII
Congresso Brasileiro de Sociologia, Belo Horizonte, 2005.
MICELI, Srgio. Condicionantes do desenvolvimento das Cincias Sociais. In: ______.
(Org.). Histria das Cincias Sociais no Brasil. So Paulo: Vrtice, 1989. v. 1.
______. O cenrio institucional das Cincias Sociais no Brasil. In: ______. (Org.).
Histria das Cincias Sociais no Brasil. So Paulo: Sumar, 1995. v. 2.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
38
MONTYSUMA, Hildo Cezar Freire. Por um projeto de currculo cientifco para o
ensino mdio no Brasil. Curitiba: SEED, 2005.
MORAES, Amaury Csar. Licenciatura em Cincias Sociais e Sociologia. Tempo
Social, So Paulo, v. 15, n. 1, p. 5-20, maio 2003.
______. O Veto: o sentido de um gesto. Boletim Sinsesp, So Paulo, p. 10-12,
nov. 2001.
______. O Veto: o sentido de um gesto. In: CARVALHO, Lejeune Mato Grosso
(Org.). Sociologia e ensino em debate: experincias e discusso de sociologia no
ensino mdio. Iju: Ed. Uniu, 2004. p. 105-111.
______. Parecer sobre o Ensino de Filosofa e de Sociologia. Mediaes, Revista de
Cincias Sociais do Programa de Ps-graduao da Universidade Estadual de Lon-
drina, Londrina, v. 12, n. 1, jan./jun. 2007. Dossi Ensino de Sociologia. Disponvel
em: <htp://www2.uel.br/revistas/mediacoes/mediacoes_v12n1_2007.html>. Acesso
em: 28 ago. 2009.
______; GUIMARAES, Elisabeth Fonseca; TOMAZI, Nelson Dcio. Sociologia. In:
BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Bsica. Departamento de
Polticas de Ensino Mdio. Orientaes Curriculares do Ensino Mdio. Braslia,
DF, 2004. p. 343-372.
MOTA, Kelly Cristine Corra da Silva. Os lugares da sociologia na educao
escolar de jovens do ensino mdio: formao ou excluso da cidadania e da cr-
tica? 2003. Dissertao (mestrado) Universidade do Vale do Rio dos Sinos, So
Leopoldo, RS, 2003.
______. Os lugares da sociologia na formao de estudantes do ensino mdio: as
perspectivas de professores. Revista Brasileira de Educao, Rio de Janeiro, n.
29, 2005.
NIDELCOFF, M. T. As Cincias Sociais na Escola. So Paulo: Brasiliense, 1987.
NOGUEIRA, Oracy. A Sociologia no Brasil. In: FERRI, M. G.; MOTOYAMA, S.
(Org.). Histria das Cincias no Brasil. So Paulo: EPU, 1981. p. 181-234.
OLIVEIRA, Mrcio de (Org.). As Cincias Sociais no Paran. Curitiba: Pro-
texto, 2006.
PACHECO FILHO, Clovis. Dilogo de surdos: as difculdades para a constru-
o da Sociologia e de seu Ensino no Brasil [1850-1935]. 1994. 1085 f. Dissertao
(Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 1994.
PAOLI, Niuvenius J. As relaes entre Cincias Sociais e Educao nos anos 50/60
a partir das histrias e produes intelectuais de quatro personagens: Josildeth
Gomes Consorte, Aparecida Joly Gouveia, Juarez Brando e Oracy Nogueira. 1995.
554 f. Tese (Doutorado) Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo, So
Paulo, 1995.
39
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
______. Licenciaturas: o discurso e a realidade. Cincia e Cultura, So Paulo, v.
40, n. 2, p. 147-151, 1988.
PASSERON, Jean-Claude. O Raciocnio Sociolgico: o espao no-popperiano do
raciocnio natural. Traduo Beatriz Sidou. Petrpolis: Vozes, 1995.
PAVEI, Katiuci. Cincias Sociais/Sociologia na escola: Problematizando saberes
docentes e a formao de professores/professoras. 2008. Dissertao (Mestrado em
Educao) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
PENTEADO, Helosa Dupas. A formao do profssional professor: a questo da
relao entre docncia e cincia. Curitiba: UFPR/Prograd, 1994. (Graduao em
Debate, n. 3).
______. O Socilogo como professor no ensino de 1
o
. e 2
o
. Grau. Revista da Faculda-
de de Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 85-96, 1981.
PERUCCHI, Luciane. Saberes Sociolgicos nas escolas de nvel mdio sob a Di-
tadura Militar: os livros didticos de OSPB Organizao Social e Poltica do
Brasil. 2009. Dissertao (Mestrado) Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianpolis, 2009.
PESSANHA, Eliana; VILLAS BAS, Glaucia (Org.). Cincias Sociais: ensino e
pesquisa na graduao. Rio de Janeiro: J. Editora, 1995.
PLANCHEREL, Alice Anabuki; OLIVEIRA, Evelina Antunes F. (Org.). Leituras
sobre Sociologia no Ensino Mdio. Macei: Edufal, 2007.
RESES, Erlando da Silva. ...E com a Palavra: Os Alunos. Estudo das Representa-
es Sociais dos Alunos da Rede Pblica do Distrito Federal sobre a Sociologia no
Ensino Mdio. Braslia, DF: UnB, 2004.
RIOS, Jose Arthur. Cincias Sociais (verbete). In: DICIONRIO de Cincias Sociais.
So Paulo: FGV, 1986.
SANTOS, Mrio Bispo dos. A Sociologia no Ensino Mdio: O que pensam os
professores da Rede Pblica do Distrito Federal. 2002. 170 f. Dissertao (Mestrado
em Sociologia) Instituto de Cincias Sociais, Universidade de Braslia, Braslia,
DF, 2002.
SARANDY, Flvio Marcos Silva. A sociologia volta escola: um estudo dos ma-
nuais de sociologia para o ensino mdio no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
______. Sociologia. In: SILVEIRA, Ronie A.; GHIRALDELLI JNIOR, Paulo (Org.).
Humanidades. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 27-48.
SILVA, Ileizi Luciana Fiorelli. A presena do tema Ensino de Sociologia em pe-
ridicos e pesquisas no Brasil. Disponvel em: <htp://www2.uel.br/grupo-estudo/
gaes/>. Acesso em: 28 ago. 2009.
______. Das fronteiras entre cincia e educao escolar: as confguraes do en-
sino das Cincias Sociais/sociologia, no Estado do Paran (1970-2002). 2006. Tese
(Doutorado em Sociologia) Universidade de So Paulo, So Paulo, 2006.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
40
TAKAGI, Cassiana Tieme Tedesco. Ensinar sociologia: anlise dos recursos de
ensino na escola mdia. 2007. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade
de Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2007.
VILLAS BAS, Glucia (Org.). A importncia de dizer no e outros ensaios so-
bre a recepo da Sociologia em escolas cariocas. Rio de Janeiro: Laboratrio de
Pesquisa Social/IFCS/UFRJ, 1998. (Iniciao Cientfca, n. 8).
WERNECK VIANNA, Luiz et al. Cientistas sociais e vida pblica. Dados, Rio de
Janeiro, v. 37, n. 3, p. 383, 1994.
______ et al. As Cincias Sociais no Brasil: a formao de um sistema nacional
de ensino e pesquisa. BIB: Boletim Informativo e Bibliogrfco de Cincias Sociais,
Rio de Janeiro, n. 40, p. 27-63, 1995.
______ et al. Doutores e Teses em Cincias Sociais. Dados. Rio de Janeiro, v. 41,
n. 3, p. 453-516, 1998.
QUADRO-RESUMO - A SOCI OLOGI A NO CONTEXTO
DAS REFORMAS EDUCACI ONAI S 1891/ 2008
(MARI O BI SPO SANTOS, COMPLETADO POR I LEI ZI )
1. (1891 -1941) INSTITUCIONALIZAO DA SOCIOLOGIA NO
ENSINO MDIO
1891 A Reforma Benjamin Constant prope, pela primeira vez no Brasil, a
Sociologia como disciplina do ensino secundrio.
1901 A Reforma Epitcio Pessoa retira ofcialmente a Sociologia do curr-
culo, disciplina esta que nunca chegou a ser ofertada.
1925 A Reforma Rocha Vaz coloca novamente a Sociologia como disciplina
obrigatria do curso secundrio, no 6 ano. Como decorrncia dessa Refor-
ma, ainda em 1925, a Sociologia ofertada aos alunos do Colgio Pedro II,
no Rio de Janeiro, tendo como professor Delgado Carvalho.
1928 A Sociologia passa a constar dos currculos dos cursos normais de
estados como So Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, onde foi ministrada
por Gilberto Freyre, no Ginsio Pernambucano de Recife.
1931 A Reforma Francisco Campos organiza o ensino secundrio num
ciclo fundamental de cinco anos e num ciclo complementar dividido em trs
opes destinadas preparao para o ingresso nas faculdades de Direito,
de Cincias Mdicas e de Engenharia e Arquitetura. A Sociologia foi includa
como disciplina obrigatria no 2 ano dos trs cursos complementares.
1933 Criao da Escola Livre de Sociologia e Poltica de So Paulo.
41
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
1934 Fundao da Universidade de So Paulo, que conta com Fernando de
Azevedo como o primeiro diretor de sua Faculdade de Filosofa, Cincias e
Letras, e como catedrtico de Sociologia.
1935 - Introduo da disciplina Sociologia no curso normal do Instituto
Estadual de Educao de Florianpolis com o apoio de Roger Bastide,
Donald Pierson e Fernando de Azevedo.
1942 A Reforma Capanema retira a obrigatoriedade da Sociologia dos
cursos secundrios, com exceo do curso normal.
2. (1942-1981) AUSNCIA DA SOCIOLOGIA COMO
DISCIPLINA OBRIGATRIA
1949 No Simpsio O Ensino de Sociologia e Etnologia, Antnio Cndido
defende o retorno da Sociologia aos currculos da escola secundria.
1954 No Congresso Brasileiro de Sociologia, em So Paulo, Florestan
Fernandes discute as possibilidades e limites da Sociologia no ensino
secundrio.
1961 Aprovao da Lei 4.024, de 20 de dezembro, a primeira Lei de
Diretrizes e Bases promulgada no Pas. A LDB manteve a diviso do Ensino
Mdio em dois ciclos: ginasial e colegial.
1962 O Conselho Federal de Educao e o Ministrio da Educao
publicam Os novos currculos para o ensino mdio. Neles constavam o conjunto
das disciplinas obrigatrias, a lista das disciplinas complementares e um
conjunto de sugestes de disciplinas optativas. Sociologia no constava de
nenhum dos trs conjuntos.
1963 Resoluo n 7, de 23 de dezembro, do Conselho Estadual de Educao
de So Paulo, na qual a Sociologia estaria presente como disciplina optativa
nos cursos clssicos, cientfco e ecltico.
1971 Lei n 5.692, de agosto, a Reforma Jarbas Passarinho que torna
obrigatria a profssionalizao no ensino mdio. A Sociologia deixa tambm
de constar como disciplina obrigatria do curso normal.
3. (1982-2001) REINSERO GRADATIVA DA SOCIOLOGIA
NO ENSINO MDIO
1982 Lei 7.044, de 18 de outubro, que torna optativa para escolas a profs-
sionalizao no ensino mdio.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
42
1983 Associao dos Socilogos de So Paulo promove a mobilizao da
categoria em torno do Dia Estadual de Luta pela volta da Sociologia ao 2
Grau, ocorrido em 27 de outubro.
1984 A Sociologia reinserida nos currculos das escolas de So Paulo.
1986 A Sociologia passa a constar dos currculos das escolas do Par e do
Distrito Federal.
1989 A Sociologia torna-se disciplina constante da grade curricular das es-
colas do Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. A constituinte
mineira e fuminense tornam obrigatrio o ensino de Sociologia.
1996 Nova Lei de Diretrizes e Bases Lei n 9394, de 20 de dezembro, na
qual, os conhecimentos de Sociologia e Filosofa so considerados funda-
mentais no exerccio da cidadania.
1997 A Sociologia torna-se disciplina obrigatria do vestibular da Univer-
sidade Federal de Uberlndia.
1998 Aprovao do Parecer n 15, de 1 de junho, com as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Ensino Mdio (DCNEM), nas quais os conheci-
mentos de Sociologia so includos na rea de Cincias Humanas e suas
Tecnologias.
1999 Ministrio da Educao lana os Parmetros Curriculares para o En-
sino Mdio (PCNEM) que trazem as competncias relativas aos conheci-
mentos de Sociologia, Antropologia e Cincia Poltica.
2000 No novo currculo das escolas pblicas do Distrito Federal, a Socio-
logia aparece como disciplina obrigatria das trs sries do ensino mdio,
com carga semanal de duas horas-aula.
2001 Vetado pelo Presidente da Repblica, o projeto de lei do Deputado
Padre Roque, do Partido dos Trabalhadores do Paran, que torna obrigatrio
o ensino de Sociologia e Filosofa em todas as escolas pblicas e privadas.
2001 Veto presidencial em apreciao no Congresso Nacional.
2003 Inicia-se nova equipe no MEC e nas secretarias de ensino mdio e
ensino profssionalizante (Governo de Luiz Incio Lula da Silva LULA,
2003-2006).
UEL introduz Sociologia nas Provas do Vestibular.
2004 Forma-se uma equipe para rever os PCNEM. O MEC solicita s so-
ciedades cientfcas a indicao de intelectuais ligados ao ensino para refor-
mularem os PCNEM. Amaury Moraes e sua equipe inicia a elaborao das
Orientaes Curriculares para o Ensino Mdio Sociologia.
43
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
2005 Amaury Moraes elabora o Parecer que questiona as DCNEM e enca-
minha ao MEC que encaminha ao CNE.
Cria-se o Grupo de Trabalho GT Ensino de Sociologia na Sociedade Brasi-
leira de Sociologia e ocorrem duas sesses especiais sobre as questes do
ensino no Congresso em Belo Horizonte.
2006 O CNE analisa a matria e vota favorvel ao Parecer e mudana das
DCNEM, tornando a Filosofa e a Sociologia componentes ou disciplinas
curriculares obrigatrias em ao menos uma srie do Ensino Mdio.
2007 Vrios estados da federao questionam essa medida junto ao CNE
e aguardam o debate antes de implementarem; foram os casos de SP e RS.
A maioria dos estados continuou a implantao da disciplina, elaborando
diretrizes curriculares estaduais, realizando concursos pblicos para pro-
fessores de Sociologia e estruturando materiais didticos.
A SBS realiza junto com a USP o 1
o
Seminrio Nacional de Ensino de Sociolo-
gia nos dias 28 de fevereiro a 2 de maro, na Faculdade de Educao da USP.
Cria-se a Comisso de Ensino de Sociologia no Congresso da SBS em Recife
e mantm-se o GT Ensino de Sociologia, entre outras tantas atividades.
O Sinsesp e a Apeosp organizam o 1 Encontro Nacional sobre Ensino de
Sociologia e de Filosofa, em julho, em So Paulo, com a participao de
cerca de 800 pessoas.
UFPR introduz Sociologia nas provas do Vestibular.
A Editora Escala cria a Revista mensal Sociologia: Cincia & Vida, revista
vendida na maioria das bancas do Pas.
2008 Diante das resistncias de alguns estados em acatar a mudana das
DCNEM o Sindicato dos Socilogos de So Paulo Sinsesp liderou mais um
movimento de presso pela aprovao da lei que obriga o ensino de Filo-
sofa e Sociologia nas trs sries do Ensino Mdio, no Congresso e Senado
Federal. Em 2 de junho de 2008, o Presidente da Repblica em exerccio, Jos
de Alencar, assinou a lei 11.684.
A UFRN, com o apoio da SBS realiza o 1
o
Seminrio Nacional de Educao
e Cincias Sociais, nos dias 18 e 19 de abril, em Natal.
A FE-UFRJ, com o apoio do MEC e SBS, realizou o 1
o
Encontro Estadual
sobre Ensino de Sociologia na Educao Bsica, no Rio de Janeiro, em 19 a
21 de setembro de 2008.
A FCS da UFG, realizou o 5
o
Seminrio sobre Sociologia no Ensino Mdio,
em Goinia-GO, em setembro de 2008
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
44
2009 O CNE regulamenta o modo de implantao da Filosofa e Sociologia
nas trs sries do Ensino Mdio pela Resoluo n 1, de 15 de maio de 2009,
ordenando que se conclua a efetivao dessa medida at 2011.
A SBS realiza o 1
o
Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educao
Bsica, nos dias 25 a 27 de julho na UFRJ (participao de cerca de 300 pes-
soas) e mantm o GT Ensino de Sociologia no seu Congresso bianual, reali-
zado na sequncia e que comemorou os 60 anos de existncia da entidade.
A FCS da UFG, realizou o 6
o
Seminrio sobre Sociologia no Ensino Mdio,
em Goinia-GO, em setembro de 2009.
45
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
O objetivo deste texto fazer uma leitura complementar do
documento das Orientaes Curriculares para o Ensino Mdio Co-
nhecimentos de Sociologia, daqui para frente OCEM-Sociologia, espe-
cifcamente no que se refere aos componentes das propostas para
se ensinar a disciplina no nvel mdio. A inteno discutir o
documento OCEM, levantando questes e possibilidades em torno
do ensino da disciplina. um texto dirigido aos professores que
esto lecionando Sociologia no Ensino Mdio e, como tal, se prope
a analisar e ampliar alternativas para a prtica docente. A partir
das OCEM-Sociologia, sero discutidos, num primeiro momento,
os princpios epistemolgicos que caracterizam a pesquisa e o ensino
das Cincias Sociais, quais sejam, estranhamento e desnaturalizao;
na sequncia, vamos examinar os princpios metodolgicos que orien-
tam o ensino da disciplina, verifcveis em trs recortes conceitos,
temas e teorias , sem deixar de discutir tambm a pesquisa como
princpio transversal. Na parte fnal, vamos examinar alguns exemplos
de recursos didticos, concentrando-nos mais em aspectos metodo-
lgicos propriamente ditos.
Captulo 2
Metodologia de Ensino de
Cincias Sociais: relendo
as OCEM-Sociologia
Amaury Cesar Moraes*
Elisabeth da Fonseca Guimares**
* Doutor em Educao. Professor da Faculdade de Educao da USP.
** Doutora em Educao. Professora da Universidade Federal de Uberlndia.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
46
Princpios epistemolgicos: estranhamento
e desnaturalizao
As OCEM-Sociologia indicam uma disposio necessria dois
fundamentos, perspectivas, ou princpios epistemolgicos para o
desenvolvimento do ensino da Sociologia no Ensino Mdio: estra-
nhamento e desnaturalizao.
Estr anhamento
Estranhamento o ato de estranhar no sentido de admirao,
de espanto diante de algo que no se conhece ou no se espera; por
achar estranho, ao perceber (algum ou algo) diferente do que se co-
nhece ou do que seria de se esperar que acontecesse daquela forma;
por surpreender-se, assombrar-se em funo do desconhecimento
de algo que acontecia h muito tempo; por sentir-se incomodado
ou ter sensao de incmodo diante de um fato novo ou de uma
nova realidade; por no se conformar com alguma coisa ou com a
situao em que se vive; no se acomodar; rejeitar.
Estranhar, portanto, espantar-se, no achar normal, no se
conformar, ter uma sensao de insatisfao perante fatos novos ou
do desconhecimento de situaes e de explicaes que no se conhe-
cia. Estranhamento espanto, relutncia, resistncia. Estranhamento
uma sensao de incmodo, mas agradvel incmodo vontade
de saber mais e entender tudo , sendo, pois, uma forma superior
de duvidar. Ferramenta essencial do ceticismo.
Problematizar um fenmeno social fazer perguntas com o
objetivo de conhec-lo: Por que isso ocorre? Sempre foi assim?
algo que s existe agora? Por exemplo: quando hoje estamos
frente questo da violncia, devemos perguntar: Houve violncia
em todas as sociedades? Como era a violncia na Antiguidade? Em outros
pases, h a violncia que vemos no nosso cotidiano? H um s tipo de
violncia? Quais as razes para tais e quais tipos de violncia?
Estranhar situaes conhecidas, inclusive aquelas que fazem
parte da experincia de vida do observador, uma condio neces-
sria s Cincias Sociais para ultrapassar ir alm interpretaes
marcadas pelo senso comum, e cumprir os objetivos de anlise sis-
temtica da realidade.
Desnatur al i zao
muito comum no nosso cotidiano ouvirmos a expresso:
Isso natural. Esta expresso nos remete ideia de algo que sempre
47
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
foi, ou ser da mesma forma, imutvel no tempo e no espao. Em
consequncia, por isso que tambm ouvimos expresses como:
natural que exista a desigualdade social, pois afnal est na Bblia e
os pobres sempre existiro.
Assim, as pessoas manifestam o entendimento de que os fen-
menos sociais so de origem natural, nem lhes passando pela cabea
que tais fenmenos so na verdade constitudos socialmente, isto ,
historicamente produzidos, resultado das relaes sociais.
Para desfazer esse entendimento imediato, um papel central que
o pensamento sociolgico realiza a desnaturalizao das concepes
ou explicaes dos fenmenos sociais. H uma tendncia sempre
recorrente de se explicarem as relaes sociais, as instituies, os mo-
dos de vida, as aes humanas, coletivas ou individuais, a estrutura
social, a organizao poltica etc. com argumentos naturalizadores.
Primeiro, perde-se de vista a historicidade desses fenmenos, isto
, que nem sempre foram assim; segundo, que certas mudanas
ou continuidades histricas decorrem de decises, e essas, de inte-
resses, ou seja, de razes objetivas e humanas, no sendo fruto de
tendncias naturais.
Procurando fazer uma ponte entre o estranhamento e a desna-
turalizao, pode-se afrmar que a vida em sociedade dinmica,
em constante transformao; constitui-se de uma multiplicidade de
relaes sociais que revelam as mediaes e as contradies da reali-
dade objetiva de um dado perodo histrico. representada por um
conjunto de aes que se caracterizam pela capacidade de alterar o
curso dos acontecimentos, e provocar transformaes no processo
histrico. Os saberes sociolgicos so construdos a partir da sis-
tematizao terica e prtica do processo social e a ao concreta
dos homens delimita o campo de anlise sociolgica; alm disso, a
dinmica da vida social oferece as ferramentas fundamentais para
a sistematizao do conhecimento.
Se o objeto de anlise da Sociologia tem como foco principal a vida
social, e todos ns fazemos parte desse objeto seres sociais em ao e,
ao mesmo tempo, protagonistas da anlise sociolgica , como manter
o distanciamento necessrio para a apreenso cientfca do real?
Uma das respostas a esse questionamento est na postura inicial
de atuao das Cincias Sociais, que supe a superao do senso
comum em direo a uma anlise cientfca da sociedade. o es-
tranhamento diante de situaes j consagradas como bvias, fami-
liares, naturais que caracteriza e confere especifcidade s Cincias
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
48
Sociais. Estranhar o j conhecido, o tido como natural, permite que
fenmenos aparentemente evidentes revelem dvidas, contradies,
desmandos e arbitrariedade em sua composio.
Esse processo de estranhamento, que tarefa tpica do pesqui-
sador social, s possvel mediante o distanciamento do fenmeno
social. Colocar-se distncia do fenmeno social ainda que o
mesmo faa parte da experincia de vida do pesquisador a pos-
sibilidade de ultrapassar os limites do senso comum que supe a
naturalidade da cultura , e inquietar-se com questes rotineiras e
consagradas pela normalidade.
essa propriedade das Cincias Sociais olhar para alm da
realidade imediata , que possibilita a dessacralizao e desnatura-
lizao dos fenmenos sociais, ao submet-los a critrios cientfcos
de anlise: pois os fenmenos sociais no participam do sagrado
no so obras divinas , nem da natureza no so regidos por
leis naturais : so humanos.
contribuio das Cincias Sociais, como a disciplina Sociolo-
gia para o nvel mdio, propiciar aos jovens o exame de situaes
que fazem parte do seu dia a dia, imbudos de uma postura crtica
e atitude investigativa. sua tarefa desnaturalizar os fenmenos
sociais, mediante o compromisso de examinar a realidade para alm
de sua aparncia imediata, informada pelas regras inconscientes da
cultura e do senso comum. Despertar no aluno a sensibilidade
para perceber o mundo sua volta como resultado da atividade
humana e, por isso mesmo, passvel de ser modificado, deve ser
a tarefa de todo professor.
Princpios metodolgicos: temas, teorias e conceitos
Os pressupostos metodolgicos aqui apresentados foram cons-
trudos e tm sido experimentados no ensino de Sociologia no n-
vel mdio desde sempre: conceitos, temas, teorias. A pesquisa nem
sempre enfrentada, uma vez que muitos professores ou por dif-
culdades de formao ou por concepo, no a incorporam ao seu
programa de curso. A rigor, cada um dos trs primeiros pressupostos
indica um caminho para o professor desenvolver o contedo pro-
gramtico. No entanto, impossvel trabalhar exclusivamente com
um desses recortes sem que sejam feitas referncias aos demais.
Ainda que tenham caractersticas que os distingam, cada recorte,
49
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
ao ser escolhido pelos professores para desenvolver determinada
unidade do programa de Sociologia, atua como condutor central do
trabalho docente; porm, depende da presena dos outros para que
a anlise seja mais completa. A pesquisa, por sua vez, a atividade
bsica para a construo do conhecimento cientfco, incluindo as
Cincias Sociais, e considerada por ns como sendo fundamental
para a prtica docente. um procedimento que, como dissemos
nas OCEM-Sociologia, pode complementar o trabalho expositivo
do professor, sucedendo s aulas, exemplifcando ou aprofundando
empiricamente o que foi apresentado; ou pode, quando antecipa
as aulas, provocar a curiosidade, o interesse, preparando o aluno
para o que vai ser ensinado, sistematizado pelo professor. A inte-
grao desses quatro elementos, com nfase dirigida quele que o
professor julgar mais apropriado para transmisso e refexo sobre
determinado contedo em sala de aula, informa prtica docente da
disciplina no Ensino Mdio.
Concei tos
O conceito um registro lingustico da cincia, com que se
prope a defnir terminologicamente um fenmeno, uma concepo,
uma relao. uma dimenso fundamental do trabalho cientfco
e, ao ser trabalhado em sala de aula pelos professores, permite o
domnio do vocabulrio bsico da linguagem sociolgica. O em-
prego de um conceito reclama o conhecimento do contexto hist-
rico e das condies ou razes tambm histricas que marcaram
sua elaborao. As Cincias Sociais Sociologia, Antropologia e
Cincia Poltica , assim como a Biologia ou a Geometria, tm seus
conceitos-chaves materializados em linguagem particular. Esses so
necessrios e possibilitam a compreenso dos discursos acerca da
realidade social propostos pelas Cincias Sociais. No Ensino Mdio,
os usados pelas Cincias Sociais precisam ser distinguidos do uso
comum dado pelas defnies dicionarizadas, de modo que o aluno
perceba o tratamento especfco desse campo cientfco dos proble-
mas vivenciados no dia a dia.
No caso de o professor optar pelo conceito para desenvolver
todo o contedo programtico da disciplina ou mesmo de determi-
nada unidade, precisa estar ciente de que o emprego de um conceito
para se ensinar um contedo sociolgico no nvel mdio deman-
da uma srie de referncias: em relao a sua origem, o contexto
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
50
social em que foi criado, os fenmenos que exigiram a traduo
das ansiedades sociais no momento de sua criao, as situaes
que antecederam e condicionaram as concepes de seus criado-
res, as propostas defnidoras do universo em que ele se constituiu
e as transformaes que sofreu em sua elaborao. necessrio
estar atento s caracterizaes mais gerais do conceito e esclarec-
las aos estudantes, antes de aprofundar no ensino do contedo em
questo. A nfase no signifcado que o conceito tem no campo das
Cincias Sociais precisa ser esclarecida, sobretudo frente ao carter
interdisciplinar com que se pode apresentar; ou seja, a possibilidade
de um nico conceito ser trabalhado por vrias cincias para expli-
car questes que se relacionam academicamente. Cada uma dessas
cin cias elabora uma defnio especfca, coerente com o seu objeto
de estudo, tendo em vista uma abordagem e uma metodologia de
pesquisa prpria. O conceito de cultura, por exemplo, est presente
em vrios campos do saber cientfco e ainda que seja uma palavra
de uso comum pelos estudantes, eles precisam distinguir os dife-
rentes sentidos que o termo encerra, percebendo o que caracteriza
o seu uso na anlise sociolgica.
Em Cincias Sociais, cada conceito construdo a partir de uma
necessidade de explicao que carrega consigo a historicidade e a
caracterizao do problema social que lhe deu origem, as construes
tericas que esse problema requer. Por isso mesmo, quando nos re-
ferimos aos conceitos no mbito das Cincias Sociais no possvel
trabalhar com defnies uniformizadas e homogneas.
Muitos conceitos ensinados no nvel mdio so oriundos do
pensamento sociolgico clssico. Esses conceitos podem ser toma-
dos como referenciais para a compreenso de fenmenos sociais
da sociedade contempornea, e, por serem capazes de elucidar
situaes emergentes da sociedade atual, so clssicos. Para o en-
sino de tais conceitos necessrio que se estabelea a mediao
pedaggica, ou seja, sua transformao em saberes escolares,
com caractersticas prprias (BRASIL, 2008), trata-se de traduzir
o conhecimento sociolgico em conhecimento adequado ao Ensino
Mdio, utilizando linguagem interessante e acessvel a estudantes
que esto iniciando no estudo da disciplina. Embora os conceitos
tenham historicidade, uma vez que um conceito elaborado para
responder uma necessidade de compreenso de questes sociais
de um momento preciso, eles podem se manter. Uma vez satisfeita
51
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
tal necessidade, o conceito continua a existir, mas empregado a
partir uma referncia histrica.
Temas
Trabalhar com temas a conduta metodolgica que mais atrai
professores de Sociologia, dadas as possibilidades de desenvolver
contedos clssicos e contemporneos das Cincias Sociais, relacio-
nando-os de modo muito prximo com a realidade dos alunos, com
seu cotidiano. A escolha dos temas est associada a essa familiaridade
que professores e estudantes apresentam em relao a certas questes
emergentes ou que se impe por si mesmas e que acabam estimulando
a discusso, a busca de respostas e entendimento. No entanto, o calor
das discusses no deve dissolver o carter sociolgico e acadmico
da anlise, embora se deva adequ-lo a essa fase de formao dos
alunos; isto , ao mesmo tempo em que se deve manter o interesse,
o entusiasmo, e mesmo a paixo pela discusso, um mnimo de rigor
precisa ser buscado a fm de demonstrar aos alunos as preocupaes
cientfcas que as Cincias Sociais mantm. O impacto causado pela
novidade do conhecimento sociolgico relativizado, uma vez que a
abordagem temtica pode se iniciar a partir de questes presentes
no dia a dia, que no so estranhas, que guardam proximidade com
a vida, os interesses ou preocupaes dos estudantes; no entanto, a
partir de informaes e um processo de estranhamento que se vai
operando durante os debates e a leitura de textos que tratam do
tema, a aparente familiaridade e o j sabido vo dando lugar ao co-
nhecimento sistematizado e crtico. Ao se optar por anlises temti-
cas, possvel articul-las a conceitos e teorias. Tomemos o caso do
tema movimentos sociais e articulemos tal tema com a luta pela terra,
introduzindo-o a partir de documentrios curtos sobre o movimento
dos sem-terra, reportagens de jornal, fotos, ou mesmo por uma visita
a um assentamento prximo escola, se for o caso. Grosso modo este
um fenmeno social conhecido, que provoca discusses acaloradas,
mas cuja anlise possibilita a aprendizagem de conceitos e de teoria
sociolgicos capazes de possibilitar aos estudantes o reconhecimento
de preconceitos e de ideias deturpadas sobre o movimento. A con-
textualizao do tema abre espao para a interdisciplinaridade com
a Geografa e a Histria, podendo ser trabalhada, comeando pela
diviso do territrio conquistado em capitanias hereditrias, inclusive,
e chegando a questes como o ideal de manejo sustentvel do solo.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
52
Teor i as
Teorizar buscar explicao coerente e sistemtica de deter-
minado processo ou fenmeno. um esforo de conhecimento da
realidade a fm de levar ao seu esclarecimento. Assim, uma teoria
torna inteligvel apenas uma parte da realidade, pois um recorte
feito pelo pensador a partir de aspectos que ele considera signifca-
tivos. Por isso mesmo, deve ser considerada em sua limitao, que
inerente ao processo de conhecimento humano. Uma teoria debate
com teorias que a precedem, fundamenta em conhecimentos obtidos
anteriormente e para isso, para se impor, uma teoria recorre a novos
conhecimentos, muitas vezes obtidos a partir de novas metodologias
de pesquisa. No campo das Cincias Sociais, diversamente do das
Cincias Naturais, as teorias concorrentes convivem, no havendo,
de um modo geral, superao de paradigmas tericos. claro que
muitas teorias do passado, muitas vezes chamadas de precursoras,
acabaram sendo sepultadas, perdendo seu poder de explicao da
realidade, sobretudo porque estavam fundadas em conhecimentos
parciais, construdos mais a partir de preconceitos do que de pes-
quisas propriamente ditas.
Ao se trabalhar as teorias das Cincias Sociais em sala de aula,
possivelmente, o professor pode enfrentar resistncias, decorrentes
da aridez das explicaes. As referncias aos pensadores que constru-
ram os pilares fundamentais do pensamento sociolgico, Karl Marx,
Max Weber e mile Durkheim, so um modo de dar tratamento
terico para contedos fundamentais do nvel mdio, embora no
sejam a referncia nica para esse trabalho; so considerados cls-
sicos do pensamento sociolgico, mas no obrigatrios. No Ensino
Mdio, a meno a esses pensadores possivelmente tambm feita
por professores de disciplinas como Histria e Filosofa. A ateno,
no caso do Ensino Mdio, deve ser feita em relao mediao pe-
daggica, que exige explicaes em nvel introdutrio, diferente das
aulas da licenciatura que objetivam aprofundar o conhecimento sobre
cada um dos pensadores. No Ensino Mdio, os contedos tericos
devem estabelecer relao mais direta com realidades prximas das
experincias dos estudantes. No possvel apresentar o mesmo
grau de profundidade dos cursos de graduao. A sugesto que
elas sejam associadas a recursos didticos que sejam efcientes para
tratar tais temas com os estudantes. Por exemplo, o pensamento de
Durkheim pode ser trabalhado em sala de aula a partir de temas
53
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
que esto presentes no dia a dia da escola e que causam impacto na
vida dos estudantes. o caso de conceitos utilizados pelo autor, tais
como coero e controle social, que podem servir para a compreenso
de fenmenos como gravidez na adolescncia que, em escolas onde
essa situao generalizada, pode ser trabalhada a partir de cenas
do flme Juno, que relata as situaes enfrentadas por uma jovem de
16 anos que engravida de um colega de sala. Situaes de violncia
contra as mulheres, em decorrncia da coero e do controle social
podem ser trabalhadas em cenas do flme A letra escarlate. A teoria,
por um lado, e o recurso didtico, por outro, permitem tratar de
temas muito presentes na vida dos alunos, como mediaes que
produzem aqueles dois efeitos indicados nas OCEM-Sociologia: es-
tranhamento e desnaturalizao. Os fenmenos gravidez na adolescncia
e violncia contra as mulheres, tomados como temas, deixam de ser na-
turais, isto , invisveis, coisas a que todos esto acostumados e que
sobre o que no h necessidade de explicao, e tornam-se objetos
de estudo, estranhos, recorrendo-se s mediaes de teorias (recurso
cientfco) e cinema (recurso didtico) para serem compreendidos,
e vistos agora de um outro modo.
A construo de uma teoria traz consigo elementos reveladores
do olhar do pensador em relao s questes sociais que inspiraram
sua elaborao. Essa contextualizao necessria para que no
seja feita uma interpretao idealizada da teoria, compreendendo-se
que um pensador responde s questes de seu tempo e espao, mas
com isso abre caminhos para explicaes mais amplas, tornando-se
um clssico. Ao serem expostas em sala de aula, visa-se introduzir
os estudantes em um universo de argumentaes sistematicamente
organizadas, que lhes permitem a refexo em torno de fenmenos
que no lhes pareciam passveis de problematizao. As teorias so
fortes aliadas dos professores quando se trata de reforar o carter
cientfico das Cincias Sociais. Cumprem a tarefa de provocar a
refexo dos estudantes em torno de questes que fazem parte de
seu dia a dia, e que, na maioria das vezes, so explicitadas por cris-
talizaes do senso comum, sem que haja qualquer questionamento
em relao s mesmas.
Pesqui sa
A pesquisa, como um pressuposto epistemolgico, um proce-
dimento capaz de fornecer elementos que sustentam as explicaes
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
54
dadas pelas teorias acerca dos fenmenos sociais. O conhecimento no
campo das Cincias Sociais , antes de tudo, um exerccio de autoco-
nhecimento, mas de modo sistemtico, rigoroso e intersubjetivo, uma
vez que a investigao sociolgica oferece ao estudante instrumentais
que lhe garantem um tratamento coerente e analtico das questes
que esto sua volta, compreendidas com racionalidade. Ir alm do
que imediatamente visvel e aceito como natural uma dos objetivos
de se trabalhar a pesquisa sociolgica no Ensino Mdio.
A pesquisa pode ser feita em materiais impressos ou em tra-
balhos de campo. Em relao a esta ltima, questes simples, que
dizem respeito diretamente vida dos estudantes dentro da escola,
s suas relaes familiares, vizinhana ou ao bairro em que moram
podem tornar-se objetos de conhecimento sociolgico concreto. A
opo pela pesquisa, no entanto, demanda cuidados metodolgicos
imprescindveis ao aprendizado desse pressuposto pelos estudan-
tes. Conhecimentos bsicos que vo ao encontro de um esboo de
projeto: delimitao de objetivos, elaborao do problema, constru-
o de hipteses e metodologia para a investigao so necessrios
para orientar a conduta dos pesquisadores e conferir signifcncia
(consistncia) s respostas encontradas.
A pesquisa como pressuposto epistemolgico desenvolve no
estudante do Ensino Mdio a capacidade de observao e crtica:
ele percebe, ento, uma nova realidade a partir da anlise sociolgica
do que est sua volta. O impacto do estranhamento, no primeiro
momento, pode ser seguido pela satisfao de responder concreta-
mente a perguntas do tipo para que serve a Sociologia?.
Mediaes pedaggicas
Mediaes pedaggicas referem-se s diferentes e possveis
maneiras de se traduzir o conhecimento sociolgico, tornando-o
compreensvel e interessante para os estudantes do Ensino Mdio.
A prtica docente de sala de aula reclama a adequao ao universo
juvenil. Mais que isso, remete necessidade de os professores arti-
cularem os recursos didticos aos interesses desse universo. Nunca
demais lembrar que os limites da cincia Sociologia no so os mes-
mos da disciplina. A distncia entre a cincia e a disciplina obriga
os professores a trabalhar com escolhas, ou seja, recortes elaborados
a partir de uma pluralidade de razes, nem sempre adequadas ao
55
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
nvel de compreenso dos estudantes secundaristas. Questes con-
cretas e que fazem parte do ciclo de interesse dos estudantes, por
mais que paream banais, podem ser um estmulo para se introduzir
um contedo sociolgico. A mediao pedaggica nem sempre est
comprometida unicamente com o rigor conceitual ou terico; muitas
vezes, faz-se uso de uma postura ldica, criativa ou provocativa,
outras recorre-se s artes, particularmente msica e ao cinema
para garantir o aprendizado da disciplina Sociologia, tornando isso
uma experincia reconhecida pelos alunos, com a sua participao
efetiva, descobrindo neste conhecimento cientfco a possibilidade
de ser um reconhecimento do papel dos estudantes na sociedade.
Aul a exposi ti va associ ada a outr os r ecur sos di dti cos
A aula expositiva considerada o recurso universal para o ensino
escolarizado. aceita, esperada e praticada na grande maioria das
escolas de Ensino Mdio. Difcil imaginar uma unidade de Socio-
logia se desenvolver sem que a aula expositiva se torne um recurso
didtico preponderante, dado o carter terico da disciplina; ela
utilizada para introduzir e desenvolver os mais variados contedos
em sala de aula. Em geral, as expectativas dos estudantes conver-
gem em torno desse tipo de recurso, o que, de certa forma, pode
reduzir o interesse diante do esperado. Como fazer, ento, para que
a aula expositiva transforme-se em um recurso capaz de provocar
a participao dos estudantes?
Uma vez que a aula expositiva se caracteriza pela apresentao
docente de um determinado assunto, o esperado para a disciplina
Sociologia que a exposio enfatize a contextualizao e explica-
es sobre o contedo. Exigir que uma turma de jovens mantenha-se
atenta durante 30 ou mais minutos unicamente em torno de questes
exclusivamente sociolgicas pode no ser tarefa das mais fceis. A
sugesto associar a apresentao do tema a recursos capazes de
provocar interesse e conferir materialidade ao contedo trabalhado.
Recortes de jornais, por exemplo, so recursos provocativos e po-
dem informar sobre a atualidade do contedo ensinado. Imagine,
por exemplo, uma aula terica sobre Durkheim. Como aplicar o
conceito de fato social na sociedade em que vivemos? Dependendo
das turmas em que se est trabalhando, possvel trazer exemplos
reais, retirados de reportagens de jornais que aproximem a teoria
das situaes experimentadas pelos estudantes. Fenmenos como
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
56
crimes, abortos, gravidez na adolescncia e infanticdio so relatados
diariamente em reportagens expressas e virtuais. Alguns, inclusive,
acontecendo prximo ao bairro da escola. Pois bem, tais fenmenos
so identifcveis como fatos sociais, segundo a caracterizao dada
por Durkheim: so dotados de generalidade, coercitividade e exte-
rioridade. Da mesma forma, contedos temticos, como a relao
de circularidade entre as culturas popular e erudita ganham sentido
para os estudantes quando so explicados a partir de produes
artsticas que transitam entre esses dois universos. Assim, caberiam
as perguntas: A obra de Ariano Suassuna O alto da compadecida faz
parte da cultura popular ou erudita? Melhor perguntando, qual foi
a inspirao do autor ao escrever a obra? Transformada em pea de
teatro, tornou-se acessvel maioria? E como flme, comercialmente
distribudo para todo o Pas e exibido na televiso?
Talvez no haja recurso didtico mais contraditrio que a aula
expositiva. Ao mesmo tempo em que conserva o tradicionalismo
original da sala de aula, guarda um universo de possibilidades
que o professor pode lanar mo ao associar sua exposio oral a
diferentes recursos didticos. Convidar os estudantes do Ensino
Mdio a pensar de modo diferente sobre situaes sociais conhe-
cidas, desconfiar que explicaes j consagradas podem no ser as
mais coerentes, instigar a curiosidade para saber mais sobre ques-
tes tidas como inquestionveis, so provocaes que acontecem
durante as aulas expositivas. O estranhamento e a desnaturalizao,
posturas bsicas apontadas pelo documento das OCEM-Sociologia,
se concretizam a partir de experincias possveis de se desenvolver
durante a aula expositiva.
Caracterizar a aula expositiva como um recurso ultrapassado
pens-la isoladamente, separada das possibilidades de associaes
a uma srie de outras atividades que despertam o interesse dos es-
tudantes. Imaginar que ela acontece exclusivamente entre as quatro
paredes da sala de aula excluir diferentes espaos da escola e da
comunidade da possibilidade de se trabalhar o conhecimento esco-
larizado ao restringi-lo institucionalizao da sala de aula.
Vi si tas a museus
Muitas vezes, o estranhamento uma reao que acontece me-
diante o envolvimento dos estudantes com situaes conhecidas e
corriqueiras. O fato de a turma estar participando de uma atividade
57
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
coletiva, que extrapola a rotina da sala de aula em direo a espaos
fora da escola, ainda que esses espaos sejam velhos conhecidos de
todos, propicia a observao de detalhes antes ignorados ou mesmo
desvalorizados. O olhar individual, em interlocuo com a obser-
vao coletiva, se torna mais sensvel e apurado, uma vez que so
socializadas observaes de diferentes naturezas.
Esse tipo de reao possvel, por exemplo, em uma visita ao
museu da cidade, localizado em um lugar que todos conhecem;
que alguns estudantes, inclusive, transitam em suas caladas todos
os dias para ir ao trabalho ou escola. A visita coletiva confere
uma nova dimenso quelas concepes j postas e defnidas an-
teriormente pelos estudantes, provocando estranhamento em rela-
o a imagens, fotos, objetos e instalaes. Museus que guardam
a memria da cidade, por exemplo, so espaos de conhecimento
e de autoconhecimento. Visitados pela turma, assumem uma nova
dimenso no momento em que os estudantes se reconhecem em
objetos e montagens que tambm fazem parte da histria da famlia
ou mesmo que remetem a situaes j conhecidas ou vivenciadas.
No coletivo, fatos passados, situaes vividas, lembranas relata-
das pelos moradores da cidade ganham novas dimenses, ganham
uma signifcao histrica, na medida em so socializados com os
estudantes no momento da visita.
Museus so espaos da memria, mas tambm encerram o ldi-
co e a criatividade. Personagens da literatura, de flmes de aventura
e de fco cientfca ou de histrias de poca ou em quadrinhos,
jogos (games) eletrnicos so construdos e reconhecidos em exposi-
es de museus. Muitas situaes mostradas aos jovens como velhas,
no passam de remodelaes do que est exposto nos museus. O
museu instiga a criatividade dos visitantes, os transporta origem
de conhecimentos tidos como atuais. Como atividade acadmica,
o carter coletivo da visita permite aos estudantes estabelecer um
elo material entre o acervo exposto e os diferentes espaos da vida
social: flmes a que assistiram, passagens dos livros didticos, ro-
mances que leram, personagens dos jogos eletrnicos, narrativas dos
mais velhos. Visitas coletivas reforam essa materialidade, ao mesmo
tempo em que desenvolvem a sensibilidade, mediante a oportuni-
dade de reconhecimento e de troca de diferentes impresses entre
os estudantes. Os museus podem tornar-se parte das experincias
reveladoras do melhor da vida escolar.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
58
Aul a musi cal
Outro recurso interessante, capaz de atrair a ateno e envolver
os estudantes a aula musical. Conceitos sociolgicos podem ser
introduzidos ou reforados a partir do sentido expresso ou mesmo
subentendido nas letras trabalhadas
1
. A msica um recurso fnan-
ceiramente acessvel, disponvel maioria das escolas e que agua
a capacidade de anlise em relao a situaes, capaz de superar as
difculdades presentes nos textos didticos, levando-se em conta que
as letras analisadas no foram escritas com esse propsito, mas com
intenes as mais diversas. A partir da inspirao pessoal do artista
que escreveu os versos, a anlise sociolgica que deles provm pode
remeter s mais diferentes questes da vida social.
A aparente simplicidade da aula musical, contudo, no exi-
me os professores de alguns cuidados essenciais que precisam ser
tomados na organizao das atividades. Como todo discurso, a
msica no fala por si s. Por isso mesmo, a escolha precisa estar
relacionada aos desejos e expectativas dos estudantes. As compo-
sies selecionadas para esse fim podem comear por aquelas da
preferncia dos jovens, destinatrios das propostas de ensino, ainda
que venham a ferir o gosto musical dos professores. essa prefe-
rncia que informa a escolha da composio que ser trabalhada
durante a aula musical. As expectativas depositadas pelo docente
em relao s escolhas culturais dos estudantes ocupam, nessa ati-
vidade, estrategicamente, um plano secundrio. Muitas vezes, isso
se torna um complicador, uma vez que pode ser desestimulante
para professores de Sociologia enveredar por terrenos liderados
por uma indstria cultural dirigida especificamente juventude
ou, ainda, trabalhar em sala de aula com produes culturais que
no traduzem minimamente suas prprias preferncias. No
raro professores recorrerem a obras musicais totalmente distan-
tes do universo cultural e temporal dos jovens, sem perceber que
as idades, as experincias, a escolaridade, enfim, os mundos so
diferentes e distantes. Como exigir que um adolescente de 16 anos
demonstre o mesmo entusiasmo que seu professor, ao escutar uma
coletnea de msicas selecionadas por este ltimo? No entanto,
como dissemos antes, se a atividade de ensino pode comear por
msicas familiares aos alunos, deve-se ter como horizonte ultra-
passar esse repertrio, tendo em vista que ao longo dos anos do
1
Aqui trataremos da letra e no propriamente da msica.
59
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Ensino Mdio Sociologia est agora nas trs sries , pode-se
pensar tanto em exemplares de msica popular brasileira (moderna
ou antiga) quanto em exemplares de msica folclrica, regional, de
raiz ou mesmo erudita (quando esta vem com letra, como algumas
msicas de Vila-Lobos, Carlos Gomes e outros).
Msicas do acervo cultural jovem, que podem fazer diferena
em relao ao envolvimento da classe em uma aula musical, no
so poucas. Com ateno, da parte dos professores, possvel
relacionar temas sociolgicos a canes do chamado Pop rock
e tornar as aulas musicais mais interativas. Composies que j
caram na preferncia musical dos estudantes so mais fceis de
serem aceitas e permitem o estranhamento, quando se tornam
foco da anlise sociolgica, avanando em direo a questes da
vida social at ento no cogitadas. Muitas dessas msicas so
portadoras de mensagens, anlises e crticas sociais interessantes,
relacionadas aos mais diferentes contedos sociolgicos. Muitas
msicas incorporam uma dimenso irnica ao tratar da prpria
arte; o caso de msicas to diferentes como A voz do dono e o
dono da voz, de Chico Buarque de Holanda, e A melhor banda de
todos os tempos da ltima semana, de Srgio Britto e Branco Mello,
interpretada pelos Tits. Nelas podemos encontrar um discurso
sobre o poder da indstria cultural de impor seus produtos aos
consumidores, a banalizao da arte, transformada em mercadoria
descartvel, a ridicularizao do pblico, a homogeneizao das
produes artsticas e uma srie de outras questes que podem
ser trabalhadas nos versos dessas msicas, conhecidas e aprecia-
das pelos estudantes. Aqui no se dispensa alguma formao do
professor sobre o recurso didtico msica. H uma bibliografia
relativamente vasta em teses, dissertaes, artigos em peridicos
e facilmente acessveis pela internet, o que permite ao professor
usar esse recurso, ampliando sua formao, ao mesmo tempo em
que diversifica as estratgias de ensino.
Para escolas mais bem equipadas, os videoclipes somam imagens
a recursos que antes seriam apenas sonoros. possvel, tambm,
enriquecer a aula musical com a utilizao de gravuras, fotografas
ou recortes de jornais que venham completar a anlise proposta.
Para uma participao mais efetiva da classe, conveniente
a distribuio de cpia da letra da msica para os estudantes. O
objetivo que os versos mais signifcativos sejam compreendidos a
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
60
partir de sua construo textual, voltada diretamente anlise so-
ciolgica, independente dos arranjos musicais. Na impossibilidade
dessa distribuio, o quadro e o giz continuam a ser aqueles recursos
indispensveis para professores sem maiores custos. Os trechos mais
signifcativos podem ser transcritos no quadro para que os estudan-
tes refitam diante das questes sociolgicas destacadas.
Outra verso para a aula a anlise da msica pelos prprios
docentes a ttulo de exemplo. Uma atividade que extrapola o tempo
da aula musical, e que desperta a criatividade e a capacidade de
anlise do contedo trabalhado, a elaborao de pardias, tendo
como centro o contedo sociolgico ensinado. As pardias associam
ludicidade e criatividade compreenso sociolgica do assunto em
pauta. Nos versos parodiados, os estudantes podem se colocar frente
s questes analisadas anteriormente de modo descontrado e perso-
nalizado. Elaboradas em grupo, as pardias podem ser criadas fora
dos limites do tempo da aula, j que demandam um tempo maior
para serem concludas.
Aulas musicais, ainda que aparentemente se apresentem como
momentos de descontrao e espontaneidade, exigem planejamento
e clareza quanto aos objetivos propostos. Os conceitos que sero
reforados ou introduzidos, o teor das anlises, os exemplos expli-
cativos devem estar claros nesse planejamento. Todo esse cuidado
necessrio, uma vez que a dinmica descontrada das atividades abre
espao para que interesses paralelos se alinhem s propostas iniciais,
desviando por completo o objetivo da aula. Em aulas musicais, a
sugesto que se analise uma nica composio de cada vez.
Referncias
FERNANDES, Florestan. A Sociologia no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1980.
GIGLIO, Adriano Carneiro. A Sociologia na escola secundria: uma questo das
Cincias Sociais no Brasil Anos 40 e 50. 1999. Dissertao (Mestrado em Sociolo-
gia) Iuperj, Rio de Janeiro, 1999.
GUELFI, Wanirley Pedroso. A Sociologia como disciplina Escolar no Ensino Se-
cundrio Brasileiro: 1925-1942. 2001. Dissertao (Mestrado em Educao) Setor
de Educao, Universidade Federal do Paran, Curitiba, 2001.
HANDFAS, Anita; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de (Org.). A Sociologia vai Escola:
Histria, Ensino e Docncia. Rio de Janeiro: Quartet, Faperj, 2009.
61
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
MACHADO, Celso de Souza. O Ensino da Sociologia na escola secundria brasi-
leira: levantamento preliminar. Revista da Faculdade de Educao, So Paulo, v.
13, n. 1, p. 115-142, 1987.
MACHADO, Olavo. O Ensino de Cincias Sociais na Escola Mdia. 1996. Dis-
sertao (Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade de So
Paulo, So Paulo, 1996.
MEDIAES. Revista de Cincias Sociais do Programa de Ps-graduao da
Universidade Estadual de Londrina. Londrina: UEL, v. 12, n. 1, jan./jun. 2007.
Dossi Ensino de Sociologia.
MEUCCI, Simone. A Institucionalizao da Sociologia no Brasil: os primeiros
manuais e cursos. 2000. Dissertao (Mestrado em Sociologia) IFCH-Unicamp,
Campinas, 2000.
MICELI, Srgio. Condicionantes do desenvolvimento das Cincias Sociais. In: ______
(Org.). Histria das Cincias Sociais no Brasil. So Paulo: Vrtice, 1989. v. 1.
______. O cenrio institucional das Cincias Sociais no Brasil. In: ______ (Org.).
Histria das Cincias Sociais no Brasil. So Paulo: Sumar, 1995. v. 2.
MORAES, Amaury Cesar; GUIMARAES, Elisabeth Fonseca; TOMAZI, Nelson Dcio.
Sociologia. In: BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Bsica.
Departamento de Polticas de Ensino Mdio. Orientaes Curriculares do Ensino
Mdio. Braslia, DF, 2004. p. 343-372.
MOTA, Kelly Cristine Corra da Silva. Os lugares da sociologia na formao de
estudantes do ensino mdio: as perspectivas de professores. Revista Brasileira de
Educao, Rio de Janeiro, n. 29, p. 88-107, maio/ago. 2005.
PACHECO FILHO, Clovis. Dilogo de surdos: as difculdades para a construo da
Sociologia e de seu Ensino no Brasil, [1850-1935]. 1994. Dissertao (Mestrado em
Educao) Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 1994.
PAOLI, Niuvenius J. As relaes entre Cincias Sociais e Educao nos anos 50/60
a partir das histrias e produes intelectuais de quatro personagens: Josilde-
th Gomes Consorte, Aparecida Joly Gouveia, Juarez Brando e Oracy Nogueira.
1995. Tese (Doutorado) Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo, So
Paulo, 1995.
RESES, Erlando da Silva. ...E com a Palavra: Os Alunos Estudo das Representa-
es Sociais dos Alunos da Rede Pblica do Distrito Federal sobre a Sociologia no
Ensino Mdio. Braslia, DF: UnB, 2004.
SANTOS, Mrio Bispo dos. A Sociologia no Ensino Mdio: O que pensam os profes-
sores da Rede Pblica do Distrito Federal. 2002. Dissertao (Mestrado em Sociologia)
Instituto de Cincias Sociais, Universidade de Braslia, Braslia, DF, 2002.
SARANDY, Flvio Marcos Silva. A sociologia volta escola: um estudo dos ma-
nuais de sociologia para o ensino mdio no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
62
SILVA, Ileizi Luciana Fiorelli. Das fronteiras entre cincia e educao escolar
as confguraes do ensino das Cincias Sociais/Sociologia, no Estado do Paran
(1970-2002). 2006. Tese (Doutorado em Sociologia) Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2006.
TAKAGI, Cassiana Tieme Tedesco. Ensinar sociologia: anlise dos recursos de
ensino na escola mdia. 2007. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade
de Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2007.
63
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Segunda parte
Temas Bsicos das
Cincias Sociais
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
64
65
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Vejo na tv o que eles falam sobre o jovem no srio
O jovem no Brasil nunca levado a srio [...]
Sempre quis falar, nunca tive chance
Tudo que eu queria estava fora do meu alcance [...]
(Charles Brown Junior, No srio).
Este trecho da msica do grupo Charles Brown Junior traduz e
denuncia o paradoxo vivenciado pelos jovens no Brasil. Nunca as
caractersticas e valores ligados juventude, como a energia e a
esttica corporal ou mesmo a busca do novo, foram to louvados,
num processo que poderamos chamar de juvenilizao da socie-
dade. Mas, ao mesmo tempo, a juventude brasileira ainda no
encarada como sujeito de direitos, no sendo foco de polticas
pblicas que garantam o acesso a bens materiais e culturais, alm
de espaos e tempos onde possam vivenciar plenamente esta fase
to importante da vida. Alm disso, como diz a msica, o jovem
no levado a srio, exprimindo a tendncia, muito comum nas
escolas e programas educativos, de no considerar o jovem como
interlocutor vlido, capaz de emitir opinies e interferir nas pro-
postas que lhes dizem respeito, desestimulando a sua participao
e o seu protagonismo.
Captulo 3
A juventude no contexto
do ensino da Sociologia:
questes e desafos*
* Parte das ideias desenvolvidas neste texto encontra-se em Dayrell (2007).
** Doutor em Educao. Professor Associado da Universidade Federal de Minas
Gerais.
Juarez Tarcsio Dayrell**
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
66
Ao mesmo tempo, na nossa convivncia com professores de
Sociologia do Ensino Mdio, tem sido cada vez mais constante as
queixas e dvidas que apontam para uma postura de desesperana
em relao s possibilidades educativas da escola, numa descrena
no jovem aluno e na sua capacidade e interesse de aprendizagem.
Para muitos professores, o maior problema da escola exatamente
o jovem aluno. Por seu lado, so comuns as reclamaes dos jovens
em relao escola, vista como enfadonha e sem interesse, com
professores que pouco acrescentam sua formao. Ela se torna,
cada vez mais, uma obrigao, tendo em vista a necessidade dos
diplomas. Dessa forma, evidencia-se uma dupla tenso envolven-
do a juventude. Uma mais ampla, do mundo adulto com os jovens
contemporneos, e outra mais especfca destes mesmos jovens com
a escola, ambas demandando uma maior compreenso.
Ao buscar compreender essa realidade, partimos da hiptese de
que estas tenses e desafos existentes envolvendo a juventude so
expresses de mutaes profundas que vm ocorrendo na sociedade
ocidental, que afetam diretamente as instituies e os processos de
socializao das novas geraes, interferindo na produo social dos
indivduos, nos seus tempos e espaos. Dessa forma, nosso ponto
de partida ser a problematizao da condio juvenil atual, sua
cultura, suas demandas e necessidades. Trata-se de compreender
suas prticas e smbolos como a manifestao de um novo modo
de ser jovem, expresso das mutaes ocorridas nos processos de
socializao, que coloca em questo o sistema educativo, suas ofertas
e as posturas pedaggicas que lhes informam.
Diante destes desafos, acreditamos que o professor de Sociolo-
gia tem um importante papel a cumprir na escola. Como socilogo,
ao buscar compreender quem so os jovens alunos que chegam ao
Ensino Mdio, contribuindo assim para que a comunidade escolar
desnaturalize a viso que possui dos alunos, superando preconceitos e
esteretipos, compreendendo-os como sujeitos sociais com demandas e
necessidades prprias. Mas tambm como docente, ao fazer do jovem
e sua realidade objeto de pesquisa e anlise nas aulas de Sociologia.
Neste sentido, neste texto propomos inicialmente desenvolver uma
anlise sobre a condio juvenil no Brasil, discutindo em que medida
tal condio expressa possveis mutaes dos processos de socializa-
o na sociedade contempornea. A ideia fornecer elementos para
que o professor possa desenvolver uma pesquisa na sua escola para
67
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
aprofundar o conhecimento em torno dos seus jovens alunos. Em
seguida, propomos uma rpida discusso sobre a instituio escolar,
buscando problematizar as tenses e desafos presentes na relao
com os jovens, para fnalmente apontar algumas pistas de trabalho
para o professor de Sociologia. importante ressaltar que, ao refetir
sobre os jovens, estaremos considerando uma parcela da juventude
que majoritariamente frequenta as escolas pblicas, formada por jo-
vens pobres que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos,
marcados por um contexto de desigualdade social, que tem sido o
objeto de pesquisas do Observatrio da Juventude da UFMG.
1
Notas sobre a condio juvenil no Brasil
Inicialmente preciso reconhecer as difculdades existentes na
prpria categorizao da juventude: afnal, o que juventude? Seria,
no dizer de Bourdieu, apenas uma palavra ou apresenta especifci-
dades que a distinguem como um grupo social prprio? Esse debate
est presente na Sociologia da juventude desde o seu surgimento
no incio do sculo XX, sendo objeto das mais diversas abordagens,
cuja explicitao foge aos limites deste texto.
2
Assim, reafirmamos, aqui, o que j foi muito reiterado: a ju-
ventude uma categoria socialmente construda. Ganha contornos
prprios em contextos histricos, sociais e culturais distintos, e
marcada pela diversidade nas condies sociais (origem de classe,
por exemplo), culturais (etnias, identidades religiosas, valores etc.),
de gnero e, at mesmo, geogrfcas, dentre outros aspectos. Alm
de ser marcada pela diversidade, a juventude uma categoria di-
nmica, transformando-se de acordo com as mutaes sociais que
vm ocorrendo ao longo da histria. Na realidade, no h tanto uma
juventude e sim jovens, enquanto sujeitos que a experimentam e sen-
tem segundo determinado contexto sociocultural onde se inserem.
Desse modo, mais do que conceituar a juventude, optamos em
trabalhar com a ideia de condio juvenil, por consider-la mais ade-
quada aos objetivos desta discusso. Do latim conditio, refere-se
1
O Observatrio da Juventude da UFMG um programa de pesquisa, ensino e
extenso da Faculdade de Educao. Para maiores detalhes, ver <www.fae.ufmg.
br/objuventude>.
2
Para uma discusso mais ampla sobre a noo de juventude, cf. Pais (1993),
Margulis (2000); Dayrell (2005b), dentre outros.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
68
maneira de ser, situao de algum perante a vida, perante a socie-
dade. Mas tambm se refere s circunstncias necessrias para que
se verifque essa maneira ou tal situao. Assim, existe uma dupla
dimenso presente quando falamos em condio juvenil. Refere-se
ao modo como uma sociedade constitui e atribui signifcado a esse
momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimenso histrico-
geracional, mas tambm sua situao, ou seja, o modo como tal
condio vivida a partir dos diversos recortes referidos s dife-
renas sociais classe, gnero, etnia, etc. Na sua anlise, permite-se
levar em conta tanto a dimenso simblica como os aspectos fticos,
materiais, histricos e polticos nos quais a produo social da ju-
ventude se desenvolve (ABRAMO, 2005).
Temos de levar em conta tambm que essa condio juvenil vem
se construindo em um contexto de profundas transformaes socio-
culturais ocorridas no mundo ocidental nas ltimas dcadas, fruto
da ressignifcao do tempo e do espao, bem como da refexividade,
dentre outras dimenses, o que vem gerando uma nova arquitetura
do social (GIDDENS, 1991). Nesse contexto mais amplo, a condio
juvenil no Brasil manifesta-se nas mais variadas dimenses. Na pers-
pectiva aqui tratada, vamos privilegiar algumas delas que considera-
mos essencial para uma aproximao mais densa da realidade juvenil,
servindo como uma referncia para o professor de Sociologia tanto no
desenvolvimento de possveis pesquisas sobre o jovem aluno da sua
escola quanto de temas a serem desenvolvidos nas aulas de Sociologia
3
.
No demais reiterar que no propomos uma compreenso generali-
zante da juventude; ao contrrio, temos claro que, na perspectiva da
diversidade, os jovens de cada escola podem apresentar uma realidade
especfca, o que demanda uma pesquisa prpria.
As mltiplas dimenses da condio juvenil
O tr abal ho
4
Inicialmente, importante situar o lugar social desses jovens, o
que vai determinar, em parte, os limites e as possibilidades com os
3
Pelo limite deste texto, no poderemos desenvolver uma discusso mais apro-
fundada sobre cada uma das dimenses da condio juvenil. No prprio texto
sugerimos uma bibliografa bsica atravs da qual o professor poder aprofundar
na temtica do seu interesse.
4
Para aprofundar a discusso em torno do trabalho, ver Guimares (2005) e
Frigoto (2004).
69
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
quais constroem determinada condio juvenil. Podemos constatar
que a vivncia da juventude nas camadas populares dura e difcil:
os jovens enfrentam desafos considerveis. Ao lado da sua condio
como jovens, alia-se a da pobreza, numa dupla condio que interfe-
re diretamente na trajetria de vida e nas possibilidades e sentidos
que assumem a vivncia juvenil. Um grande desafo cotidiano a
garantia da prpria sobrevivncia, numa tenso constante entre a
busca de gratifcao imediata e um possvel projeto de futuro.
No Brasil, a juventude no pode ser caracterizada pela mora-
tria em relao ao trabalho, como comum nos pases europeus.
Ao contrrio, para grande parcela de jovens, a condio juvenil s
vivenciada porque trabalham, garantindo o mnimo de recursos
para o lazer, o namoro ou o consumo.
5
Os dados da PNAD de 2006 apontam que 66,5% dos jovens
estavam envolvidos de alguma forma com o mundo do trabalho.
Boa parte deles s trabalha (41,3%), j estando fora da escola, o que
no signifca que concluram o Ensino Bsico, pois 50% destes no
completaram o Ensino Mdio. Mas h um grande contingente que
alia trabalho e estudo, signifcando 15,4% dos jovens, o que certa-
mente infuencia no percurso escolar. As relaes entre o trabalho
e o estudo so variadas e complexas e no se esgotam na oposio
entre os termos. Para os jovens, a escola e o trabalho so projetos
que se superpem ou podero sofrer nfases diversas de acordo
com o momento do ciclo de vida e as condies sociais que lhes
permitam viver a condio juvenil.
Ao mesmo tempo, os jovens se defrontam com a questo do
desemprego. Os indicadores sociais que medem a desocupao da
fora de trabalho sugerem que a principal responsabilidade pela
concentrao de renda pode ser atribuda ao desemprego. No que
se refere distribuio etria do desemprego, as piores taxas de
desocupao so encontradas no segmento populacional juvenil,
signifcando 9,8% do total da populao economicamente ativa. Em
termos gerais, podemos dizer que as portas do primeiro emprego
foram fechadas para os jovens brasileiros, em especial para aquela
maioria de baixa escolaridade oriunda dos estratos populares. O
5
De acordo com os dados da pesquisa Retratos da Juventude Brasileira, realizada
em 2004, 36% dos jovens estudantes de 15 a 24 anos trabalhavam e 40% estavam
desempregados, sendo que 76% deles estavam envolvidos, de alguma forma,
com o mundo do trabalho (SPOSITO, 2005).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
70
sentimento de fracasso que acompanha o jovem que procura traba-
lho remunerado e no consegue representa uma porta aberta para
a frustrao, o desnimo e tambm a possibilidade do ganho pela
via do crime.
Nesse sentido, o mundo do trabalho aparece como uma me-
diao efetiva e simblica na experimentao da condio juvenil,
podendo-se afrmar que o trabalho tambm faz a juventude, mes-
mo considerando a diversidade de situaes e posturas existentes
por parte dos jovens em relao ao trabalho (SPOSITO, 2005).
As cul tur as j uveni s
6
Com todos os limites dados pelo lugar social que esses jovens
ocupam, no podemos nos esquecer do aparente bvio: eles so
jovens, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito das suas con-
dies e de suas experincias de vida, posicionam-se diante dela,
possuem desejos e propostas de melhorias de vida. Na trajetria de
vida deles, a dimenso simblica e expressiva tem sido cada vez
mais utilizada como forma de comunicao e do posicionamento
diante de si mesmos e da sociedade.
O mundo da cultura aparece como um espao privilegiado de
prticas, representaes, smbolos e rituais, no qual os jovens bus-
cam demarcar uma identidade juvenil. Longe dos olhares dos pais,
educadores ou patres, mas sempre os tendo como referncia, os
jovens constituem culturas juvenis que lhes do uma identidade
como jovens. As culturas juvenis, como expresses simblicas da
condio juvenil, se manifestam na diversidade em que esta se cons-
titui, ganhando visibilidade por meio dos mais diferentes estilos,
que tm no corpo e no seu visual uma das suas marcas distintivas.
Jovens ostentam os seus corpos e, neles, as roupas, as tatuagens,
os piercings, os brincos, falando da adeso a determinado estilo,
demarcando identidades individuais e coletivas, alm de sinalizar
um status social almejado. Ganha relevncia tambm a ostentao
dos aparelhos eletrnicos, principalmente o MP3 e o celular, cujo
impacto no cotidiano juvenil precisa ser mais pesquisado.
A centralidade da dimenso da cultura na vida dos jovens,
aliada ao lazer, confrmada na pesquisa nacional Perfl da Juven-
tude Brasileira realizada pelo Instituto Cidadania em 2003 (ABRAMO;
BRANCO, 2005). Nas respostas sobre o que fazem do tempo livre,
6
Para aprofundar o tema, ver Dayrell (2005a) e Pais (1993, 2003).
71
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
os jovens ressaltam a predominncia de atividades de diverso, de
passeio, de fruio de bens da indstria cultural e dos meios de
comunicao de massa.
Ao mesmo tempo, a pesquisa evidencia o quadro de precariedade
da democratizao da cultura no Brasil, com baixo ndice de fruio
de formas de cultura erudita ou no industrializada. Vejamos: 62%
dos jovens entrevistados nunca foram a um teatro; 92% nunca foram
a um concerto de msica clssica; 94% nunca assistiram a um bal
clssico e mesmo uma apresentao de dana moderna s foi vista
por 20% dos jovens. Mesmo a frequncia a shows de msicas como
rock, pop, hip hop ainda muito baixa, sendo inferior a 50%.
Nesse contexto, ganham relevncia os grupos culturais. Se na
dcada de 1960 falar em juventude era referir-se aos jovens estudantes
de classe mdia e ao movimento estudantil, a partir dos anos de 1990,
implica incorporar os jovens das camadas populares e a diversida-
de dos estilos e expresses culturais existentes, protagonizada pelos
punks, darks, roqueiros, clubers, rappers, funkeiros etc. Mas tambm pelo
grafte, pelo break, pela dana afro ou mesmo pelos inmeros grupos
de teatro espalhados nos bairros e nas escolas. Muitos desses grupos
culturais apresentam propostas de interveno social, como os rappers,
desenvolvendo aes comunitrias em seus bairros de origem.
As pesquisas indicam que a adeso a um dos mais variados
estilos existentes no meio popular ganha um papel signifcativo na
vida dos jovens. De forma diferenciada, lhes abre a possibilidade
de prticas, relaes e smbolos por meio dos quais criam espaos
prprios, com uma ampliao dos circuitos e redes de trocas, o meio
privilegiado pelo qual se introduzem na esfera pblica. Por meio
da produo dos grupos culturais a que pertencem, muitos deles
recriam as possibilidades de entrada no mundo cultural alm da
fgura do espectador passivo, colocando-se como criadores ativos.
Atravs da msica ou da dana que criam, dos shows que fazem,
dos eventos culturais que promovem, eles colocam em pauta no
cenrio social o lugar do pobre (GOMES; DAYRELL, 2003).
A soci abi l i dade
Aliada s expresses culturais, outra dimenso da condio ju-
venil a sociabilidade. Uma srie de estudos
7
sinaliza a centralidade
7
Dentre eles, podemos citar: Minayo (1999), Carrano (2002), Sposito (2005). Esta
mesma tendncia constatada entre os jovens portugueses, analisados por Pais
(1993); ou italianos, analisados por Cavalli (1980).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
72
dessa dimenso que se desenvolve nos grupos de pares, preferencial-
mente nos espaos e tempos do lazer e da diverso, mas tambm pre-
sente nos espaos institucionais, como a escola ou mesmo o trabalho.
A turma de amigos uma referncia na trajetria da juventude: com
quem fazem os programas, trocam ideias, buscam formas de se afrmar
diante do mundo adulto, criando um eu e um ns distintivo.
A sociabilidade expressa uma dinmica de relaes, com as
diferentes gradaes que defnem aqueles que so os mais prximos
(os amigos do peito) e aqueles mais distantes (a colegagem), bem como
o movimento constante de aproximaes e afastamentos, numa mo-
bilidade entre diferentes turmas ou galeras.
O movimento tambm est presente na prpria relao com o
tempo e o espao. A sociabilidade tende a ocorrer em um fuxo co-
tidiano, seja no intervalo entre as obrigaes, o ir-e-vir da escola ou
do trabalho, seja nos tempos livres e de lazer, na deambulao pelo
bairro ou pela cidade. Mas tambm podem ocorrer no interior das
instituies, seja no trabalho ou na escola, na inveno de espaos
e tempos intersticiais, recriando um momento prprio de expresso
da condio juvenil nos determinismos estruturais. Enfm, podemos
afrmar que a sociabilidade para os jovens parece responder s suas
necessidades de comunicao, de solidariedade, de democracia, de
autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de identidade.
Mas nessa dimenso temos de considerar, tambm, as expresses
de confitos e violncia existentes no universo juvenil que, apesar de no
ser generalizada, costumam ocorrer em torno e com base nos grupos de
amigos, sobretudo masculinos. As discusses, brigas e at mesmo atos
de vandalismo e delinquncia, presentes entre os jovens, no podem
ser dissociados da violncia mais geral e multifacetada que permeia a
sociedade brasileira, expresso do descontentamento dos jovens diante
de uma ordem social injusta, da descrena poltica e do esgaramento
dos laos de solidariedade, dentre outros fatores. Mas h tambm uma
representao da imagem masculina associada virilidade e coragem,
que muito cultuada na cultura popular, constituindo-se um valor
que perseguido por muitos e que, aliada competio, cumpre uma
funo na construo da sociabilidade juvenil.
O espao e o tempo
Essas diferentes dimenses da condio juvenil so condicio-
nadas pelo espao onde so construdas, que passa a ter sentidos
73
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
prprios, transformando-se em lugar, o espao do fuir da vida, do
vivido. So o suporte e a mediao das relaes sociais, investi-
dos de sentidos prprios, alm de serem a ancoragem da memria,
tanto individual quanto coletiva. Os jovens tendem a transformar
os espaos fsicos em espaos sociais, pela produo de estruturas
particulares de signifcados. Podemos dizer que a condio juvenil,
alm de ser socialmente construda, tem tambm uma confgurao
espacial (PAIS, 1993).
Aliada ao espao, a condio juvenil expressa uma forma pr-
pria de viver o tempo. H predomnio do tempo presente, que se
torna no apenas a ocasio e o lugar, quando e onde se formulam
questes s quais se responde interrogando o passado e o futuro,
mas tambm a nica dimenso do tempo que vivida sem maiores
incmodos e sobre a qual possvel concentrar ateno. E mes-
mo no tempo presente possvel perceber formas diferenciadas de
vivenci-lo, de acordo com o espao, como nas instituies (escola,
trabalho, famlia) que assumem natureza institucional, marcadas
pelos horrios e a pontualidade. Ou aqueles vivenciados nos espaos
intersticiais, de natureza sociabilstica, que enfatizam a aleatorieda-
de, os sentimentos, a experimentao. Esses espaos so vivenciados
preferencialmente noite, quando experimentam uma iluso liber-
tadora, longe do tempo rgido da escola ou do trabalho.
A tr ansi o par a a vi da adul ta
Nessas diferentes expresses da condio juvenil, podemos
constatar a presena de uma lgica baseada na reversibilidade, ex-
pressa no constante vaivm presente em todas as dimenses da vida
desses jovens. Vo e voltam em diferentes formas de lazer, com
diferentes turmas de amigos, o mesmo acontecendo com os estilos
musicais. Aderem a um grupo cultural hoje, que amanh poder
ser outro, sem maiores rupturas. Na rea afetiva, predomina a ideia
do fcar, quando tendem a no criar compromissos com as relaes
amorosas alm de um dia ou de uma semana. Tambm no trabalho
podemos observar esse movimento com uma mudana constante dos
empregos, o que reforado pela prpria precarizao do mercado
de trabalho, que pouco oferece alm de bicos ou empregos tempor-
rios. Essa reversibilidade informada por uma postura baseada na
experimentao, numa busca de superar a monotonia do cotidiano
mediante a procura de aventuras e excitaes. Nesse processo, testam
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
74
suas potencialidades, improvisam, defrontam-se com seus prprios
limites e, muitas vezes, enveredam-se por caminhos de ruptura, de
desvio, sendo uma forma possvel de autoconhecimento.
Para muitos desses jovens, a vida constitui-se no movimento,
em um trnsito constante entre os espaos e tempos institucionais,
da obrigao, da norma e da prescrio, e aqueles intersticiais, nos
quais predomina a sociabilidade, os ritos e smbolos prprios, o
prazer. nesse trnsito, marcado pela transitoriedade, que vo se
delineando as trajetrias para a vida adulta. nesse movimento que
se fazem, construindo modos prprios de ser jovem.
Nesse contexto, cada vez mais difcil defnir modelos na tran-
sio para a vida adulta. Antes, essa transio tendia a ser marcada
por alguns acontecimentos que sinalizariam o fm da juventude:
a sada da escola; o emprego em tempo integral, o casamento e
o nascimento dos flhos e a constituio de unidades residenciais
autnomas da famlia (MARGULIS, 2000; GALLAND, 1997). Esse
processo, porm, vem se modifcando e complexifcando a partir
dos novos contextos de socializao da juventude, como mostramos
anteriormente, principalmente a expanso do acesso escolar para
novos segmentos sociais e o consequente aumento da escolaridade
entre os jovens, a fexibilizao e a precarizao do mercado de tra-
balho, com o aumento dos ndices de desemprego juvenil, aliados
a uma mudana nas estruturas familiares, com a pluralizao das
formas de organizao familiar.
Essa realidade estaria levando a uma descronologizao do
percurso etrio e a uma desconexo dos atributos da maturidade
(PERALVA, 1997). Comentando esse processo, Sposito (2002) nos fala
da multiplicidade e da desconexo das diferentes etapas de entrada
na vida adulta. Ressalta um duplo movimento de descristalizao,
signifcando a dissociao no exerccio de algumas funes adultas
e a latncia que separa a posse de alguns atributos do seu imedia-
to exerccio, fazendo com que orientaes prprias da vida adulta
convivam com situaes de dependncia.
As trajetrias tendem a ser individualizadas, conformando os
mais diferentes percursos nessa passagem. Podemos dizer que, no
Brasil, o princpio da incerteza domina a vida dos jovens, que vivem
verdadeiras encruzilhadas de vida, nas quais as transies tendem
a ser ziguezagueantes, sem rumo fxo ou predeterminado. Se essa
uma realidade comum juventude, no caso dos jovens pobres, os
75
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
desafos so ainda maiores. Se h uma ampliao de possibilidades,
fruto da modernizao cultural, essa no veio acompanhada de uma
modernizao social, contando com menos recursos e margens de
escolhas, imersos que esto em constrangimentos estruturais. Para
muitos deles, o desejo, aquilo que gostariam de fazer, se v limitado
por aquilo que eles podem efetivamente fazer. o caso, por exem-
plo, daqueles jovens que gostariam de sobreviver das atividades
culturais, fazendo delas o seu meio de vida.
Apesar desses limites, muitos conseguem elaborar projetos de
futuro, procurando no presente formas e alternativas de insero
na sociedade no rumo que elaboram, a partir das condies e dos
recursos de que dispem, numa postura ativa diante de si mes-
mos e da realidade. Em outro extremo, encontramos aqueles que
assumem uma postura mais passiva, espera de uma ocasio, da
sorte, deixando que o acaso, o rumo dos acontecimentos lhes diria
a vida. Esses tendem a se refugiar na vivncia do presente, muitas
vezes buscando meios de fuga dessa realidade atravs das drogas
e, o mais trgico, da delinquncia. Mas tais posturas no so rgidas
e muitas vezes se misturam. Para a maioria, a transio aparece
como um labirinto, obrigando-os a uma busca constante de articular
os princpios de realidade (que posso fazer?), do dever (que devo
fazer?) e do querer (o que quero fazer?), colocando-os diante de
encruzilhadas onde jogam a vida e o futuro (PAIS, 2003).
A condi o j uveni l e as mutaes nos pr ocessos
de soci al i zao
nesse contexto que temos de situar a experincia social de
grandes parcelas da juventude brasileira. Os jovens, na sua diver-
sidade, apresentam caractersticas, prticas sociais e um universo
simblico prprio, que os diferencia, e muito, das geraes anterio-
res. A construo da condio juvenil, tal como esboamos, expressa
mutaes mais profundas nos processos de socializao, nos seus
espaos e tempos. Nesse sentido, a juventude pode ser vista como
uma ponta de iceberg no qual os diferentes modos de ser jovem ex-
pressam mutaes signifcativas nas formas como a sociedade produz
os indivduos. Tais mutaes interferem diretamente nas instituies
tradicionalmente responsveis pela socializao das novas geraes,
como a famlia ou a escola, apontando para a existncia de novos
processos cuja compreenso demanda maior aprofundamento.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
76
Nesse sentido, podemos afrmar que a constituio da condio
juvenil parece ser mais complexa, com o jovem vivendo experin-
cias variadas e, s vezes, contraditrias. Constitui-se como um ator
plural, produto de experincias de socializao em contextos sociais
mltiplos, dentre os quais ganha centralidade aqueles que ocorrem
nos espaos intersticiais dominados pelas relaes de sociabilidade.
Os valores e comportamentos apreendidos no mbito da famlia,
por exemplo, so confrontados com outros valores e modos de vida
percebidos no mbito do grupo de pares, da escola, das mdias,
etc. Pertence assim, simultaneamente, no curso da sua trajetria de
socializao, a universos sociais variados, ampliando os universos
sociais de referncia (LAHIRE, 2002).
Esse processo aponta para o que Dubet (2006) analisa como a
desinstitucionalizao do social, entendida como a mutao de
uma modalidade de ao institucional consagrada pela modernidade,
resultado de um esgotamento do seu programa institucional. As-
sim, o autor considera a existncia de um processo de mutao que
transforma a prpria natureza da ao socializadora das instituies,
fazendo com que parte importante do processo seja considerada
tarefa ou ao do prprio sujeito sobre si mesmo. No caso especfco
da escola, esse processo de mutao no elimina, mas transforma
a natureza da dominao no cotidiano da instituio escolar, pois
obriga os indivduos a se construrem livremente nas categorias da
experincia social que lhe so impostas. A dominao se manifesta,
assim, podendo-se afrmar que os indivduos so livres e mestres
de seus interesses [...]; a dominao impe aos atores as categorias
de suas experincias, categorias que lhes interditam de se constituir
como sujeitos relativamente mestres deles mesmos... (DUBET, 2006,
p. 403). Nesse sentido, estaramos assistindo passagem de uma
sociedade disciplinadora para uma sociedade de controle, na qual
persistem as lgicas disciplinadoras, mas agora dispersas por todo
o campo social (PAIS, 2003).
esse contexto que pode nos ajudar a compreender a tenso
existente na relao dos jovens com a escola, qual nos referimos na
introduo. Ter uma compreenso mais aprofundada desta relao
pode contribuir para o professor de Sociologia repensar a sua pos-
tura na relao com os alunos e, principalmente, contribuir para que
a comunidade escolar compreenda melhor as questes subjacentes
aos confitos existentes com os jovens alunos.
77
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Os j ovens e a escol a
A progressiva massifcao do Ensino Mdio, principalmente
a partir da dcada de 1990, faz com que um contingente de jovens
cada vez mais heterogneos transponha os muros da escola, trazen-
do com eles os confitos e as contradies de uma estrutura social
excludente, que interfere nas suas trajetrias escolares e colocam
novos desafos ao Ensino Mdio (FANFANI, 2000; SPOSITO, 2005).
Ao mesmo tempo, como uma das expresses dos processos de de-
sinstitucionalizao, a escola invadida pela vida juvenil, com seus
looks, pelas grifes, pelo comrcio de artigos juvenis, constituindo-se
como um espao tambm para os amores, as amizades, os gostos e
as distines de todo tipo. O tornar-se aluno j no signifca tanto a
submisso a modelos prvios; ao contrrio, consiste em construir sua
experincia como tal e atribuir um sentido a esse trabalho (DUBET,
2006). Implica estabelecer cada vez mais relaes entre sua condio
juvenil e o estatuto de aluno, tendo de defnir a utilidade social dos
seus estudos, o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu
projeto de futuro. Enfm, os jovens devem construir sua integrao
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princpios da
motivao e os sentidos atribudos experincia escolar.
Mas no um trabalho fcil. O jovem vivencia uma tenso na
forma como se constri como aluno, um processo cada vez mais
complexo, no qual intervm fatores externos (o seu lugar social,
a realidade familiar, o espao onde vive, etc.) e internos escola
(a infraestrutura, o projeto poltico-pedaggico etc.). No cotidiano
escolar, essa tenso se manifesta no tanto de forma excludente,
ser jovem OU ser aluno, mas, sim, geralmente, na sua ambiguidade
de ser jovem E ser aluno. Uma dupla condio que muitas vezes
difcil de ser articulada e que se concretiza em prticas e valores
que vo caracterizar o seu percurso escolar e os sentidos atribudos
a essa experincia.
Essa tenso, manifestada nas mais diferentes dimenses do co-
tidiano escolar, concretiza-se nos mais diversos percursos escolares,
marcados pela participao e/ou passividade, pela resistncia e/ou
conformismo, pelo interesse e/ou desinteresse, expresso mais clara
da forma como cada um elabora a tenso entre o ser jovem e o ser
aluno. H um continuum diferenciado de posturas, no qual uma pe-
quena parte deles adere integralmente ao estatuto de aluno. Esses,
geralmente os que renem a melhor condio social e o incentivo
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
78
familiar escolarizao, conseguem articular a utilidade dos estu-
dos com seus prprios interesses e gostos. Mas, para a maioria, a
escola consiste em um campo aberto, da a difculdade deles em
articular seus interesses pessoais com as demandas do cotidiano
escolar, enfrentando obstculos para se motivarem, para atriburem
um sentido a essa experincia e elaborarem projetos de futuro. Mas,
no geral, podemos afrmar que se confgura uma ambiguidade ca-
racterizada pela valorizao do estudo como uma promessa futura,
uma forma de garantir um mnimo de credencial para pleitear um
lugar no mercado de trabalho e uma possvel falta de sentido que
encontram no presente.
Tais constataes sugerem consequncias diretas sobre os pro-
cessos educativos vivenciados pelos jovens. Podemos afrmar que a
escola perdeu o monoplio da socializao dos jovens, mesmo con-
tinuando a ser uma referncia signifcativa para a vivncia juvenil.
Como vimos, a socializao juvenil vem ocorrendo em mltiplos
espaos e tempos, principalmente naqueles intersticiais dominados
pela sociabilidade. Implica reconhecer que a dimenso educativa
no se reduz escola, tampouco que as propostas educativas para
os jovens tenham de acontecer dominadas pela lgica escolar.
Ao mesmo tempo, a vivncia juvenil no cotidiano escolar
marcada pela tenso e pelos constrangimentos na sua difcil tarefa
em constituir-se como aluno. A escola e muitos dos seus profssio-
nais ainda no reconhecem que os alunos que ali chegam trazem
experincias sociais, demandas e necessidades prprias. Continuam
lidando com os jovens com os mesmos parmetros consagrados por
uma cultura escolar construda em outro contexto. A escola tem de
se perguntar se ainda vlida uma proposta educativa de massas,
homogeneizante, com tempos e espaos rgidos, numa lgica dis-
ciplinadora em que a formao moral predomina sobre a formao
tica, em um contexto de fexibilidade e fuidez, de individualizao
crescente e de identidades plurais.
Parece que os jovens alunos, nas formas em que vivem a expe-
rincia escolar, esto nos dizendo que no querem tanto ser tratados
como iguais, mas, sim, reconhecidos nas suas especifcidades, o que
implica serem reconhecidos como jovens, na sua diversidade, um
momento privilegiado de construo de identidades, de projetos de
vida, de experimentao e aprendizagem da autonomia. Demandam
dos seus professores uma postura de escuta que se tornem seus
79
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
interlocutores diante de suas crises, dvidas e perplexidades geradas
ao trilharem os labirintos e encruzilhadas que constituem sua traje-
tria de vida. Enfm, parece-nos que demandam da escola recursos
e instrumentos que os tornem capazes de conduzir a prpria vida
em uma sociedade na qual a construo de si fundamental para
dominar seu destino.
Os j ovens, a escol a e o ensi no de Soci ol ogi a
nesse contexto que temos de situar a questo do ensino de
Sociologia e ampliar a refexo sobre seu papel. Um primeiro aspec-
to a avanar diz respeito ao papel do professor de Sociologia. Pela
especifcidade da sua formao, crucial que este tambm assuma
o papel de socilogo na escola, alm do docente, como as prprias
Orientaes Curriculares para o Ensino Mdio OCEM-Sociologia (2006)
sugerem. As refexes realizadas acima evidenciam a necessidade
de os professores de cada escola, como afrmamos anteriormente,
desnaturalizarem a viso que possuem dos seus alunos, superando
preconceitos e esteretipos, compreendendo-os como sujeitos sociais
com demandas e necessidades prprias. Mas tambm precisam pro-
blematizar as relaes que acontecem no cotidiano escolar, alm de
conhecerem melhor o prprio meio social onde a escola se insere.
Essa funo cabe ao professor de Sociologia, que pode fazer da
escola um campo de pesquisas, contribuindo para que a prpria
escola e seus atores se conheam mais. No podemos nos esquecer
das sbias palavras de Antonio Cndido: O conhecimento socio-
lgico da escola habilita o educador a compreender a sua funo e,
sobretudo, a orientar convenientemente os problemas pedaggicos
(apud MENDONA, 2007, p. 4). Para isso, fundamental que ele
tenha uma formao slida, que garanta o acesso aos fundamentos
da Sociologia da Educao e da Sociologia da Juventude, reas que
esto pouco presentes ainda nos cursos de licenciatura
8
.
Outro aspecto o prprio ensino da Sociologia. No enfoque
que viemos desenvolvendo, o grande desafio posto aos jovens
de serem mestres da sua identidade e das suas experincias sociais,
8
Para este aprofundamento, sugerimos a bibliografa oferecida nos sites do Ob-
servatrio Jovem da UFF (www.uf.br/obsjovem), do Observatrio da Juventude
da UFMG (www.fae.ufmg.br/objuventude) e principalmente no Portal em dilogo
(www.emdialogo.com.br), onde o professor poder encontrar um diretrio de
publicaes sobre o Ensino Mdio, alm de uma srie de espaos para dilogo
com os jovens alunos do Ensino Mdio.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
80
superando os entraves sociais colocados que impedem a realizao
desse projeto. Nesse sentido, a Sociologia tem muito a contribuir,
principalmente no treino e ampliao da refexividade. Uma direo
possvel est indicada nas OCEM-Sociologia, quando defendem a
nfase na desnaturalizao e no estranhamento como eixos articu-
ladores dos contedos (BRASIL, 2006).
Signifca fornecer ao jovem aluno recursos e instrumentos, por
meio dos contedos sociolgicos, que lhe treinem o olhar sociol-
gico (SARANDY, 2001), aliados imaginao sociolgica (MILLS,
1975), de tal forma a possibilitar uma compreenso mais ampla
da realidade social. Mas tambm preciso contribuir para que os
jovens alunos se percebam como seres culturais, membros de de-
terminado grupo social, com uma tradio prpria, legtima, que
lhe d referncia, reconhecendo e valorizando as suas origens so-
cioculturais, principalmente no caso dos negros. Ao mesmo tempo,
desenvolver a sensibilidade pela diferena, exercitando, assim, a
convivncia e o respeito pelo outro. Finalmente, tambm deve ser
papel da Sociologia fornecer elementos que contribuam na tarefa
da individuao, estimulando o jovem a articular as diferentes ex-
presses de sua identidade, a reconhecer seus desejos e a elaborar
projetos de futuro.
Nessa perspectiva, fca claro que o jovem aluno e sua realidade
se colocam como o centro do processo educativo, ponto de partida
e de constante mediao com os conceitos e as teorias. Nesse senti-
do, as OCEM-Sociologia tambm contribuem, quando propem uma
interessante articulao entre temas, conceitos e teorias, articulados
com a pesquisa em sala de aula.
Algumas sugestes para o ensino de Sociologia
Uma das recomendaes das OCEM-Sociologia a utilizao da
pesquisa como tema e como instrumento didtico no cotidiano da
sala de aula. J existem experincias signifcativas nessa direo. Uma
delas acontece no trabalho de formao de professores de Sociolo-
gia da Faculdade de Educao da UFMG. Na disciplina de Prtica
de Ensino, vimos desenvolvendo a proposta de ensino por meio
do exerccio da pesquisa, uma metodologia que contribui, e muito,
para a maior aproximao dos contedos com a realidade dos jovens
alunos, a fm de concretizar os princpios levantados acima.
81
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
No queremos aqui nos alongar sobre o quanto nosso modelo
escolar est predominantemente calcado na transmisso de conhe-
cimentos. Esse modelo vem dando sinais de esgotamento ao longo
do tempo e, hoje, diante das novas tecnologias da informao e
da comunicao, mostra-se cada vez mais inadequado. Alterar esse
modelo signifca um desafo para o ensino de Sociologia e para a
escola. Signifca transpor um modelo de transmisso de saberes para
construir um modelo de ensino, de escola que produz conhecimentos
sobre si mesma, sobre sua comunidade, sobre como interferir nos
fenmenos educativos, dando um novo sentido para a educao
escolar. Nessa perspectiva, sugerimos a pesquisa de opinio, pela
facilidade que oferece na sua metodologia para a devida adequao
ao Ensino Mdio. A escolha da pesquisa de opinio como foco de
uma proposta de ensino de Sociologia tem um signifcado especial:
ao elaborar uma pesquisa sobre determinado tema, os jovens ne-
cessariamente tm de se posicionar e, com isso, esto participando
do processo. Ao conhecer as opinies de outros e compar-las com
as suas, podero ainda conscientizar-se sobre como as vises de
mundo so construdas socialmente, por meio de infuncias, acor-
dos, confitos e negociaes (MONTENEGRO; RIBEIRO, 2002). Desta
forma as prticas cotidianas, principalmente aquelas vivenciadas
pelos jovens, tornam-se um campo privilegiado de investigao e
referncia para a refexo sociolgica.
Acreditamos que a proposta de pesquisa de opinio no ensino
de Sociologia permite o exerccio de um olhar de estranhamento e
desnaturalizao sobre os fenmenos da vida humana, principal-
mente porque os jovens podem ser corresponsveis nas descobertas.
Nesse sentido,
[...] mais que discorrer sobre uma srie de conceitos, a dis-
ciplina pode contribuir para a formao humana na medida
em que proporcione a problematizao da realidade prxi-
ma dos educandos a partir de diferentes perspectivas, bem
como pelo confronto com realidades culturalmente distantes
(SARANDY, 2001).
O exerccio da pesquisa pode proporcionar aos jovens o que
acreditamos ser papel da sociologia: nos fazer fascinar com coi-
sas que nunca havamos suspeitado ou, parafraseando Fernando
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
82
Pessoa, pensar [sociologicamente que] estar doente dos olhos
(DAYRELL, 2007)
9
.
Referncias
ABRAMO, Helena. Condio juvenil no Brasil contemporneo. In: ______; BRANCO,
Pedro Paulo Martoni. Retratos da juventude brasileira: anlises de uma pesquisa
nacional. So Paulo: Instituto Cidadania/Fundao Perseu Abramo, 2005.
______; BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Retratos da juventude brasileira: an-
lises de uma pesquisa nacional. So Paulo: Instituto Cidadania/Fundao Perseu
Abramo, 2005.
BRASIL. Ministrio da Educao. Cincias humanas e suas tecnologias: conhe-
cimentos de sociologia. In: ______. Orientaes curriculares nacionais. Braslia,
DF, 2006. v. 4.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antroplogo: olhar, ouvir, escre-
ver. In: ______. O trabalho do antroplogo. Braslia: Paralelo 15, 1998. p. 17-35.
CARRANO, Paulo. Os jovens e a cidade. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2002.
CAVALLI, A. La giovent: condizione o processo? Rassegna Italiana di Sociologia,
Bologna, v. 21, n. 4, p. 519-542, 1980.
DAYRELL, Juarez. A escola como espao sociocultural. In: ______ (Coord.). Mlti-
plos olhares sobre a educao e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
______. A msica entra em cena: O rap e o funk na socializao da juventude. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 2005a.
______. Juventud, grupos culturales y sociabilidad. Jovenes: Revista de Estudios
sobre Juventud, Mexico, DF, n. 22, p. 128-147, 2005b.
______. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educao: Revista da
Anped, So Paulo, n. 24, p. 40-52, set./dez. 2003.
______; REIS, Juliana Batista. Juventude e escola: refexes sobre o ensino de so-
ciologia no ensino mdio. In: PLANCHEREL, Alice Anabuki; OLIVEIRA, Evelina
Antunes. Leituras sobre sociologia no ensino mdio. Macei: Edufal, 2007.
DUBET, Franois. Sociologie de lexprience. Paris: Seuil, 1994.
9
Alm da pesquisa, sugerimos tambm que o professor lance mo de outras
linguagens como instrumento didtico, sempre tendo a juventude como eixo
temtico. Uma delas a msica, muito apreciada pelos jovens bem como flmes
e vdeos. Uma lista de sugestes pode ser encontrada no site do Observatrio
da Juventude da UFMG (www.fae.ufmg.br/objuventude) e no Portal em dilogo
(www.emdialogo.com.br)
83
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
______. El declive de la institucin: profesiones, sujetos e individuos en la mo-
dernidad. Barcelona: Gedisa, 2006.
DURKHEIM, mile. As regras do mtodo sociolgico. So Paulo: Nacional, 1990.
FANFANI, Emlio. Culturas juvenis y cultura escolar. Documento apresentado no
seminrio Escola Jovem: um novo olhar sobre o Ensino Mdio, Braslia, 2000.
FRIGOTTO, Gaudncio. Juventude, trabalho e educao no Brasil: perplexidades,
desafos e perspectivas. In: NOVAES, Regina; VANUCHI, Paulo. Juventude e So-
ciedade. So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 2004.
GALLAND, Olivier. Lentre dans la vie adulte en France. Sociologie et Societs,
v. 28, n. 1, p. 37-46, 1997.
GUIMARES, Nadya Arajo. Trabalho: uma categoria chave no imaginrio juve-
nil? In: ABRAMO, Helena; BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Retratos da juventu-
de brasileira: anlises de uma pesquisa nacional. So Paulo: Instituto Cidadania/
Fundao Perseu Abramo, 2005.
GIDDENS, Anthony. As conseqncias da modernidade. So Paulo: Ed. Unesp,
1991.
GOMES, Nilma Lino; DAYRELL, Juarez. Formao de agentes culturais juvenis.
In: ENCONTRO DE EXTENSO DA UFMG, 6., 2003, Belo Horizonte. Anais... Belo
Horizonte: Proex/UFMG, 2003. p. 1-4.
HERNANDEZ, Fernando. Os projetos de trabalho e a necessidade de mudana da
educao e na funo da escola. In: ______. Transgresso e mudana na educao:
os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.
LAHIRE, Bernard. Homem plural: os determinantes da ao. Petrpolis: Vozes, 2002.
LIMA, Elvira Souza Lima. Do indivduo e do aprender: algumas consideraes
a partir da perspectiva sociointeracionista. Educ. Rev., Belo Horizonte, n. 12, p.
14-20, dez. 1990.
MARGULIS, Mrio. La juventud es ms que una palabra. In: ______ (Org.) La
juventud es ms que una palabra. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000.
MENDONA, Sueli Guadelupe de Lima. Mediaes pedaggicas e sociologia:
um dilogo necessrio. So Paulo: [s.n.], 2007. Mimeografado.
MILLS, C. Wright. A Imaginao Sociolgica. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
MINAYO, Maria Ceclia de Souza et al. Fala, galera: juventude, violncia e cida-
dania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.
MONTENEGRO, Fabio; RIBEIRO, Vera Masago. Nossa escola pesquisa sua opi-
nio: manual do professor. So Paulo: Global, 2002.
PAIS, Jos Machado. Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Mo-
eda, 1993.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
84
______. Ganchos, tachos e biscates: jovens, trabalho e futuro. Lisboa: mbar,
2003.
PERALVA, Angelina. O jovem como modelo cultural. Revista Brasileira de Edu-
cao: Revista da Anped, So Paulo, n 5/6, p. 15-24, maio/dez. 1997.
SALVADOR, Cesar Coll. Signifcado e sentido na aprendizagem escolar: refexes
em torno do conceito de aprendizagem signifcativa. In: ______. Aprendizagem
escolar e construo do conhecimento. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1994.
SARANDY, Flvio. Refexes acerca do sentido da sociologia no ensino mdio.
Disponvel em: <htp://www.espacoacademico.com.br/05sofa.htm. 2001>. Acesso
em: 3 abr. 2004.
SPOSITO, Marlia P; GALVO, Izabel. A experincia e as percepes de jovens na
vida escolar na encruzilhada das aprendizagens: o conhecimento, a indisciplina,
a violncia. Perspectiva: Revista do Centro de Cincias da Educao da UFSC,
Florianpolis, v. 22, n. 2, p. 345-380, 2004.
SPOSITO, Marlia Pontes. Algumas hipteses sobre as relaes entre movimentos
sociais, juventude e educao. Revista Brasileira de Educao: Revista da Anped,
So Paulo, n. 13, p. 73-94, 2000.
______. Juventude e escolarizao (1980/1998). Braslia: MEC/Inep, 2002. (Estado
do Conhecimento, 7).
______. Algumas refexes e muitas indagaes sobre as relaes entre juventude
e escola no Brasil. In: ABRAMO, Helena; BRANCO, Pedro Paulo Martoni (Org.).
Retratos da juventude brasileira: anlises de uma pesquisa nacional. So Paulo:
Instituto Cidadania/Fundao Perseu Abramo, 2005.
VASCONCELLOS, Celso. Construo do conhecimento em sala de aula. So Paulo:
Liberdad, 1994.
85
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Um dos atuais desafos da sociologia tem sido o de explicar
as grandes mudanas ocorridas no mundo do trabalho nas ltimas
dcadas. A percepo do trabalho/emprego como uma atividade de
longa durao, comum s geraes de trabalhadores de meados do
sculo 20, teve sua credibilidade abalada por um intenso processo
de reestruturao das atividades produtivas, implementado a partir
dos anos de 1970. A partir da, a sociedade capitalista industrializada
se viu transformada pela constituio de novos tipos de articula-
o entre empresas e pases, com forte infuncia da tecnologia da
informao, e com a instituio de um padro de produo fexvel
com relao ao trabalho e aos trabalhadores.
A exigncia de maior competitividade em um mercado cada vez
mais globalizado introduziu estratgias de racionalizao e reduo
de custos, com srias consequncias para os nveis de emprego.
Postos de trabalho, que tradicionalmente garantiam estabilidade,
foram reduzidos drasticamente. A insegurana passou a fazer par-
te do cotidiano do assalariado que detm algum tipo de emprego
formal. Formas precrias de trabalho, de subcontratao, passaram
a ser utilizadas como norma e se incorporaram s propostas das
Captulo 4
Trabalho na sociedade
contempornea
Jos Ricardo Ramalho*
* Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
86
empresas. Fragilizou-se a instituio sindical como representao
legtima dos trabalhadores. O desemprego adquiriu dimenses mais
amplas, mudando hbitos e trazendo pobreza e desesperana e o
trabalho informal tornou-se uma alternativa frequente para os ex-
cludos do mercado de trabalho formalizado, principalmente nos
pases subdesenvolvidos.
Retrospectiva a partir da Revoluo Industrial
A Revoluo Industrial, que tem o seu auge em meados do s-
culo XIX, alterou de modo substantivo as atividades relacionadas ao
trabalho, e foi responsvel por mudanas importantes na vida das
pessoas e das organizaes produtivas. O trabalho tornou-se refe-
rncia essencial para se entender a sociedade capitalista, o que pode
inclusive ser notado nos escritos dos principais autores clssicos da
sociologia (Durkheim, Weber, Marx). E a formao da sociedade
industrial complexifcou a diviso do trabalho, com a criao de
um grande nmero de ocupaes.
Um dos traos iniciais da Revoluo Industrial foi a organizao
do trabalho em domiclio, com vistas implantao de um tipo de
trabalho assalariado que se confundia com a autonomia dos produ-
tores. Estes produtores/trabalhadores, espalhados geografcamente,
segundo Holzmann (2007, p. 325), eram agenciados por um empre-
srio capitalista, trabalhavam em suas prprias casas, com prazos
determinados para a entrega dos produtos, sendo remunerados por
tarefa. Embora apenas o trabalho, em geral do chefe da famlia,
fosse remunerado, fazia-se necessrio agregarem-se mais pessoas
ao processo, incorporando-se, ento, outros membros da famlia,
inclusive crianas. A autonomia de produzir, como a prerrogativa
de defnir a jornada, a intensidade e os ritmos da produo, esbar-
ravam na necessidade de acelerar para cumprir prazos.
Karl Marx foi um dos principais autores a pensar o trabalho
no contexto da sociedade industrial capitalista. Na anlise que fez
da mercadoria reconhece o trabalho nela contido como tendo um
duplo carter: trabalho concreto e trabalho abstrato. Liedke (2007, p.
319), em um resumo sobre essa discusso, explica que, para Marx, o
trabalho concreto corresponderia utilidade da mercadoria (valor
de uso), dimenso qualitativa dos diversos trabalhos teis. J o
trabalho abstrato corresponderia ao dispndio de fora humana,
87
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
independente das mltiplas formas em que seja empregada, e nessa
qualidade que criaria o valor das mercadorias.
Para Giddens (1989, p. 486-487), Marx tambm percebeu que
o desenvolvimento da indstria moderna reduziria a maior parte
do trabalho das pessoas a tarefas chatas e desinteressantes. E que
a diviso do trabalho alienava os seres humanos do seu trabalho.
Os trabalhadores industriais teriam pouco controle sobre a natu-
reza da sua tarefa, apenas contribuiriam com uma frao para a
criao de todo o produto, e no teriam influncia sobre como ou
para quem vendido.
O padro fordista e as mudanas no trabalho
O crescimento da indstria e sua consolidao atravs da organi-
zao fabril trouxe novos elementos para a discusso sobre o trabalho.
A evoluo do trabalho em domiclio para o trabalho fabril alterou tam-
bm os mecanismos de controle sobre as atividades internas fbrica.
Entre as diversas tentativas de assumir o controle sobre o conhecimento
e poder de quem atuava no cho de fbrica, a que fcou mais difundida
est associada a F. W. Taylor, com o uso ainda atual do termo taylorismo,
para caracterizar estratgias de controle de tempo e espao, e a Henry
Ford, que com a introduo da linha de montagem, da verticalizao
da organizao fabril e da produo em massa, acabou cunhando o
termo fordismo, como o resumo de um padro produtivo que se espa-
lhou pelo mundo industrial ao longo do sculo XX.
Braverman (1974) foi um dos principais autores a analisar esta
evoluo do capitalismo industrial, identifcado como capitalismo
monopolista. Para ele, a fase do capitalismo monopolista propi-
ciava uma extensa fragmentao e especializao do trabalho nas
indstrias e uma desqualifcao na defnio dos postos de tra-
balho. Ao se propor a atualizar Marx com relao dinmica do
desenvolvimento do capitalismo, este autor aprofundou o estudo da
aplicao das tcnicas modernas de gerncia em combinao com a
mecanizao e a automao e sugeriu que a separao entre a con-
cepo (gerncia) e a execuo (trabalho) das tarefas da produo
se tornava o mvel principal da organizao moderna e do controle
do processo de trabalho.
O desenvolvimento do controle gerencial visava reduo da
infuncia operria sobre os meios e a natureza da produo. Torna-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
88
se fundamental para o capitalista que o controle sobre o processo
de trabalho passe das mos do trabalhador para as suas prprias
(BRAVERMAN, 1974, p. 59). Tambm a introduo de formas mais
avanadas de maquinaria, onde a cincia foi incorporada ao processo
de trabalho, tanto comps como complementou o taylorismo no avan-
o da separao entre concepo e execuo. Portanto, as tendncias
do processo de trabalho, sob o princpio-guia do controle gerencial
apontavam, por um lado, para a desqualifcao e a fragmentao do
trabalho; e, por outro lado, apontavam para a criao de um aparato
de concepo, no qual predominava a lgica da empresa (BURAWOY,
1985, p. 21; RAMALHO, 1991).
Neste modelo, diz Guimares (2007, p. 134-135), o trabalho tor-
nou-se repetitivo, parcelado e montono, sendo sua velocidade e
ritmo estabelecidos independentemente do trabalhador que o exe-
cutava sob uma rgida disciplina. E, diferentemente do trabalho de
execuo, o trabalho de concepo das atividades produtivas exigiu
alta qualifcao, incluindo o desenho dos produtos, a programao
da produo e as tarefas de manuteno e de reparao e sendo
realizado isoladamente, fora da linha de montagem.
O padro de produo fordista, embora no tenha se implan-
tado igualmente em todos os pases industrializados, tornou-se re-
ferncia ao longo do sculo 20, como o modelo mais adaptado
produo em massa e a esta nova fase do processo de acumulao
capitalista. Do ponto de vista dos trabalhadores, a desqualifcao
do trabalho como fonte de poder dentro das fbricas fomentou uma
reao e fez crescer mecanismos de resistncia operria, assim como
credenciou suas organizaes os sindicatos a serem instituies
legtimas de defesa do trabalho e dos salrios dentro das fbricas
e de atuarem no sentido da formao de uma identidade de classe
associada ao trabalho. O perodo que vai do fnal da segunda guerra
mundial em 1945 at os anos de 1970, com a consolidao do Estado
de Bem-Estar Social, pode ser considerado o auge desse perodo da
produo de massa.
Crise do fordismo e a implantao do padro fexvel
A conjuntura econmica muda nos anos de 1970. Identifca-se
uma crise no modelo fordista em funo de novas exigncias do
mercado consumidor, por produtos mais variados e mais adaptados
89
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
s diferenas culturais e econmicas dos diferentes grupos sociais.
A introduo de um novo padro, fexvel, fcou marcada pela di-
ferena com a rigidez do padro fordista. Segundo Harvey (1992,
p. 140), este novo padro se apia na fexibilidade dos processos
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padres de
consumo. Entre suas principais caractersticas esto o surgimen-
to de setores de produo inteiramente novos, novas maneiras de
fornecimento de servios fnanceiros, novos mercados e, sobretudo,
taxas altamente intensifcadas de inovao comercial, tecnolgica e
organizacional (HARVEY, 1992, p. 140).
A crise do fordismo resultou em um processo de reestrutu-
rao produtiva com grande impacto sobre o mundo do trabalho.
As expectativas de emprego de longa durao, estimuladas pela
organizao empresarial relacionadas produo em massa, foram
substitudas por outros tipos de emprego, pelo aumento da insegu-
rana no trabalho e pelo crescimento do desemprego. Nesse contexto,
o setor industrial se modifcou, e se associou cada vez mais com o
setor de servios, este em franco crescimento. Formas de trabalho
diferenciadas foram reintroduzidas, em geral precarizando as relaes
de trabalho e quebrando compromissos anteriores assumidos com
o estatuto do assalariamento (leis trabalhistas etc.).
A estruturao das empresas em rede, horizontalizada, em subs-
tituio estrutura verticalizada do modelo anterior, a introduo
da tecnologia da informao e novas formas de gesto nos processos
produtivos, tambm afetou o modo como os trabalhadores passaram
a se relacionar entre si e se organizar enquanto classe. A introduo
de novas tecnologias tambm permitiu uma maior mobilidade das
empresas e um aumento no poder dos empregadores sobre sua
fora de trabalho. Para Harvey (1992, p. 140), o trabalho organiza-
do foi solapado pela reconstruo de focos de acumulao fexvel
em regies que careciam de tradies industriais anteriores e pela
reimportao para os centros mais antigos das normas e prticas
regressivas estabelecidas nessas novas reas.
Na Sociologia, nesse contexto (RAMALHO, 2000), fexibilidade
passa a ser palavra-chave nos textos explicativos (e no discurso
empresarial) sobre os processos de reestruturao produtiva, relaes
de trabalho e ao do Estado. Mas a Sociologia passa tambm a
averiguar as consequncias sociais desse processo, a precarizao do
trabalho e seus efeitos sobre a organizao da sociedade. Esta pers-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
90
pectiva defende a necessidade de um olhar mais crtico sobre esta
realidade e entende que o conceito de precarizao social pode orien-
tar a anlise cientfca sobre uma contradio central das sociedades
contemporneas a contradio entre processos de modernizao
percebidos como progresso e processos de regresso social cada vez
mais visveis (APPAY, 1997, p. 509-511).
A nova conjuntura do mundo do trabalho expe uma variedade
de situaes de trabalho que se criam, dos novos aspectos da divi-
so social do trabalho e novos tipos de contrato. O crescimento da
participao feminina no mercado de trabalho foi um dos aspectos
importantes desse perodo de reestruturao. Na anlise sociolgica,
o componente de gnero esteve sistematicamente ausente das inter-
pretaes relativas ao trabalho e aos trabalhadores, mas no padro
fexvel fcaram evidentes os efeitos das mudanas no trabalho de
modo diferenciado, conforme se trate de trabalhadores homens ou
mulheres (HIRATA, 1998, p. 6-9; ABREU, 1994, p. 56).
Outro aspecto se refere ao trabalho que se associa noo de
informal. Os analistas afrmam que a economia informal no mi-
nimiza ou reduz a explorao, mas tem combinado fexibilidade e
explorao, produtividade e abuso, empresrios agressivos e tra-
balhadores desprotegidos. O novo, no presente contexto, seria o
crescimento do setor informal, mesmo nas sociedades altamente
institucionalizadas, a expensas das relaes de trabalho j forma-
lizadas (PORTES; CASTELLS, 1994, p. 11-28, entre outros). Para
alguns autores, a partir dos anos de 1980, o tema da informalidade
transforma-se em elemento-chave de interpretaes a respeito do
impacto das mudanas na estrutura do mercado de trabalho e suas
consequncias sociais (MACHADO DA SILVA, 2003).
At mesmo o retorno de formas de trabalho anteriores, como
o trabalho em domiclio, comum nos primrdios da revoluo in-
dustrial foram recuperados na implantao de um novo modelo
fexvel. Segundo Holzmann (2007, p. 326), o trabalho industrial
em domiclio ressurge como expediente do capital para fexibili-
zar o uso da fora de trabalho, consistindo em tarefas simples e
repetitivas, parte ou etapa da produo de um produto complexo,
realizada diretamente para uma empresa que produza ou monte o
produto fnal.
Uma das principais crticas ao processo de fexibilizao das
relaes de trabalho est na desvinculao da atividade do traba-
91
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
lho da construo de um patamar social de convivncia baseada
em princpios universais de cidadania (LIEDKE, 2007, p. 322-323).
Para esta autora, as descontinuidades das atividades de trabalho e
os longos perodos de desemprego conduzem desestruturao de
vnculos sociais outrora duradouros, no trabalho e na vida social.
Para Castel (1998, p. 34), o trabalho no pode ser pensado enquanto
relao tcnica de produo, mas como um suporte privilegiado de
inscrio na estrutura social. Alm disso, o autor reconhece uma
forte correlao entre o lugar ocupado na diviso social do trabalho e
a participao nas redes de sociabilidade e nos sistemas de proteo
que amparam um indivduo diante dos acasos da existncia [pos-
sibilitando] zonas de coeso social (CASTEL, 1998, p. 34). Assim,
associar trabalho estvel/insero relacional slida vai caracterizar
uma rea de integrao, enquanto a ausncia de participao em
qualquer atividade produtiva e o isolamento relacional vo ter como
consequncia os efeitos negativos da excluso.
A reestruturao produtiva no Brasil
O Brasil no escapou, nos anos de 1990, da onda de reestru-
turao produtiva que j vinha ocorrendo nos pases mais indus-
trializados. Novas formas de gesto do trabalho, fexibilizao, ter-
ceirizao; todas essas mudanas tm sido experimentadas pelas
empresas brasileiras. verdade que isso vem ocorrendo de modo
desigual, e se j possvel identifcar alteraes no processo produ-
tivo propriamente dito, na maioria dos casos, pode-se constatar que
as novas estratgias empresariais tm se preocupado mais em cortar
custos, eliminando em defnitivo postos de trabalho (RAMALHO;
MARTINS, 1994). Para os que mantm seus empregos, as exigncias
so maiores. No s a intensifcao do trabalho se coloca, mas uma
condio de maior escolaridade e maior capacidade de adaptao
s mudanas constantes.
Uma das estratgias mais utilizadas pelas empresas, no que se
refere fexibilizao das relaes de trabalho, est no processo de
terceirizao. Segundo Teixeira e Pelatieri (2009, p. 20),
[...] diferentemente das demais modalidades de contratao
precria com o setor informal, contrato temporrio, por tempo
parcial ou por prazo determinado, em que a forma de contrato
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
92
identifca o seu carter precrio, na terceirizao, essa relao
de trabalho precrio, muitas vezes, camufada pela justifca-
tiva de que se trata de servios especializados. [Trata-se] de
um fenmeno que se ampliou e consolidou gerando muitas
vezes pouco ou nenhum questionamento, principalmente pelo
fato de se manifestar de distintas formas. Alm disso, fre-
qentemente confundido com outras estratgias empresariais
como desverticalizao e descentralizao da produo.
A Sociologia do Trabalho brasileira vem refetindo sobre a hete-
rogeneidade de um processo de reestruturao industrial que atingiu
de modo diferenciado setores industriais e regies do Pas. A reno-
vao das estratgias organizacionais e a fexibilizao do trabalho
tm sido investigadas e identifcam desde o anncio de propostas
de democratizao das relaes de trabalho at a persistncia de
prticas autoritrias (principalmente com os sindicatos e as organi-
zaes de trabalhadores nos locais de trabalho) (CASTRO; LEITE,
1994, p. 47-48). Outros estudos mostram tambm que a positividade
do padro fexvel no se confrma como anunciada, e, na verdade,
h um crescimento das prticas de precarizao do emprego, das
condies de trabalho e dos salrios e o aumento do desemprego.
Por fm, estudos abordando a discusso sobre crescimento econmi-
co e excluso ganha importncia, alertando para a correlao entre
reestruturao industrial, de um lado, e excluso e pobreza, de outro.
O sindicato e a fexibilidade das relaes de trabalho
A implantao do padro fexvel trouxe problemas para a ao
sindical. Chega-se a duvidar da capacidade dessa instituio de de-
fender com efccia os interesses dos trabalhadores. Na Sociologia
h, inclusive, um debate sobre o modo de interpretar os efeitos des-
sas mudanas sobre a instituio sindical. Para alguns, esse processo
aponta para um declnio inexorvel do sindicato, enquanto outros con-
sideram que a crise no da instituio, mas de um tipo de sindicato
atingido duramente pelas transformaes no processo produtivo.
Diversos fatores so apontados para explicar as difculdades
atuais enfrentadas pelos sindicatos, a maior parte delas associadas
s mudanas no processo produtivo: a fexibilizao das relaes de
trabalho e o crescimento do trabalho em tempo parcial, tempo deter-
93
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
minado e por conta prpria; o uso intensifcado da subcontratao,
do trabalho em domiclio e o aumento da participao feminina no
mercado de trabalho, alm do crescimento do desemprego; a reduo
do emprego industrial provocada pelo avano tecnolgico e pela
automao; a possibilidade atual das empresas de deslocamento e
segmentao de suas atividades; e o uso de novas formas de gesto
que enfatizam a participao dos trabalhadores e desestimulam a
sindicalizao (RODRIGUES, 1999).
Como desdobramento, identifcam-se tambm outros tipos de
problema: a diferenciao interna das categorias de trabalhadores,
com o fm da predominncia do trabalhador masculino, e a maior
participao das mulheres no mercado de trabalho; a necessidade
de representar tambm os que fcaram fora do mercado de trabalho;
a premncia de participar de outras instncias polticas para alm
do espao interno das empresas.
Nesse debate sobre a crise do sindicato, merece destaque a con-
tribuio de Hyman (1996, p. 19) quando contesta a tendncia que
aponta para a desagregao e o fm do sindicalismo solidrio. Para
ele, o que vem ocorrendo no uma crise do sindicalismo, mas uma
crise do estilo e orientao tradicionais do sindicalismo. Buscando
desmistifcar interpretaes que apontam para uma situao mais
catastrfca, Hyman argumenta que a noo de classe operria sem-
pre foi uma abstrao, nunca uma descrio ou generalizao socio-
lgica e que a diferenciao, a diviso e a desunio tm sido traos
onipresentes do desenvolvimento sindical. A solidariedade no
nunca uma qualidade natural ou fxa, sempre uma meta que, no
melhor dos casos, resulta difcil de alcanar e efmera (HYMAN,
1996, p. 19). E fnaliza afrmando que, apesar das circunstncias
adversas, segue existindo um espao para as iniciativas estratgicas
dos movimentos trabalhistas, de maneira que seja possvel contar
com novos meios para transcender as divises e construir o interesse
comum. O que certamente se requer uma nova lgica, um novo
vocabulrio de motivos para a solidariedade dos trabalhadores
(HYMAN, 1996, p. 20-21).
A investigao sociolgica que trata da crise do sindicato tem
levado tambm antecipao de cenrios, desdobramentos e tendn-
cias para o futuro. As alternativas propostas variam, basicamente,
entre os cenrios que enfatizam mudanas nas atividades sindicais
mais tradicionais de representao coletiva e aquelas que sugerem
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
94
uma ampliao de atividades no sentido de incluir a representa-
o de trabalhadores desempregados, precarizados ou excludos do
ncleo central da produo e at de um sindicalismo comunitrio
que, juntamente com outros movimentos sociais, voltar-se-ia para
atender as necessidades dos que se encontram excludos do mundo
do trabalho (LARANGEIRA, 1998, p. 181-183).
H certo consenso de que os sindicatos devem adaptar sua orga-
nizao, estrutura e ao heterogeneidade do mundo do trabalho,
sem, no entanto, negligenciarem as foras que tendem a conservar o
sistema de representao coletiva. A estabilidade da lei trabalhista,
a necessidade da representao sindical e a falta de qualquer alterna-
tiva para tal representao so todos fatores que tornam a adaptao
mais plausvel do que uma revoluo nas formas de representa-
o coletiva dos trabalhadores (MINGIONE, 1998). Na verdade, a
questo da representao ainda um problema no contexto atual
e a dvida permanece sobre se os sindicatos sero ou no capazes
de representar os interesses de todos os trabalhadores.
Para Trentin e Anderson (1996, p. 61-62),
[...] comprometer o sindicato nessa nova realidade quer dizer
realizar uma verdadeira revoluo cultural, porque o sin-
dicato deve abandonar uma concepo da representao e
da contratao que o tem acompanhado durante toda a sua
histria, quando o seu objetivo principal era conquistar o
monoplio da contratao no lugar de trabalho. [Busca-se]
uma contratao coletiva que tambm assuma a representao
de estratos da populao e de trabalhadores tradicionalmente
excludos da contratao coletiva e que, igualmente, os de-
fenda em diversos terrenos: questes de alojamento, direito a
uma seguridade social mnima, igualdade de oportunidades
no acesso ao trabalho.
As anlises sociolgicas sobre o sindicalismo brasileiro nos lti-
mos vinte anos tm mostrado um movimento de crescimento insti-
tucional e poltico, iniciado com as greves do ABC paulista no fnal
dos anos de 1970, e confrmado, no incio dos anos de 1980, com a
criao das Centrais Sindicais, principalmente a Central nica dos
Trabalhadores CUT (CARDOSO, 1999; COMIN, 1994; ANTUNES,
1995; JCOME RODRIGUES, 1997; ALMEIDA, 1996). A conjuntura
95
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
em que esses processos se deram permitiu o desdobramento da
ao sindical para alm do muro das fbricas, associando reivindi-
caes econmicas a questes polticas, participando do processo
de redemocratizao do Pas e produzindo um tipo de sindicalismo
que procurou romper com o atrelamento ao Estado e enfatizou uma
prtica construda sobre a organizao nos locais de trabalho.
Os estudos sociolgicos dos anos de 1990 e 2000 vm revelan-
do a presso da reestruturao industrial sobre esse sindicalismo.
A avaliao a de que a introduo de novas formas de gesto da
fora de trabalho, sobretudo nas empresas associadas a cadeias pro-
dutivas globais, em conjunto com transformaes na organizao
da produo e na estrutura de emprego, colocam novas questes,
exigindo novas posturas e pondo em xeque a fora de barganha
acumulada anteriormente.
Mas os dados e anlises variam conforme os efeitos da rees-
truturao sobre os diversos segmentos da economia. Setores mais
modernos enfrentam uma ao sindical efetiva cuja efccia os obriga
ao encaminhamento de novas formas de gesto por meio da negocia-
o (CARDOSO, 1999; LEITE, 1997). Na maioria dos outros setores,
no entanto, a situao atual aponta para um processo gradativo de
precarizao do trabalho e fragilizao da organizao coletiva dos
trabalhadores. O movimento sindical passa pela difculdade de lidar
com situaes de trabalho diante das quais polticas e estratgias de
ao sindical parecem impotentes e incapazes de deter a destruio
de direitos e de se relacionar com uma fora de trabalho de caracters-
ticas diversas daquela encontrada no ptio das grandes empresas.
Concluso
O tema do trabalho na sociedade contempornea permanece
central. A fragmentao de suas atividades, a complexifcao da
diviso do trabalho e suas novas divises e qualifcaes no reduziu
a sua importncia como fator essencial de manuteno do sistema
capitalista nem seu carter formador de identidades de classe. Natu-
ralmente, h diferenas, conforme os contextos dos pases, mas mais
do que nunca as situaes de trabalho se entrelaam nas atividades
produtivas internacionalizadas, transformando questes de direitos
em temas internacionais. Tentativas permanentes de desregulamentar
o mercado de trabalho, retirar garantias da legislao trabalhista,
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
96
como no caso do Brasil, um dos aspectos mais repetidos nesse
contexto, mas tambm a constatao de que formas anlogas ao
trabalho escravo, por exemplo, continuam sendo acionadas por di-
ferentes empresas em diferentes partes do mundo.
Termino com uma agenda possvel para a refexo sociolgica
sobre o trabalho e o sindicato:
1) Uma discusso sobre o trabalho deve considerar temas
como:
a formao da identidade e de redes de solidariedade a
partir de outras formas de trabalho (trabalho em domiclio,
informal, tempo parcial etc.);
a presena fundamental da fora de trabalho feminina nas
diversas instncias produtivas e suas consequncias para o
emprego e outras formas de organizao;
os mecanismos de reconstruo de uma cidadania social
tendo em vista a fragmentao de uma classe trabalhadora
cada vez mais marcada por interesses e formas diversas de
insero no mundo do trabalho.
2) Uma refexo sobre a crise do modelo de sindicato criado
pelo fordismo em uma conjuntura de fexibilizao do trabalho nos
contextos nacional e internacional precisa enfatizar a discusso de
temas como:
a possibilidade (ou no) de negociar novas formas de con-
trato de trabalho, preservando empregos e respeitando di-
reitos bsicos;
as difculdades de equacionar uma longa prtica de ao
ligada aos trabalhadores formais com a proliferao de no-
vas situaes de trabalho marcadas por uma instabilidade
maior;
a relao entre a manuteno dos direitos trabalhistas e
sociais e o processo de consolidao de uma sociedade de-
mocrtica;
a capacidade de os sindicatos se associarem a outros movi-
mentos sociais com o objetivo de ampliarem a base de atuao
poltica em defesa de direitos do trabalho e de cidadania.
No que diz respeito ao Brasil, considerando a realidade de um
Pas dependente e fortemente vinculado lgica de funcionamento
do capitalismo global, a discusso sobre trabalho e sindicato deve
97
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
estar referida questo social em uma problemtica que associa a
reestruturao produtiva a um contexto de graves problemas de de-
sigualdade e desemprego. Nesse sentido, colocam-se temas como:
a relao entre a baixa qualifcao/escolarizao da fora
de trabalho e os novos processos produtivos e suas conse-
quncias em termos de emprego e precarizao das relaes
de trabalho;
a contradio entre propostas modernizantes e a presena
constante de trabalho infantil e trabalho forado nas pontas
das cadeias produtivas.
Finalmente, coloca-se para a Sociologia o desafo de interpre-
tar esses novos processos ampliando seu mbito de anlise,
ou seja, pensando o sindicato no apenas como organizao
fundamental de defesa de salrios e direitos dos trabalha-
dores formais e empregados, mas tambm como instncia
possvel de atuao no que se refere a questes mais abran-
gentes que afetam os trabalhadores e que implicam interfe-
rncia em polticas de emprego e nas polticas sociais.
Referncias
ABREU, Alice. Especializao Flexvel e Gnero: Debates Atuais. So Paulo em
Perspectiva: Revista da Fundao Seade, So Paulo, v. 8, n. 1, p. 52-57, 1994.
ALMEIDA, Maria Hermnia T. de. Crise Econmica e Interesses Organizados. So
Paulo: Edusp/Fapesp, 1996.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as Metamorfoses e a Cen-
tralidade do Mundo do Trabalho. Campinas: Cortez/Ed. Unicamp, 1995.
APPAY, Beatrice. Prcarisation Sociale et Restructurations Productives. In: ______; TH-
BAUD-MONY, A. (Org.). Prcarisation Sociale, Travail et Sant. Paris: Iresco, 1997.
BRAVERMAN, H. Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press,
1974.
BURAWOY, Michael. The Politics of Production. London: Verso, 1985.
CARDOSO, Adalberto. A Trama da Modernidade: Pragmatismo e Democratizao
no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
CASTEL, Robert. As Metamorfoses da Questo Social: Uma Crnica do Salrio.
Petrpolis: Vozes, 1998.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
98
CASTRO, Nadya Arajo; LEITE, Marcia de Paula. A Sociologia do Trabalho Indus-
trial no Brasil: Desafos e Interpretaes. BIB: Boletim Informativo e Bibliogrfco
de Cincias Sociais, Rio de Janeiro, n. 37, p. 39-60, 1994.
COMIN, lvaro. A Experincia de Organizao das Centrais Sindicais no Brasil.
In: J. MATTOSO, J. et al. (Org.). O Mundo do Trabalho: Crise e Mudana no Final
do Sculo. So Paulo: Scrita, 1994.
DURKHEIM, E. Da Diviso do Trabalho Social. So Paulo: Martins Fontes, 1995.
GIDDENS, A. Sociology. Cambridge: Polity Press, 1989.
GUIMARES, Sonia. Fordismo e Ps-fordismo. In: CATTANI, A.; HOLZMANN, L.
(Org.). Dicionrio de Trabalho e Tecnologia. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007.
HARVEY, David. Condio Ps-Moderna. So Paulo: Loyola, 1992.
HIRATA, Helena. Reestruturao Produtiva, Trabalho e Relaes de Gnero. Revista
Latino-Americana de Estudos do Trabalho, So Paulo, ano 4, n. 7, p. 5-27, 1998.
HOLZMANN, L. Trabalho em domiclio. In: CATTANI, A.; HOLZMANN, L. (Org.).
Dicionrio de Trabalho e Tecnologia. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007.
HYMAN, Richard. Los Sindicatos y la Desarticulacin de la Clase Obrera. Revista
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Ciudad de Mxico, ano 2, n. 4, p. 9-28,
1996.
JCOME RODRIGUES, I. Sindicalismo e Poltica: a trajetria da CUT. So Paulo:
Scrita/Fapesp, 1997.
LARANGEIRA, Snia. H Lugar para o Sindicalismo na Sociedade Ps-Industrial?
Aspectos do Debate Internacional. So Paulo em Perspectiva: Revista da Fundao
Seade, So Paulo, v. 12, n. 1, p. 174-183, jan./mar. 1998.
LEITE, Marcia de Paula. O Trabalho em Movimento: Reestruturao Produtiva e
Sindicatos no Brasil. So Paulo: Papirus, 1997.
LIEDKE, Elida R. Trabalho. In: CATTANI, A.; HOLZMANN, L. (Org.). Dicionrio
de Trabalho e Tecnologia. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007.
MACHADO DA SILVA, L. A. Mercado de trabalho, ontem e hoje: informalidade
e empregabilidade como categorias de entendimento. In: SANTANA, M. A.; RA-
MALHO, J. R. (Org.). Alm da Fbrica. So Paulo: Boitempo, 2003.
MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980.
MINGIONE, Enzo. The Changing Nature of Work and the Future of Labour Law
in Europe. [S.l.: s.n.], 1998. Mimeografado.
PORTES, A.; CASTELLS, M. World Underneath: The Origins, Dynamics, and Efects
of the Informal Economy. In: PORTES, A.; CASTELLS, M.; BENTON, L. (Org.). The
Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. London:
The Johns Hopkins University Press, 1994.
99
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
RAMALHO, J. R. Controle, confito e consentimento na teoria do processo de tra-
balho um balano do debate. BIB: Boletim Informativo e Bibliogrfco de Cincias
Sociais, Rio de Janeiro, n. 32, p. 31-48, 1991.
______. Trabalho e Sindicato: Posies em Debate na Sociologia Hoje. Dados: Revista
da Iuperj, Rio de Janeiro, v. 43, n. 4, 2000.
______; MARTINS, H. Terceirizao: diversidade e negociao no mundo do tra-
balho. So Paulo: Hucitec/Nets-Cedi, 1994.
RODRIGUES, Lencio M. Destino do Sindicalismo. So Paulo: Edusp, 1999.
TEIXEIRA, M.; PELATIERI, P. Terceirizao e precarizao do mercado de trabalho
brasileiro. In: DAU, D. M.; RODRIGUES, I. J.; CONCEIO, J. J. da (Org.). Ter-
ceirizao no Brasil do discurso da inovao precarizao do trabalho. So
Paulo: Annablume-CUT, 2009.
TRENTIN, B.; ANDERSON, L. A. Trabaho, Derechos y Sindicato en el Mundo.
Caracas: Nueva Sociedad, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales e
Organizacin Regional Interamericana de Trabajadores ORIT, 1996.
WEBER, Max. A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo. So Paulo: CIA
das Letras, 2004.
Sugesto de l ei tur a par a apr ofundar os temas tr abal ho
e si ndi cato
CARDOSO, Adalberto. A Dcada Neoliberal. So Paulo: Boitempo, 2003.
CASTEL, Robert. As Metamorfoses da Questo Social: Uma Crnica do Salrio.
Petrpolis: Vozes, 1998.
CATTANI, A.; HOLZMANN, L. (Org.). Dicionrio de Trabalho e Tecnologia. Porto
Alegre: Ed. UFRGS, 2007.
GUIMARES, Nadya A. Caminhos cruzados: estratgias e trajetrias de trabalha-
dores. So Paulo: Ed. 34, 2004.
JCOME RODRIGUES, I. Sindicalismo e Poltica: a trajetria da CUT. So Paulo:
Scrita/Fapesp, 1997.
LIMA, Jacob C. Ligaes perigosas: trabalho fexvel e trabalho associado. So
Paulo: Annablume, 2007.
SANTANA, M. A.; RAMALHO, J. R. (Org.). Alm da Fbrica: trabalhadores, sin-
dicatos e a nova questo social. So Paulo: Boitempo, 2003.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
100
Tr abal ho na soci edade contempor nea
visto em sala de aula
O texto de Jos Ricardo Ramalho faz uma anlise panormica das
transformaes sofridas pelo trabalho no mundo contemporneo, com n-
fase nas necessidades impostas pelas mudanas no processo de produo
e as novas relaes estabelecidas entre os sindicatos e os trabalhadores.
O trato dessas questes no Ensino Mdio requer ateno redobrada ao
contexto em que a escola se encontra, tanto em carter mais amplo que
inclui o Estado, a regio, a cidade como em carter localizado ou seja, o
bairro, o entorno e a localizao pontual da instituio em que o professor
est lecionando. Esta ateno necessria para que as anlises do autor
estabeleam correspondncia direta com situaes possveis de serem vi-
sualizadas ou mesmo experimentadas pelos estudantes. As sugestes que
seguem so dirigidas ao tratamento do tema trabalho em sala de aula.
O trabalho em domiclio, situao em que os trabalhadores executam
as tarefas em suas prprias casas, com prazos determinados para entrega dos
produtos, sendo remunerados por tarefas, ainda persiste nos dias atuais, uma
vez que foram recuperadas na implantao de um modelo fexvel. inte-
ressante fazer uma retomada histrica desse tipo de trabalho para conhecer
os motivos de sua implantao: Na cidade onde o professor leciona, existe
esse tipo de agenciamento do trabalho? Em caso positivo, quais seriam as
tarefas executadas em casa pelos trabalhadores? Quando o autor relacio-
na o modelo acima fexibilizao da fora de trabalho, quais seriam as
caractersticas marcantes desse processo?
A msica Cotidiano, de Chico Buarque de Holanda, faz referncias ex-
plcitas e implcitas regulamentao de uma srie de tarefas impostas ao
trabalhador, capazes de confundir sua vida pblica/profssional e sua vida
privada/familiar. Os versos e o ritmo musical se harmonizam em cadncia
rotinizada, representativa das situaes que os trabalhadores enfrentam
cotidianamente. A diviso sexual do trabalho aparece na letra, ao reforar
a condio feminina, dedicada ao lar, e masculina, fora de casa. A anlise
de letra e msica ilustra questes tratadas no texto de Jos Ricardo Rama-
lho e auxiliam professores e estudantes a compreender que a anlise do
trabalho na sociedade contempornea implica em apreender signifcados
subjetivos, que vo alm das questes estritamente tcnicas e objetivas.
Em contraposio, podemos tomar outra msica do mesmo autor, Ela
danarina, e ver a diferena que h entre os dois personagens da msica,
quando ela sai para trabalhar e altera a rotina do lar.
Conhecido da maioria dos professores de Sociologia, nem por isso de
menor valor, o flme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, um clssico
do cinema mudo que vem contribuindo para a compreenso de conceitos
bsicos do pensamento sociolgico. Nunca demais lembrar o quanto esse
flme pode ser esclarecedor para explicar estratgias como o controle do
tempo, mtodos e espao impostos pelo taylorismo, a produo na linha
101
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
de montagem e em massa com o fordismo. Conceitos como alienao e rei-
fcao e a desumanizao do processo de trabalho no capitalismo podem
ser visualizados em cenas imortais do protagonista desse flme. Para se
utilizar esse flme seria interessante que o professor fzesse breve expla-
nao sobre sua importncia para o cinema e as diferenas que marcam a
linguagem cinematogrfca de sua poca com o cinema feito atualmente.
Isso pode motivar e preparar os alunos, liberando sua ateno aos aspectos
que importam para o tema em questo.
Para uma maior proximidade com os estudantes, uma enquete sobre
as profsses dos pais e avs de cada um deles interessante e pode ser
representativa de profsses que foram extintas ou mesmo que deixaram
de ser praticadas por falta de condies materiais ou mesmo porque j
no se mostram capazes de prover fnanceiramente seus profssionais. As
questes versando sobre as experincias profssionais dos pais e avs dos
estudantes podem ser elaboradas coletivamente, em sala de aula, por es-
tudantes e professor, o que confere um signifcado estratgico atividade.
Impossvel prever todas as profsses que sero relacionadas na enquete.
Contudo, o resgate da memria, alm de ser um pretexto para retomar a
anlise do texto de Jos Ricardo Ramalho, uma oportunidade para co-
nhecer e valorizar a trajetria profssional dos pais e avs dos estudantes.
A partir da enquete, sugere-se que o professor organize, se as condies
de sua escola e jornada permitirem, um seminrio sobre diferentes profs-
ses e condies de trabalho associadas a elas, solicitando aos alunos que
participem dos debates fundamentados na leitura do texto.
O trabalho um dos temas mais provocativos e instigantes da So-
ciologia. No caso dos jovens, que esto iniciando a vida profssional, so
inmeras as possibilidades metodolgicas a que o professor pode recorrer
para o desenvolvimento do tema. Uma ltima sugesto a anlise dos
versos da msica Capito de Indstria, de Marcos Valle e Paulo Srgio Valle,
uma balada romntica, cuja letra faz um desabafo ao processo de trabalho
no capitalismo contemporneo, quando vida e trabalho se confundem no
dia a dia do trabalhador. (veja a letra e o clipe em htp://letras.terra.com.
br/os-paralamas-do-sucesso/47931/)
Organize, se possvel, palestras, em sua escola, com representantes
sindicais, representantes da OAB, do Ministrio do Trabalho e pesqui-
sadores, para discutir o tema da fexibilizao do contrato de trabalho, suas
implicaes sobre direitos e condies de trabalho, bem como suas relaes
com as mudanas discutidas no texto.
Um documentrio belo e forte ao mesmo tempo o Profsso Criana,
de Sandra Werneck (ver box), por meio do qual o professor poder trabalhar
as questes do trabalho infantil, em especial, no Brasil.
Sugesto de temas para trabalhar em sala de aula
1. Atravs de recortes de jornal e/ou outras fontes de informao es-
crita, buscar exemplos para discutir os efeitos pessoais e sociais do:
a) trabalho formal, mas repetitivo, cansativo e estressante;
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
102
b) trabalho em condies precrias e terceirizado;
c) trabalho informal;
d) trabalho em domiclio.
2. Fazer pequenas entrevistas com trabalhadores para identifcar si-
tuaes pessoais e sociais relativas fexibilidade no trabalho:
a) com operador(a) de telemarketing;
b) com operrio(a) de fbrica;
c) com um camel (homem ou mulher);
d) com um(a) gerente.
3. Recolher notcias de jornal ou revista, ou buscar em sites na Internet
notcias sobre:
a) as propostas das principais centrais sindicais do Pas para a questo
do desemprego;
b) a ao sindical com relao jornada de trabalho e os salrios;
c) o papel das mulheres no sindicato.
Sugesto de imagens
Roteiro de fotos para os subttulos:
1. Retrospectiva a partir da Revoluo Industrial
foto de uma fbrica txtil do sculo 19
2. O padro fordista e as mudanas no trabalho
foto de uma fbrica de automveis com a linha de montagem
visvel
foto de uma manifestao (greve) operria com a presena do
sindicato
3. Crise do fordismo e a implantao do padro fexvel
foto de mulheres trabalhando numa fbrica hoje e no setor de
servios (incluir telemarketing)
foto de trabalho informal
4. A reestruturao produtiva no Brasil
foto de fla de desempregados
5. O sindicato e a fexibilidade das relaes de trabalho
foto de algum documento das centrais sindicais preocupadas com
a terceirizao (documento do DIEESE ou da CUT sobre isso).
103
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Considerando a violncia enquanto problema social, que vem
se confgurando como prtica recorrente na sociedade brasileira,
sendo mesmo representada por setores da sociedade como parte
do cotidiano da vida social e tida por alguns como natural ou natu-
ralizada, busca-se refetir sobre o conceito de violncia, levando em
considerao as possibilidades e os limites subjacentes a essa tarefa.
Dessa perspectiva, no est em questo compreender e analisar ma-
nifestaes tpicas de violncia, mas perceb-las enquanto realidade
e representaes sociais que esto inseridas no dia a dia dos indiv-
duos e das instituies (PORTO, 1995), presentes no espao urbano
tanto quanto no agrrio, apesar da maior visibilidade da violncia
urbana graas, sobretudo, ateno que a criminalidade urbana
violenta recebe dos diferentes meios de comunicao.
Assim, no possvel minimizar a importncia e a gravidade
das manifestaes de violncia, as quais conduzem muitos analistas
a um diagnstico de crise, reforado por diferentes representaes
sociais da violncia elaboradas em mltiplas esferas da vida social e
Captulo 5
A violncia:
possibilidades e limites
para uma defnio*
* Este captulo uma sntese, revista e atualizada, de refexes que, iniciadas no
contexto de um estgio de ps-doutoramento realizado com o apoio do CNPq
(desenvolvido junto ao Centre dtude de la Vie Politique Franaise - CEVI-
POF - Paris, Frana, entre 1995 e 1996), continuam como parte signifcativa das
pesquisas que desenvolvo atualmente.
** Doutora em Sociologia. Professora da Universidade de Braslia.
Maria Stela Grossi Porto**
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
104
consumidas por mltiplos segmentos sociais, sobretudo por aqueles
que se sentem particularmente atingidos pelo fenmeno.
Considerando a gravidade do fenmeno, o socilogo muitas
vezes se sente pressionado ao. Uma das manifestaes mais
imediatas desta ao a denncia. Entretanto, o socilogo deve ter
o cuidado de distinguir o problema social da questo sociolgica,
construir o objeto de pesquisa como condio para avanar as fron-
teiras do conhecimento. tambm necessrio que abdique de uma
anlise restrita ao mbito da moral, como condio para se chegar
a uma sociologia da violncia, luz de um instrumental que a cin-
cia proporciona. Desta forma, poder contribuir para que a cincia
esclarea a ao, subsidiando (ou no) a interveno no social.
A busca de explicao leva a questionar, teoricamente, a ma-
tria-prima da anlise sociolgica, isto , a natureza das relaes
sociais, uma vez que nas e pelas relaes sociais que o social se
constitui como tal. Leva ainda busca de identifcao e anlise de
tipos e formas de violncia, e percepo de suas diferenas, como
condio para a sua construo sociolgica.
Apenas como exemplo, pode-se falar em violncia visvel e invis-
vel; real ou percebida; individual e coletiva; violncia de rua e violn-
cia domstica; pblica ou privada; annima e interpessoal; violncia
do Estado e, neste caso, legtima ou ilegtima. (WIEVIORKA, 2006)
No vivel pensar a violncia como um fenmeno singular, a se
ramifcar uniformemente pelo conjunto social. Ao contrrio, no existe
violncia, no singular, mas violncias, no plural. Por este aspecto de
pluralidade, a violncia no pode ser sistematicamente identifcada
a uma nica classe, segmento ou grupo social. Nem a supostos con-
dicionantes territoriais, que explicariam sua existncia seja referida
maior incidncia em determinados estados do pas seja apontando para
sua concentrao em espaos especfcos, no campo como na cidade.
Associar, com exclusividade, a violncia pobreza, desigualdade,
marginalidade, segregao espacial etc., pode levar a desvendar
apenas uma parte da explicao sociolgica do fenmeno, j que exclui
manifestaes de violncia, protagonizadas e sofridas pelas camadas
mais favorecidas da populao assim como exclui, tambm, fenmenos
que povoam o imaginrio social, produtor e produto de representaes
sociais da violncia. Este imaginrio , ou passa a ser, alimentado por
contedos novos medida que convive com representaes como as
de rotinizao e banalizao da violncia, reforadas pelo sentimento
de insegurana predominante no cotidiano da vida social.
105
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Violncia e representaes sociais
Com relao a tais aspectos permito-me um pequeno parnte-
se visando a apresentar o carter das representaes sociais como
componente importante das refexes sobre a violncia.
As representaes sociais so as formas como os indivduos
concretizam a necessidade de se situarem no mundo, explicar esse
mundo e se explicarem dentro dele. um conhecimento que tem um
sentido prtico, orientando as condutas e ajudando os indivduos a
interpretar e a dar sentido ao mundo que os rodeia.
Exemplifcando: ao invs de centrar a anlise nos dados brutos
da violncia, interroga(m)-se o(s) imaginrio(s) construdo(s) sobre
ela, acreditando que as representaes produzidas interferem nos
comportamentos desenvolvidos frente violncia.
Fechado o parntese e voltando temtica da defnio de violn-
cia, o olhar sociolgico tem como difcil tarefa construir instrumentos
tericos claros que permitam defni-la no apenas considerando as
relaes entre o fenmeno e suas representaes, mas diferenciando
igualmente o conceito de suas manifestaes empricas. O conceito
terico e as manifestaes empricas so prticas de atores sociais.
A perspectiva que aqui se privilegia analisa o fenmeno da vio-
lncia a partir dos contedos dos valores e das normas que, na con-
dio de representaes sociais, informam prticas sociais e orien-
tam condutas de indivduos, em seu cotidiano. Valores e normas que
participam da constituio do capital simblico (o capital simblico
corresponde a honrarias, posio social e prestgio para os que o de-
tm) disponvel nas sociedades e que se caracterizam por seu carter
histrico, mutvel e plural. Exemplo, a atitude pacfca, a docilidade
podem ser consideradas valores em uma dada sociedade e sinal de
fraqueza, de falta de virilidade em outra. Ainda, a informalidade no
tratamento pode ser um valor em sociedades mais igualitrias ou
desrespeito em sociedades mais hierrquicas. A preocupao com a
defnio no pode, assim, abstrair destas questes.
A violncia e sua construo como problema
sociolgico
A primeira difculdade de natureza conceitual, com que se de-
fronta a Sociologia, vincula-se ao fato de a violncia ser um fenme-
no emprico (ou seja, um acontecimento violento que se concretiza
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
106
no dia a dia, como, por exemplo, um assassinato, um sequestro,
um estupro) antes do que um conceito terico. Assim, retirado di-
retamente da realidade social que descreve, confgura-se como um
conceito que tem sido de tal forma apropriado pelo senso comum,
pela poltica, pela mdia ou por vrios outros campos do saber que
no o cientfco, que sua reapropriao acadmica carece de uma
explicitao dos sentidos nos quais utilizado. Requer, em outras
palavras, que o fenmeno da violncia seja construdo como objeto
sociolgico, de modo a que sua utilizao adquira fora explicativa
e sentido, no interior do discurso cientfco. A busca de conceitua-
o do fenmeno da violncia implica, necessariamente, distinguir
(separar, classifcar) diferentes tipos de violncia. Como ponto de
partida para a construo sociolgica do conceito, e apenas a ttulo
de exemplo, seria possvel falar em violncia rural ou urbana, para
uma delimitao espacial; poltica, religiosa, tnica, se estivesse em
questo motivos derivados de diferenas entre maneiras de ser e
de pensar dos indivduos; violncia de jovens, da polcia, violncia
domstica ou interpessoal etc., se se estivesse tratando dos atores da
violncia; ou ainda, violncia contra crianas, adolescentes, mulhe-
res, idosos, homossexuais, pobres, desempregados etc., se a questo
fosse identifcar vtimas da violncia (WIEVIORKA, 2006).
Essa tarefa signifca, inicialmente, considerar, alm da violncia
fsica, ou aberta, a violncia simblica ou violncia doce
1
, como pro-
pe Bourdieu, j que a subjetividade que caracteriza as dimenses da
moral ou do simblico no elimina o carter de constrangimento dos
atos agressivos ao indivduo, mesmo na ausncia de danos fsicos.
Constrangimento que est presente na prtica da violncia
simblica, a qual no exclui, mas, pelo contrrio, interage com as
mltiplas formas de violncia aberta, para acompanhar a distino
proposta por Bourdieu (1976) entre violncia doce e violncia aberta.
Muitas vezes, a depender das circunstncias combinam-se as duas
formas de violncia.
Alm do que, raras so as circunstncias em que a ocorrncia
de danos fsicos no seja acompanhada de constrangimentos e danos
1
Nos termos propostos por Bourdieu (1992, 1976), a violncia aberta seria a
violncia fsica, que deixa marcas, traos, feridas (uma mutilao, assassinato,
estupro), ou econmica (a explorao do trabalho sem a remunerao condizen-
te), ao passo que a violncia doce, ou violncia branda, aquela invisvel, sem
marcas fsicas, sem feridas, que atinge os sentimentos morais, no sendo, pois,
reconhecida como violncia.
107
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
morais, conforme tambm discutido por Luis Roberto Cardoso de
Oliveira (2008). Razo do privilgio aqui concedido a uma concei-
tuao abrangente do fenmeno, que inclua a dimenso simblica.
Mesmo que tal privilgio possa parecer difcil de ser sustentado
quando acontecimentos como massacres, linchamentos e cenas de
violncia policial (no contexto brasileiro, acontecimentos como os de
Carandiru, da Candelria ou de Vigrio Geral
2
permanecem, a cada
dia, mais vivos e atuais e vm se somar a milhares de outros que
tm o planeta como espao de concretizao), pela sua crueldade e
urgncia explicativa, esto como que a atropelar os mecanismos da
refexo dos cientistas sociais e a cobrar medidas prticas.
Avanando um pouco mais nesse esforo de preciso conceitual,
vale lembrar que o conceito de dominao tambm ajuda a compreen-
der e tambm d sentido e contedo noo de violncia simblica.
A dominao caracteriza-se pela possibilidade de exercer o domnio
sobre outrem no s pelo constrangimento fsico (sequestrar algum
e manter prisioneiro), mas, tambm, atravs da imposio de conte-
dos da fala, do discurso, da ao, e de outras prticas simblicas,
contedos impostos e justifcados pela pretenso de legitimidade de
seus enunciados, mesmo que arbitrrios e tidos por ilegais.
Reiterando a afrmao acerca do carter mltiplo da violncia,
haveria ainda que considerar, ao lado desta grande subdiviso do
fenmeno em violncia fsica e violncia simblica, as formas ou os
sentidos que a violncia assume em seu processo de concretizao.
Sob este enfoque, poder-se-ia falar da violncia como forma de do-
minao, como exemplifcada acima, da violncia como forma de
sobrevivncia (por exemplo, saquear um supermercado para roubar
comida), da violncia como afrmao da ordem institucional legal
(por exemplo, a violncia cometida por policiais em seu trabalho
de manuteno da ordem), da violncia como contestao desta
mesma ordem (por exemplo, movimentos revolucionrios, movi-
mentos de protesto contra o governo), da violncia como forma de
manifestao de no cidadania, de no relao social (movimentos
de quebra-quebra, depredao de veculos, de mquinas, invases
de espaos pblicos) (WIEVIORKA, 1997), da violncia como forma
de manifestao de insegurana, do medo, (como forma de defesa
contra o que se suspeita ser uma agresso) etc.
2
Nos trs casos, trata-se de massacre envolvendo violncia policial.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
108
Alm do que, determinadas prticas de violncia podem visar
afrmao identitria de seus protagonistas, atravs da negao de
valores e normas societrias vigentes. O questionamento dos padres
normativos e sua substituio por novos sentidos orientadores da
ao podem signifcar um questionamento da legitimidade de estilos
de vida e das regras sociais que os informam, assim como a reivindi-
cao de legitimidade para novas formas de conduta instauradas por
este questionamento (possibilidade bastante remota, pois se reveste
de uma conotao poltica de questionamento do poder vigente, que
no parece ser o caso, pelo menos no contexto brasileiro, nico em
exame neste texto, exceo feita a prticas de violncia, enquanto
contestao ao regime militar, tambm no contempladas nesta an-
lise). Tais questionamentos no se restringem a uma camada, classe
ou grupo social, como demonstram exemplos de manifestaes de
violncia praticadas por camadas favorecidas da populao, em um
movimento de incluso/excluso social. Por exemplo, so muitos e
frequentes os atos de violncia cometidos por jovens de camadas
mdias e ricas da sociedade, assim como violncias praticadas por
adultos de vrias camadas socioeconmicas, quando dirigem em-
briagados, assumindo o risco de ferirem ou matarem.
Pensando com clssicos e contemporneos
Sem nenhuma pretenso exausto e, tentando no desviar
o texto de sua linha de argumentao, faria um segundo parn-
tese para, desta vez, evidenciar, luz da contribuio de autores
clssicos e contemporneos, possveis distines entre os conceitos
de socializao/sociabilidade, visando a trazer mais luz tarefa de
construo do conceito de violncia.
Parece recorrente, nos escritos e anlises sociolgicos mais con-
temporneos, o emprego do conceito de sociabilidade, ao invs do
de socializao. Arriscaria a dizer que tal procedimento no fruto
do acaso, ainda que no parea possvel afrmar, com certeza, que se
trate de uma mudana assumida de modo consciente. De uma forma
ou de outra, ainda que essa distino merea um tratamento terico
mais rigoroso (do que esses comentrios um tanto impressionsti-
cos), no se corre risco de um grande equvoco ao se afrmar que
este conceito de novas sociabilidades vem se projetando na construo
sociolgica atual por expressar mais efcazmente a complexidade do
mundo contemporneo.
109
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Socializao um conceito fundante e, assim, parte do elenco das
categorias-chave da teoria sociolgica, quando o que est em questo
a defnio de normas e padres de comportamento que tornam
um indivduo membro da sociedade. Nesse sentido, revela-se perti-
nente para analisar os processos da chamada socializao primria,
que promove os primeiros contatos da criana com o mundo que a
rodeia. Paralelamente, parece estar perdendo potencial heurstico para
dar conta das demais situaes de interao social tpicas da contem-
poraneidade nas quais as mudanas de comportamento exigidas dos
indivduos, em funo de transformaes socioculturais (mudanas
associadas conceitualmente socializao dita secundria e que se
refere a indivduos em idade adulta), so de tal monta que requerem
mltiplos aprendizados. O conceito de socializao parece supor, pelo
menos em tese, processos sociais relativamente homogneos nos quais
a maioria dos indivduos partilham (ou partilhavam) contedos e valo-
res bsicos de uma conscincia coletiva comum. Razo pela qual, com
as ressalvas devidas, poderia guardar adequao e pertinncia para
tratar a socializao primria, mas no os processos e relaes sociais
tpicos da socializao secundria, na forma como se concretizam nas
sociedades contemporneas. Nessas, diferenas originadas em proces-
sos diferenciados de desenvolvimento histrico evidenciam a presena
de mltiplas possibilidades de estruturao das relaes sociais, ca-
racterizando contextos sociais que no podem ser pensados a partir
de critrios unvocos, homogeneizantes e/ou homogeneizadores.
A complexidade do social visualizada e pressentida pelos cls-
sicos da Sociologia desemboca em situaes de diferenciao e espe-
cializao na/da diviso do trabalho; em processos de especializao,
racionalizao e desencantamento do mundo. Confgurando arranjos
societrios que so o oposto de situaes de homogeneidade social.
Em Durkheim (1971), tais mudanas refetem o enfraquecimento
da conscincia coletiva, e o fato de que um mesmo fenmeno admite
uma pluralidade de maneiras de ser percebido, signifcando, igualmen-
te, uma pluralidade de maneiras de objetivao do social. Em Weber
(1974), esse fenmeno analisado em termos do paradoxo de valores
e da guerra dos deuses. Como os valores so plurais e disputam hege-
monia e legitimidade, a guerra dos deuses eterna e solitria a deciso
dos atores sobre as escolhas valorativas a serem feitas, a qual apenas
auxiliada por contedos de natureza igualmente valorativa.
A refexo dos clssicos, pertinente para explicar a emergncia
da moderna sociedade capitalista potencializada quando se trata
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
110
de pensar sua contemporaneidade. Mais precisamente, o que est em
questo que o diagnstico de diferenciao e especializao sociais
ganha na atualidade contornos muito mais agudos, conformando e es-
truturando contextos societrios fragmentados, plurais, mltiplos.
Fragmentao, pluralidade e multiplicidade que so sociocultu-
rais e, portanto, comportam valores igualmente variveis. Caracters-
ticas que manifestam as transformaes do mundo contemporneo e
expressam a ausncia de pontos fxos de referncia norteadores de
conduta, e a inexistncia de uma representao unifcada do social,
como dizia Durkheim (1971), com repercusses nos processos de
construo de identidades e nas relaes sociais responsveis, essas
ltimas, pela estruturao de formas de sociabilidade.
Em outras palavras, quando se est em presena de situaes
de fragmentao, pluralidade e multiplicidade sociais parece mais
pertinente falar em sociabilidades do que em socializao. At
mesmo porque o carter plural que se quer ressaltar est dado
no prprio conceito: de um modo geral, a literatura sociolgica
fala de processo de socializao, no singular, mas registra a exis-
tncia de novas sociabilidades, no plural. Exceo a essa possvel
tendncia, Zaluar (1997) e Machado (1997), a partir de enfoques
distintos, guardam a forma singular do termo, mas captam com
profunda pertinncia as possibilidades plurais de concretizao da
sociabilidade nos dias de hoje. Zaluar vai a incluir sociabilidades
que tm no antagonismo e na violncia seu ethos primeiro, mas
aponta, ao mesmo tempo, a necessidade de se conseguir articular,
institucionalizar e expandir formas de sociabilidade que resgatem
a solidariedade. Machado vai precisar aprofundar em vrias opor-
tunidades a ideia de uma sociabilidade violenta.
Esse emprego no plural do conceito (sociabilidades) poderia
signifcar que as sociedades contemporneas no comportariam um
processo de socializao, mas, ao invs, produzem e so produzi-
das por distintas formas de sociabilidade, que no mais das vezes
atingem, de modo diferenciado, grupos, camadas, etnias, raas etc.,
no tendo pois iguais caractersticas para o conjunto da sociedade. E
isso mesmo que se possa dizer que a sociedade como um todo seja
afetada pelas transformaes em curso, tanto positiva (quando delas
usufruem) quanto negativamente (quando tal no ocorre). Nesse
contexto, os discursos que interpretam a violncia como resultante
de um processo de socializao fracassado podem estar fazendo
111
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
uma leitura simplifcada do social, como salienta Martuccelli (1999),
na medida em que seria esse mesmo social o espao da vigncia
de princpios contraditrios de ao e o espao da pluralidade de
normas e valores, concorrentes ou no.
Nas sociedades contemporneas, pode-se falar em novas sociabi-
lidades decorrentes de transformaes no mundo do trabalho, novas
sociabilidades estruturadas em funo do pertencimento a grupos os
mais diversos, novas sociabilidades estruturadas em funo da cons-
tituio de identidades religiosas, tnicas, de gnero, entre outras.
Sociabilidades desenvolvidas no apenas em razo da existncia
de solidariedades, mas, tambm, a partir e em funo de sua au-
sncia. Ou seja, a reciprocidade necessria constituio de novas
sociabilidades no sinnimo nem de uma igualdade nos contedos
que orientam as condutas dos participantes do processo, nem de
um projeto comum, incitador da ao. Ao contrrio, situaes exis-
tem nas quais a tendncia a de se utilizar (e de forma cada vez
mais frequente) a violncia como forma de resoluo de confitos e
de organizao de relaes sociais, seja no nvel institucional seja
no mbito de relaes interpessoais, quase que como resposta a
carncias, ausncias, falhas, rupturas, aspectos que so, todos eles,
fruto da exploso de mltiplas lgicas de ao. Em muitos casos,
lana-se mo da violncia como um recurso disponvel, no rol de
muitos outros possveis. Todas essas situaes so vivenciadas como
caracterstica e condio da sociedade contempornea, a qual envolve
contedos como risco, medo e insegurana.
Na condio de recurso, a violncia se insere em um elenco de
estratgias, sua utilizao, podendo, ou no, se vincular a uma hie-
rarquia valorativa; passa a ser questo de efccia, oportunidade, afr-
mao de identidades socialmente negadas, exploso de raivas, frus-
traes, dentre tantas outras possibilidades. Com implicaes diretas
nas formas de representao social do fenmeno. No apenas as novas
sociabilidades se estruturam na violncia como podem ser o contedo
e substrato das representaes sociais, indicativas (como se pretende
evidenciar nos captulos dedicados anlise de representaes sociais)
da tendncia, presente em determinados grupos e camadas sociais,
de se utilizarem da violncia como forma de estruturao do social.
Como contedo, portanto, de novas formas de sociabilidades.
igualmente possvel imaginar que, em boa medida, alguns
desses novos tipos de sociabilidades se constroem e se desfazem
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
112
com enorme fugacidade, sem durao no tempo, nem permanncia
no espao, de modo circunstancial, j que podem ser resultantes de
uma agregao ad hoc (se se pode dizer assim), em funo de um
objetivo tpico. Quando o objetivo atingido, perdem razo de ser
as relaes constitutivas das referidas sociabilidades. Nesse caso,
pode-se falar em sociabilidades fragmentrias, circunstanciais, vo-
lteis, fugidias, cujos contedos tanto podem ser de solidariedade
quanto de confito e/ou de antagonismo.
Pensar a violncia a partir desses parmetros ou abordagens
demanda, necessariamente, abrir mo de prescries normativas e
julgamentos de valor (que, alis, no so parte do fazer sociolgico,
vinculando-se diretamente escolha de posies e tomada de deci-
ses poltico-ideolgicas), pois o que est em questo, e o que se pre-
tende apreender atravs da cincia, no o legal ou normativamente
correto, mas o efetivamente vigente. Ou seja, o socilogo tem como
tarefa entender o que , sem fazer julgamentos quanto ao valor. No
se trata de deliberar sobre violncias boas ou ms, que podem ou
no ser praticadas, que so ou no justifcveis. Por outro lado, com
tal afrmao no se est defendendo um relativismo exacerbado, a
partir do qual todos os valores se equivaleriam. Para dar um exem-
plo, a pretenso legitimidade no necessariamente (embora no
se exclua esta possibilidade) sinnimo de legitimidade, ainda que,
eventualmente, possa s-lo para o segmento que a reivindica. Ou,
em outros termos, aqui vale a distino weberiana entre o poltico e
o cientista (WEBER, 1974). Do ponto de vista existencial, o socilogo,
em sua condio de cidado, partilha um elenco de valores e dirige,
atravs deles, sua conduta. Como cientista, se dedica a compreender
o elenco de valores presentes na sociedade analisada para, a partir
da, avanar seu conhecimento sobre essa sociedade.
Assim, e correndo o risco da repetio, diria que, para a anli-
se sociolgica pelo menos em sua vertente compreensiva, na qual
se apoiam as reflexes aqui desenvolvidas , torna-se relevante,
para os propsitos explicativos, refletir sobre a sociedade como
ela de fato , na medida em que tal sociedade, tanto quanto ou
at mesmo mais do que aquela que est prescrita nas leis, pode
ser reveladora dos distintos contextos da vida em sociedade e dos
valores neles predominantes.
Falar em vertente compreensiva e enfatizar a questo dos senti-
dos orientadores de conduta, no contexto da construo da violncia
113
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
enquanto objeto sociolgico, conduz a uma referncia, ainda que breve
e de modo algum exaustiva ou sistemtica, ao social em Weber.
Para Weber (1991, p. 3), social o agir humano que, quanto ao
seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao compor-
tamento de outros, orientando-se por este em seu curso. Alm do
mais, tal conduta no se efetiva de forma isolada, mas compe um
feixe de signifcaes, cujo processo de realizao supe, igualmente,
a referncia a um dado contexto (ou situao, nos termos weberia-
nos). Contexto este que , tambm, fator potencial de interferncia
no decurso efetivo das aes. Nesta perspectiva, compreender os
contedos de sentido que agentes sociais distintos emprestam s
suas aes pode se constituir em caminho frtil para compreender
processos sociais e chegar explicao de regularidades que tm
seu locus de realizao em relaes sociais efetivadas em contextos
institucionais. Ou, dito de outro modo, tal perspectiva pode propi-
ciar anlises que atinjam a compreenso do leque de valores e dos
processos e estoques culturais que permeiam uma dada sociedade,
e de seus papis que desempenham na conformao do dia a dia
das instituies ou do contexto social mais abrangente.
Assim, perseguir os contedos de sentido (via representaes
sociais), orientadores de condutas de determinados agentes sociais,
analisando em que medida eles respondem por prticas violentas,
pode induzir a busca das (mltiplas e complexas) origens sociais
da violncia. Ou, pensando a partir de uma outra perspectiva, pode
permitir considerar a violncia como resposta/efeito/consequncia/
desdobramento/expresso (esperados ou no) de determinadas m-
ximas ou normas oriundas de diferentes esferas institucionais, e
tomadas em considerao pelos agentes na organizao de sua vida
em sociedade seja no sentido de acat-las, de rejeit-las ou de
contorn-las. A primeira alternativa (acatar as normas vigentes) no
apresenta nenhum problema quanto compreenso. Pensar, entre-
tanto, a ltima alternativa (contornar ou burlar as normas) signifca
(quando esto em jogo manifestaes de violncia) afrmar que o
agente rejeita ou transgride a norma legal, mas procura evitar os
efeitos ou consequncias da rejeio, tentando ocultar sua ao, para
no ser apanhado pelas malhas da lei. Situao que est ausente da
segunda alternativa, quando o agente rejeita ou transgride as normas
vigentes, mas, ao faz-lo, assume o confronto com o aparato norma-
tivo legal e, numa atitude de afrmao de (relativa ou inexistente)
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
114
autonomia, coloca (de modo consciente ou no) seus valores acima
dos valores normativos compartilhados por setores hegemnicos.
O melhor exemplo para isto so os chamados crimes pela honra;
se o ator do crime mata para lavar sua honra, mas acata as normas,
ele vai se apresentar lei depois do crime. Se ele rejeita, ir tentar
defender at o fm o seu ponto de vista, contra o estabelecido pelas
leis. Se, por outro lado, pensa em contornar as normas existentes,
cometer o crime, mas procurar se esconder, fugir e se entregar
justia para saldar sua dvida. Em outras palavras, o agir subjeti-
vo contm, igualmente componentes objetivos, isto , vinculados
situao ou ao contexto. Assim, quando se admite a existncia de
prticas sociais que so autnomas, no sentido de que no se orien-
tam pelas normas vigentes torna-se necessrio qualifcar o que se
est dizendo. Interessa perceber em que condies as relaes sociais
se concretizam. Ou seja, a experincia, embora individual, est em
alguma medida socialmente condicionada.
A construo do objeto violncia, dentro dos pressupostos de uma
sociologia compreensiva, supe integrar momentos de compreenso
subjetiva a contextos/situaes objetivos. Por exemplo, em tese, o pe-
rigo de ser atingido por uma bala perdida maior para um morador
da favela do que para o habitante das fortalezas protegidas que so os
condomnios fechados de algumas metrpoles brasileiras. Entretanto,
o medo, de uns como de outros, contribui igualmente para as repre-
sentaes de insegurana que subjazem e justifcam aes e polticas
de carter repressivo no mbito da Segurana Pblica, alm das aes,
individualmente orientadas, de proteo privada, em detrimento dos
interesses mais coletivos e igualitrios.
Perseguir a natureza sociolgica da explicao do fenmeno da
violncia signifca encontrar o que especfco (ou tpico no sentido
weberiano do termo) anlise sociolgica, sem que este procedi-
mento implique, no entanto, o reducionismo. Em outras palavras, a
delimitao da dimenso propriamente sociolgica do fenmeno no
sinnimo de negar a existncia de outras dimenses da anlise.
Entre estas, ganham relevo as refexes produzidas no campo
da religio, da flosofa, da psicologia, da economia, da poltica etc.
que vo analisar a violncia a partir das teorias e das experincias
de pesquisa que lhe so pertinentes.
Sem desconsiderar a importncia destas contribuies originadas
em outros campos do conhecimento, do ponto de vista da Sociolo-
115
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
gia importa pensar a violncia a partir de seu objeto por excelncia,
ou seja, a partir das relaes, das interaes sociais. No esforo de
conceituao da violncia, convm fazer referncia temtica da
relao entre indivduo/sociedade, nos termos da tradio sociol-
gica clssica, ou ator/estrutura segundo as tendncias mais atuais.
Sem pretenso (nem vontade) ao engajamento na polmica, consi-
dero til para os propsitos desta refexo a analogia com o estudo
do suicdio empreendido por Durkheim (1985): dado determinado
contexto sociocultural e econmico, nem todos os indivduos esto
propensos a participar e a engrossar a corrente suicida que compe
o contingente de mortes voluntrias que cada sociedade est disposta
a oferecer. O mesmo argumento vale para pensar porque, dada uma
mesma situao, alguns reagem, e outros no, de modo violento. Ou
seja, a repercusso individual de um dado fenmeno social pode ser
distinta para os diferentes atores que compem uma sociedade.
Essa polarizao ator/estrutura tem se apresentado como re-
corrente e confgurado um problema de difcil equao quando se
discute a questo das razes e determinaes da violncia. Se vlida
a argumentao de Mills (1972), segundo a qual para todo sapateiro
s existe o couro, minha nfase no carter social da violncia como
objeto de anlise resolve esse possvel dilema, seno terica e def-
nitivamente, sem dvida do ponto de vista da problematizao da
realidade da violncia e de sua abordagem como objeto de estudo;
a menos de se implicar numa contradio em seus prprios termos,
a Sociologia no pode proceder diferentemente. Como afrma Mills
(1972, p. 26) na segunda parte da citao acima, dando sequncia
a sua lgica do carter de certo modo autorreferenciado das vrias
ticas que analisam o social: eu, por bem ou por mal, sou um so-
cilogo (MILLS, 1972, p. 26) .
Entretanto, cumpre considerar que na produo, tanto quanto
na posterior explicao, do fenmeno da violncia interferem, cer-
tamente, fatores de natureza pessoal, poltica, ideolgica e religiosa,
entre outros, os quais, juntamente com outras dimenses assinaladas,
no podem ser minimizados quando se est buscando a compreenso
da violncia. H manifestaes de violncia de carter individual,
que beiram os limites da patologia, sobretudo no caso de deter-
minadas carreiras criminosas, nas quais as trajetrias individuais
pouco ou nada tm a ver com o contexto, familiar e/ou societrio
do qual o indivduo parte. Embora relevantes, tais situaes no
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
116
podem ser confundidas com a explicao sociolgica, por analticas
ou explicativas que sejam suas contribuies. Tambm neste parti-
cular, faz sentido voltar a Durkheim (1971) e a sua mxima de se
buscar no social os componentes da explicao sociolgica. Tarefa
que requer uma identifcao dos elementos constitutivos do fen-
meno, os quais devero ser igualmente distintivos entre o enfoque
(ou olhar) sociolgico e as demais dimenses da anlise, como as
acima assinaladas. Da mesma forma que demanda compreender as
articulaes (solidariedade) entre o objeto e a pluralidade de suas
representaes produzidas, conforme j mencionado em instncias
outras que no a do campo cientfco.
Universal/particular, objetivo/subjetivo
Do ponto de vista terico, ressaltar o aspecto relativo do fen-
meno no sinnimo de assumir um relativismo puro, a partir do
qual tudo se equivale, nem sinnimo de adeso ao credo relativista,
cuja exacerbao leva ao irracionalismo que, no limite, inviabiliza a
atividade cientfca. Do ponto de vista da realidade a ser entendi-
da, a nfase posta na cultura e em suas especifcidades aponta ao
olhar sociolgico a existncia de distintos valores nelas presentes, o
que implica, necessariamente, distintas representaes da violncia,
cabendo ao socilogo tom-las como objeto de anlise, caso tenha
pretenses elaborao de uma sociologia ou teoria da violncia.
Aqui se situa, talvez, um dos elementos mais complexos da ques-
to da defnio da violncia: no h uma defnio em abstrato, que
se aplique a qualquer sociedade. De outro lado, como dito h pouco, o
relativismo (ou seja, todos os valores se equivalem) no leva a lugar
nenhum. Uma forma possvel para sair do impasse seria considerar
que o limite para o relativismo estaria dado pela preservao da in-
tegridade, fsica e moral, do indivduo. Dessa forma, toda vez que tal
integridade fosse atingida poder-se-ia assumir a ocorrncia de um ato
violento. claro que a tambm no se est isento de ambiguidades
uma vez que cabem interpretaes distintas sobre a ideia de integri-
dade moral (supondo-se a relativa facilidade para se conceituar o que
venha a ser integridade fsica) e dos critrios para tal classifcao.
Pensando na relao objetivo/subjetivo, seria vivel admitir-se, pelo
menos como uma hiptese operacional, que se pode defnir algo como
violncia sempre que a alteridade (ou seja, a existncia do outro) for
117
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
desconsiderada, esquecida, desconhecida negada. Em outras palavras,
sempre que o ato praticado por algum desconsiderar o outro (que
sofre este ato) como sujeito e, em funo disso, trat-lo como objeto,
inviabilizando, em ltima instncia, a interao social, seja ela de na-
tureza consensual ou confituosa. Para Michaud (1989, p. 10-11), h
violncia quando, numa situao de interao, um ou vrios atores
agem de maneira direta ou indireta, macia ou esparsa, causando
danos a uma ou vrias pessoas em graus variveis, seja em sua inte-
gridade fsica, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em
suas participaes simblicas e culturais. Esta defnio resume, de
forma objetiva, as refexes aqui desenvolvidas.
Concluo com uma citao de Wieviorka (1999, p. 8) o qual
argumenta, a partir de reflexes propostas por Michaud (1989,
1996), que no seria realista se ater a uma ou a outra das polari-
dades em questo:
[...] a violncia objetiva ou subjetiva? Objetiva, ela deveria
poder ser defnida em termos que transcendem as perspecti-
vas particulares e adquire uma validade universal. Subjetiva,
ela no passa de um ponto de vista, necessariamente relati-
vo, daquele que a descreve ou sofre [...] a violncia jamais
redutvel imagem da pura objetividade simplesmente por-
que o que concebido ou percebido como violento varia
no tempo e no espao. Por outro lado, a violncia no pode
ser redutvel aos afetos, s representaes e s normas que
dela propem tal grupo ou tal sociedade [...] a percepo
de violncias reconhecidas como tal oscila constantemente
entre o excesso e a falta, entre a tendncia dramatizao e
amplifcao e a propenso banalizao e indiferena.
Levando ao que seriam, para ele, os dois impasses que ame-
aam a apreenso da violncia, a saber, o universalismo e o
relativismo, a citao abaixo, ainda que um pouco longa, con-
clui de modo particularmente feliz e pertinente o argumento
do autor, com o qual se identifca o enfoque que aqui se est
buscando defender: no seria realista nem opor radicalmente
o objetivo e o subjetivo ou, se se prefere, o universal e o
relativo nem escolher um ao invs do outro, ou um contra
o outro. De modo semelhante ao que se passa em relao
a todo fato social: necessrio admitir que a violncia, so-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
118
bretudo em suas expresses fsicas, at mesmo homicidas,
pode ser objeto de uma defnio que tende objetividade,
mas necessrio reconhecer, ao mesmo tempo, que o que
se assume como real produto de processos, individuais
e coletivos, atravs dos quais categorizamos, selecionamos,
hierarquizamos, entendemos ou ignoramos o que constitui
a realidade (WIEVIORKA, 1999, p. 9).
Desta forma, pode-se admitir que o surgimento e a consolidao
de grupos ou segmentos portadores de normas de conduta prprias
(relativamente autnomas) redefnem os padres e os processos de
socializao. A caracterizao emprica do fenmeno da violncia
permite supor que esta, sem se apresentar como inerente s rela-
es sociais, tem participado como componente bsico de processos
primrios de socializao, assim como de processos secundrios
de constituio de novas formas de sociabilidade, atuando na de-
fnio de contedos que organizam e orientam condutas sociais.
Tais contedos condicionam as formas como tais segmentos, assim
constitudos, viabilizam suas relaes com outros segmentos, por-
tadores de normas distintas (apenas para efeito de hipteses poder-
se-ia considerar o contexto de movimentos culturais do tipo grupos
homossexuais, grupos de hip-hop, galeras, movimentos polticos
como o Movimento dos Sem-Terra MST, dos Sem-Teto, etc., para
no falar no caso muito mais complexo e que, por isso mesmo, no
se vai aqui abordar: do crime organizado).
Referncias
BOURDIEU, Pierre. Les Modes de Domination. Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, n. 2/3, p. 133-151, jun. 1976.
______. Modos de Dominao. In: ______. A produo da crena: contribuio para
uma economia dos bens simblicos. Porto Alegre: Zouk, 2006.
______. O Poder Simblico. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
______; CHAMBOREDON, Jean Claude; PASSERON, Jean Claude. El Ofcio de
Socilogo. Mxico/Espanha: Siglo Veintiuno, 1975.
______; WACQUANT, Loc J. D. Rponses. Paris: Seuil, 1992.
FERNANDES, Florestan. Fundamentos Empricos da Explicao Sociolgica. So
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1972.
119
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
CARDOSO DE OLIVEIRA, Lus Roberto. Existe violncia sem agresso moral?
Revista Brasileira de Cincias Sociais, So Paulo, v. 23, n. 67, jun. 2008.
DURKHEIM, mile. As formas elementares da vida religiosa. 3. ed. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
______. As Regras do Mtodo Sociolgico. So Paulo: Companhia Editora Na-
cional, 1971.
______. Les Formes lmentaires de la vie religieuse. Paris: Quadrige Presses
Universitaires de France, 1985.
______. Representaes individuais e representaes coletivas. In: ______. Sociologia
e Filosofa. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1970. p. 13-42.
JODELET, Denise. Representaes Sociais: um domnio em expanso. In: ______
(Org.). As Representaes Sociais. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001.
MACHADO, Luis Antnio. Criminalidade Violenta e Ordem Pblica: Nota Me-
todolgica. Trabalho apresentado no VIII Congresso da Sociedade Brasileira de
Sociologia, Braslia, 1997. Mimeografado.
______. Sociabilidade Violenta: Por uma interpretao da criminalidade contem-
pornea no Brasil urbano. Revista Sociedade e Estado: Revista do Departamento
de Sociologia da UnB, Braslia, DF, v. 19, n. 1, p. 53-84, jan./jun. 2004.
______. Trabalhadores do Brasil: virem-se. Rio de Janeiro: [s.n.], 1999. Mimeo-
grafado.
______ (Org.). Vidas sob Cerco: Violncia e Rotina nas Favelas do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
______. Violncia Urbana: Representao de uma Ordem Social. In: NASCIMENTO,
Elimar Pinheiro; BARREIRA, Irlys (Org.). Brasil Urbano: Cenrios de Ordem e
Desordem. Rio de Janeiro: Notrya; Fortaleza: Sudene, UFCE, 1993.
MARCONDES FILHO, Ciro. Violncia Poltica. So Paulo: Moderna, 1987. (Po-
lmica).
MARTUCCELLI, Danilo. Refexes Sobre a Violncia. Tempo Social: Revista de
Sociologia da USP, So Paulo, v. 11, n. 1, p. 157-175, maio 1999.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alem. Introduo de Jacob Gorender;
traduo de Luis Claudio de Castro e Costa. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
______. LIdologie Allemande. Paris: Ed. Sociales, 1982.
MENDEZ, Juan; ODONNEL, Guilhermo; PINHEIRO, Paulo Srgio. Democracia,
Violncia e Injustia: O No Estado de Direito na Amrica Latina. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2000.
MILLS, Wright. A Imaginao Sociolgica. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
MICHAUD, Yves. A Violncia. S. Paulo: tica, 1989.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
120
______. La Violence Apprivoise. Paris: Hachete, 1996.
______. Violence et Politique. Paris: Gallimard, 1988.
MOSCOVICI, Serge. Representaes Sociais: Investigaes em Psicologia Social.
Petrpolis: Vozes, 2003.
PANDOLF, Dulce et al. (Org.). Cidadania, Justia e Violncia. Rio de Janeiro:
FGV, 1999.
PAVIANI, Aldo; FERREIRA, Ignez Barbosa; FLSCULO, Frederico P. Barreto (Org.).
Braslia: dimenses da violncia urbana. Braslia: Ed. UnB, 2005.
PERALVA, Angelina. Violncia e Democracia: o paradoxo brasileiro. So Paulo:
Paz e Terra, 2000.
PIRES, Ceclia. A Violncia no Brasil. So Paulo: Moderna, 1985. (Polmica).
PORTO, Maria Stela Grossi. Apresentao. Revista Sociedade e Estado: Revista do
Departamento de Sociologia da UnB, Braslia, DF, v. 10, n. 2, jul./dez. 1995. Nmero
temtico sobre a violncia.
______. Dominao e Confito na Dcada de 90. [S.l.: s.n.], 1991. Mimeografado.
______. Tecnologia e Violncia: Algumas Relaes Possveis. Trabalho apresentado
no XVII Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, MG, 1993.
REVISTA SOCIEDADE e ESTADO. Braslia, DF: Departamento de Sociologia da
Universidade de Braslia, v. 10, n. 2 jul./dez. 1995. Nmero temtico sobre a vio-
lncia.
______. Braslia, DF: Departamento de Sociologia da Universidade de Braslia, v.
19, n. 1, jan./jun. 2004. Nmero temtico sobre a violncia.
REVISTA SOCIOLOGIAS. Porto Alegre: Programa de ps-graduao em Sociologia
da URGS, ano 1, n.1 jan./jun. 1999. Nmero temtico sobre a violncia.
______. Porto Alegre: Programa de ps-graduao em Sociologia da URGS, ano 4,
n. 8, jul./dez. 2002. Nmero temtico sobre a violncia.
SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gnero, patriarcado e violncia. So Paulo: Fudao
Perseu Abramo, 2004. (Brasil Urgente).
WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva.
Braslia, DF: Universidade de Braslia, 1991.
______. Ensaios de Sociologia. Introduo e organizao de H. Gerth e C. Wright
Mills. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.
WIEVIORKA, Michel. La Difrence Identits Culturelles: enjeux, dbats et poli-
tiques. Paris: Ed. de LAube, 2005.
______. La Violence. Paris: Pluriel Hachete Litertures, 2005.
______. Para Compreender a Violncia: A Hiptese do Sujeito. Em que mundo
Viveremos? So Paulo: Perspectiva, 2006.
121
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
______.Sortir de la Violence: les Interprtations Classiques. Le Monde des Dbats,
Paris, out. 1999. Dossi La Violence.
______ et al. La Violence em France. Paris: Ed du Seuil, 1999.
ZALUAR, Alba. Integrao perversa: pobreza e trfco de drogas. Rio de Janeiro:
FGV, 2004. (Violncia, cultura e poder).
______. Violncia e Crime. In: MICELLI, Sergio (Org.). O que se ler na cincia
social brasileira 1970-1995. Antropologia. So Paulo: Sumar, 1997.
A Vi ol nci a: possi bi l i dades e l i mi tes
para uma defnio na sala de aula
O texto de Maria Stela Grossi Porto analisa a violncia como pro-
blema sociolgico, o que signifca dizer que suas proposies objetivam
ultrapassar as descries, denncias ou diagnsticos e focalizar o tema a
partir de uma anlise conceitual, terica e sistemtica dos elementos que
produzem esse fenmeno. A distino entre problema social e problema
sociolgico fundamental para orientar a postura acadmica do professor
do Ensino Mdio diante desse contedo. Na sociedade contempornea, a
violncia faz parte do dia a dia dos indivduos, o que pode difcultar a
desnaturalizao do conceito, ao se aceitar a ideia de que a violncia um
fenmeno natural e normal.
A sugesto metodolgica inicial o professor trabalhar o fenmeno
da violncia em sala de aula como um problema sociolgico que tambm
existe no espao escolar e, como tal, precisa ser analisado criteriosamente.
Para aguar a percepo dos estudantes para os diferentes tipos de violncia
existentes no interior da escola e em seu entorno, importante, recorrer
aos conceitos de Pierre Bourdieu, para distinguir violncia fsica ou aberta
de violncia simblica ou violncia doce, conforme explica a autora.
A violncia fsica nem sempre pode ser percebida, por uma srie de
motivos. Ou porque ocorre em locais privados e inacessveis, ou porque a
parte do corpo que sofreu a agresso no visvel, ou porque a pessoa agre-
dida prefere no revelar a agresso. Jovens vtimas de agresso no ambiente
familiar nem sempre so assim percebidos. Por outro lado, nas escolas, o
envolvimento tmido do corpo docente nessas situaes tambm difculta o
encaminhamento de solues. O tema melindroso, humilha os agredidos e
constrange. A sugesto que o professor, mediante coleta de dados, analise os
casos de violncia sofrida pelos jovens da escola em que leciona. importante
seguir criteriosamente as principais etapas de uma investigao sociolgica,
para que os resultados sejam representativos da realidade investigada.
Outro tipo de violncia tratado o bullying. O termo bullying, de
origem inglesa, gerndio do verbo to bully, signifca maltratar, intimidar;
substantivado, signifca valento, provocador e tirnico. Incorporado
aos comportamentos escolares, o bullying remete a uma prtica perversa,
que provoca srios danos fsicos e morais s suas vtimas. um tipo de
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
122
violncia que chega a ser confundido com uma simples brincadeira de
mau gosto entre estudantes, o que escamoteia os reais prejuzos que essa
prtica capaz de causar nas vtimas. O bullying traduz uma srie de aes
violentas praticadas com o objetivo de humilhar, agredir, discriminar es-
tudantes ou professores escolhidos como alvo desse tipo de agresso. Ao
contrrio do que se pensa, o combate ao bullying demorado e complexo,
uma vez que exige a mudana de atitude em seus praticantes, o que pode
estar alm das possibilidades da escola.
No caso dos estudantes do Ensino Mdio, o bullying tambm tem feito
suas vtimas, inclusive no interior da sala de aula. A atuao dos professores,
nesses casos, fundamental para que o combate s agresses seja efcaz. As
aulas de Sociologia, ao trabalharem o tema como um problema sociolgico,
incentivam a refexo coletiva em torno de um fenmeno que envolve os
prprios estudantes, muitas vezes protagonistas dessa prtica. Para desen-
volver a discusso sobre violncia na escola, como um problema sociolgico,
quais seriam os principais itens do contedo programtico? Ao fazer esse
planejamento, quais as atividades possveis de serem desenvolvidas?
Uma sugesto que pode ajudar os estudantes a compreender como os
efeitos do bullying podem ser nocivos sociedade em geral e no apenas
ao ambiente escolar o flme Tiros em Columbine, de Michael Moore. Entre
outras situaes de violncia, retrata o massacre na escola Columbine, no
Colorado, Estados Unidos, onde dois adolescentes, com as armas de seus
pais, mataram 14 estudantes e um professor no refeitrio.
Outro caso, agora externo escola e de referncia nacional, pode
ser o flme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, para discutir violncia
e juventude, relacionando a violncia falta de estrutura social em um
conjunto habitacional que d nome ao flme. O espao da trama resultado
da poltica de remoo de favelas de reas consideradas nobres do Rio de
Janeiro, como a Barra da Tiuca, e apresentando os mais crticos indicadores
sociais do Estado.
Outro flme relevante, que no tem como foco a violncia, mas que
permite pensar sobre suas origens (ao menos oferece uma perspectiva
sobre) o premiado A alma do negcio, de Jos Roberto Torero. Talvez sua
indicao cause surpresa, porm ele permite refetir sobre a ideologia e
os mecanismos de produo da violncia num mundo em que um de seus
fundamentos o fetichismo da mercadoria. Esses flmes sugeridos podem
ser ilustrativos de tais questes e, mesmo que no sejam exibidos inte-
gralmente, renem cenas representativas de vrias situaes que afetam
diretamente a vida dos jovens.
123
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
A religio um dos grandes temas fundadores das Cincias
Sociais no sculo XIX. Para mencionar apenas os clssicos mais
conhecidos, diramos que mile Durkheim (1858-1917), Karl Marx
(1818-1883) e Max Weber (1864-1920) desenharam com tal acuida-
de o modo de tratar a questo da religio que suas proposies
alimentam at hoje a refexo sobre essa matria. mile Durkheim,
em seu livro As formas elementares da vida religiosa, publicado em
1912, pretende que o estudo das religies primitivas, tidas como
primeiras, isto , mais prximas do momento de seu nascimento,
podia lhe dar a chave que precisava para evidenciar a origem social
da moral e da ideia de sagrado. Nessa obra ele elabora trs pro-
posies at hoje inspiradoras para compreender a religio como
fenmeno de procedncia social: a) a religio nada mais do que a
prpria sociedade se pensando como ente coletivo e abstrato, para
alm dos indivduos particulares; b) as representaes criadas pela
religio so a fonte primria a partir da qual se diferenciaram todas
as outras formas de conhecimento humano, tais como a flosofa e a
cincia; c) o sagrado a expresso simblica da prpria sociedade
e, portanto, tudo que representa a vida coletiva objeto de uma
venerao que se nega s coisas profanas.
Captulo 6
Religio: sistema
de crenas,
feitiaria e magia
Paula Montero*
* Doutora em Antropologia. Professora Titular da Universidade de So Paulo.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
124
Marx deu um vis mais poltico sua abordagem do fenmeno
religioso que fcou esquematicamente consagrado em sua frase mais
conhecida a religio o pio do povo. No incio, adota sem crti-
ca o entendimento de religio como impostura, triunfo das foras
irracionais, ponto de vista correlato ao iderio liberal, desencadeado
pela revoluo francesa e sua crtica racionalista religio crist. Mais
tarde, em torno de 1840, elabora a ideia de religio como alienao:
o homem projeta na fgura de Deus suas prprias qualidades e, em
seguida, se submete a ele como a um poder estrangeiro do mesmo
modo como se submete ao Estado. Desse modo, a alienao religiosa
paralela alienao poltica: as duas expressam uma conscincia
falsa do mundo real. A autonomia do homem depende, assim, da
crtica da religio, condio prvia de toda crtica. Finalmente, em
uma terceira fase de sua obra, Marx comea a tratar o direito, a po-
ltica e a religio como ideologias. Quando a atividade intelectual
se descola da ao e ganha independncia, o pensamento autntico
d lugar especulao. Nesse momento, a conscincia do homem se
engana com as iluses que ele mesmo cria. O conceito de ideologia
est diretamente associado ao conceito de classe na obra de Marx.
Os intelectuais ligados classe dominante, pensadores, idelogos,
religiosos etc., tem como principal funo elaborar a iluso que a
prpria classe mantm de si mesma. As outras classes adotam es-
sas ideias porque no tm tempo para pensar. Enquanto perverso
do conhecimento, a religio precisa, portanto, ser sistematicamente
combatida e historicamente aniquilada.
Max Weber critica o marxismo por no conceder nenhuma infu-
ncia positiva ao contedo simblico das religies. Confronta a ideia
marxista de ideologia por no considerar que se possa postular uma
relao de determinao unvoca entre ideias religiosas e os fatores
materiais de uma sociedade. A maior parte da sociologia weberiana
da religio se ocupou em estudar religies no crists tais como o
confucionismo e o budismo. Sua preocupao central era compreen-
der a dinmica interna dessas religies e suas relaes com a vida
econmica e social. Sua principal questo era compreender porque
essas religies no deram nascimento na China e na ndia ao raciona-
lismo moderno e s formas capitalistas e burocrticas de organizao
da sociedade, como aconteceu no Ocidente, a partir do cristianismo.
Em seu ensaio sobre a tica protestante e o esprito do capitalismo, de
1930, ele responde a essa questo, demonstrando como a estrutura
125
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
das crenas do calvinismo faz emergir uma tica protestante que d
um impulso para a modernizao da sociedade europeia. O protes-
tantismo teria criado atitudes e disposies, tais como o ascetismo
e a ideia de vocao, que alimentaram a emergncia de um tipo de
racionalidade marcada pela crescente intelectualizao, modo mais
abstrato de pensamento apoiado na elaborao de princpios, regras
e critrios com pretenso de validade universal. Seu argumento, hoje
clssico no ensino de Sociologia, sustenta que essa forma particu-
lar de racionalidade ocidental base do forescimento do esprito
capitalista teria sido historicamente tributria do protestantismo
puritano. A tica protestante teria ensinado ao Ocidente a afastar-
se da magia. Algumas das consequncias dessa dinmica geral de
desmistifcao da experincia religiosa, isto , da erradicao de
sua dimenso mgica so consideradas hoje processos sociais irre-
versveis: a tica protestante promove uma forma nova subjetiva,
interiorizada, individual e consciente de experincia religiosa e
aprofunda a percepo da religio como uma dimenso separada
da vida social com relao cincia, economia e poltica.
A ideia de religio que temos hoje no esteve, portanto, sem-
pre presente no pensamento do Ocidente. Vejamos, pois, rapida-
mente, os grandes momentos histricos que marcaram a construo
desse conceito.
A construo histrica do conceito cristo de religio
H um consenso geral nas Cincias Humanas de que a consoli-
dao das categorias magia, religio e cincia como distintas e com
contedo prprio resultou de um longo processo que remonta ao
mundo greco-romano.
No que diz respeito religio, nem as civilizaes arcaicas,
nem mesmo o grego e o latim conheciam esse termo. Os deuses no
politesmo grego, que mais tarde o cristianismo chamou de paga-
nismo, eram feitos da mesma matria humana: no eram perfeitos,
nem eternos, nem todo-poderosos, nem criaram o mundo. Eles
nasceram com o mundo e apenas se diferenciavam dos homens
porque estavam um pouco acima deles na hierarquia da plenitude.
Mas, se os gregos tinham deuses, no se pode dizer que tivessem
religio: o divino, para os gregos, estava em toda parte, em todos
os atos cotidianos.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
126
No caso romano, religio do latim referia-se apenas ao sentimento
de piedade que os homens tinham em relao existncia de um
poder fora deles que ordenava os comportamentos corretos na vida
pblica. Essa categoria tinha, pois, uma dimenso jurdica desig-
nava um conjunto de regras, interdies que regulavam a vida das
pessoas sem nenhuma referncia adorao de divindades fora
deste mundo ou a ritos.
Autores, como Stanley Tambiah (1990, p. 4), atribuem ao cristianis-
mo das primeiras dcadas depois de Cristo a emergncia dos conceitos
de f, igreja, enquanto comunidade organizada, e religio. O
cristianismo transforma aquilo que era no mundo romano um pacto
civil entre os homens, a fdes, em uma relao dos homens com deus.
Essa nova noo de f se tornou, progressivamente, a ideia mais im-
portante na igreja crist: na formulao de Santo Agostinho (354-430),
ter f era desenvolver uma relao pessoal com um deus verdadei-
ro, uno e transcendente. Nessa proposio est em germe a primeira
verso da noo de liberdade de crena que ser to importante mais
tarde, na era Moderna: o cristianismo prope ao homem uma escolha
entre a danao neste mundo ou a salvao no mundo aps a morte.
Essa nova concepo de f se constituiu em uma verdadeira revoluo
histrico-antropolgica porque, pela primeira vez, se aceitou a ideia
de que a salvao inclua todos os homens em qualquer cultura e no
apenas o povo escolhido, como no caso do judasmo. Essa intensifcao
das relaes dos homens com um deus fora do mundo, transcendente,
inaugura um novo paradigma na mentalidade religiosa: no plano das
relaes homens/deuses, engendrou-se a ideia de um mundo trans-
cendente, distinto em sua natureza do mundo humano: o cristianismo
dos primeiros tempos faz emergir no Ocidente a ideia de f: crer em
um deus verdadeiro fora do mundo. No plano das relaes homens/
natureza, o homem perde sua cumplicidade com o mundo, posto que
a natureza passa a ser compreendida como emanao do divino.
A reforma protestante do sculo XVI rompe a unidade religiosa
da Europa crist. Ela introduziu, desse modo, um novo deslocamen-
to importante na histria do conceito de religio. As divergncias
polticas e territoriais em nome da religio fragmentam o mundo
secular, at ento percebido como um todo diferenciado compreen-
dido por oposio vida religiosa dos monges. As crenas comeam
a ganhar fronteiras e generaliza-se a ideia de religio como princpio
de nacionalidade e lealdade poltica.
127
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Outro momento importante na consolidao da categoria de re-
ligio, tal como a conhecemos hoje, se deu com o Iluminismo, no
sculo XVIII. Nesse momento, o pensamento europeu, em particular
os telogos, comea a demonstrar grande interesse em organizar in-
telectualmente as prticas religiosas em grandes sistemas abstratos
e coerentes. Essa atitude intelectual do Iluminismo construiu um
conceito de religio como doutrina organizada que foi universalizado
para todas as culturas. Na segunda metade do sculo XIX, a religio
comea a ser objeto de estudos cientfcos. Fruto da historiografa
protestante alem e seus estudos bblicos, a histria das religies como
disciplina autnoma se desenvolve nos estudos lingusticos de Max
Muller (1823-1900) e no estudo comparado da mitologia indo-europeia
de G. Dumzil (1886-1898). Foi o estudo sistemtico das doutrinas re-
ligiosas, como objeto de pesquisa histrica, que deu religio a forma
fnal que conhecemos hoje: a religio como um sistema de crenas
subjetivas que organiza as condutas. Foi tambm esse esforo de es-
tudo das lnguas, dos mitos e das doutrinas religiosas que permitiu
s Cincias Humanas construir seu mtodo cientfco.
Religio, bruxaria, magia e feitiaria
O problema da origem da religio e de seu declnio foram as
duas grandes questes que estimularam o pensamento sociolgico e
antropolgico at quase meados do sculo XX. Essa refexo genera-
lizou a ideia de religio para culturas que nunca a haviam concebido
como uma forma social especfca. Nessa projeo planetria, o pen-
samento ocidental cristo produziu sistematicamente uma distino
radical entre religio (as crenas que ns temos em um deus nico)
e magia (as supersties que outros povos, ou populaes rurais
europeias tm em torno da divindade das foras da natureza).
No mundo ocidental, as crenas mgicas estiveram presentes
e ativas em torno da fgura das bruxas, alimentada por um folclore
disperso entre os camponeses europeus ao longo da Idade Mdia. A
Igreja Catlica medieval construiu, a partir dessas crenas, uma demo-
nologia sistemtica que nos sculos XVI e XVII se expandiu e ganhou
fora prpria em torno da ideia teolgica de que algumas mulheres
faziam um pacto com o diabo. Para combater esse tipo de heresia, a
mquina da Inquisio aplicou, ao longo de 200 anos (entre 1480 e
1680), essa doutrina, perseguindo, inquirindo e queimando bruxas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
128
Segundo o historiador ingls Trevor-Ropes (1969), a crena nas bruxas
era inseparvel da flosofa europeia do perodo que no negava a
possibilidade de manipulao mgica da natureza. Mesmo as novas
ideias do Renascimento no destruram a base intelectual da bruxaria,
pelo contrrio: a luta dos cristos contra os protestantes deu nova
vida s crenas mgicas medievais e suas formas de proteo contra
o diabo gua benta, exorcismo, sinal da cruz, velas etc. Apenas a re-
voluo flosfca do sculo XVIII, inspirada em autores como Thomas
Hobbes (1588-1679) e John Locke (1632-1704) que passou a conceber
a natureza como ordenada de forma mecnica, isto , comandada por
ela mesma, sem a interveno das foras dos espritos fez a crena
nas bruxas declinar. As tentativas de colocar as crenas em bruxas em
bases cientfcas fracassaram; as novas condies intelectuais, legais e
simblicas do fnal do sculo XVIII enfraqueceram sua perseguio,
levando ao desaparecimento das bruxas.
Religio e magia sempre andaram juntas. A reforma protestante
foi muito importante para que as duas ideias se separassem progres-
sivamente ao longo do sculo XVI e XVII. Os telogos protestantes
construram uma distino entre atos religiosos, tais como a reza,
destinados a colocar o homem em relao com Deus, e atos mgicos,
atos de feitiaria, destinados a manipular as foras da natureza. O
protestantismo passou a negar os poderes da magia e a trat-la como
falsa religio. Desse modo, contribuiu para afastar Deus da ideia
de causalidade natural, estimulando a emergncia de uma cincia
positiva, autnoma com relao s ideias religiosas, e para defnir
a religio como um sistema de crenas em um deus transcendente.
Essa a ideia de religio que temos at hoje. E, como se pode ver, ela
foi construda tendo como referncia o cristianismo, em suas verses
catlica e protestante. O reconhecimento de outras prticas culturais
como prticas religiosas sempre dependeu, portanto, da comparao
com esse modelo que nos familiar a religio crist.
O Brasil, colonizado pelos portugueses, herdou uma formao
religiosa catlica. Mas a escravido colonial trouxe para c prticas
africanas, vindas de Angola e Moambique, que aos olhos dos colo-
nizadores foram percebidas como feitiaria. Por oposio bruxaria,
de origem europeia, a noo de feitiaria foi construda, a partir do
sculo XVI, pelos missionrios catlicos na frica, para dar conta
das falsas crenas encontradas nos ritos nativos. Foi preciso muitos
sculos e muitas disputas para que essas prticas viessem a ser
129
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
percebidas (e respeitadas) pela sociedade brasileira como religies
africanas ou, mais recentemente, como religies afro-brasileiras. Como
foi que a magia e a feitiaria desapareceram para se tornarem re-
ligies? Esse processo que pode ser situado no perodo que vai da
Proclamao da Repblica at praticamente a dcada de 1950,
bastante complexo, mas diz respeito consolidao de um Estado
soberano e laico, separado do poder institucional da Igreja Catlica
que at ento sempre cumprira funes de Estado: a esse processo,
a literatura, inspirada nos trabalhos de Max Weber, deu o nome de
secularizao (MONTERO, 2003).
A secularizao do Estado brasileiro e a i nveno
das religies populares
Desde os primeiros momentos da instaurao da Repblica bra-
sileira, o combate feitiaria e s prticas populares de cura fzeram
parte do processo de constituio de uma ordem pblica urbana que
se queria moderna. O dilema dessa jovem Repblica era transformar
ex-escravos, mulatos pouco instrudos e ndios acaboclados (alm de
imigrantes pobres) em membros da sociedade civil, isto , sujeitos
que pudessem, de uma forma universal, ser submetidos normati-
vidade das leis e moralidade da religio crist. No incio do sculo
XX, o saneamento urbano era uma poltica pblica fundamental para
viabilizar a vida nas cidades, prejudicada por constantes febres,
imundcie de toda sorte e levantes. O Estado republicano precisava
produzir um marco jurdico composto de leis penais e sanitrias que
constitussem e disciplinassem o espao pblico: proibiu-se a venda
de midos, urinar e cuspir nas caladas, ordenhar vacas e diverses
populares. Foi imprescindvel criar os critrios para discernir o po-
tencial de periculosidade das condutas. Para tanto, mdicos, juristas
e outros letrados empenharam-se em conhecer e classifcar os hbitos
dessas populaes de modo a que eles pudessem ser tipifcados,
disciplinados ou extirpados criminalmente (MAGGIE, 1992). Foram
sendo, assim, progressivamente descritos e classifcados os crimes
em ordem decrescente de periculosidade: a feitiaria (atos de ameaa
ordem pblica), o curandeirismo (atos de ameaa sade pblica),
o charlatanismo (atos de explorao da credulidade pblica). A noo
jurdica de charlatanismo se produz, portanto, nesse contexto de con-
trole da higiene e sade pblica nas mos dos mdicos sanitaristas,
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
130
e tem como contraparte o crdulo, vtima seduzida por falsas crenas
(mgicas) por oposio s verdadeiras crenas (as religiosas). Velhos
pajs de naes indgenas desagregadas, negros feiticeiros, negros
rezadores, benzedeiras e beatos integrados ao catolicismo popular,
os gabinetes clnicos que o espiritismo francs
1
trouxera para o Brasil
so reunidos sob o rtulo de praticantes ilegais da medicina.
medida que as denncias iam chegando aos tribunais, inicia-
va-se um complexo debate mdico-jurdico para demonstrar como e
se os atos praticados por indivduos particulares haviam colocado
em perigo a ordem ou a sade pblica. interessante ressaltar que
no Cdigo Penal de 1890, certamente em razo do combate que a
Igreja Catlica fazia a qualquer sorte de heresia, todas as espcies de
curandeirismo foram tratadas sob a rubrica genrica de espiritismo,
assim defnido no artigo 157: praticar a magia e seus sortilgios,
usar de talisms e cartomancias, para despertar sentimentos de dio
ou amor, inculcar cura de molstias incurveis, enfm para fascinar
e subjugar a credulidade pblica. A pena variava de um a seis
meses de priso, acrescida de multa, se a vtima no tivesse tido
alterao de suas faculdades mentais, e at um ano, em caso con-
trrio. Estabeleceu-se, no entanto, um consenso silencioso de que
a associao dessas prticas populares de curandeirismo, muitas
delas herdadas das culturas populares europeias, s de tradio
africana, ento chamadas de macumba, magia negra, feitio, agravavam
o ilcito por implicar benefcios materiais e incidir muitas vezes em
crime ou dolo. De qualquer modo, ao ser colocada sob a rubrica
do espiritismo no Cdigo Penal, a feitiaria perdeu sua conotao de
sistema de acusao relativamente autnomo, praticado entre os
negros e se generaliza para a sociedade como um todo sob a forma
genrica de magia.
O desenvolvimento desse processo ao longo do sculo XX impli-
cou duas grandes ordens de consequncias no campo da aceitao/
negao das prticas populares:
1
A doutrina esprita teve no Brasil seus primeiros adeptos em meados do sculo
XIX entre jornalistas, professores, mdicos e comerciantes vindos da Frana
para o Rio de Janeiro. Tratava-se, ento, de reunir pequeno crculo de amigos
em sesses em torno de mesas girantes e falantes e dedicar-se ao estudo psicol-
gico e moral das manifestaes de espritos. As obras de seu fundador, Allan
Kardec, herdeiro das ideias progressistas do sculo XVIII e reformador social,
ocuparam-se em demonstrar o carter cientfco de sua doutrina.
131
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
a) a ordem jurdica de carter universalista, que visava combater
os crimes contra a sade pblica, foi obrigada a negociar, de um
modo ou de outro, com as diferentes formas de terapias populares.
Desse modo, os prprios juzes colaboravam para a mudana de
signifcado dos sentidos da magia;
b) a mediunidade esprita, como forma teraputica que se pre-
tendia uma sntese entre religio e cincia, tornou-se uma categoria
mediadora na construo de uma nova fronteira demarcadora entre
prticas mgicas e prticas religiosas.
Voltemos nossa ateno agora para os detalhes deste longo e
complexo processo.
A criminalizao do espiritismo
Os pilares jurdicos e sanitaristas da jovem Repblica enfrentavam-
se, em seu funcionamento, com os seguintes dilemas: de um lado, o
crime s poderia ser consubstanciado se fosse possvel demonstrar que
o transgressor o fazia com inteno de dolo, estando em pleno gozo
de suas faculdades mentais; de outro, os saberes mdicos serviam de
parmetro para desmascarar as falsas prticas de cura propostas pelos
curandeiros populares. Assim, a noo de conscincia, categoria basilar
ao funcionamento da mquina jurdica e os saberes cientfcos, que sus-
tentavam as aes de sade pblica, foram obrigados a acomodar-se s
prticas de transe e possesso correntes entre as camadas populares e
associadas ao curandeirismo. Ora, sortilgios e curas mgicas, praticadas
sob o comando de estados medinicos, no pareciam ser compatveis
nem com a ideia de razo nem com os saberes cientfcos.
Os trabalhos de Schritzmeyer (2004) e Giumbelli (1997) mostram
como as diferentes cincias em formao nas primeiras dcadas do
sculo XX a Medicina, o Direito, a Psicologia e a Antropologia
se ocupam intensamente, no Brasil, com o problema do transe
medinico. Era preciso decidir o grau de tolerncia para com esses
fenmenos generalizados de alterao da conscincia, uma vez que
a criminalizao das prticas de curandeiros e feiticeiros dependia
da justa qualifcao de sua inteno de praticar o dolo. Apesar das
divergncias entre diferentes correntes de pensamento, o transe j
fora bastante tratado pelas teorias psiquitricas e psicolgicas eu-
ropeias que o tinham como fenmeno biopatolgico de alterao da
conscincia, a ser tratado no campo do hipnotismo.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
132
No caso brasileiro, a variedade das formas como esses estados
se apresentavam mediunidade esprita, psicografia, danas de
possesso, xamanismo etc. impedia a aplicao pura e simples
da cincia europeia s especificidades do contexto local. No am-
biente intelectual cientificista daquele perodo, era mais fcil para
mdicos e juristas aceitarem a mediunidade esprita associada a
prticas teraputicas dos mdiuns curadores do que as danas de
possesso. As primeiras podiam ser assimiladas como resultantes
de processos biopsicolgicos universais, estudados pelas cincias
da mente; j as segundas remetiam ao repertrio cristo que as
tinham como danas demonacas, sacrifcios de animais, sortil-
gios e invocaes secretas de negros escravos e libertos. Assim,
enquanto a referncia cientfica colabora na aceitao do fenme-
no da mediunidade por setores das classes ilustradas, a matriz
crist opera para a condenao moral desse tipo deformado e
invertido de transe que a possesso. Nesse processo, os sentidos
atribudos mediunidade e possesso e as acusaes de que so
objeto se separam: a mediunidade enquanto fenmeno hipnti-
co reconhecido como fenmeno natural, mas sua manipulao
deve ser conservada nas mos habilitadas dos mdicos: o crime
da aplicao teraputica da mediunidade dos mdiuns receitistas
e dos mdiuns curadores era sua pretenso autonomia cienti-
ficista, no oficialmente reconhecida de suas prticas de cura; j
os crimes praticados pelos possudos diziam respeito feitiaria,
inculcao de dio e amores que colocassem em risco a ordem
pblica. Assim, quando os casos de mdiuns receitistas chegam aos
tribunais, eles atingem em cheio todos os grupos espritas exis-
tentes. As reaes esboadas pela Federao Esprita Brasileira,
fundada em 1884, que pedem a imediata reviso do Cdigo Penal
de 1890 em seus artigos 157 e 158, que se referem especificamente
ao espiritismo, no tiveram sucesso. Em sua defesa, os espritas re-
clamam da associao, no Cdigo Penal, entre essa nova cincia que
o espiritismo e os sortilgios da velha magia. Mas os argumentos
que mais sensibilizaram os juzes foram os que sustentavam que,
ao criminalizar o espiritismo, estariam contrariando dispositivo
da Constituio republicana de 1891 que garantia a liberdade de
crenas e a liberdade religiosa. Colocava-se, pois, o dilema, na
aplicao das leis de definir os critrios que pudessem diferenciar
um culto religioso das prticas mgicas.
133
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
A inveno de novas religies
Embora a Constituio republicana afrmasse o princpio da
liberdade de cultos, era uma quase evidncia para a mentalidade
das classes ilustradas dos fnais do sculo XIX e incio dos XX, que
apenas o catolicismo e o protestantismo podiam ser chamados de
religies. No havia no Brasil qualquer outro culto estabelecido. O
conjunto das prticas variadas que descrevemos acima caam no
campo da magia, da superstio e eram, portanto, prticas antisso-
ciais a serem combatidas. O caso da doutrina esprita, que acabou
por emprestar seu nome genrico para classifcar esse conjunto, era
bastante particular. Segundo Giumbelli (1997, p. 69-72), era muito
incomum que os espritas se referissem s suas doutrinas como de
natureza religiosa. Na verdade, eles se apresentavam como uma
sntese igualmente distante dos dogmas e formalismos da religio
catlica e dos erros materialistas da cincia. Em um momento em
que se discutia, rotineiramente, nos laboratrios a possibilidade de
demonstrao experimental da existncia de almas, e era compreen-
svel que os espritas chamassem para si os fundamentos do discurso
cientfco para recusar os absurdos dogmticos do catolicismo que
no prescindia dos mistrios, altares, sacramentos e sacerdotes. Por
outro lado, a cincia esprita pretendia trazer uma contribuio para
uma nova flosofa e a formulao de novos princpios morais que
superassem o atesmo imanente na cincia.
O Cdigo Penal combateu o espiritismo no pela doutrina que
professava, mas por ter invadido o campo da prtica ilegal da me-
dicina. O curioso de tudo isso foi que, no processo de defender-se
judicialmente, os espritas foram obrigados a buscar refgio nas
nicas brechas legais que lhes afanavam o exerccio de sua me-
diunidade para fns teraputicos: o artigo 72 da Constituio que
garantia a liberdade de culto. Embora os espritas tivessem resisti-
do no incio a defnir sua doutrina como religiosa, afastar de si as
representaes correntes de sua proximidade com a magia, com a
feitiaria e a cartomancia, redefnir e ressaltar o estatuto religioso
do espiritismo e suas prticas foi a tarefa que se deram os intelec-
tuais espritas ao longo de um debate que durou muitas dcadas.
Era preciso descriminalizar a mediunidade, convencer mdicos, le-
gisladores, jornalistas e policiais que se as pessoas se curavam nas
sesses espritas, isso se dava em razo de sua f, e no pelas falsas
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
134
promessas de cura; alm disso, a inexistncia de ganho pecunirio
para os espritas tornava mais fcil a desqualifcao das curas me-
dinicas como atos de subjugao da credulidade pblica. O espiritis-
mo vai, assim, aos poucos se apresentando como a prtica de um
culto por oposio ao exerccio fraudulento de uma profsso o
qual pretende prestar um servio pblico. sobre essa estreita e
ainda frgil ponte que a Federao Esprita Brasileira pretende abrir
caminho para defender seu direito de expandir suas prticas de
atendimento aos pobres, necessitados e doentes, at ento, prerro-
gativa apenas permitida Igreja Catlica. Ajustando e procurando
padronizar as condutas de seus fliados, foi, paulatinamente, sendo
construda uma nova fronteira classifcatria que passa a distin-
guir um verdadeiro e um falso espiritismo: o primeiro deixava para
o segundo (queles que escapavam s regras disciplinadoras da
Federao) as acusaes de exerccio da magia. Os limites do que
pode ser considerado religioso aos poucos se alargam e passam a
incluir essas formas extravagantes de culto a mediunidade e suas
formas de se relacionar com os espritos dos mortos , empurrando
para o campo da magia as prticas que pareciam mais aberrantes
para a sensibilidade das classes cultivadas porque associadas aos
elementos demonacos dos elementos mgicos negros. Assim se o
alto espiritismo conquistou aos poucos o reconhecimento social e foi
aceito como um culto religioso, o baixo espiritismo, tal como a ele se
referiam os discursos mdicos, jurdicos, jornalsticos e at mesmo
dos estudiosos espritas (muitos deles tambm mdicos, engenheiros,
militares), passou a abrigar todas as outras prticas reconhecidas
como de origem africana. Dessa maneira, as magias populares que aos
poucos vo recebendo diferentes nomes como macumba, umbanda,
candombl etc. so progressivamente alocadas nessa categoria ge-
nrica, legalmente denotada, de baixo espiritismo. Giumbelli (1997,
p. 272) observa que com o amparo desse termo que a represso
continuou a exercer-se at 1940.
interessante chamar a ateno para o fato de que a substitui-
o progressiva da oposio clssica de origem crist entre religio e
magia, pela oposio de carter legal alto e baixo espiritismo, produz
uma profunda mutao nos sentidos atribudos prpria noo de
magia. Em primeiro lugar, porque produz uma continuidade quali-
tativa entre os dois fenmenos: embora um deva ser respeitado e o
outro combatido, passa a existir entre os dois apenas uma distino
135
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
de grau e no de natureza (ao invs da descontinuidade entre religio
e magia classicamente concebidos como fenmenos distintos); em
segundo lugar, porque permite aos seguidores e praticantes aco-
modamentos e transformaes, bastando para tanto que operassem
criativamente com a confgurao dos elementos disponveis no re-
pertrio dessas prticas teraputicas tais como manter ou suprimir
sacrifcio de animais e espritos diablicos, controlar ou no o ges-
tual da possesso e o uso da maconha, padronizar e disciplinar as
formas e objetos de cura, evitando a explorao econmica dos clientes
etc. para progressivamente deslizar da magia para a religio.
Este parece ter sido o processo que fez emergir, no Rio de Ja-
neiro e em So Paulo, essa nova forma religiosa que foi a Umbanda.
Abrigando elementos rituais de conotao africana sob a rubrica
genrica de espiritismo, produziu uma combinao inovadora de pr-
ticas que associavam numa metstase original mediunidade (almas
dos ndios e negros) e possesso (orixs africanos que se tornam
aqui, sob o infuxo da gramtica cientifcista do espiritismo karde-
cista, energias espirituais). Em sua anlise sobre a institucionalizao
da Umbanda em So Paulo, Lsias Negro (1996) mostra que, entre
1920 e 1940, se estabelece um longo debate entre as Federaes
Umbandistas, interessadas em proteger certas prticas da repres-
so policial e torn-las aceitveis para a sociedade envolvente, e
as mes e pais de santo, mais interessados em seu prprio prestgio
e sucesso imediato na conquista de clientela fel que dependia de
sua capacidade de fazer crer na efccia dos poderes mgicos que
conheciam e controlavam. Dos princpios diferenciadores que esses
atores colocaram em operao ao longo dessa disputa, emergiram os
diversos arranjos religiosos que essas prticas acabam por assumir
at serem defnitivamente aceitos como religio afro-brasileira nas
dcadas de 1950-1960.
Concluso
Hoje, quando se olha para trs, pode nos parecer espantoso que
a sociedade brasileira tivesse, por tanto tempo, temido os poderes da
magia. As denncias de charlatanismo quase no chegam mais aos tri-
bunais e, embora o exerccio ilegal da medicina ainda seja combatido,
seu objeto no so mais as prticas mgicas que j se acomodaram
inteiramente no mbito da esfera religiosa. A magia, do ponto de vista
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
136
do marco jurdico, parece ter perdido seu poder de seduo e perigo,
tornando-se tambm uma forma de crena. Com efeito, esse debate
deslocou-se do campo legal para o campo da disputa religiosa, uma
vez que todas essas prticas adquiriram progressivamente o estatuto
de religies. A Igreja Catlica at muito recentemente (pelo menos a
dcada de 1970) continuou a combater toda sorte de superstio. Nos
dias de hoje, o debate reaparece no campo do protestantismo. Com
a grande expanso popular de igrejas que associam rituais cristos,
como o exorcismo, a elementos denotados como magia-negra, tais como
o orix africano Ex, e deles retiram benefcios pecunirios, protes-
tantes histricos e intelectuais catlicos reacendem as bandeiras de
combate ao charlatanismo e credulidade.
A partir desse rpido panorama das mutaes e reconfguraes
de signifcaes de categorias histricas de longa durao, tais como
magia, feitiaria e religio, buscamos demonstrar as particularidades
da formao da sociedade civil brasileira. A extensa agenda do regime
republicano para laicizar o Estado e excluir critrios religiosos da
cidadania ocupou-se exclusivamente com a Igreja Catlica. Todas as
deliberaes legais sobre o que era tido como religio visavam separar
os atos civis dos atos religiosos catlicos no que tange ao matrimnio,
batismo, sepultamento, educao, sade etc., e fscalizar o patrimnio
da Igreja. A noo genrica de religio, a partir da qual se garantiu
institucionalmente a liberdade de culto, teve como objeto o intenso
debate jurdico sobre a melhor maneira de regular os bens da Igreja,
garantir a indissolubilidade do casamento religioso, e defnir os limi-
tes de autonomia para suas obras sociais. Foi no campo no Cdigo
Penal e tendo como modelo de religio o catolicismo e seus modos
seculares de pensar as prticas primitivas, como superstio ou falsas
crenas, que se organizaram, visibilizaram e classifcaram as prticas
populares como crime contra a sade pblica. Assim, o modo como
hoje se apresenta o pluralismo religioso brasileiro resultou, em grande
parte, de um processo de codifcao de prticas no qual, alm de
juzes, mdicos e policiais, participaram tambm mdiuns, pais de
santo e seus clientes. Em um jogo de disputas que perdurou mais de
meio sculo e que se expressava nos constrangimentos de um quadro
mdico-legal em transformao, os consensos em torno dos repertrios
que podiam ser aceitos foram sendo historicamente construdos em
torno de uma ideia cada vez mais inclusiva de religio como sistema
de crenas em divindades extraterrenas.
137
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Referncias
GIUMBELLI, Emerson. O cuidado dos mortos: uma histria da condenao e le-
gitimao do espiritismo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.
MAGGIE, Yvone. Medo do feitio: relaes entre magia e poder no Brasil. Rio de
Janeiro: Ministrio da Justia, Arquivo Nacional, 1992.
MONTERO, Paula. Max Weber e os dilemas da secularizao. Novos Estudos Ce-
brap, So Paulo, n. 65, p. 34-44, mar. 2003.
NEGRO, Lsias. Entre a Cruz e a Encruzilhada. Formao do campo umbandista
em So Paulo. So Paulo: Edusp, 1996.
TAMBIAH, Stanley S. Magic. Science and the Scope of Rationality. Cambridge:
Cambridge University Press, 1990.
TREVOR-ROPES, H. R. The European Witch-Craze of the Sixteenth and Seven-
teenth Centuries and Other Essays. London: Harper Torch Books, 1969.
SCHRITZMEYER, Ana Lcia Pastore. Sortilgios de saberes: curandeiros e juzes
nos tribunais brasileiros. So Paulo: IBCCRIM, 2004.
Rel i gi o: si stema de cr enas, fei ti ar i a
e magi a na sala de aula
O tema da religio e seus correlatos, ao mesmo tempo que aparece
na sala de aula com frequncia, acaba sendo afastado por temores dos
professores de adentrar uma seara extremamente complicada para o con-
trole. Preocupam-se os professores, e com certa razo, de que no possam
desenvolver o tema sem ferir ou permitir que se fram suscetibilidades de
alguma religio, causando mal-estar, rejeio da parte dos alunos, animo-
sidades entre alunos e censura de pais e dirigentes escolares. No entanto,
como dissemos, o tema nem por isso est ausente da sala de aula e quando
surge, por conta dessa recusa de ser enfrentado, pode gerar justamente o
que se tenta afastar: o confito, a tenso surda, a manuteno dos preconcei-
tos etc. Por esse motivo, resolvemos incluir o tema neste volume, a fm de
apresentar para os professores uma forma de abordagem que lhes garanta
o tratamento sem medos nem paixes, a partir de um olhar cientfco, de
natureza histrico-antropolgica, do tema, quer ele seja uma escolha do
professor, quer ele adentre a sala de modo inesperado.
Como diz em seu texto Paula Montero, o tema da religio contempo-
rneo dos primeiros estudos do campo das Cincias Sociais e to presente
hoje que se mantm nos debates no s dessas cincias, como tambm nas
questes polticas internacionais, fonte de esperanas ou de confitos entre
os homens; fenmeno que desafa as mais otimistas expectativas trazidas
pela globalizao e que muitas vezes, ao contrrio de criar pontes, levanta
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
138
muros, redefnindo mesmo as fronteiras entre Naes. E como demonstra a
autora, em seu estudo sobre as religies no Brasil, a presena do Estado, ou
melhor, a construo do Estado Republicano no Brasil teve de se ver com
o debate sobre as religies; e embora permanecesse uma proximidade com
a Igreja Catlica, a confgurao deste Estado garantiu a abertura, com as
devidas negociaes, com outras religies ao longo do sculo XX.
O texto oferece, alm das informaes sobre essa histria, um exemplo
de percurso metodolgico de pesquisa e ensino, trazendo uma bibliografa
bsica bastante explorada pela autora de modo a orientar os professores
na prpria conduo da aula e atividades extraclasse. Pensamos, ento, em
possveis pesquisas a serem feitas pelos alunos, em grupos ou individualmen-
te, versando sobre a histria, os principais fundamentos (dogmas, princpios,
viso de mundo), os rituais, a atuao social (obras sociais) dentre outras
caractersticas presentes na maioria das religies brasileiras.
Podem-se fazer apresentaes e quadros comparativos, mas o importan-
te que duas coisas estejam sempre presentes e que fazem parte do ponto
de vista cientfco, pelo menos desde Durkheim : a) no se trata de algo
falso, mas sim de algo real, ou, como diz Durkheim, ... a religio existe,
um sistema de fatos dados; numa palavra, ela uma realidade
2
; b) no h
uma hierarquizao quanto legitimidade nem quanto veracidade entre
as religies. E uma questo se torna fundamental para garantir a legitimi-
dade de a cincia tomar a religio como objeto (e recorremos novamente a
Durkheim): O que a cincia contesta religio, no o direito de existir,
o direito de dogmatizar sobre a natureza das coisas, a espcie de compe-
tncia especial que ela se atribua para conhecer o homem e o mundo. De
fato, ela no se conhece a si mesma. No sabe nem de que ela feita nem a
quais necessidades ela responde. Ela mesma objeto da cincia...
3
.
Outras questes podem mobilizar alunos para a reflexo sobre as
relaes entre religio e sociedade. Tomando excertos de textos dos trs
clssicos das Cincias Sociais Marx, Weber e Durkheim , o professor
pode solicitar aos alunos observar as diferentes concluses que tais autores
apresentam a respeito dessas relaes to profundas.
Pode-se ainda, e agora voltando para o caso brasileiro, investigar a
representao que os adeptos de uma religio fazem a respeito de outra
ou outras e a procurar ver mais do que as tenses, os fundamentos que
se tornam razo das diferenas, preconceitos e confitos.
Por fm, pode retomar as proposies gerais defnidas por Durkheim
e discutir a afrmao da autora de que elas so at hoje inspiradoras para
compreender a religio como fenmeno de procedncia social
4
(p. 1, 1).
2
DURKHEIM, . As formas elementares da vida religiosa. So Paulo: Abril Cultural,
1978. p. 232.
3
DURKHEIM, 1978, p. 232.
4
Ibid., p.1, 1.
139
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Este captulo tem como tema central dois conceitos-chave para
o entendimento das relaes sociais em Sociologia: diferena e desi-
gualdade. Aparentemente sinnimos, ambos so fundamentalmente
distintos e inextricavelmente ligados, de tal modo que qualquer
refexo que se pretenda estabelecer sobre este tema, necessaria-
mente demanda a adequada conceitualizao de cada acepo, suas
principais derivaes e, principalmente, a compreenso da forma
e da natureza de sua ligao. Tomando como ponto de partida as
relaes sociais, o objeto central para o entendimento da diferena
e da desigualdade o ser humano no interior de suas interaes.
Nesse sentido, esses conceitos devem ser percebidos como diferenas
e desigualdades entre seres humanos.
A caracterstica mais importante da diferena, e talvez a mais
difcil de perceber, que ela nunca natural, isto , no uma coisa
dada, a priori, mas sempre socialmente construda. Ela resulta do
processo social de atribuio de identidades individuais e grupais.
Quando um indivduo ou um grupo humano se distingue de outro,
atribui a si prprio e/ou ao outro, determinadas caractersticas que
o diferenciam entre o eu e ele ou ns e eles.
Captulo 7
Diferena e desigualdade
Melissa de Mattos Pimenta*
* Doutora em Sociologia. Professora da FESP/SP.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
140
Cada um identifcado por outrem, mas pode recusar essa
identifcao e se defnir de outra forma. Nos dois casos, a
identifcao utiliza categorias socialmente disponveis e mais
ou menos legtimas em nveis diferentes (designaes ofciais
de Estado, denominaes tnicas, regionais, profssionais, at
mesmo idiossincrasias diversas...) (DUBAR, 2005, p. 137).
O que permite classifcar algum como membro de um grupo,
de uma categoria, de uma classe , portanto, um construto, cujos
elementos so dados por aquilo que o indivduo ou o grupo selecio-
na como base para a categorizao. A diferena orientada ora pela
natureza, ora pela cultura. No primeiro caso, ela se refere a todos
os aspectos fsicos e psicolgicos associados a caractersticas obser-
vveis nos seres humanos, que se referem ao fentipo (altura, peso,
compleio, cor da pele, tipo de cabelo, formato dos olhos, do nariz,
da boca etc.) e ao perfl psquico (disposio, atitude, humor, entre
outros). No segundo caso, refere-se a todos os aspectos do compor-
tamento associados s prticas culturais, aos hbitos alimentares, s
maneiras de vestir, de comer, de andar, de falar, de se portar diante
dos outros, s crenas religiosas e espirituais e aos valores morais.
A diferenciao, quase sempre, tende a ser etnocntrica, ou seja,
ela dada em relao ao ponto de vista de quem v. O parmetro
para determinar a diferena, portanto, incapaz de escapar s ma-
lhas da prpria cultura. Por essa razo, tudo aquilo que diferente
do que conhecemos ou estamos habituados estranho, bizarro, irra-
cional ou at mesmo imoral, dependendo de como nos defrontamos
com a diferena ou da maneira como ela nos apresentada.
O etnocentrismo o julgamento com base na prpria cultura
costuma ser nocivo anlise sociolgica. Da o recurso metodolgico
do estranhamento, a atitude de redirecionar o olhar de forma a tornar
estranho aquilo que familiar ou para o qual no h necessidade
de explicao, por ser cotidiano, trivial, normal. A atitude de estra-
nhamento, entretanto, no deve ser prejudicada por juzos de valor,
mas exercitada pelo distanciamento em relao aos prprios valores
e modos de pensar e agir. Dessa forma, abre-se a possibilidade de
se colocar no lugar do outro e entender como ele pensa, age e se
comporta. A isso denominamos relativismo cultural.
1
1
O relativismo cultural o oposto do etnocentrismo. Refere-se crena de que
todas as culturas e todas as prticas culturais tm o mesmo valor. (BRYM et
al., 2008, p. 88).
141
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
A diferena no o mesmo que desigualdade. Porm, existe
uma relao inequvoca entre ambas, no sentido de que a diferena,
ao se tornar defnidora de categorias sociais e grupos de pertenci-
mento no interior de sociedades, cria desigualdades na medida em
que essas relaes nunca so neutras, mas carregadas de tenso.
A diversidade algo vivido, experimentado e percebido, go-
zado ou sofrido na vida cotidiana: na imediatez do dado sen-
svel ao mesmo tempo que mediante cdigos de diferenciao
que implicam classifcaes, organizam avaliaes, secretam
hierarquizaes, desencadeiam subordinaes (PIERUCCI,
1999, p. 33).
As diferenas, portanto, situam indivduos e grupos em posi-
es hierarquicamente superiores e inferiores na estrutura social.
Tais posies, que podem ser econmicas, sociais ou polticas, con-
ferem vantagens ou desvantagens de acordo com o lugar ocupado na
estrutura social e revelam a existncia de desigualdades com base em
atributos sociais. Da mesma forma que h inmeras caractersticas
por meio das quais as sociedades se diferenciam umas das outras,
possvel identifcar diversos atributos com base nos quais pessoas
e grupos se organizam em posies ou estratos sociais: a idade, o
fato de ser homem ou mulher, a ocupao, a renda, a raa ou a cor
da pele etc. Neste captulo, discutiremos como o gnero, a raa e a
classe situam pessoas e grupos em posies desiguais na hierarquia
social, na qual geralmente os mais favorecidos encontram-se no topo,
e os menos privilegiados esto mais prximos da base.
Diferena e desigualdade de gnero
Uma das principais diferenas a serem destacadas entre os seres
humanos o fato de existirem homens e mulheres e, com isso, todo
um conjunto de caractersticas, comportamentos, atividades, prticas,
hbitos, crenas, sentimentos e expectativas baseadas na diviso mascu-
lino/feminino. Essa distino, entretanto, de duas ordens: a primeira
tem como base a diferena biolgica entre os humanos, ou seja, o sexo.
Dependendo das caractersticas genticas com as quais nasce, o indi-
vduo humano desenvolver genitais distintos e produzir hormnios
especfcos, que estimularo o sistema reprodutor, defnindo seu sexo
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
142
como masculino ou feminino. Porm, ser homem ou mulher muito
mais do que ter um sexo biologicamente defnido, mas signifca ter
sentimentos, atitudes e comportamentos associados a homens e mu-
lheres. Por essa razo, do ponto de vista da Sociologia, essa distino
denominada gnero e tem como base caractersticas psicolgicas, sociais
e culturais associadas diviso masculino/feminino. Segundo Giddens
(2008), o gnero est associado a noes socialmente construdas de
masculinidade e feminilidade e, desse modo, no necessariamente
um produto direto do sexo biolgico de um indivduo.
Contudo, as interpretaes sociolgicas das diferenas e desi-
gualdades de gnero tm assumido posies antagnicas em rela-
o questo do sexo e do gnero. Alguns autores defendem que
as diferenas de gnero so fruto da biologia humana, ou seja, da
forma como homens e mulheres evoluram geneticamente. Nesse
sentido, diferenas de comportamento, por exemplo, seriam resul-
tado de aspectos fsiolgicos e biologicamente determinados, como
o tipo de hormnio produzido, o tamanho do crebro, o papel na
reproduo, entre outras. Essas diferenas, portanto, seriam naturais
e irredutveis. Isso implica que fatores naturais sejam responsveis
pelas desigualdades observadas entre os gneros na maior parte das
sociedades (GIDDENS, 2008, p. 109). Essa perspectiva, denominada
essencialismo (WEEK, 1986, p. 15 apud BRYM et al., 2008, p. 251) en-
volve a percepo do gnero como parte da natureza ou da essncia
da constituio biolgica do ser humano.
As explicaes que se situam nessa perspectiva so encontra-
das na Sociobiologia e na Psicologia evolucionria e utilizam argu-
mentos evolucionistas, cada vez mais populares desde os anos de
1970, inspirados nas teorias de Charles Darwin (1809-1882), para
explicar comportamentos e prticas sociais especfcas (WILSON,
1975; BARASH, 1981; TOOBY; COSMIDES, 1992; PINKER, 2002).
Um exemplo a hiptese de que os homens estariam mais predis-
postos que as mulheres a querer muitos parceiros sexuais devido
capacidade do homem de produzir gametas ser muito superior
das mulheres. Por essa razo, no decorrer de sua vida reprodutiva,
homens e mulheres desenvolveriam estratgias diferentes a fm de
aumentar as chances de reproduzir seus genes.
Como uma mulher produz poucos vulos, ela aumentar as
chances de reproduzir seus genes se tiver um companheiro
143
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
que permanea por perto para ajud-la e proteg-la duran-
te as poucas ocasies em que estiver grvida, der luz e
amamentar uma criana. Porque os espermatozides de um
homem so to abundantes, ele aumenta suas chances de
reproduzir seus genes se tentar engravidar tantas mulheres
quanto possvel. (BRYM et al., 2008, p. 79).
Tudo se passa, portanto, como se o comportamento de gnero
estivesse voltado para a maximizao das chances de sobrevivncia
da espcie humana.
Em contraposio a essa interpretao situam-se os estudos cen-
trados na socializao de gnero, ou seja, no aprendizado dos papis
de gnero
2
por meio da interao com agentes sociais, tais como a
famlia, o grupo de pares e os meios de comunicao.
Esta abordagem estabelece uma distino entre sexo biolgico
e gnero social uma criana nasce com o primeiro e desen-
volve-se com o segundo. As crianas, atravs do contato com
diversos agentes de socializao, primrios e secundrios, in-
teriorizam progressivamente as normas e expectativas sociais
que correspondem ao seu sexo. As diferenas de gnero no
so determinadas biologicamente, mas geradas culturalmen-
te. Neste sentido, existem desigualdades de gnero, pois os
homens e as mulheres so socializadas em papis diferentes.
(GIDDENS, 2008, p. 110).
O aprendizado dos papis de gnero um processo muito com-
plexo que envolve muito mais do que as interaes entre pais e
flhos. Ele abrange no apenas os agentes de socializao primria,
desde a mais tenra idade, mas tambm fguras de autoridade como
professores, orientadores, profssionais, sacerdotes, entre outras, que
procuram impor suas ideias acerca do comportamento de gnero
apropriado s crianas. Alm disso, a forma como o processo de so-
cializao se d no interior das relaes familiares e, posteriormente,
na educao escolar, ser fundamental para o tipo de identidade de
gnero que a criana desenvolver em sua vida adulta.
2
O papel de gnero o comportamento adotado de acordo com as expectativas
socialmente compartilhadas acerca de como homens e mulheres devem agir.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
144
Recentemente, entretanto, socilogos cada vez mais tm se posi-
cionado em favor da tese de que no s o gnero, como tambm o sexo
produzido e construdo socialmente. Essa interpretao baseada
na ideia de que as identidades de gnero e as diferenas de sexo esto
intimamente ligadas em cada corpo humano (CONNEL, 1987; BU-
TLER, 1999; SCOTT; MORGAN, 1993), e tambm o corpo est sujeito
ao humana, escolha e interferncia da cultura, dependendo
do contexto social no qual se encontra inserido. Isso signifca que o
corpo humano tambm pode ser alterado de diversas formas, que no
necessariamente obedecem a necessidades ou determinaes biol-
gicas, mas a normas, regras e valores culturalmente compartilhados
(ou no). Por vezes, essas transformaes fogem identifcao dada
pela natureza ou pelo sexo masculino ou feminino. Os indivduos
podero optar por construir ou reconstruir os seus corpos conforme a
sua vontade recorrendo desde a atividade fsica, dieta, ao piercing
e ao estilo pessoal, at cirurgia plstica e s operaes de mudana
de sexo. (GIDDENS, 2008, p. 114). Segundo o historiador Thomas
Laqueur (2001), o sexo situacional e s pode ser compreendido
no campo das relaes entre gnero e poder. Por situacional, devemos
entender o enraizamento cultural de homens e mulheres em relao
entre si, que faz nascer ou desaparecer diferenas com base no sexo,
ou ento aumentam ou diminuem as barreiras entre os sexos.
De qualquer perspectiva, as diferenas de gnero no so neutras,
pois as diferenas entre homens e mulheres situam-se em posies
sociais desiguais. Como vimos no incio deste captulo, desigualdade
refere-se posio ocupada por um indivduo ou grupo na hie-
rarquia social, econmica ou poltica, que lhe confere vantagens
e desvantagens. Tais vantagens e desvantagens se expressam nas
diferenas de poder, autoridade, prestgio e condio social entre
homens e mulheres nas sociedades contemporneas.
importante enfatizar que as desigualdades de gnero no
foram sempre as mesmas, tampouco tiveram a mesma intensidade,
em todos os lugares e em todas as pocas, para todas as culturas.
Tambm as desigualdades de gnero so resultado de processos
sociais e histricos de longa durao, que variam enormemente de
um contexto para outro.
No pretendemos aqui discutir as diversas interpretaes socio-
lgicas para as origens das desigualdades de gnero, mas destacar
os principais mbitos nos quais elas se evidenciam atualmente.
145
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
O modo como as ideologias de gnero so construdas socialmente
refora a constituio e o exerccio de papis masculinos e femininos
considerados apropriados. Este aspecto decisivo, por exemplo,
no momento da escolha da carreira profssional. Um levantamento
realizado (BRYM et al., 2008, p. 259-260) a partir de dados do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira
(INEP), de 2003, revelou a tendncia para uma clara diviso sexual
nas opes profssionais de jovens brasileiros, ao analisarem-se os
cursos superiores com maiores percentuais de matrcula do sexo
feminino e do sexo masculino, respectivamente. A preferncia femi-
nina pelas Cincias Humanas e da sade, especialmente os servios
sociais e de orientao, a fonoaudiologia, a nutrio e o secretariado,
enquanto a preferncia masculina pelas Cincias Exatas, especial-
mente a mecnica, a construo e a manuteno de veculos a motor,
os transportes e servios (cursos gerais) e a eletrnica.
As escolhas profssionais femininas tendem a limit-las a ocu-
paes e empregos mal remunerados. Isso ocorre porque o trabalho
desempenhado por mulheres considerado menos qualifcado e,
consequentemente, menos valorizado do que o trabalho desempe-
nhado por homens. Essas percepes so baseadas em pr-noes
acerca das capacidades atribudas a homens e mulheres e fundamen-
tam as atitudes de preconceito e discriminao com base no gnero. O
fato de a mulher ser capaz de gerar e dar luz a um beb confere a
ela uma suposta capacidade inata para o amor e o cuidado com as
crianas, levando tendncia de se atribuir s atividades profssio-
nais de atendimento e educao infantil como prprias ao universo
feminino. Essa uma noo preconceituosa de que somente a mulher
capaz de cuidar de crianas ou mais capacitada para cuidar delas
do que os homens. A discriminao ocorre quando preconceitos em
relao s capacidades masculinas e femininas para o trabalho so
utilizados para determinar faixas salariais, estabelecendo, assim,
desigualdades de renda.
Alm da discriminao de gnero, as disparidades de renda en-
tre homens e mulheres tambm so explicadas pelas diferenas de
qualifcao profssional entre as mulheres, pelo fato de ter flhos e
pelo tempo de dedicao ao trabalho (emprego de meio perodo
ou tempo integral). Os ganhos salariais esto diretamente relacio-
nados a esses aspectos e ao fato de a mulher estar ou no inserida
no mercado de trabalho (dedicada exclusivamente ao cuidado dos
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
146
flhos e s atividades domsticas). Dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domiclios (PNAD), produzida pelo Instituto Brasileiro
de Geografa e Estatstica (IBGE), em 2007, mostram que, entre os
ocupados, as mulheres tendem a receber menos que os homens:
Tabela 1 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana
de referncia, por sexo, segundo as classes de rendimento mensal
de todos os trabalhos (%) Brasil, 2007
Rendimento Homens Mulheres
At 1 sm 23,7 32,7
Mais de 1 a 2 sm 31,5 29,8
Mais de 2 a 3 sm 14,0 8,6
Mais de 3 a 5 sm 9,9 6,3
Mais de 5 a 10 sm 7,4 4,9
Mais de 10 a 20 sm 2,9 1,5
Mais de 20 sm 1,1 0,4
Sem rendimento 7,5 14,2
Fonte: IBGE, PNAD 2007
O perfl ocupacional dos brasileiros tambm desigual: os ho-
mens tendem a ocupar posies como trabalhadores da produo de
bens e servios industriais (33,7%) e da agricultura (21,4%), enquanto
as mulheres se concentram em atividades de servio (30,9%), vendas
e comrcio (12,0%) e administrao (12,0%). Porm, a proporo
de mulheres a ocuparem o topo da hierarquia ocupacional ainda
menor: enquanto 5,5% dos dirigentes em geral eram homens, apenas
4,2% eram mulheres.
Outro importante fator de desigualdade entre gneros so as
relaes assimtricas entre homens e mulheres no interior da famlia.
A noo de assimetria (disparidade, grande diferena) assenta-se,
sobretudo, na diviso domstica do trabalho, isto , na forma como
as tarefas so distribudas entre os membros do agregado familiar.
Embora hoje um nmero cada vez maior de mulheres trabalhe fora
de casa, e as tradicionais divises sexuais do trabalho domstico
tenham se modifcado (no sentido de que cada vez mais os homens
e mulheres partilham as mesmas tarefas), a criao dos flhos e o
trabalho da casa ainda so responsabilidades assumidas preferen-
cialmente pelas parceiras e mes, o que diminui consideravelmente
147
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
o seu tempo de lazer, o tempo dedicado aos estudos e ao aperfei-
oamento profssional, o tempo dedicado ao trabalho remunerado
e, consequentemente, os rendimentos.
3
Diferena e desigualdade racial e tnica
A questo da diferena e da desigualdade racial e tnica no
pode ser adequadamente compreendida sem antes passar por uma
refexo, ainda que sucinta, do signifcado que os termos raa e etnia
detm, respectivamente, em Sociologia. A primeira pergunta a ser
colocada refere-se prpria existncia ou no da raa, tendo em
vista o fato de este conceito ter sido amplamente discutido e contes-
tado do ponto de vista da Biologia e da Gentica contemporneas.
A palavra raa, na Biologia, geralmente utilizada para defnir
grupos de indivduos distintos no interior de uma espcie (BAR-
BUJANI, 2007, p. 54). Atualmente, h consenso de que todos os
povos pertencem espcie humana, embora, efetivamente, no h
um acordo sobre o que venham a ser grupos de indivduos distintos
no interior de uma espcie. Hoje, com o desenvolvimento da gen-
tica, sabe-se que as diferenas entre os grupos humanos variam de
5% entre populaes oriundas do mesmo continente a 15% entre
populaes de continentes diferentes (BARBUJANI, 2007, p. 87) Isso
signifca que, na prtica, 85% da diversidade gentica humana per-
manecem no interior das populaes, fato que no se observa em
quase nenhuma outra espcie de mamfero do planeta. Em outras
palavras, no existem grupos humanos geneticamente to diferen-
ciados a ponto de se afrmar que existam raas humanas.
Muitas vezes, raa e etnia so entendidas como sinnimos, mas
preciso distinguir os dois conceitos.
Uma raa uma categoria de pessoas cujas marcas fsicas
so consideradas socialmente signifcativas. Um grupo tnico
composto de pessoas cujas marcas culturais percebidas so
consideradas signifcativas socialmente. Os grupos tnicos
diferem entre si em termos de lngua, religio, costumes, va-
lores e ancestralidade. (BRYM et al., 2008, p. 220).
3
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) de 2007, pro-
duzida pelo IBGE, as mulheres brasileiras gastam, em mdia, 25,6 horas semanais
com afazeres domsticos, enquanto os homens gastam apenas 10,3 horas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
148
Tanto para um, como para o outro, o que defne uma raa ou
uma etnia uma construo social, isto , as diferenas fsicas, cultu-
rais, comportamentais ou morais (reais ou imaginrias) so sempre
atribudas pelos grupos que as defnem, sejam os prprios membros
ou os outros com quem se relacionam. No primeiro caso, o prprio
grupo se identifca enquanto raa ou etnia no sentido de construir e
afrmar identidades que promovam a coeso interna e o sentimento
de pertencimento. No segundo caso, a sociedade na qual o grupo
est inserido distingue e destaca seus membros com base em carac-
tersticas atribudas. Desse modo, so as crenas e ideologias das
pessoas que atribuem aos outros caractersticas que geram esteretipos
associados raa ou etnia.
Muitas das diferenas existentes entre os seres humanos produ-
zem situaes de desigualdade de poder, de direitos e de cidadania.
Quando essas diferenas geram crenas e atitudes baseadas na ideia
de que existem raas humanas, dizemos que estamos diante do fe-
nmeno de racismo. Como defnir o racismo?
A palavra racismo tem muitos signifcados diferentes, e no
o propsito deste captulo explorar todos aqui. O racismo pode ser
entendido tanto como uma doutrina, que prega a existncia de raas
humanas, com diferentes qualidades e habilidades, ordenadas de tal
forma que umas seriam superiores a outras em termos de qualidades
morais, psicolgicas, fsicas e intelectuais, quanto um conjunto de ati-
tudes, preferncias e gostos baseados na ideia de raa e superioridade
racial, seja no plano moral, esttico, fsico ou intelectual. As atitudes
consideradas racistas podem se manifestar de duas formas: pelo pre-
conceito e pela discriminao (GUIMARES, 2004, p. 17).
O termo (pr)conceito signifca ideia ou crena prvia, anterior-
mente concebida a respeito de algum ou algum coisa. No caso do
preconceito racial, trata-se de pr-concepes das qualidades morais,
intelectuais, fsicas, psquicas ou estticas de algum, baseadas na
ideia de raa. O preconceito pode se manifestar verbalmente, ou
por meio do comportamento, nas atitudes e aes concretas de uma
pessoa ou grupos de pessoas. Nesse caso, quando a ideia de raa faz
com as pessoas recebam tratamento diferencial, dizemos que se trata
de discriminao racial. Tal comportamento pode gerar segregao e
desigualdade raciais (GUIMARES, 2004, p. 18).
No sculo XIX, acreditava-se que as raas eram subdivises da
espcie humana, caracterizadas por particularidades morfolgicas
149
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
tais como o formato do crnio, a cor da pele e o tamanho do nariz.
Essas particularidades fsicas estariam associadas a caractersticas
psicolgicas, intelectuais e morais que diferenciavam as raas se-
gundo o seu grau de civilizao. Essas doutrinas racialistas serviram
de base para justifcar o tratamento e o estatuto social diferenciado
de grupos humanos.
Um aspecto importante das teorias racialistas era a condenao
hibridizao, o que tornava a assimilao de mulatos e mestios
um grande obstculo construo da nacionalidade brasileira. No
incio do sculo XX, com o advento do movimento modernista nas
artes e na literatura, a herana cultural dos indgenas, dos negros
e dos caboclos brasileiros passou a ser valorizada. Na dcada de
1930, o pensamento social e poltico brasileiro, representado espe-
cialmente por Gilberto Freyre, Srgio Buarque de Holanda e Caio
Prado Jnior, reforaram ainda mais a contribuio dos povos afri-
canos formao da nao brasileira, colocando em evidncia a
importncia da cultura e superando o racialismo na interpretao
das relaes sociais.
Aps a Segunda Guerra Mundial, devido principalmente ao ge-
nocdio de judeus, poloneses, ciganos e outros povos discriminados
com base nas teorias sobre raa, o conceito passou a ser recusado
pelos cientistas da Biologia, Antropologia e Sociologia, dado que
no h fundamento biolgico para a existncia de raas humanas.
Quaisquer diferenas observveis entre grupos humanos, num dado
territrio, s poderiam ser explicadas, portanto, pela cultura. O de-
senvolvimento desse iderio anti-racialista foi a negao do racismo
e da discriminao racial como fenmeno social, dando-se nfase
s diferenas de oportunidades de vida e de classe social. O que
tornou isso possvel foi o fato de que, diferentemente de outros pa-
ses, onde a segregao com base na raa ocorreu de forma violenta
e confituosa, sancionada por regras precisas de fliao grupal, o
Brasil parecia ser um local tranquilo, caracterizado pela convivncia
mais ou menos amistosa entre as pessoas, bastando que, para isso,
cada qual estivesse em seu lugar: o senhor na casa grande e o escra-
vo na senzala. Com efeito, brancos, negros e indgenas no apenas
conviviam, como possuam uma longa histria de miscigenao,
ainda que dominada pelo homem branco: senhores de terras podiam
ter flhos com escravas ndias ou negras, mas seus flhos no eram
reconhecidos como flhos legtimos, tampouco tinham direito posse
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
150
de terras ou representao poltica. Isso teve uma consequncia
muito importante para a percepo da forma como se davam as
relaes raciais no Brasil: durante muito tempo, a miscigenao e a
ausncia de confitos violentos foram tomadas como evidncias de
uma sociedade onde as diferenas raciais no teriam importncia
signifcativa ou confgurariam uma democracia racial.
Segundo Guimares (2005, p. 66),
Nos anos da ditadura militar, entre 1968 e 1978, a demo-
cracia racial passou a ser um dogma, uma espcie de ide-
ologia do estado brasileiro. Ora a reduo do anti-racismo
ao anti-racialismo, e sua utilizao para negar os fatos de
discriminao e as desigualdades raciais, crescentes no pas,
acabaram por formar uma ideologia racista, ou seja, uma
justifcativa da ordem discriminatria e das desigualdades
raciais realmente existentes. Como isto se deu?
Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos e na frica
do Sul, no caso brasileiro, as relaes raciais se do por meio de um
sistema muito complexo e ambguo de diferenciao, no baseado
em regras claras de descendncia biolgica, mas em diferenas fe-
notpicas designadas como cor. Por essa razo, muitos pensadores
defenderam a ideia de que no Brasil no haveria preconceito racial,
mas sim preconceito de cor. Ora, do mesmo modo que a noo de raa,
a noo de cor tambm uma construo social. Apesar de parece-
rem caractersticas naturais das pessoas, no h nada de natural em
selecionar e classifcar as pessoas segundo a cor da pele, o tipo de
cabelo ou o formato do nariz.
De fato, no h nada espontaneamente visvel na cor da pele,
no formato do nariz, na espessura dos lbios ou dos cabelos,
ou mais fcil de ser discriminado nesses traos do que em
outros, como o tamanho dos ps, a altura, a cor dos olhos
ou a largura dos ombros. Tais traos s tm signifcado no
interior de uma ideologia preexistente (para ser preciso: de
uma ideologia que cria os fatos, ao relacion-los uns aos ou-
tros), e apenas por causa disso funcionam como critrios e
marcas classifcatrios. Em suma, algum s pode ter cor e
ser classifcado num grupo de cor se existir uma ideologia
151
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
em que a cor das pessoas tenha algum signifcado. Isto , as
pessoas tm cor apenas no interior das ideologias raciais.
(GUIMARES, 2005, p. 47).
Embora o brasileiro utilize com mais frequncia o termo cor
para distinguir as pessoas, essa noo est carregada de conotaes
raciais e exerce a mesma funo. Nesse sentido, a caracterstica do
racismo no Brasil basear-se em preconceitos de marca (cor, tipo
fsico, caractersticas fenotpicas) do que de descendncia.
A tese da democracia racial, aliada falta de polticas pblicas
efetivas para a integrao dos negros na sociedade brasileira, con-
tribuiu no apenas para mascarar o racismo como para reproduzir a
ordem hierrquica diferenciadora entre brancos e negros, ampliando
as desigualdades sociais. Na dcada de 1950, um grupo de autores
brasileiros,
4
dentre os quais se destacou o socilogo Florestan Fer-
nandes, procurou analisar as singularidades das relaes raciais no
Brasil e desconstruir a tese da democracia racial. A partir da compara-
o entre as funes sociais do preconceito racial, antes e depois da
abolio, Fernandes (1965, p. 83) explicou o preconceito, na dcada
de 1950, como uma tentativa das oligarquias dominantes de pre-
servarem os privilgios de uma ordem arcaica, baseada no prestigio
de posio herdadas. Em sua anlise histrica das relaes raciais
no Brasil, a transio da sociedade agrria para uma sociedade in-
dustrial de classes encontrava-se incompleta, e nos resqucios dos
tradicionalismos perpetuavam-se tenses sociais que propiciavam
as condies para a manuteno do preconceito e a continuidade
das posies subalternas dos negros.
na tenso entre a ideologia nacional, que negava a existncia
de racismo e discriminao racial, e no acirramento das desigual-
dades raciais que o movimento negro retoma o conceito de raa, no
fnal dos anos de 1970, para dar um novo contorno luta por direi-
tos de incluso social e cidadania. Foi nesse momento que surgiu a
necessidade de se (re)teorizar as raas como construes sociais, que
criam identidades baseadas numa ideia biolgica falsa, mas capaz
de criar, manter e reproduzir diferenas e desigualdades.
4
Ver COSTA PINTO (1953). O negro no Rio de Janeiro: relaes de raas numa sociedade
em mudana; Oracy NOGUEIRA (1954). Tanto Preto quanto Branco: estudos de relaes
raciais; Thales de AZEVEDO (1955) As Elites de Cor: um estudo de ascenso social.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
152
As desigualdades raciais e tnicas no Brasil manifestam-se de
forma contundente na idade de incio do trabalho, no acesso edu-
cao formal e no mercado de trabalho. Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domiclios (PNAD) de 2007, realizada pelo IBGE,
a maioria das crianas e adolescentes estavam ocupadas, isto , es-
tavam trabalhando na semana em que foi realizada a pesquisa.
importante lembrar que pela legislao brasileira, qualquer tipo de
trabalho vedado a crianas e adolescentes menores de 14 anos.
Tabela 2 Distribuio das pessoas de 5 a 17 anos de idade, ocu-
padas na semana de referncia, por cor, segundo a faixa etria (%)
Brasil, 2007
Faixa Etria Branca Preta ou Parda
5 a 17 anos 39,8 59,5
5 a 9 anos 29,2 69,6
10 a 13 anos 33,9 65,1
14 a 15 anos 38,6 60,9
16 a 17 anos 43,9 55,4
Fonte: IBGE, PNAD 2007
Dados obtidos durante a Pesquisa Mensal de Emprego e De-
semprego (PME) pelo IBGE, em maro deste ano, nas seis principais
regies metropolitanas do pas
5
, revelaram que 5,5% das crianas
e adolescentes entre 10 e 17 anos que no frequentavam a escola
eram pretas ou pardas. Esse percentual foi de 4,8% entre brancos
da mesma faixa etria. Entre os jovens com 18 anos ou mais que
frequentavam o ensino superior, 28,7% eram brancos e somente 10%
eram pretos ou pardos.
Em relao populao em idade ativa, embora a populao
negra seja menor que a populao branca, a proporo de desocupa-
dos consideravelmente maior: 50,5% dos desocupados eram pretos
ou pardos. A taxa de desocupao entre pretos e pardos tambm
maior: 10,1% em comparao a 8,2% dos brancos. Considerando o
grupo de atividade, observou-se que 59,6% das pessoas ocupadas na
construo e 61,6% das pessoas ocupadas nos servios domsticos
eram pretas ou pardas. Quanto ao rendimento, os pretos e pardos
5
Belo Horizonte, Braslia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo.
153
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
recebiam, em maro de 2009, 51% do rendimento mdio auferido
pelos brancos.
Diferena e desigualdade de classe
Para tratar a questo da diferena e da desigualdade de clas-
se, preciso defnir, antes de tudo, o que classe. O conceito de
classe, entretanto, um dos mais disputados nas Cincias Sociais,
podendo-se dizer que, desde o tempo dos clssicos da Sociologia,
ainda no se chegou a um consenso acerca do que efetivamente
ele signifca. No o propsito deste captulo, entretanto, oferecer
mais uma defnio, mas apontar diretrizes que orientem a refexo
sobre classe.
Em primeiro lugar, a classe tambm uma categoria social que
nos ajuda a apreender de que forma diferenas no acesso s condies
de vida (renda, habitao, saneamento, alimentao, sade, educao,
trabalho etc.) geram desigualdades entre pessoas e grupos, na medida
em que situam pessoas e grupos em posies desiguais na hierarquia
social, de tal modo que geralmente os mais favorecidos encontram-se
no topo, e os menos privilegiados esto mais prximos da base.
Uma vez que classe est relacionada posio ocupada por
um indivduo ou grupo e esta posio encontra-se em uma rela-
o hierrquica com as demais posies, dizemos que ela se situa
no interior de uma estrutura de classes. As teorias sociolgicas que
procuraram compreender as relaes entre classes no interior de
uma sociedade baseiam-se no paradigma de que essas relaes so
sempre desiguais, estruturadas e hierarquizadas.
As primeiras ideias desenvolvidas sobre como as sociedades se
organizavam remontam ao fnal do sculo XIX e ao incio do sculo
XX. Dois dos principais autores da Sociologia, Karl Marx (1818-1883)
e Max Weber (1864-1920) formaram a base para a maioria das teorias
sociolgicas de classe.
Para Marx, uma classe um grupo de pessoas que se encon-
tram em uma relao comum com os meios de produo os
meios pelos quais elas extraem o seu sustento. Antes do avan-
o da indstria moderna, os meios de produo consistiam
primeiramente na terra e nos instrumentos utilizados para
cuidar das colheitas ou dos animais no campo. Logo, nas
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
154
sociedades pr-industriais, as duas classes principais eram
aquelas que possuam a terra (os aristocratas, a pequena no-
breza ou os donos de escravos) e aqueles que se envolviam
ativamente na produo a partir da terra (os servos, os es-
cravos e os camponeses livres). Nas sociedades industriais
modernas, as fbricas, os escritrios, o maquinrio e a ri-
queza, ou o capital necessrio para compr-los, tornaram-se
mais importantes. As duas classes principais so formadas
por aqueles que possuem esses novos meios de produo os
industrialistas ou capitalistas e aqueles que ganham a vida
vendendo seu trabalho para eles a classe operria, ou, no
termo hoje em dia um tanto arcaico s vezes preferido por
Marx, o proletariado. (GIDDENS, 2008, p. 235).
Weber, por sua vez, ampliou a determinao da posio de
classe para mais do que a posse ou no dos meios de produo.
Segundo esse autor, a posio de classe determinada pela situao
de mercado, que depende, tambm, da posse de bens, do nvel de
educao e do grau de habilidade tcnica.
Nessa perspectiva, Weber defniu quatro classes principais:
grandes proprietrios; pequenos proprietrios; empregados
sem propriedade, mas altamente educados e bem pagos; e
trabalhadores manuais no-proprietrios. Dessa forma, em-
pregados de colarinho branco e profssionais especializados
surgem como uma grande classe no esquema de Weber. Weber
no apenas ampliou a idia de classe de Marx como tambm
reconheceu que dois outros tipos de grupos, que no a classe,
tm relao com a maneira como a sociedade estratifcada:
grupos de status e partidos. (BRYM et al., 2008, p. 192).
Desse modo, embora as condies econmicas estivessem dire-
tamente relacionadas na determinao das divises de classe, para
Weber, as desigualdades sociais se originam de fatores mais com-
plexos do que a posse ou no dos meios de produo. A posio de
mercado, as qualifcaes, titulaes, grau de escolaridade, diplomas
e habilidades adquiridas modifcam sensivelmente as oportunida-
des e as possibilidades de ascenso social dos indivduos. Outro
aspecto signifcativo das classes o fato de elas estarem associadas
155
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
a diferentes status adquiridos, isto , a uma distribuio desigual
da honra e do prestgio social.
Desde Marx e Weber, estudos tericos e empricos que procura-
ram analisar a estrutura de classes nas sociedades capitalistas con-
temporneas vm procurando estabelecer relaes entre a posio de
classe e outras dimenses da vida social, aumentando ainda mais a
complexidade deste conceito, incluindo o comportamento eleitoral, o
desempenho escolar e a sade fsica. Segundo Costa Ribeiro (2003),
economistas tendem a basear suas anlises em dados sobre renda in-
dividual e familiar; porm, renda no pode ser usada como sinnimo
de classe. Na tradio sociolgica herdada, sobretudo, das teorias de
Marx e Weber, os esquemas de classe so construdos com base na
estrutura ocupacional, isto , de acordo com as posies ocupacionais
de indivduos dentro de unidades produtivas e mercados de traba-
lho. Essas divises correspondem, de forma geral, a desigualdades
materiais e sociais relacionadas com tipos de emprego.
O contexto histrico e social do capitalismo industrial contem-
porneo caracteriza-se pelo aumento da diviso do trabalho e pela
crescente complexifcao da estrutura ocupacional. Segundo Gid-
dens (2008), a ocupao um dos fatores mais crticos na determina-
o do posicionamento social, das oportunidades de vida e do nvel
de conforto material dos indivduos. Por essa razo, cientistas sociais
tm usado extensivamente a ocupao como um indicador da classe
social, por acreditarem que indivduos da mesma ocupao tendem
a vivenciar nveis semelhantes de vantagem ou desvantagem social,
a manter estilos de vida comparveis e a partilhar oportunidades
de vida igualmente semelhantes (GIDDENS, 2008, p. 289).
Segundo Costa Ribeiro (2003), na Sociologia contempornea, os
estudos que seguem a perspectiva da Sociologia histrica tendem
a elaborar conceitos de classe que levam em conta processos de
longa durao, envolvendo aspectos culturais e de ao estratgica
na formao de classes sociais, enquanto pesquisas com base em
anlises de dados provenientes de surveys procuram medir posies
de classe, a fm de desenvolver anlises estatsticas. Porm, tambm
no h consenso entre pesquisadores contemporneos a respeito da
melhor maneira de mensurar classes.
H, na realidade, duas perspectivas distintas: uma que valo-
riza a busca de hierarquias entre grupos ocupacionais (con-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
156
ceitos de hierarquias socioeconmicas e de prestgio) e outra
que privilegia distines e oposies entre tipos de relaes
de trabalho (conceitos relacionais de classes sociais). (COSTA
RIBEIRO, 2003, p. 393).
No Brasil, os estudos sobre classe e posio social estiveram as-
sociados questo da cor desde o incio do sculo passado e foram
uma preocupao fundamental de boa parte dos cientistas sociais,
especialmente nas dcadas de 1940, 1950 e 1960. Em seu clebre estudo
A Integrao do Negro na Sociedade de Classes, Florestan Fernandes (1965)
concluiu que os negros foram integrados tardiamente e de forma su-
bordinada sociedade de classes. A resistncia das classes dominantes
brasileiras nova ordem competitiva seria expressa no preconceito de
cor. Em outras palavras, Fernandes afrma que a sociedade brasileira,
em meados do sculo XX, no confgurava uma sociedade de classes
no sentido weberiano, mas conservava aspectos tradicionais do antigo
sistema de explorao agrria. A estrutura de classes tpica que temos
hoje resultado da transio de uma sociedade agrria de monocultura
e explorao do trabalho rural para a sociedade industrial.
Somente a partir dos anos de 1970, com a realizao da pri-
meira Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclio (PNAD), pelo
IBGE, que foi possvel aos cientistas sociais brasileiros obter dados
estatsticos com os quais podiam descrever a estrutura de classes
brasileira e sua relao tanto com as diversas formas de desigual-
dade observadas no Pas quanto com a antiga sociedade agrria que
se desmantelava (COSTA RIBEIRO, 2003, p. 382).
Estudos recentes (CARDOSO, 2000; COSTA RIBEIRO; SCALON,
2001; SANTOS, 2002) sobre a estrutura de classes brasileira e suas
relaes com diversas formas de desigualdade evidenciaram que,
embora tenha havido um grande aumento no acesso a condies
de vida bsicas (educao, sade, saneamento etc.) para as classes
menos favorecidas, permanecem desigualdades signifcativas no que
diz respeito distribuio de renda e acesso educao de nvel
superior. Alm disso, embora o fuxo migratrio do campo para as
cidades tenha proporcionado oportunidades de mobilidade social
ascendente para muitas famlias de origens rurais, tornando a so-
ciedade brasileira extremamente dinmica, a estrutura de classes
urbana tende a permanecer estvel, ou seja, apresentar resistncia
mudana. Em outras palavras, as ocupaes dos trabalhadores
157
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
nas cidades no mudam ao longo dos anos, tampouco ao longo das
geraes (COSTA RIBEIRO, 2003).
As desigualdades sociais no Brasil so evidenciadas quando
se analisam dados como acesso educao, a condies bsicas de
vida e distribuio de renda. Essas desigualdades fcam ainda mais
evidentes quando comparadas por regies. Segundo os dados da
PNAD de 2007, somente 10,8% dos cerca de 56 milhes de pessoas
com 4 anos ou mais matriculadas em algum nvel de ensino fre-
quentavam o Ensino Superior no Brasil.
Tabela 3 Domiclios particulares permanentes, por grandes regies,
segundo algumas caractersticas (%) Brasil, 2007
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Abastecimento
de gua
55,9 75,7 91,8 84,8 80,8
Esgotamento
sanitrio
9,8 29,7 79,4 32,7 34,8
Iluminao
eltrica
94,0 95,7 99,8 99,5 98,7
Fonte: IBGE, PNAD 2007.
Em relao ao acesso a servios essenciais, observam-se dife-
renas signifcativas entre as regies, especialmente entre o Norte e
o Sudeste, no que diz respeito ao abastecimento de gua por meio
de rede geral e ao esgotamento sanitrio por rede coletora.
Fonte: IBGE, PNAD 2007.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
158
Mas quando se comparam os rendimentos dos brasileiros
que as desigualdades se tornam mais salientes. O Grfco 1 acima
mostra que, do total da populao brasileira em atividade em 2007,
33% no tinham rendimentos e 46% recebiam at 2 salrios mnimos.
No outro extremo da escala de rendimentos, apenas 2% recebiam
entre 10 e 20 salrios mnimos e somente 1% da populao recebia
renda superior a 20 salrios.
Concluso
A ideia de que os seres humanos no so iguais ou de que exis-
tem diferenas sensveis das mais diversas ordens muito anterior
concepo moderna de que todas as pessoas nascem livres e iguais
em dignidade e direitos
6
. O ideal de igualdade, de direito univer-
sal fundamental, uma construo social, resultado de um longo
processo de lutas histricas, que remontam Filosofa iluminista,
Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado de 1789 e Revo-
luo Francesa. Enquanto construo social, no um ideal esttico,
mas vem se modifcando medida que eventos histricos, sociais e
polticos, juntamente com a participao de lderes e representan-
tes de grupos, partidos e naes passaram a apoiar determinadas
posies comuns, especialmente aps a Segunda Guerra Mundial,
com o fm das hostilidades, a formao da Organizao das Naes
Unidas e a deciso de alguns pases, especialmente europeus, de
impedir a repetio do Holocausto.
Pensando dessa forma, talvez o maior obstculo para a aceita-
o das diferenas sociais e culturais entre humanos seja a profunda
contradio entre a condio de igualdade jurdica e poltica prevista
pela concepo moderna de cidadania e a necessidade cada vez
maior de afrmao da diversidade tnica, racial, sexual, religiosa,
cultural em quase todas as sociedades contemporneas.
7
Por um
lado, a defesa da igualdade de direitos exige o universalismo que
no se realiza, porque no h tratamento verdadeiramente igual para
todos os seres humanos. Os movimentos sociais em defesa de direi-
6
Declarao Universal dos Direitos Humanos de 1948, Artigo 1, Organizao
das Naes Unidas.
7
Incluem-se a os chamados novos movimentos sociais, tais como o movimento
de mulheres, o movimento negro, o movimento dos sem-terra e movimento pelos
direitos dos homossexuais, lsbicas e transexuais, que promovem os direitos de
grupos especfcos excludos de participao social integral.
159
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
tos de grupos especfcos vieram justamente apontar as desigualdades
inerentes s relaes entre gneros, brancos e negros, ndios e colo-
nizadores, homossexuais e heterossexuais. Por outro lado, a defesa
do direito diferena pode, a qualquer momento, recair no mesmo
processo de hierarquizao que a luta pela igualdade inicialmente
se props a refutar.
Referncias
BARASH, David. The Whispering Within. New York: Penguin, 1981.
BARBUJANI, Guido. A Inveno das Raas. So Paulo: Contexto, 2007.
BRYM, R. et al. Sociologia: sua bssola para um novo mundo. London: Cengage
Learning, 2008.
BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Lon-
don: Routledge, 1999.
CARDOSO, Adalberto Moreira. Trabalhar, Verbo Transitivo: Destinos Profssionais
dos Deserdados da Indstria Automobilstica. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
CONNELL, R. W. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics.
Cambridge: Poliry, 1987.
COSTA RIBEIRO, Carlos A. Estrutura de classes, condies de vida e oportunidades
In: HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Valle. Origens e Destinos: Desigual-
dades Sociais ao Longo da Vida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003.
______; SCALON, Maria Celi. Mobilidade de Classes no Brasil em Perspectiva
Comparada. Dados, v. 44, n. 1, p. 53-96, 2001.
DUBAR, Claude. A Socializao: construo das identidades sociais e profssionais.
So Paulo: Martins Fontes, 2005.
FERNANDES, Florestan. A Integrao do Negro na Sociedade de Classes. So
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1965.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2008.
GUIMARES, Antonio Srgio A. Preconceito e Discriminao. So Paulo: Fundao
de Apoio Universidade de So Paulo: Ed. 34, 2004.
______. Racismo e Anti-Racismo no Brasil. So Paulo: Fundao de Apoio Uni-
versidade de So Paulo/Ed. 34, 2005.
LAQUEUR, Thomas. Inventando o Sexo: corpo e gnero dos gregos a Freud. Rio
de Janeiro: Relume Dumar, 2001.
PIERUCCI, Antonio Flvio. Ciladas da Diferena. So Paulo: Curso de Ps-Gra-
duao em Sociologia da Universidade de So Paulo/Ed. 34, 1999.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
160
PINKER, Steven. The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New
York: Viking, 2002.
SANTOS, J. A. Figueiredo. Estrutura de Posies de Classe no Brasil. Belo Hori-
zonte: Ed. UFMG, 2002.
SCOTT, Sue; MORGAN, David. Bodies in a social landscape. In: ______; ______ (Ed.).
Body Maters: Essays on the Sociology of the Body. London: Falmer Press, 1993.
TOOBY, John; COSMIDES, Leda. The Psychological Foundations of Culture. In:
BARKOW, Jerome; COSMIDES, Leda; TOOBY, John (Ed.). The Adapted Mind:
Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford Uni-
versity Press, 1992.
WILSON, Edward O. Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, MA: Bekknap
Press of the Harvard University Press, 1975.
Di fer ena e desi gual dade na sala de aula
O tema da diferena e da desigualdade pode ser trabalhado com
seus alunos de diversas formas. Sugerimos que voc inicie pela noo de
diferena para, ento, abordar o problema da desigualdade. importan-
te introduzir o carter no natural da diferena, recorrendo a exerccios
de sensibilizao por meio do recurso ao estranhamento. Voc pode, por
exemplo, explorar as percepes que os prprios alunos tm em relao
s diferenas perceptveis entre eles no conjunto da classe. Um exerccio
sugerido solicitar aos alunos que se renam em grupos de quatro ou
cinco colegas. Estabelea um tempo de trabalho e pea a cada grupo que
enumere em um caderno algumas caractersticas dos seus membros, como
sexo, idade, bairro em que moram, religio, time de preferncia e outras
que voc achar interessantes. Cada grupo dever procurar descobrir o
quanto seus membros so parecidos ou diferentes entre si e, depois, se os
grupos nos quais a turma se dividiu apresentam caractersticas semelhan-
tes ou no. Coloque a seguinte questo em debate: houve algum critrio
que infuenciou a formao dos grupos, como, por exemplo, afnidades,
amizades, o sexo? Esse critrio contribui para que o aluno se identifque
mais com alguns colegas do que com outros?
Esse exerccio tem como propsito oferecer um ponto de partida para
uma refexo a respeito de como as diferenas aproximam e afastam os
seres humanos. A partir desse momento, voc pode dar exemplos que sero
trabalhados no captulo, como as diferenas entre homens e mulheres.
preciso, entretanto, explicitar o signifcado de sexo em relao ao gnero e
somente ento introduzir a problemtica da desigualdade. Uma sugesto
para iniciar essa parte colocar em questo a condio de homem e de mu-
lher em nossa sociedade. Pergunte aos seus alunos: atualmente, quais so
as vantagens e as desvantagens de ser homem e de ser mulher no Brasil?
Aguarde as contribuies dos alunos e ento discuta-as. Para trabalhar a
161
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
questo do gnero e dos papis masculino e feminino, voc pode utilizar
como recurso o flme Se Eu Fosse Voc, de Daniel Filho. Nesta comdia, um
casal de classe mdia do Rio de Janeiro, representado por Tony Ramos e
Glria Pires, misteriosamente troca de papis, passando da noite para o dia
a viver um no corpo do outro. O fato de um homem estar preso no corpo
de uma mulher e vice-versa uma excelente oportunidade para discutir
o estranhamento em relao s formas prprias de comportamento atri-
budas a homens e mulheres (papis de gnero) aos quais as personagens
subitamente precisam se adaptar. Observe que, embora tenham corpos (e
sexos) biologicamente defnidos como homem e mulher, as personagens
no deixam de ser o que eram originalmente, o que abre o espao para um
interessante debate sobre a relao entre corpo e identidade de gnero.
Em todas as sees do captulo so apresentados dados estatsticos
por meio de tabelas e grfcos que podem ser utilizados para comparar as
situaes vividas pelas categorias sociais estudadas. A anlise das desigual-
dades, importante lembrar, no pode ser realizada no interior dos grupos,
mas somente por meio da comparao entre categorias sociais diferentes.
Em outras palavras, a desigualdade sempre um critrio comparativo, e
s pode ser percebida quando colocada em relaes de comparao.
Para tratar o tema da diferena e desigualdade racial e tnica, preci-
so, em primeiro lugar, ter clareza sobre o conceito de raa e seu lugar nas
Cincias Sociais, especialmente na Sociologia. Uma forma de introduzir
essa temtica aos seus alunos desconstruindo suas prprias percepes
raciais e colocando-as em questo. Sugerimos que voc solicite, com al-
guma antecedncia, que os alunos tragam para a sala de aula fotos de
jogadores de futebol e artistas de televiso, obtidas em jornais, revistas
ou na internet. Solicite que eles, em grupos, escolham at quatro imagens
de pessoas muito diferentes e faam uma descrio fsica delas. Ao fnal,
enumere na lousa as caractersticas fsicas que os alunos utilizaram para
descrever as pessoas. Pergunte aos alunos que atributos consideram posi-
tivos e negativos e por qu.
O objetivo dessa atividade determinar o quanto seus alunos enxer-
gam cor na sociedade brasileira e quais caractersticas esto associadas
a ela. Ao avaliar que atributos so considerados positivos e negativos,
voc poder colocar em discusso preconceitos de marca associados a de-
terminados fentipos. Discuta essas descobertas a partir dos contedos
desenvolvidos no captulo.
Uma sugesto para discutir racismo e relaes raciais o document-
rio Preto contra Branco, de Wagner Morales. O flme discute o preconceito
racial atravs do futebol. Desde 1972, um grupo de moradores do bairro
So Joo Clmaco e da favela de Helipolis, em So Paulo, organizam um
jogo de futebol de vrzea de brancos contra pretos no fnal de semana que
antecede o Natal. O interessante a questo de como os jogadores se encai-
xam nos times, uma vez que a comunidade , supostamente, miscigenada.
Cada jogador se declara negro ou branco e escolhe seu time.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
162
A discusso sobre classe exigir uma introduo a respeito dos con-
ceitos sociolgicos e das teorias de estratifcao clssicas. interessante
pontuar as diferenas entre as abordagens economicistas, que privilegiam
as diferenas de renda, e as abordagens sociolgicas, que enfocam a posio
no mercado de trabalho. Voc pode trazer exemplos, utilizando imagens, de
hierarquias de estratifcao ocupacional com base na bibliografa sugerida
(o estudo de Costa Ribeiro um exemplo).
Para aprofundar a apreenso das abordagens tericas que incorporam
a noo weberiana de status, interessante que voc procure discutir com os
alunos que tipos de elementos contribuem para distinguir grupos sociais a
partir de situaes no mercado de trabalho que possibilitam adquirir status
diferenciados. Alguns exemplos so os bens considerados de luxo, como
automveis, cartes de crdito, celulares, roupas de grife etc. Embora esses
bens sejam comumente associados s classes sociais mais favorecidas, eles
tambm podem ser apropriados por outros grupos econmicos de forma
a marcar diferenas sociais. Um exerccio que pode ser realizado procu-
rar descobrir que tipo de bens de consumo so utilizados pelos prprios
jovens para conferir status.
Finalmente, um recurso sugerido para tornar mais dinmica a dis-
cusso sobre desigualdade social o flme Domsticas, de Fernando Mei-
relles e Nando Olival. A comdia conta a histria de cinco amigas, todas
empregadas domsticas com sonhos e desejos. Com o foco no trabalho
domstico de empregadas, motoristas, faxineiros, zeladores e motoboys, o
flme um olhar da classe mdia sobre a classe trabalhadora, estereotipado,
mas baseado em situaes reais. A stira e o tom cmico ajudam a tornar
o flme uma grande crtica desigualdade social brasileira.
163
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Escrevo este texto em uma conjuntura bastante desfavorvel. O
mundo no qual vivemos est sendo sacudido pelas mudanas dos
processos intensivos de globalizao, que em parte turbinado por
tecnologias de informao e comunicao (TIC).
Hoje tudo que acontece em um lugar chega, em potencial, no
fm do mundo, em trs dias. O maior smbolo desta mudana talvez
seja a destruio das Torres Gmeas em Nova Iorque no dia 11 de
setembro de 2001. Se voltarmos quase cinco sculos, podemos con-
siderar um outro evento de grande importncia para a histria do
Ocidente (e que poderia hoje ser visto como sendo meditico), quando
Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja de Witenberg
no dia 31 de outubro de 1517. Em vez de assistir a imagens na tele-
viso e seguir os eventos em tempo real via internet, como foi feito
em 2001, os seguidores de Lutero tambm usavam as tecnologias
de informao mais avanadas de sua poca, a recm-desenvolvida
tecnologia de impresso em papel, para registrar e distribuir suas
teses. A agitao eventualmente resultou na Reforma Protestante,
movimento que sacudiu a Europa, com consequncias inclusive nas
Amricas, ao longo de sculos, e que tem grandes repercusses ainda
hoje. Entre as repercusses, uma das mais importantes foi aquela
observada pelo grande socilogo alemo Max Weber.
Captulo 8
Sociologia e tecnologias de
informao e comunicao
Tom Dwyer*
* Doutor em Cincias Sociais. Professor Associado do Departamento de Sociologia
da Universidade Estadual de Campinas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
164
No seu famoso livro A tica protestante e o esprito de capitalismo,
Max Weber observa como as foras manifestadas no Calvinismo
(derivado dos ensinamentos de Lutero) tinham se sedimentado ao
longo dos sculos, de tal maneira que Weber foi capaz de teorizar
a respeito do nascimento de um novo tipo de ator social, cuja li-
gao a valores religiosos resultou em nova forma de acumulao
de riqueza no capitalismo moderno. Hoje no podemos saber qual
papel a histria atribuir ao ato da Al Qaeda daqui a alguns sculos.
Isto ento um dos desafos enfrentados por todos os socilogos
hoje, de construir uma metodologia de pesquisa e teorizaes que
respondam tais questes, dando inteligibilidade ao nosso tempo.
Temos a impresso hoje de que os eventos acontecem em grande
velocidade, sem que tenhamos a capacidade de fltr-los e torn-los
inteligveis. Notcias so lanadas a toda hora sobre os mais variados
temas. Comparados com nossos pais e avs, temos acesso a um volume
muito maior de informaes, inclusive sobre pessoas em outros grupos
sociais, em outros estados, outros pases. O fato de ter acesso a mais
informaes no quer dizer que conhecemos os outros, no quer dizer
que vamos gostar dos outros. Saber mais e comunicar sempre envolve
riscos; todos ns precisamos de tempo para digerir novidades. Mas
hoje os riscos da comunicao acelerada esto sendo escamoteados pela
velocidade do desenvolvimento da tecnologia, que somos cobrados o
tempo inteiro a acompanhar. O risco de todos acordarmos um dia,
depois de muitos anos das mais intensas trocas de informaes, com
os mais diversos grupos de pessoas, e nos darmos conta de que, de
fato, no conhecemos e no gostamos de ningum.
Assim o ambiente no qual a Sociologia est sendo reintroduzida
no Ensino Mdio, neste fnal da primeira dcada do sculo XXI,
muito diferente daquele de 1954, quando o 1
o
Congresso Brasileiro
de Sociologia foi realizado, e quando se discutia o papel da Socio-
logia no (que hoje chamamos) Ensino Mdio.
A maior parte deste captulo discutir a questo do uso do
computador para pesquisar a sociedade contempornea, e como este
uso pode ajudar a testar e resolver controvrsias cientfcas sobre o
Brasil contemporneo, e tambm informar.
O texto busca situar a emergncia das TIC dentro da histria do
Ocidente e do desenvolvimento das cincias, e tambm na relao
entre seres humanos e outras tecnologias que servem para divulgar
e processar informaes. O objetivo principal demonstrar que o
uso das TIC na pesquisa sociolgica pode servir para a anlise so-
165
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
ciolgica e permitir descobertas. preciso reconhecer que a mera
existncia das TIC no garante, por si s, que descobertas sejam
feitas; preciso ter pesquisadores dotados de qualifcaes em In-
formtica e Sociologia, professores capazes de ensinar seus alunos
como pesquisar e teorizar. Seno, o aparecimento das TIC na escola
pode estar associado a uma reproduo de saberes j consagrados.
O texto tambm ilustra que a mudana de padro tecnolgico est
sendo associada ao aparecimento de novos atores sociais e novos
campos de ao social.
1
O papel exercido pelas Cincias Sociais nunca apenas cientfco.
Desde a fundao da Sociologia, existe a forte ideia de que ela pode
trazer conhecimentos valiosos, capazes de auxiliar os tomadores de
decises na soluo de problemas sociais. Ao longo deste captulo ve-
remos alguns exemplos nesse sentido. Tambm existe uma dimenso
pblica da Sociologia, em que, por meio de suas anlises, ela possa
ajudar cidados a verifcar a validade de velhas compreenses e cons-
truir novas compreenses do mundo ao redor. Ou seja, a Sociologia
exerce um papel na formao do cidado bem informado.
Processando informaes sobre o Brasil antes
da computao de mesa
Entre 1983 e 1984, portanto no fnal do regime militar, um gru-
po de cientistas sociais se reuniram para escrever um livro que
visava pensar as bases de uma democracia no Brasil.
2
Wanderley
Guilherme dos Santos demonstrou que, diferente da viso de muitas
pessoas, o Brasil tinha se transformado muito nos anos anteriores.
O pesquisador mobilizou estatsticas sobre diversos temas: greves,
administrao pblica, urbanizao, educao, distribuio de renda
e emprego. A partir de sua anlise da violenta transformao social
ocorrida no Brasil nos ltimos vinte anos acelerou a mutao da
sociedade brasileira em aspectos bsicos, ele conclui que as bases
sociais da democracia seriam mais fortes do que anteriormente, as
alertou sobre problemas sociais que teriam de ser tratados com ur-
gncia: o problema da desconcentrao da renda... e o problema
1
O pressuposto do captulo que se o aluno souber usar as TIC nas suas pes-
quisas, ele desenvolver uma compreenso mais apurada do mundo e ter
maiores condies de exercer o papel, fundamental em uma democracia, do
cidado bem informado.
2
importante relembrar que nesse momento existiam muitas dvidas sobre a
capacidade do Brasil construir instituies democrticas slidas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
166
da proteo social (SANTOS, 1985, p. 275, 308). O pesquisador
empregou muitas estatsticas publicadas pelo IBGE, outras agn-
cias e colegas, e transformou as mesmas em tabelas para esclarecer
aspectos de sua exposio.
3
Wanderley Guilherme dos Santos revelou que entre 1940 e 1975,
o nmero de tratores no Pas tinha crescido de 1.410 para 323.113!
Em 1940, 65,88% da populao economicamente ativa (PEA) traba-
lhavam no setor primrio (agricultura, pesca, minerao etc.), en-
quanto 10,4% trabalhavam no setor secundrio (indstria) e 19,91%,
no setor tercirio (servios). Em 1980, a fora do trabalho no era
mais predominantemente agrcola (29,93%), o setor industrial havia
crescido de maneira forte (24,37%), e o maior empregador era o setor
de servios (36,67%).
O artigo documenta o enorme deslocamento humano que ocorreu
entre as dcadas de 1940 a 1980, e em muitas reas, especialmente entre
1960 e 1980, o que fez do Brasil um Pas muito diferente em 1980 em
relao a 1940. O Brasil um dos pases do mundo que mais mudou
durante o sculo XX. Mudanas aceleradas deixam pouco tempo para
planejar e refetir; o pblico, mesmo quando existe liberdade de ex-
presso o que no foi o caso durante a maior parte do perodo entre
1960 e 1980 , no tem tempo para conhecer e avaliar as mudanas,
para decidir se so desejveis ou no. Por isso, ao olhar o que acontece
com o uso das TIC por jovens estudantes hoje, podemos, por exemplo,
observar muitos novos problemas e difculdades que emergem, mas
tanto sua discusso quanto sua preveno se revelam difceis.
Exer c ci os 1 e 2
Educao Ensino Mdio
O I Congresso Brasileiro de Sociologia (I CBS) foi realizado em
1954. No censo de 1950, mais da metade da populao brasileira
era analfabeta (51,65%), e o Pas era predominantemente rural. Na
poca, havia um processo de industrializao em curso, apoiado em
uma ideologia que hoje chamamos desenvolvimentismo. Essa, tam-
bm, foi a poca da fundao de algumas das principais agncias
estatais de estmulo ao desenvolvimento econmico (BNDES, 1952),
3
Naquela poca, quando no havia planilhas Excel nem computadores de mesa,
a manipulao de dados estatsticos era muito laboriosa. Buscavam-se em biblio-
tecas, e as mesmas eram copiadas mo, pois no havia internet, nem fotografa
digital, nem computadores.
167
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
educacional (CAPES, 1951) e cientfco (CNPq, 1951).
4
O processo de
urbanizao trouxe muitas questes sobre como integrar migrantes
de origem rural, e como transform-los em cidados capazes de viver
nas cidades. A reduo do analfabetismo e o aumento das chances
de emprego para as mulheres so hoje percebidos como resultados
positivos do processo de urbanizao.
No I CBS, o ento jovem socilogo Antnio Cndido escreveu:
Praticamente, o conhecimento sociolgico da escola habitua o
educador a compreender a sua funo e, sobretudo, a orientar
convenientemente os problemas pedaggicos. Lembramos ape-
nas, a ttulo de exemplo, a situao de tenso existente entre
adultos e imaturos, entre educadores e educandos, na medida
em que ambos manifestam modos diversos de participao na
vida social, com diversos interesses. Podemos dizer que uma
viso incompleta do problema d lugar a [...] atitudes peda-
ggicas extremas.... (CNDIDO, 1955, p. 129-130).
Em 2009, Maria Lgia de Oliveira Barbosa analisou os resultados
de testes de Portugus e Matemtica aplicados a alunos de 4
a
srie
(testes desenvolvidos pela Unesco/Orealc), questionrios sobre as
famlias e a trajetria escolar das crianas, entrevistas com diretores
das escolas, e tambm com os professores das turmas submetidas
s provas, e observao de aulas e cadernos dos estudantes. Os
dados sobre o desempenho e sobre as escolas foram codifcados, e
sujeitos a tratamento estatstico com a utilizao de sofwares para
a manipulao de dados sociais. O tratamento dos dados permitiu
pesquisadora observar que membros da mesma classe social e
cor que estudavam em escolas diferentes, se desempenharam de
maneira desigual. Assim ela identifcou um efeito escola. Sua anlise
sobre o papel do professor importante porque este papel o
segundo (aps variveis estruturais tais como classe social e raa)
em importncia a determinar o rendimento do aluno.
No possvel mudar os pais das crianas, mas perfeita-
mente possvel reorganizar a distribuio dos alunos por turmas
usando critrios que permitam criar um contexto de aprendizado
mais favorvel. tambm possvel elaborar polticas que melhoram
4
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (www.bndes.
gov.br); CAPES Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior
(www.capes.gov.br); CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfco
e Tecnolgico (www.cnpq.br).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
168
as habilidades e o treinamento dos professores e mesmo as formas
pelas quais esses professores percebem seus alunos. (BARBOSA,
2009, p. 157).
Em 1954, Antnio Cndido observava:
Ora, a tenso [entre professor e aluno] no pode ser resol-
vida pela abolio compulsria de uma das foras: ambas
integram necessariamente a escola como sistema social, e o
funcionamento desta depende da ao de ambas. Se cada
escola um grupo caracterstico, o educador s poder agir
nele adequadamente se for capaz de proceder anlise desta
situao e traar as normas convenientes de ajustamento so-
cial, sem o qual periga a efcincia pedaggica. (CNDIDO,
1955, p. 129-130).
Temos uma confuncia de perspectivas: a concluso da Maria
Ligia, a defnio da tenso estrutural feita por Antnio Candido e
os estudos latino-americanos onde
Anderson (2005) pde demonstrar que treinamentos ofe-
recidos aos professores [...] (que enfocam) melhor preparo
pedaggico para a sala de aula, tiveram resultados muito
positivo, elevando o desempenho (em 0,8 desvio padro) em
linguagem das crianas de reas mais pobres. (BARBOSA,
2009, p. 165).
Esta pesquisa sociolgica, conduzida no estado de Minas Gerais,
aproveitou a coleta sistemtica de dados sobre diversas dimenses
da vida na escola de um lado, a codifcao destes dados em va-
riveis e sua anlise, a partir de uma variedade de metodologias,
inclusive com o apoio indispensvel de metodologias informacionais
(neste caso, sofwares que permitem tratamento estatstico de dados)
traz um resultado importante. Duplamente importante porque: 1)
capaz de orientar o desenvolvimento de polticas que enxergam a
possibilidade de melhorar o desempenho dos alunos atravs da va-
lorizao do trabalho do professor; 2) tem uma importncia cientfca
porque invalida as hipteses da sociologia da escola de orientao
determinista, para a qual o desempenho do aluno determinado
apenas por atributos tais como cor e a posio social. Assim, esta
169
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
perspectiva permite reforar uma perspectiva que no apenas
analtica e que v na escola um instrumento forte e efcaz na luta
contra as desigualdades sociais (BARBOSA, 2009, p. 205).
Mas a escola no esttica. Grandes investimentos tm sido
feitos no sentido de informatizar as escolas do Pas, e com isto per-
mitir aos alunos acesso e domnio das tecnologias de informao.
Box
Estatsticas para Educao
Nos primrdios da Sociologia, as estatsticas sociais tiveram um
impacto muito forte sobre o desenvolvimento da disciplina. Pois se
observaes das fbricas ou ruas e leituras de jornais permitiam saber
da existncia de fenmenos sociais novos, s a coleta de dados e a
produo de estatsticas indicavam o tamanho da populao afetada
pelos fenmenos observados, assim permitindo aos pesquisadores
constatarem a importncia (ou no) de um determinado problema.
O desenvolvimento da computao, de um lado, e de um apare-
lho de coleta e publicao de estatsticas educacionais, do outro lado,
est permitindo o desenvolvimento de uma viso sobre os principais
fatores sociais que tm impacto sobre o desempenho de alunos. No
site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Ansio Teixeira, do Ministrio da Educao, www.inep.gov.br) se
descobre no apenas explicaes a respeito da execuo e objetivos
de cada tipo de pesquisa, mas tambm muitos dados que podem ser
analisados em sala de aula. Sites tm informaes a respeito da Prova
Brasil - SAEB (htp://provabrasil.inep.gov.br/), Enem (www.enem.
inep.gov.br/) e os resultados de avaliaes podem ser consultadas
na pgina htp://www.edudatabrasil.inep.gov.br. Por exemplo, em
2006, 62,9% das escolas de ensino mdio no pas tinham laborat-
rios de informtica e 62,7% tinham bibliotecas. Em 1999, quando a
informtica era muito mais cara e as tecnologias menos usadas, as
porcentagens equivalentes eram 45,7% e 82,3%. Ou seja, no pero-
do houve um forte aumento na porcentagem de escolas equipadas
com laboratrios de computao. Em 2006, possvel observar uma
dimenso de excluso social que se chama excluso digital, porque
em mais de um tero das escolas os alunos no tm possibilidade de
usar recursos de informtica em um laboratrio. Os dados revelam
uma outra dimenso preocupante: entre 1999 e 2006, o acesso s
bibliotecas nas escolas foi reduzido em termos relativos.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
170
No site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica
www.ibge.gov.br/home/) possvel acessar informaes sobre a
PNAD, o censo e outras valiosas fontes de informaes sobre o sis-
tema e estrutura social brasileira, baseadas em coleta minuciosa de
dados em todo o territrio nacional. A pgina dirigida aos alunos
do ensino mdio permite ter acesso a dados gerais de mudanas
recentes no Brasil (www.ibge.gov.br/ibgeteen/index.htm).
Muitos ministrios, ONG, agncias internacionais (veja Unes-
co, www.unesco.org) compilam estatsticas e produzem relatrios
relevantes para a produo de conhecimento de suas prprias reas
de atuao, e que podem ser consultados on-line.
Porm, uma vez identifcada a correlao entre variveis, ne-
cessrio buscar uma explicao. Construir explicaes requer mais
que o uso de metodologias informacionais; esta atividade requer
referncias a um corpo de teoria social sobre os temas em anlise.
Exer c ci o 3
Violncia, computadores e escola
O uso do computador no apenas coloca mo dados antes
inacessveis, como tambm abre espaos onde os jovens se exprimem
e entram em confito. Essa expresso e confitos podem ser, por sua
vez, analisados. Hoje em dia h uma enorme variedade de material
disponvel na internet (sites, blogs, twiter, sesses de bate-papo etc.)
que permite leitura e anlise; inclusive, a identifcao de novas
formas de ao social.
Em 1995 e 1999, conduzi duas pesquisas de natureza etnogrfca
sobre jovens e seus usos de computadores; meu principal campo
de pesquisa eram escolas de Ensino Mdio (DWYER, 1997, 2003).
Em 1999, percebi a emergncia de novas confguraes de violncia
entre os jovens (a internet no estava ainda disponvel na pesquisa
executada em 1995). Vou ilustrar, citando trechos de minhas pr-
prias anotaes.
Muitas vezes a vontade de se frmar na vida leva jovens a
querer atrapalhar ou at esmagar os outros, comportando-se
de maneira agressiva; faz parte do processo de crescimento,
sobretudo masculino, nas sociedades ocidentais. Nada mais
natural, portanto, que o computador acabe abrindo um novo
espao para a troca de agresses e para afrmao.
171
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Uns fabricam vrus, outros invadem os computadores de co-
legas para roubar trabalhos escolares ou deixar arquivos em-
baraosos, outros ainda invadem e destroem os arquivos dos
inimigos. s vezes, os danos causados e a natureza gratuita
dessas agresses so impressionantes. Com frequncia se inicia
um ciclo de atritos, retaliaes contra pessoas injustamente
acusadas e uma degenerao da qualidade da vida virtual de
todos, envolvidos ou no. Existem dois fatores que certamente
favorecem essas agresses: mais difcil descobrir a autoria da
violncia virtual do que da violncia fsica e h poucos meca-
nismos institucionalizados de punio dos responsveis.
Um tema constante nas entrevistas de 1999 so os hackers,
sobretudo entre os alunos de sexo masculino matriculados
em escolas tcnicas. A maioria passa boa parte de seu tempo
fazendo a mesma coisa que fazem o governo, escolas, uni-
versidades e muitas empresas, eles pirateiam sofware. Suas
nicas vtimas so as empresas produtoras e vendedoras de
sofware. Essa maioria ativa de hackers favorvel liberdade
de acesso, liberdade de informao e de expresso, con-
trria aos governos e ao grande capitalismo. Essas posies
polticas e ticas se refetem nas suas prticas.
Os meios de comunicao apresentam um retrato muito di-
ferente daquilo que acabei de apresentar. Considere algumas
manchetes anotadas em fevereiro de 2001: Hackers de Da-
vos queriam abalar influncia das autoridades (O Estado
de S. Paulo, 12.02.01, p. B7); Hackers so presos roubando
caixa eletrnico (O Estado de S. Paulo, 14.02.01, p. C3);
Falsrios roubam dados de usurios do UOL (O Estado
de S. Paulo, 15.02.01, p. C3). A maioria da populao fica
mal-informada porque a imprensa no sabe ainda explicar
ao seu pblico qual a diferena entre maioria e minoria no
ciberespao; para o grande pblico, todos os hackers passam
a ser vistos com nefastos.
Diversas motivaes esto por trs da ao dos hackers. Para
um jovem entrevistado, hackear envolve momentos de
grande emoo, pois depois de dias e semanas tentando
voc consegue entrar em um lugar que parecia impossvel.
extraordinrio! A emoo igual gol de futebol. Outros
hackeiam para se divertir e para ter o que fazer. Aldair,
um entrevistado de 17 anos, conta sobre como um hacker
conseguiu invadir, ter acesso ao computador de um amigo
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
172
meu; estive l quando aconteceu. Ele opina que a maioria
dos hackers no so ruins, querem apenas igualdade. Denise
fala sobre o desafo de ser hacker: eles fcam indignados com
o governo e escrevem coisas no site (do governo federal).
Um grupo de jovens usa o Linux e, junto com isso vai um
pensamento irreverente e um desejo de ser hacker. Para al-
guns quase faz parte ser da comunidade Linux e ser ha-
cker. Miguel varava a noite inteira e como consequncia
dormia na sala de aula. Hackeei o site da USP (Universidade
de So Paulo) por curiosidade, deixei uma mensagem. Aca-
bei com o computador dos outros e eles acabaram comigo...
Recusei em fazer um banco... era perigoso demais. Era muito
fcil fazer (embora ele nota que a segurana dos bancos est
fcando melhor).
Valter tem 18 anos passava duas horas por dia navegando
de maneira clandestina na internet, foi descoberto e perdeu o
acesso, agora ele passa uma hora por dia. Revela que apren-
deu a fazer bomba pela internet. Ele montou uma bomba,
trouxe para a escola e estourou-a. Comearam a dizer que
fui eu Se eles (professores) descobriram, eles no fzeram
nada. Agora ele conta que teve medo de entrar em sites de
bomba atmica. Ou seja, ele tem medo dele mesmo e do que
capaz de fazer. Medo de um mundo onde, ao que tudo
parece, nem os pais nem a escola do limites e ensinam a
diferena entre o certo e o errado.
Ser hacker faz parte da formao da identidade de certos
jovens, eles conseguem se fazer respeitados atravs da de-
monstrao de suas capacidades tcnicas e de sua ousadia.
Melhor ainda, na viso do grupo de referncia, quando essas
demonstraes esto ligadas luta por ideais e contra um
sistema do qual querem se libertar! Mesmo aqueles que no
vo to longe adotam uma linguagem do desejo da libertao,
esta linguagem faz parte da formao de sua identidade e da
construo de seus grupos sociais. Ao contrrio da viso dada
pela imprensa, ser hacker muito diferente de ser bandido!
Na medida em que as TIC permitem a abertura de novos espa-
os, novas formas de ao se produzem. Assim, nossa compreenso
desafada, alguns dos antigos princpios nos quais se baseava a
ao (educacional, no caso citado) so solapados e os atores sociais
173
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
envolvidos so obrigados a repensar suas categorias de anlise e
suas aes.
Exer c ci o 4
A mudana da natureza do trabalho o trabalho
do professor
No meu papel de professor universitrio e pesquisador, ob-
servei que as TIC esto sendo associadas a uma transformao do
meu trabalho. O crescente acesso internet facilita o plgio, observo
que alunos usam informaes extradas da www como se fossem
verdadeiras, sem se perguntar de onde vieram e a quais interesses
servem. A ameaa que os jovens confundem o crescente acesso
informao com a aquisio de maiores conhecimentos. Existem
foras poderosas que apoiam esta confuso, sobretudo os vende-
dores de tecnologias que, muitas vezes, vendem iluses. Um papel
pedaggico do professor desfazer a falsa ligao que se criou entre
o progresso tcnico e o progresso social (tambm pedaggico e eco-
nmico) no Ocidente (e no Brasil). Esta falsa ligao um exemplo
do fenmeno que se chama determinismo tecnolgico.
A hiptese de que o uso de computadores aumentaria necessa-
riamente o desempenho de alunos uma hiptese que refete um
determinismo tecnolgico. Junto com o colega Jacques Wainer, e
uma equipe de alunos da Unicamp, empregamos dados do Sistema
de Avaliao da Educao Bsica (SAEB) de 2001 para testar esta
hiptese. Empregando registros de um universo de 287.719 alunos de
4
a
e 8
a
srie do Ensino Fundamental e do 3
a
srie do Ensino Mdio,
observamos as diferenas nas notas obtidas em provas de Portugus
e Matemtica pelos alunos que usavam o computador para fazer
seus deveres de casa, e estas notas foram comparadas com as dos
alunos que no usavam computadores:
Os resultados de nosso estudo demonstram surpreendente-
mente que para os alunos de todas as sries e para todas as
classes sociais, o uso intenso do computador diminui o de-
sempenho escolar. Para alunos da 4a srie, das classes sociais
mais pobres, mesmo o uso moderado do computador piora o
desempenho nas disciplinas de portugus e matemtica. Isso
no se d para as classes mais abastadas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
174
Ou seja, a hiptese de determinismo tcnico no vlida.
Esses resultados indicam claramente que preciso repensar o
papel do computador no ensino, e sobretudo para os alunos
mais pobres para quem o uso do computador est surpreen-
dentemente associado a uma piora nas suas notas. (DWYER
et al., 2007).
Hoje, parece quase consenso que o aluno de Ensino Mdio deve
adquirir uma proficincia em informtica. A justificativa que a
profcincia em informtica infuencia a capacidade de participar no
mercado de trabalho. Na medida em que a informtica penetra em
todas as atividades econmicas, cada profsso transforma sua def-
nio das qualifcaes necessrias para que seus integrantes sejam
considerados qualifcados. Um bom exemplo so os professores, ao
exigir o uso da informtica no ensino preciso lembrar que, no
passado, professores foram obrigados a reagir a outras mudanas
tecnolgicas: integraram tecnologias novas da escrita (impresso),
da oralidade (rdio), do visual (fotografa, cinema, televiso) , estes
so obrigados a transformar suas prticas. Sem esta transformao, a
introduo da informtica no resulta em inovao. Acrescento que
a aprendizagem das metodologias e tcnicas necessrias para tratar
e analisar dados em uma sociedade, onde o acesso s informaes
crescente, constitui um baluarte da democracia. Ao transformar in-
formaes em conhecimentos, aquele aluno que emprega estes conhe-
cimentos em debates e tambm para guiar e fundamentar sua ao
poltica, pode se transformar no cidado bem informado de amanh.
Metodologias informacionais uma hiptese sobre
uma infexo na pesquisa sociolgica
O desenvolvimento do telescpio possibilitou a Galileu verifcar,
atravs da observao, a teoria de Coprnico (que contradizia a teoria
dominante da poca) de que o mundo gira em torno do sol. Esta des-
coberta iniciou uma profunda renovao no pensamento europeu.
Os fundadores da Sociologia, entre os quais Karl Marx e mile
Durkheim, mudaram a compreenso das atividades sociais, em parte
porque, de modo parecido a Galileu, empregavam as tecnologias
mais avanadas de sua poca para recolher suas informaes: via-
gens de trem e de barco (para entrevistar representantes dos novos
175
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
e dos velhos atores sociais, e para observar partes do mundo antes
desconhecidas), grandes bibliotecas (para estudar temas e partes do
mundo de difcil acesso, ou temas especfcos) e as estatsticas de
todos os tipos sobre a sociedade.
O desenvolvimento do moderno sistema de coleta, divulgao
e anlise de estatsticas uma mudana ao mesmo tempo cientfca,
tcnica e institucional que permite estudar (com certa preciso) mu-
danas e identifcar problemas sociais. Mais tarde o moderno apare-
lho estatstico seria usado para ajudar a classe poltica a desenvolver
polticas pblicas em diversas reas: economia, programas de sade
coletiva, segurana pblica, combate corrupo e educao (onde,
por exemplo, o estudo da Maria Ligia Barbosa emprega metodologias
informacionais e indica um caminho para melhorar a educao).
As metodologias informacionais se desenvolvem no contexto de
uma sociedade que produz, registra e divulga um volume crescente
de informaes, o que permite a classifcao, organizao e inter-
rogao sobre a validade e o signifcado destas informaes, passo
necessrio antes de embarcar em qualquer teorizao sociolgica.
possvel prever a emergncia de socilogos com novas qualifca-
es, formados em Cincias Sociais e no uso das TIC; eles tero a
capacidade de produzir conhecimentos mais robustos e ideias ava-
liadas como mais capazes de dar conta das complexidades de nosso
mundo em transformao. Hoje, cresce entre os cientistas sociais que
estudam fenmenos emergentes a hiptese de que explicaes tm
que ser construdas de maneira indutiva, na base de observaes
e pesquisas cuidadosas. As metodologias informacionais parecem
constituir uma ferramenta valiosa neste processo.
Um dos mais importantes antroplogos no mundo, Jack Goody,
escreveu:
A grande ruptura veio com o desenvolvimento de comunica-
es atravs de computadores interconectados que permitem
o acesso em tempo real a grandes fontes de informaes em
diversas partes do mundo. Aqueles que vivem em reas afas-
tadas, distante de bibliotecas, podem descarregar material das
revistas cientfcas mais atuais e do mundo inteiro para se
manter informados sobre os ltimos avanos nas suas reas
de interesse. Em alguns campos da cincia espera-se que os
pesquisadores divulguem seus resultados sem esperar sua
publicao nos meios tradicionais. A velocidade de acesso e o
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
176
fuxo de ideias cientfcas acaba promovendo sua aplicao, e
atravs disso um aumento na capacidade de inovar na socie-
dade humana. O problema passa a ser de achar um caminho
dentro desta grande massa de informaes, para este objetivo
um nmero de mquinas de busca apareceram para ajudar
nas investigaes. (GOODY, 2004, p. 411).
Famlias de recursos informacionais: divulgao,
acesso a dados, anlise de dados e trabalho em grupo
At agora concentrei meu esforo na apresentao de recursos
de pesquisa e de resultados de pesquisa que empregam metodolo-
gias informacionais. Mas existem tambm outros recursos informa-
cionais que podem ser usados no processo educativo, tanto para a
divulgao de resultados, quanto para facilitar o trabalho em grupo.
Podemos falar em quatro famlias de recursos informacionais: para
divulgao de resultados, para ter acesso a informaes e dados,
para processar dados e informaes colhidas, e para facilitar a or-
ganizao de trabalho em grupo.
1) A divulgao de resultados via publicao, conferncias on-line,
vdeos no you-tube, ensino via www etc. fazem parte do crescente
uso das TIC. Hoje, cada vez mais jovens buscam complementar os
tradicionais textos escritos pelo emprego de recursos multimeios.
Em vez de divulgar seus projetos de escola pelos meios tradicionais,
eles procuram publicar seus resultados na internet. Em um nmero
cada vez maior de escolas, o uso desses meios estimulado.
2) O acesso a informaes e dados, como vimos em discusses ante-
riores, que inclui bancos de dados, bibliotecas virtuais, e outras fon-
tes de informao disponveis em meios digitais (blogs, bate-papos,
twiter etc.), pode servir para pesquisar e produzir conhecimento
sobre uma ampla variedade de temas. Parece que o impacto mais
importante da internet sobre ensino e pesquisa que dados e infor-
maes que antes eram de difcil acesso, devido s pssimas bibliote-
cas e desigualdade de acesso s informaes, ou, para parafrasear
os termos da Sociologia fenomenolgica de Alfred Schutz (1979, p.
110-113), informaes que antes eram relativamente irrelevantes ou
absolutamente irrelevantes para o professor e o aluno, passam a estar
potencialmente mo ou ao nosso alcance. preciso complementar a
aprendizagem no uso de recursos de bibliotecas fsicas, bibliotecas
digitais, bancos de dados e outras fontes disponibilizadas na rede, e
177
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
que o professor tenha a capacidade de ensinar o aluno a transformar
as informaes disponveis em conhecimento.
3) Sofwares para a anlise de dados. Existem vrias tipos de sofware
que permitem ao pesquisador analisar seus dados. Em muitos casos,
as tcnicas e os procedimentos de anlise foram desenvolvidos antes
do surgimento da informtica. Porm, estes sofwares permitem pro-
cessar grandes quantidades de dados e informaes rapidamente.
5
3.a) Sofwares de anlise de dados quantitativos, tais como SPSS e
SAS so as mais tradicionais e conhecidas entre todas as metodolo-
gias informacionais de pesquisa e so empregados por socilogos
profssionais. O programa SPSS, e outros, tambm permite minerao
de dados. A pesquisa de Maria Ligia Barbosa, acima citada, usou de
maneira intensiva este tipo de sofware. Pode-se empregar em sala
de aula sofwares menos especializados para a anlise de dados, es-
pecialmente programas de planilha, tais como Excel (para usurios
de Windows) e Gnumeric (para usurios de Linux) que permitem
processar dados e fazer descobertas.
3.b) Sofwares de anlise de dados qualitativos
6
, tais como NVivo,
MAXqda, Atlas/ti, e Ethnograph, permitem a anlise sistemtica de
dados, textos e imagens, apresentados em forma digital: vdeos,
jornais, entrevistas, e todo tipo de arquivo digitalizado, inclusive ses-
ses de bate-papo e twiter. Estes sofwares aumentam a objetividade
(entendida como a construo do mesmo tipo de compreenso por
observadores diferentes) de anlises de contedo e potencialmente
reduzem, e muito, o suor tradicionalmente associado anlise de
contedo e de dados qualitativos. Tambm contribuem para borrar
a fronteira tradicional entre pesquisa qualitativa e pesquisa quan-
titativa. No Brasil, o uso destes programas crescente em vrios
cursos universitrios de Cincias Sociais.
3.c) Programas de georreferenciamento. A relao geoespacial na
base de problemas sociais foi, desde o sculo XIX, visto como algo
importante. Na primeira metade do sculo XIX, Guerry e Quetelet
[...] j haviam notado como o crime possui um padro de
distribuio caracterstico ao longo de reas geogrfcas na
Frana. A visualizao espacial de diferentes tipos de crimes
na Frana do sculo XIX mostrou como os crimes contra a
5
importante destacar que no vou tratar aqui de todos os tipos de ferramenta
que so disponveis.
6
Conhecidos em ingls pela sigla CAQDAS (computer assisted qualitative data analy-
sis sofware).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
178
propriedade e contra a pessoa concentravam-se em diferentes
reas geogrfcas. (BEATO; ASSUNO, 2008, p. 12).
Mais tarde, os mapas sero usados para tentar ajudar na com-
preenso do surgimento de doenas, suicdios, resultados de eleies
e outros acontecimentos.
Um exemplo de uma anlise feita usando sofwares de georrefe-
renciamento dado nas pesquisas sobre criminalidade elaboradas
por Cludio Beato e Renato Assuno. Os pesquisadores constru-
ram um mapa da cidade de Belo Horizonte onde cada homicdio
registrado no mapa; zonas quentes so descobertas
[...] de homicdios registrados pela polcia para o perodo en-
tre 1995 e 1998. A anlise da distribuio destas zonas quentes
mostra que existem sete regies que concentram os homicdios
na cidade. Com exceo da regio central, 6 delas constituem
espaos urbanos dominados por favelas. A primeira surpresa
que este tipo de anlise mostra que a condio de ser uma
favela per se no explica a concentrao de homicdios. Nesta
cidade existem pelo menos 85 regies que poderiam ser de-
nominadas como favelas, mas somente seis delas concentram
mais de 20% dos homicdios. A anlise detalhada das regi-
es da cidade classifcadas em distintos estratos, conforme as
condies de qualidade de vida e violncia, ilustram como as
regies violentas tm diversos indicadores ainda piores que as
outras regies pobres, mas no classifcadas como violentas.
(BEATO; ASSUNO, 2008, p. 24-25).
Este tipo de anlise ajuda a derrubar hipteses que prope
uma ligao mecnica entre pobreza e crime, e tambm servem para
reorientar polticas de combate ao crime.
Exer c ci o 5
3.d) Programas de inteligncia social artificial
O desenvolvimento da inteligncia social artifcial (ISA) def-
nido como a aplicao de tcnicas de inteligncia mecnica a fen-
menos sociais inclusive construo de teoria e anlise de dados
(BAINBRIDGE, 1994). Duas reas de pesquisa emprica nas Cincias
Humanas, onde a ISA foi desenvolvida nos ltimos anos, so estudos
sobre organizaes complexas e atores econmicos.
179
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Hoje a ISA promete, fascina e at amedronta. Amedronta porque
se temem as enormes capacidades de controle social que o desen-
volvimento destes programas pode trazer. Os resultados alcanados
at agora parecem parcos. Amanh, como em todas as reas do co-
nhecimento, saberemos quais de suas promessas eram infundadas
e quais medos irreais.
Trabalho em grupo distncia
O advento da internet facilitou o trabalho coletivo de pesquisa-
dores que esto separados no espao. Neste novo contexto, a coope-
rao de cientistas profssionais em projetos, tanto nacionais quanto
internacionais, pode aumentar sem grandes aumentos de custos.
No curso das minhas pesquisas empricas no Ensino Mdio
brasileiro,
[...] vi professores organizando sesses de bate papo com alu-
nos em outros pases e como consequncia seus alunos desen-
volvem compreenses de elementos do dia a dia dos outros
que difcilmente teriam sido desenvolvidas sem o uso da in-
ternet.... Com frequncia os alunos valorizam sesses de bate
papo fora do contexto escolar como sendo uma maneira de
conhecer novas pessoas e realidades. (DWYER, 2003, p. 218).
Imagens transmitidas pela televiso so sempre sujeitas in-
terpretao, e a interpretao jornalstica apresentada no Sudeste
do Brasil, por exemplo, pode ser diferente da interpretao de tes-
temunhas oculares, jornalistas ou blogueiros da regio de origem;
desta maneira, sob a orientao do professor, os internautas con-
seguem construir uma viso alternativa dos eventos. Intercmbios
entre alunos podem permitir o desenvolvimento de uma capacidade
de compreender que o mesmo tipo de problema social vivido, por
exemplo, em Santarm, Par, pode ser vivido em outro contexto
social, de maneira inteiramente diversa. Este tipo de experincias
de intercmbio entre alunos, em diversos pontos do pas, desafa o
professor a ensinar aos alunos a importncia, para a construo do
conhecimento, do mtodo comparativo.
O trabalho em grupo a distncia permite aos alunos comple-
mentarem reportagens jornalsticas, com representaes do senso
comum, de lderes polticos, religiosos etc. Nestes casos, o desafo
para o professor explicitar as diferenas entre as diversas repre-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
180
sentaes e demonstrar como elas podem servir, junto com dados
de outras fontes, para construir compreenses sociolgicas.
Alguns limites desta discusso
possvel usar, de maneira sistemtica, os recursos da internet
para saber mais sobre diversos fenmenos sociais no mencionados
ao longo deste texto, tais como: corrupo, crime organizado, elei-
es, terrorismo, aquecimento global, sociabilidade, ONG, pedoflia
etc. Estas e tantas outras dimenses da vida social que no foram
tratadas neste texto podem ser pesquisadas com o apoio de recursos
www. importante relembrar que, apesar da fora das TIC, estas
no criam, por si s, ideias novas. preciso saber interpretar os da-
dos colhidos, e a atividade de interpretao e de teorizao uma
atividade conduzida por seres humanos. Acredito que a aquisio
das capacidades de coleta e de anlise de informaes, destacadas
ao longo deste texto, ter um papel fundamental na transformao
dos alunos de hoje em cidados bem informados amanh.
Concluso
A incorporao das TIC nas Cincias Sociais brasileiras e no
Ensino Mdio abre uma janela a partir da qual podemos traar novas
alternativas de desenvolvimento de ensino, pesquisa e divulgao.
Diferente do que certos comentadores, presos da ideologia do deter-
minismo tecnolgico, sugerem, a penetrao das TIC nas escolas parece
reforar a importncia do papel do professor. O professor tem um papel
fundamental de ensinar aos jovens a compreender melhor o mundo
ao redor e a se preparar para enfrentar no apenas o mercado de
trabalho, mas tambm a serem capazes de analisar e opinar sobre
as grandes questes levantadas no Brasil e no mundo, ou seja, se
transformarem em cidados bem informados.
Exer c ci o 1
Wanderley Guilherme dos Santos (1985) observou que a pro-
poro da populao economicamente ativa no Pas que trabalhava
no campo declinou de 45% em 1970 para 30% em 1980, e tambm
que o nmero de assalariados entre os trabalhadores no campo
tinha crescido rapidamente em termos absolutos e proporcionais.
Este fenmeno acompanhou um forte aumento do investimento em
181
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
tecnologia. Ele previu, baseado no pressuposto que as polticas da
poca fossem mantidas, que at o fnal da dcada de 1980, o traba-
lhador por conta prpria seria uma categoria tendente a diminuir.
7
Perguntas
Qual a situao hoje do campo brasileiro? Quais so os im-
pactos polticos da mudana da estrutura de emprego no campo?
Identifcar algumas hipteses no texto de Wanderley Guilherme dos
Santos e verifcar o que aconteceu.
No texto, o autor sugere a adoo de determinadas polticas
pblicas. Qual a importncia de anlises e hipteses elaboradas
por cientistas sociais para governantes? Por que governantes pedem
conselhos a cientistas sociais?
Para que serve uma tabela? O que diz uma tabela? Aprenda a
construir uma tabela. Escolha uma ou algumas tabelas ou os dados
contidos no artigo, pesquise no stio do IBGE (e outras agncias) para
buscar os dados atuais sobre o tema. Formate uma tabela em Excel
(ou outra planilha informatizada), introduza os nmeros, calcule
porcentagens e depois desenhe grfcos para esclarecer tendncias.
Qual grfco mais til para visualizar o contedo da tabela? H
tendncias a serem observadas? Todos os dados obedecem s mes-
mas tendncias? Seno, quais outras tendncias podem ser observa-
das? Formule uma explicao para as diferenas observadas.
8
Exer c ci o 2
Quando Wanderley Guilherme fala de certa evoluo observa-
da no sistema educacional, ora ele lana hipteses sobre o papel da
educao na economia de um Pas, discute a questo racial e recorre
a teorias de mdio alcance para construir hipteses. Observa-se que
simultaneamente reduo do analfabetismo (de 56,96% em 1940 a
25,50% em 1980), ocorreu prtica de igualizao das oportunidades de
acesso educao fundamental entre homens e mulheres [...]. O mesmo
duplo processo [...] manifesta-se no ensino superior, onde 3,65% de
todos os homens na faixa de 18-24 anos eram classifcados como estu-
dantes universitrios em 1970 contra 4,75% em 1980; entre as mulheres
a participao quase dobrou de 2,84% a 5,11%, fcando maior do que
7
Visite o sitio do IBGE (www.ibge.gov.br ) e verifque se a previso do
pesquisador se realizou.
8
Esta ltima questo sempre a mais difcil a responder, por uma razo simples:
as teorias nos ajudam a compreender o mundo, precisamos delas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
182
a participao masculina. Entre 1970 e 1980, a populao universitria
mais que dobrou. Para capturar a importncia do movimento, o IBGE
inclui pela primeira vez no censo de 1980 uma nova e importante
rubrica o de jovens com estudos ps-graduados, constituindo o em-
brio de um contingente altamente qualifcado cujo papel social ser
posteriormente mencionado (SANTOS, 1985, p. 256-257).
Perguntas
Qual papel o autor previa para este ltimo grupo de pessoas?
Este papel foi cumprido? Seno, qual foi o papel exercido? Por que a
diferena? Quantos so e quais so os papis deste grupo hoje?
9
Para pesquisar a situao atual, o aluno pode se referir s p-
ginas de agncias de emprego, e para capturar a experincia dos
formados, pginas pessoais, comunidades de internet, blogs e outras
fontes... e, eventualmente, realizar entrevistas on-line.
Exer c ci o 3
Empregando os recursos de internet, consulte as estatsticas
sobre o sistema escolar, ou qualquer outro sistema ou organizao
no Brasil. Tente entender o que as estatsticas buscam descobrir, e
por que so colecionadas e quais so suas limitaes. Tente, ao usar
estatsticas, identifcar um problema social, e depois verifcar como
ele pode ser transformado em um problema cientfco, sociolgico,
aberto investigao.
Quais so as limitaes do uso de determinados dados estats-
ticos ofciais disponveis na internet?
Exer c ci o 4
O hacker um dos mais admirados jovens hoje em dia. Para a
gerao do seus professores, os hackers podem parecer como fguras
estranhas e pouco conhecidas. O distanciamento dado pela histria
muitas vezes permite a professores e alunos construir um campo de
entendimento. Acredito que o flme sobre a origem da informtica
na costa oeste dos Estados Unidos, de Martyn Burke, Piratas da In-
formtica, fornece um paralelo histrico que permite pensar alguns
tipos do hacker contemporneo.
9
A resposta deve ser construda, no primeiro momento, em bases de dados...
depois, pode-se pesquisar a bibliografa cientfca on-line (ex.: www.scielo.br
htp://scholar.google.com.br/)
183
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Aps assistir ao filme, descreva os sistemas dos valores dos
protagonistas. O que os une e o que os separa? Se voc leu Max
Weber, responda seguinte pergunta: o filme revela o qu sobre
os valores dos protagonistas (Bill Gates, fundador da Microsoft, e
Steve Jobs fundador da Apple)? Hoje, podemos dizer, graas ao dis-
tanciamento histrico, que estes dois homens tm sido atores fun-
damentais na construo da economia capitalista norte-americana
e mundial e na sociedade de informao. possvel detectar no
filme, uma nova tica de trabalho, parecida com a tica protestante
de Weber? Ou existem vrias ticas em torno do nascimento da
revoluo da informtica?
Por que a inovao to importante na sociedade de informao?
Neste flme, verifque a relao de um e outro no que se refere
a diversas dimenses da vida na poca: msica, dinheiro, drogas,
arte, a Guerra do Vietn etc., para comentar sobre a sociedade ame-
ricana da poca.
Exer c ci o 5
Descarregar o software gratuito Terraview plus (http://www.dpi.
inpe.br); este site possui as principais ferramentas de anlise es-
pacial para construir um mapa de alguma mudana, ao longo do
tempo, usando dados desagregados e sries temporais. Por exem-
plo, no artigo de Wanderley Guilherme dos Santos, vrias dimen-
ses da vida brasileira so examinadas e podem ser atualizados
atravs de pesquisas.
Exer c ci o 6
Enriquecer sua compreenso do texto de Wanderley Guilher-
me dos Santos, inserindo uma pirmide etria brasileira para de-
monstrar a maneira como a queda da taxa de fecundidade alterou
a distribuio da populao. Depois de executar esta tarefa, pegar
os dados por regio/estado e usar Terraview plus para mapear o que
aconteceu ao longo do tempo. Este exerccio pode ser repetido em
todos os casos onde existem dados temporais e espaciais.
Referncias
BAINBRIDGE, W. S. et al. Artifcial Social Intelligence. Annual Review of Sociol-
ogy. v. 20, p. 407-436, 1994.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
184
BARBOSA, M. L. De O. 2009. Desigualdade e Desempenho: Uma introduo a
sociologia da escola brasileira. Belo Horizonte: Argumentum, 2009.
BEATO, C.; ASSUNO, R. Sistemas de Informao Georreferenciadas em Segu-
rana. In: BEATO, C. (Org.). Compreendendo e Avaliando Projetos de Segurana
Pblica. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.
CNDIDO, A. O papel do estudo sociolgico da escola na sociologia educacional.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 1., 1955, So Paulo. Anais... So
Paulo: Sociedade Brasileira de Sociologia, 1955. p. 117-130.
DWYER, T. Secretrios, autores e engenheiros: Ordem e Mudana entre Adoles-
centes Usurios de Computadores. Teoria e Sociedade, Belo Horizonte, n. 2, p.
125-176, 1997.
______. Informatizao nas escolas de ensino mdio: uma refexo sociolgica. In:
RUBEN, G.; WAINER, J.; DWYER, T. Informtica: Organizaes e Sociedade no
Brasil. So Paulo: Cortez, 2003.
______ et al. Desvendando mitos: os computadores e o desempenho no sistema
escolar. Educao & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 101, p. 1303-1328, set./dez.
2007. Disponvel em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302007000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 13 maio 2009.
GOODY, J. Orality and the Advent of Writing. In: HOROWITZ, M. C. (Ed.). New
Dictionary of the History of Ideas. New York: Charles Scribners Sons, 2004. p.
407-411.
SANTOS, W. G. dos. A Ps-Revoluo Brasileira. In: JAGUARIBE, H. et al. Brasil,
Sociedade Democrtica. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1985.
SCHUTZ, A. Fenomenologia e relaes sociais. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.
WEBER, M. A tica Protestante e o Esprito de Capitalismo. So Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2004.
Ar ti gos de j or nal
FALSRIOS roubam dados de usurios do UOL. O Estado de S. Paulo, So Paulo,
15 fev. 2001. p. C3.
HACKERS de Davos queriam abalar infuncia das autoridades. O Estado de S.
Paulo, So Paulo, 12 fev. 2001. p. B7.
HACKERS so presos roubando caixa eletrnico. O Estado de S. Paulo, So Paulo,
14 fev. 2001. p. C3.
185
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Fi l me
PIRATAS da Informtica (Ttulo Original: Pirates of Silicon Valley). Direo: Martyn
Burke. EUA, Warner Home Vdeo, 1999.
Soci ol ogi a e tecnol ogi as de i nfor mao
e comuni cao na sala de aula
Estar conectado aos ltimos acontecimentos do mundo, acessar e trans-
mitir informaes, as mais variadas e possveis, tornou-se uma necessidade
da qual os jovens no abrem mo, ainda que, na maioria das vezes, as
mensagens, recebidas e enviadas, se restrinjam a um nmero reduzido de
pessoas. Comunicaes via internet e celular exercem um fascnio sobre o
imaginrio dos jovens, pelas possibilidades de uso criativo que cada um
desses veculos encerra. O texto de Tom Dwyer analisa como as tecnologias
de informao e comunicao (TIC) se inserem nas experincias dirias dos
estudantes do Ensino Mdio e as consequncias, nem sempre benfcas,
quando seu uso no atende aos princpios ticos. Para os professores, traz
a baila questes presentes no cotidiano da escola, que afetam de perto o
envolvimento dos estudantes com o conhecimento sistematizado ofereci-
do pela educao escolar. O texto convida o corpo docente das escolas a
refetir sobre a formao tica dos estudantes e o uso indiscriminado da
tecnologia de informao nos vrios espaos sociais.
Para iniciar uma aula ou unidade do programa de Sociologia sobre
tecnologias da informao e comunicao, a sugesto analisar a msica
Pela Internet, de Gilberto Gil. Nos versos, termos do ingls tcnico como
web site, home page, gigabytes, hot-link e hacker fazem rima com elementos da
cultura nacional, como jangada, tiete, orix; e com espaos internacionais,
como Gabo, Calcut e Milo; uma proposta de se promover um debate
pela/sobre a rede. Os lugares citados na letra permitem a interdisciplina-
ridade com a Geografa, ao localizar no mapa e analisar a economia dos
pases relacionados. O conceito de globalizao pode ser explorado como
um processo de incluso social, materializado em Helsinque, capital da
Finlndia. E de excluso social, em lares do Nepal, pas pobre do centro
da sia, que no globalizado. Quando possvel, a exibio do clipe dessa
msica para a classe acrescenta o elemento visual anlise.
Os flmes Eu Rob, de Alex Proyas, Inteligncia Artifcial, de Steven
Spielberg, e Blade Runner, o caador de andrides, de Ridley Scot, podem ser
sugestivos para se trabalhar a necessidade de humanizao das relaes
sociais na sociedade contempornea, tendo em vista a supremacia de uma
tecnologia que dispensa contatos face a face. Trechos especfcos de cada um
desses flmes, ao serem trabalhados em sala de aula, favorecem a discusso
sobre a desumanizao do homem, provocada pela perda da individuali-
dade, da sensibilidade, da emoo pela presena da tecnologia.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
186
Um fenmeno de consumo o celular, muitas vezes, utilizado de
modo impertinente e indiscriminado no espao escolar. Uma pesquisa co-
ordenada pelos professores e realizada com os estudantes sobre esse tipo
de tecnologia da comunicao permite compreender, com racionalidade,
e de modo sistemtico, o tipo de encantamento (e suas razes) que o ce-
lular exerce sobre o comportamento dos jovens. Perguntas que abordem
as necessidades de uso criadas por esse aparelho Quem recebe mais
chamadas? Quem faz mais chamadas? Emergncias ou bate-papos? At
onde vai a privacidade nessas ligaes feitas em pblico? , so questes
simples que ajudam professores e estudantes a refetirem sobre o uso do
celular no interior da escola e em espaos pblicos em geral.
Uma prtica caracterstica dos dilogos entre os jovens pela internet
o encurtamento de palavras, substitudas por smbolos ou expresses,
a fm de conferir versatilidade e rapidez aos bate-papos. Entretanto, essa
avidez comunicativa, pode deixar no apenas sequelas na norma culta,
acelerando sua degenerao, ao incorporar, escrita, elementos da lngua
falada e estrangeirismos; pode tambm inibir a capacidade de expresso,
de criatividade, de construo textual de seus usurios, reduzindo-lhes
o repertrio lingustico e temtico. Os jovens, que vo para a escola com
o objetivo de apreender os conhecimentos sistematizados, encontram, na
internet, atrativos para uma linguagem paralela, prpria dos bate-papos
virtuais, capaz de colocar por terra um esforo de anos de ensino e apren-
dizado da Lngua Portuguesa. Aqui, a sugesto desenvolver uma refexo
sobre o tema, abordando as consequncias do uso dessas novas tecnolo-
gias, que vo muito alm da comunicao virtual e, sobretudo, no so
neutras. possvel, tambm, direcionar a discusso para as necessidades
de um mercado de trabalho cada vez mais especializado, que vai exigir
dos candidatos o domnio da lngua ptria.
Diariamente, professores recebem trabalhos que so resultados de
cpias e colagens de textos da internet. Por ser um plgio, tal comporta-
mento demonstra um descompasso na formao tica do jovem, ao consi-
derar natural um estudante assumir a autoria de um material elaborado
por outra pessoa. Esse tema enseja uma refexo em sala de aula sobre o
comportamento tico dos jovens nas diferentes esferas da vida social. A
contribuio da Filosofa bem-vinda para estabelecer a conexo entre o
conceito de tica e a atitude dos jovens nas prticas escolares.
187
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Cultura: um conceito polissmico
Cultura um conceito central nas Cincias Sociais. a ferra-
menta intelectual bsica com a qual se constri a refexo sobre dois
temas vastos e fundamentais: a unidade humana e a diversidade
dos modos de existncia humana. Por meio da refexo sobre esses
dois temas, desenvolveram-se duas grandes acepes do termo. Ar-
ticuladas, essas duas acepes contribuem para formular a viso da
humanidade como unidade que se realiza na diferena.
De um lado, o conceito de cultura, referido no singular, ser-
ve para designar e sintetizar determinadas capacidades e atributos
universais nos seres humanos tais como a imaginao simblica,
a linguagem, a conscincia de si, o raciocnio que distinguem a
condio existencial da humanidade. As Cincias Sociais entendem
que os seres humanos formam uma grande unidade, por conta da
sua capacidade universal de imprimir signifcado a sua experincia, o
que lhes permite produzir, adquirir, transmitir e transformar cultura.
Todas as formas de conduta humana do preparo do alimento
expresso artstica, da vida sexual devoo religiosa, do trabalho
festa so entendidas como construes culturais signifcativas, em
vez de simples respostas a estmulos naturais. Assim, a cultura per-
Captulo 9
Cultura e alteridade
Jlio Assis Simes*
Emerson Giumbelli**
* Doutor em Antropologia. Professor do Departamento de Antropologia da USP.
** Doutor em Antropologia Social. Professor Adjunto da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
188
meia e molda o modo como os seres humanos pensam e agem, em
qualquer dimenso de sua existncia.
De outro lado, referido no plural, o conceito diz respeito va-
riedade das produes humanas formas de pensamento, conhe-
cimento, moral, crena, lngua, costume, cerimonial, arte, produo
material, consumo, organizao social, organizao poltica etc. que
distinguem os modos de vida de grupos humanos e de sociedades
humanas particulares. As Cincias Sociais entendem que as con-
dutas e realizaes humanas, sendo necessariamente construes
culturais, so as mais diversas possveis. Hbitos, costumes, valores
e moralidades; estilos de culinria, roupas, adornos, utenslios e ob-
jetos; prticas relacionadas a namoro, casamento e famlia; religies,
flosofas e saberes; relaes de parentesco, diviso do trabalho e
distribuio de poder; rituais, celebraes e expresses artsticas
todos esses fenmenos que fazem parte da existncia humana so
produtos culturais comparativamente diversos, porque expressam
signifcados especfcos para as pessoas e populaes que os conce-
bem e os vivenciam. Dessa perspectiva, a cultura designa e sintetiza
os aspectos que conferem identidade e especifcidade aos diversos
grupos humanos e sociedades humanas.
O conceito de cultura usado nas Cincias Sociais alarga as refe-
rncias presentes no uso cotidiano da palavra. Nessa acepo mais
comum, a cultura costuma ser associada grande arte e erudio,
designando os produtos mais elevados da sensibilidade artstica e
do refnamento intelectual, os quais exigiriam capacidades supos-
tamente superiores de educao e formao para serem apreciados
e usufrudos.
Esse prprio uso da palavra pode ser rastreado na histria
ocidental. Etimologicamente, cultura um termo de origem latina
ligado a palavras como cultivo e cultivar, exprimindo o sentido ge-
ral de meio capaz de propiciar e moldar o crescimento conforme
aparece em palavras como horticultura e agricultura. Desde o Ilumi-
nismo, tornou-se usual aplicar esse signifcado como metfora para
indicar a formao ampla que seria desejvel para todos os seres
humanos o que, por sua vez, remontava noo de paideia, usada
pelos antigos gregos para referir todas as formas e criaes espiri-
tuais que constituam o tesouro completo da sua tradio. Cultura
compreendia, ento, tudo aquilo que um indivduo deveria adquirir
para se tornar uma pessoa moral e intelectual, no sentido mais pleno
189
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
possvel. Assim que se diz que algumas pessoas tm mais cultura do
que outras. Do mesmo modo, apenas algumas realizaes humanas,
como as artes plsticas, a msica, a literatura, o teatro, o cinema,
costumam ser designadas como propriamente culturais.
Da perspectiva das Cincias Sociais, as capacidades elevadas
de aprendizagem, criao e realizao, implcitas na acepo mais
comum da palavra cultura, so estendidas a todas as produes hu-
manas e condutas sociais, na medida em que elas expressam tanto
a condio existencial distintiva da humanidade a saber, a capa-
cidade de atribuir sentidos sua existncia por meio da aquisio
e do manejo de sistemas simblicos complexos quanto as formas
sociais e histricas diversas pelas quais essa existncia se realiza.
A linguagem presta-se bem para ilustrar esse ponto de vista
geral. As lnguas so criaes culturais complexas, que todos os seres
humanos so capazes de aprender e manejar. A lngua a chave para
a transmisso e reelaborao da cultura. Ao mesmo tempo, aprender
uma lngua mais do que adquirir um instrumento de comunicao.
Cada lngua expresso de uma viso de mundo. A lngua tambm
uma das marcas mais reconhecveis da singularidade de um grupo
humano. A diversidade das lnguas , pois, uma demonstrao cabal
da criatividade humana e da prpria diversidade cultural.
Compreendendo as demais criaes humanas nos mesmos ter-
mos em que compreendemos a linguagem, poderemos nos aproxi-
mar das preocupaes centrais que presidiram ao desenvolvimento
do moderno conceito de cultura nas Cincias Sociais. Na viso da
Antropologia, em particular, a sensibilidade diante da alteridade e da
diferena se expressa na viso da humanidade formada por cultu-
ras distintas, as quais devem ser compreendidas nos seus prprios
termos, segundo suas prprias lgicas. Constituindo o ncleo de
identidade dos agrupamentos humanos, ao mesmo tempo em que
os diferencia uns dos outros, as culturas representam formas criativas
e igualmente legtimas de realizao da existncia humana.
Essa concepo tambm pode ser rastreada na histria ocidental.
Desde a Antiguidade, viajantes e historiadores tiveram a ateno
atrada pela diversidade de costumes e comportamentos, em que os
valores de um povo eram postos em questo pelo inesperado e pelo
extico. Durante o Renascimento, os contatos dos homens letrados
europeus com os conhecimentos e inovaes tcnicas provenientes
do Mediterrneo Oriental propiciaram grandes viagens de explo-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
190
rao, nos sculos XV e XVI, as quais permitiram cartografar terri-
trios e encontrar povos at ento desconhecidos. Esses encontros
desafaram o entendimento convencional europeu de ento, fosse
por associao a uma sabedoria flosfca antiga ou a uma suposta
inocncia natural perdida.
A obra do flsofo francs Michel de Montaigne (1533-1592)
uma notvel ilustrao dos questionamentos e transformaes pro-
vocadas por esse momento. Em um clebre captulo de seus Ensaios,
intitulado Dos Canibais, publicado em 1580, Montaigne ps em d-
vida a razo e a sensibilidade de seus contemporneos europeus,
ressaltou a variedade e a contingncia dos costumes humanos e fez
o elogio dos povos ditos selvagens nas terras recm-descobertas
da Amrica. Vejamos um trecho:
No vejo nada de brbaro ou selvagem no que dizem daque-
les povos; e, na verdade, cada qual considera brbaro o que
no se pratica em sua terra. E natural, porque s podemos
julgar da verdade e da razo de ser das coisas pelo exemplo
e pela idia dos usos e costumes do pas em que vivemos.
[...] Sou de opinio que o que vemos praticarem esses povos
no somente ultrapassa as magnfcas descries que nos deu
a poesia da idade do ouro, e tudo o que imaginou como
suscetvel de realizar a felicidade perfeita sobre a terra, mas
tambm as concepes e aspiraes da flosofa. (MONTAIG-
NE
, 1980, p. 101-102).
Pensadores como Montaigne exercitavam, sua moda, um pro-
cedimento que permanece central na pesquisa socioantropolgica da
diferena cultural: no apenas descrever e comparar as diferenas
entre valores e costumes sociais, mas tambm olhar seus prprios
valores e costumes segundo o ponto de vista do outro, de modo a
descobrir-se em sua prpria estranheza e reconhecer o prprio parti-
cularismo. O fato da alteridade leva conscincia, quase sempre in-
quietante, de que nosso prprio modo de vida um dentre outros.
Outra referncia especialmente importante para o conceito an-
tropolgico de cultura provm do termo alemo kultur, que se referia
a realizaes intelectuais, artsticas e religiosas que constituam e
expressavam a singularidade de um povo, seu esprito, conforme a
expresso do flsofo e escritor alemo Johan Gotfried von Herder
191
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
(1744-1803). Para Herder, os povos eram profundamente diferentes
entre si. S seria possvel apreender a singularidade de um povo
ou nao mediante a compreenso de um quadro vivo e comple-
to de suas formas de vida, hbitos, desejos. Acrescentava Herder
que devemos comear por sentir simpatia pela nao, se quiser-
mos sentir um s de seus atos ou inclinaes, ou todos eles juntos
(BERLIN, 1982, p. 167).
O pensamento de Herder um marco da reao romntica dos
intelectuais alemes contra a infuncia do Iluminismo, valorizando
a cultura nacional expressa na arte, na flosofa e na literatura, nos
valores espirituais e na expresso das emoes, contra o materialis-
mo, a tecnologia, a burocracia e a polidez superfcial representada
pela noo de civilizao, de franceses e britnicos. Como ressaltou
o socilogo Norbert Elias (1990, p. 25), a orientao do conceito
alemo de cultura, com sua tendncia demarcao e nfase em
diferenas e no seu detalhamento entre grupos, correspondeu ao
processo histrico de reconstituio incessante de fronteiras pol-
ticas e espirituais no qual a nao alem se fazia repetidamente a
pergunta: qual , realmente, a nossa identidade?.
Franz Boas (1858-1942), alemo de origem judaica radicado nos
Estados Unidos, representou o elo entre a tradio romntica alem
e a moderna antropologia cultural. Sua obra elabora a viso de que
cada cultura um modo singular e irredutvel de sentir e de estar
no mundo. Reagindo aos pressupostos racistas de diversas verses
das teorias sobre raa e eugenia de sua poca, Boas argumentou que
as diferenas humanas deveriam ser compreendidas e explicadas
como diferenas culturais. Contrapondo-se s teorias que alocavam
traos culturais em uma escala evolutiva nica, Boas insistiu que as
culturas deviam ser vistas como produtos histricos contingentes,
articulando e fundindo, numa confgurao particular, uma varieda-
de de elementos que se originavam em diferentes tempos e lugares.
Boas (2004) evocava as concepes de tradio e de esprito do
povo, tomadas de Herder, para designar a confgurao de elemen-
tos dspares que exprimia a singularidade de uma cultura.
Formas semelhantes de conceber as culturas como totalidades
foram desenvolvidas na tradio britnica da Antropologia Social,
com uma nfase mais sociolgica e sistemtica. Nessa perspectiva,
cada cultura uma realidade singular, que deve ser vista como uma
totalidade formada pela articulao de diferentes dimenses: organi-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
192
zao social, organizao poltica, ideias e cdigos morais, prticas
e crenas mgicas e religiosas, linguagens e expresses artsticas,
tecnologia e cultura material. E cada costume ou instituio deve
ser compreendido necessariamente em relao totalidade maior
da qual faz parte. Bronislaw Malinowski (1884-1942), antroplogo
de origem polonesa radicado na Inglaterra, foi um expoente dessa
abordagem, aplicando-a nas grandes monografas que escreveu sobre
os povos das ilhas Trobriand (um dos arquiplagos de Papua-Nova
Guin, na Oceania). Abordando pioneiramente temas controversos,
como os valores e costumes relacionados vida sexual, Malinowski
(1983) procurou demonstrar como a sexualidade permeava toda a
vida dos nativos que pesquisara, apresentando-se como uma fora
sociolgica e cultural em diferentes planos da vida nativa: implicava
o amor e o namoro; era o corao de instituies como o casamen-
to e a famlia; inspirava as artes e as magias e era central para as
concepes de moralidade.
As tradies de teoria e pesquisa que remontam a Boas e a
Malinowski deixaram algumas marcas persistentes no pensamento
socioantropolgico contemporneo sobre cultura. A descrio sis-
temtica, baseada na vivncia e na observao direta dos aconteci-
mentos, ainda constitui referncia bsica para o trabalho de campo,
suporte da etnografa. A experincia etnogrfca propiciou o desen-
volvimento de concepes de ao simblica ou de prticas signif-
cantes, nas quais a atividade cotidiana necessariamente remetida
ao repertrio de ideias e valores que lhes confere sentido. Nessa
perspectiva, tambm, o estudo de um item da cultura (uma condu-
ta, um objeto, uma narrativa, um cerimonial) articulada a outras
prticas e representaes que envolvem diferentes dimenses da
vida social. Assim, como no exemplo acima, o estudo da vida sexual
pde relacionar temas de concepo de pessoa, convenes morais,
organizao social, expresso artstica e ritual. Temas particulares
tornam-se, portanto, fatos sociais totais, conforme a expresso
consagrada na tradio antropolgica francesa, de Marcel Mauss
(1872-1950) a Claude Lvi-Strauss (1908-), a qual podemos sinteti-
zar como o esforo de articular mltiplas dimenses da experincia
social por meio dos signifcados postos em jogo (MAUSS, 2003, p.
185-193; LVI-STRAUSS, 1976, p. 11-40).
Reencontramos, pois, a signifcao como um dos aspectos cen-
trais do conceito de cultura. Grande parte do esforo das principais
193
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
correntes tericas na Antropologia na segunda metade do sculo 20
incluindo a anlise estrutural de Lvi-Strauss e a teoria interpretativa
de Cliford Geertz (1926-2006) dedicou-se elaborao desse tema
crucial. Pondo de lado as importantes diferenas presentes nesse
debate, podemos apontar algumas nfases comuns nele produzidas.
As culturas consistem, em grande parte, de sistemas partilhados
de smbolos, como a linguagem, que so veculos de signifcao.
, principalmente, atravs da construo de sistemas classifcatrios
que a cultura propicia os meios pelos quais podemos dar sentido
ao mundo e construir signifcados. A marcao da diferena um
componente-chave de qualquer sistema classifcatrio. Desse modo,
objetos, pessoas, comportamentos, narrativas, rituais etc. no sig-
nifcam nada por si mesmos, mas sim ganham sentido por meio da
atribuio de diferentes posies em um sistema classifcatrio.
Lvi-Strauss (2005) argumentou que os seres humanos orde-
nam o mundo natural e o mundo social atravs de uma lgica do
concreto, valendo-se de elementos comuns em sua vida cotidiana
para construir categorias verbais, por meio das quais estruturam seu
pensamento e sua ao. Em uma formulao clebre, Lvi-Strauss
observou que mesmo aqueles elementos da experincia social que
aparentemente despertam a ateno por seu carter utilitrio foram,
antes de tudo, bons para pensar. preciso ressaltar que a prpria
noo do que til e necessrio depende de um cdigo de signifca-
es culturais. Desse modo se enfatiza a centralidade do mapeamento
simblico para a elaborao do conhecimento e da produo material,
para a orientao da conduta e das relaes sociais, assim como para
a expresso dos sentimentos e das emoes.
A perspectiva interpretativa, por sua vez, insiste que os sig-
nifcados atribudos a objetos, pessoas, comportamentos, narrati-
vas, rituais etc. no decorrem de sua contemplao passiva, mas
dependem do contexto social em que ocorrem e do repertrio de
smbolos e signifcados que mobilizam numa dada situao. Um
mesmo objeto, pessoa ou comportamento pode, portanto, conden-
sar ou superpor signifcados procedentes de diferentes contextos,
possibilitando diferentes leituras de seu sentido (GEERTZ, 1989).
possvel argumentar, a partir da, que a linguagem cultural su-
fcientemente malevel para que a partir dela se articulem pontos
de vista particulares, de modo a expressar compreenses diversas
e divergentes. Os acontecimentos culturais podem ser vistos, assim,
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
194
como realizaes possveis e situadas de sistemas simblicos e cdi-
gos de signifcao. A metfora do jogo pode ajudar a compreender
esse ponto de vista. As regras estruturam o jogo e atribuem signif-
cados a certas aes, mas no defnem o rumo nem o resultado das
inmeras partidas que permitem realizar.
Desse modo, torna-se possvel combinar a viso da cultura
como sistemas simblicos que articulam signifcados com a viso
dos processos pelos quais os signifcados so produzidos, negocia-
dos, reelaborados e atribudos na dinmica da vida social. Valores e
ideias culturais do forma e sentido s prticas sociais, mas tambm
so permanentemente reorganizados nas prticas sociais, abrindo
espao para a criatividade, o improviso e a mudana. Esse tipo
de perspectiva importante para afastar o estudo da cultura das
concepes que remetem a uma tradio cristalizada e homognea
que aprisionaria grupos e povos, como um obstculo mudana.
importante, tambm, para que no se conceba a mudana cultural
em termos de perda das referncias e da autenticidade (DURHAM,
2004). Alguns pontos da prpria abordagem clssica da Antropolo-
gia podem ser recuperados para a crtica das vises que identifcam
cultura com tradio esttica e uniforme.
Boas e seus discpulos j observavam que as culturas eram es-
trangeiras e dspares em suas origens, mas locais em seus arranjos
e modos de padronizao. Isso leva ao ponto fundamental de que a
dinmica e a vitalidade da cultura provm no do isolamento, mas
da permanente interao entre culturas, como ser desenvolvido
mais amplamente na segunda parte deste texto. Por ora, podemos
ilustrar isso recordando a rotina do homem norte-americano ao co-
mear seu dia, na descrio bem-humorada feita na dcada de 1930
pelo antroplogo Ralph Linton (1893-1953):
Acabando de comer, nosso amigo se recosta para fumar, h-
bito implantado pelos ndios americanos e que consome uma
planta originria do Brasil. [...] Enquanto fuma, l notcias do
dia, impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas,
em material inventado na China e por um processo inventado
na Alemanha. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas
estrangeiros, se for bom cidado conservador, agradecer a
uma divindade hebraica, numa lngua indo-europia, o fato
de ser cem por cento americano. (2000, cap. XIX).
195
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Ou, ainda, recorrendo observao irnica do antroplogo Mar-
shall Sahlins (1930-), feita no fnal dos anos de 1990, sobre os receios
de que a instalao de restaurantes norte-americanos de comida r-
pida em Pequim representaria uma fatal americanizao da China:
Temos tido restaurantes chineses na Amrica por mais de
um sculo, e isso no nos tornou chineses. Pelo contrrio:
obrigamos os chineses a inventar o chop-suey. O que poderia
ser mais americano do que isso? French fries? (SAHLINS,
2004a, p. 48-49).
Malinowski e seus discpulos, por sua vez, mesmo desenvol-
vendo preocupaes mais sistmicas, no deixavam de perceber
que a prtica social, mesmo nas sociedades antigamente chamadas
de simples e indiferenciadas envolvia a interao complexa de ato-
res sociais, pessoas e grupos, com suas diferentes interpretaes
de valores e costumes, no contexto assimtrico das relaes de
poder decorrentes em grande parte (embora no exclusivamente)
da conquista e da colonizao. A crescente diferenciao das con-
dies de existncia, que marca as sociedades contemporneas, se
expressa na crescente diferenciao cultural, produzindo novas
realidades sociais em que a politizao das dimenses culturais
alcana o primeiro plano. As diversidades relacionadas etnia, cor/
raa, gnero, sexualidade, religio, gerao, classe constituem-se,
hoje em dia, cada vez mais frequentemente, como manifestaes
de diversidade cultural. Estilos, produes corporais, vestimentas,
preferncias estticas, modos de falar e de agir objetivam atores
sociais por meio de manejos simblicos que selecionam, reorde-
nam e transformam significados, num processo de ampliao da
heterogeneidade e da diferena.
Como observou Marshall Sahlins, agora todos falam de sua
cultura, como um valor a ser vivido e defendido. O prprio sig-
nifcado do conceito antropolgico foi reapropriado pelos diferen-
tes grupos humanos em termos de uma crescente conscincia da
prpria cultura (SAHLINS, 2004b). A luta por identidades prprias
adquiriu mltiplas formas e continua sendo central na vida social
contempornea e tem levado a mudanas no modo como a prpria
identidade nacional tem sido pensada (ver Box). Respeitar e, sobretu-
do, compreender o sentido da expresso das diferenas uma tarefa
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
196
educacional fundamental, e faz com que o conceito de cultura se
mantenha como um instrumento crucial para as Cincias Sociais.
Box:
O patrimnio da diferena (trecho)
No domnio da diferena, a questo da lngua sempre foi sensvel:
provavelmente o trao mais reconhecvel de todo grupo tnico.
H pouco tempo, ainda se proibia falar ou publicar em catalo na
Espanha, com a conseqncia curiosa, alis de que h toda uma
gerao catal que no sabe escrever sua lngua porque apenas a
falava em casa, clandestinamente.
A idia de que cada pas deva falar uma nica lngua faz parte
de uma concepo de Estado do sculo 18, assente em uma nica
comunidade homognea em todos os seus aspectos: religiosos, lin-
gsticos, culturais em geral. Ora, pases como esses so a exceo,
e no a regra. Mas, durante pelo menos dois sculos, tentou-se no
Ocidente dar realidade a essa utopia. No Brasil, no foi diferente.
Em 1755, o marqus de Pombal exigiu o uso do portugus e proibiu
o do nheengatu, um tupi gramaticalizado pelos jesutas e introdu-
zido pelos missionrios na Amaznia.
Nos ltimos 20 anos, a situao mudou consideravelmente: na Cons-
tituio de 1988 se assegura s comunidades indgenas a utilizao
de suas lnguas maternas no ensino fundamental e agora abundam
cartilhas em lnguas indgenas. H alguns anos, o municpio de So
Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, reconheceu quatro lnguas
ofciais, das quais trs so indgenas. E, agora, o IBGE anuncia que
incluir as lnguas indgenas nas perguntas do prximo Censo.
Todas essas iniciativas marcam uma distncia clara da ideologia as-
similacionista de algumas dcadas atrs. A diferena lingstica e
o Brasil tem pelo menos 190 lnguas indgenas passou a ser vista
como patrimnio. Dessas 190 lnguas e dialetos, a grande maioria
falada por menos de 400 pessoas. Ora, a estrutura e a gramtica das
lnguas encerram toda uma viso de mundo: Benveniste mostrou,
por exemplo, que as categorias da flosofa de Aristteles eram as
prprias categorias gramaticais do grego. Calculem os riscos que
corremos. (CUNHA, 2009, p. 9).
Da cultura ao conceito de alteridade a partir de um
clssico
Propomos prosseguir a discusso sobre diversidade cultural
com a ajuda do texto Raa e Histria, de Claude Lvi-Strauss (1973).
197
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
As razes so vrias. Trata-se de um dos textos mais lidos entre
estudantes de Cincias Sociais, e seu autor notabilizou-se como um
dos mais importantes antroplogos na histria da disciplina e
mesmo fora dela. Alis, o texto foi elaborado para ser publicado,
junto com outros, no ano de 1952, em uma coleo da Unesco, en-
to recm-fundada. Lembremos do contexto da poca: ainda sob o
choque dos horrores da II Guerra Mundial, era necessrio, do ponto
de vista de uma instituio como a Unesco, fundamentar e disse-
minar a noo de humanidade no seu sentido universalista, capaz
de abarcar todas as formas de existncia dos seres humanos, sem
discriminaes de qualquer ordem. Dialogando com essa inteno,
o texto de Lvi-Strauss, como veremos, levanta questes que no
perderam validade sobretudo, o desafo da conciliao entre uni-
versalidade e diversidade.
O ponto de partida de Lvi-Strauss o argumento racista, que
afrmava haver base biolgica para explicar diferenas em atributos
psquicos e comportamentos sociais nos seres humanos. Esse argu-
mento reconquistara adeptos no discurso nazista com consequn-
cias trgicas de grande escala e mesmo alm dele, como mostra o
flme Homo Sapiens 1900, de Peter Cohen, sobre debates e prticas
cientfcas nas primeiras dcadas do sculo XX. A prpria Antropolo-
gia, ainda no sculo XIX, ajudara a construir esse argumento e a lhe
dar estatuto de cincia. Lvi-Strauss no v necessidade de refut-
lo, deixando essa tarefa a outros autores da coleo da Unesco. O
que lhe preocupa o fato de que, mesmo refutado o argumento
racista, persiste, aos olhos de um observador comum, a impresso
da diversidade. Se somos todos parte de uma mesma humanidade,
como explicar as diferenas que existem entre os povos, sobretudo
quando consideradas as suas histrias?
Lvi-Strauss nota que a noo de humanidade uma conquis-
ta recente no pensamento ocidental (consolidada nas ideias iluminis-
tas do sculo XVIII) e que no constitui, por si s, um impedimento
para a reiterao de uma atitude muito disseminada: a recusa da-
quilo que se afasta do modo de vida com o qual nos identifcamos.
Essa atitude corresponde ao que se conhece na Antropologia por
etnocentrismo. Podemos dizer que a preocupao central do au-
tor de Raa e Histria discutir um modo de etnocentrismo que
se associa com a noo de progresso. Da a pergunta que retoma a
formulao do pargrafo anterior: Se no existem aptides raciais
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
198
inatas, como explicar que a civilizao desenvolvida pelo homem
branco tenha feito os imensos progressos que ns conhecemos [...]?
(LVI-STRAUSS, 1973, p. 11).
Falar em progressos implica necessariamente em supor a existn-
cia de desigualdades entre os povos, uns mais adiantados e outros
mais atrasados. Em outras palavras, signifca hierarquizar esses povos
segundo uma linha de evoluo. A primeira observao de Lvi-
Strauss sobre esse argumento consiste em revelar a complementari-
dade entre hierarquizao e equalizao. Ou seja, se por um lado o
argumento evolucionista afrma a existncia de diferenas entre os
povos, considerando alguns primitivos por oposio aos civilizados,
por outro lado, ele no deixa de ser uma negao da alteridade.
Afinal, o pressuposto o de que a histria da humanidade siga
sempre o mesmo trajeto; os povos apenas so diferentes pelo fato
de se situarem em pontos distintos dessa mesma trajetria.
Argumentos evolucionistas ou ao menos seus pressupostos
ou suas lgicas continuam a ser correntes em muitas expresses
de senso comum. Toda vez que usamos o termo primitivo para fa-
zer referncia a um modo de vida, acentuando provavelmente sua
tecnologia rudimentar, estamos compartilhando daqueles pressu-
postos e lgicas. Uma das razes que torna o texto de Lvi-Strauss
to atual exatamente essa, reconhecida que sua principal preocu-
pao discutir a noo de progresso. No para desconsider-la
totalmente, mas para lhe propiciar um entendimento que recuse a
hierarquizao das culturas. O ponto de partida, ento, so os fun-
damentos dessa hierarquizao, algo que envolve a suposio de
certas relaes entre a cultura dita civilizada, por um lado, com seu
prprio passado remoto, e por outro, com culturas contemporneas
diferentes dela.
Com efeito, o que o argumento evolucionista afrma o seguin-
te: os povos que hoje utilizam tecnologias primitivas permitem aos
civilizados saberem como seus prprios antepassados viveram. Um
exemplo: o modo de vida de um povo indgena amaznico de hoje
ilustraria adequadamente como viviam os antepassados do homem
ocidental h dez mil anos atrs. A isso Lvi-Strauss responde com
uma objeo lgica: a semelhana que pode existir entre um aspecto
da existncia de dois modos de vida no permite sustentar uma iden-
tifcao total entre eles. Ou seja, verdade que existem semelhanas
entre os artefatos de pedra utilizados por um amerndio e por um
199
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
antepassado neoltico; mas isso no signifca que eles sejam obtidos
da mesma forma ou que sirvam aos mesmos propsitos. Como ento
tirar maiores consequncias daquela semelhana para domnios que
se referem organizao social e viso de mundo?
Lvi-Strauss levanta essa objeo em uma parte de seu texto
que busca esclarecer a relao entre o evolucionismo cultural e o
evolucionismo biolgico. Pois os proponentes do primeiro dizem
muitas vezes se fundamentar no segundo. Isso signifca, segundo
Lvi-Strauss, desconsiderar duas coisas. A primeira que o argu-
mento evolucionista aplicado histria humana forjado desde
pelo menos o sculo XVIII anterior ao darwinismo do sculo
XIX. A segunda novamente de ordem lgica. O paleontlogo que
reconstri a evoluo de uma determinada espcie pode afrmar
a existncia de vnculos biolgicos entre manifestaes mais antigas
e outras mais recentes; esses vnculos biolgicos no podem existir
entre uma pedra polida e uma pedra lascada. O evolucionismo cul-
tural se utiliza de uma inspirao indevida e acaba por eliminar a
atividade humana que elaborou e se apropriou daqueles artefatos.
A discusso com o darwinismo estimula ainda outra observao
de Lvi-Strauss, voltada dessa vez maneira de conceber o passa-
do dos autoproclamados civilizados. muito comum imaginar esse
passado como se fosse a ascenso de uma escada, as invenes e
conquistas dispostas como uma srie contnua e regular de progres-
sos. Lvi-Strauss sugere que esse trajeto seja visto como constitudo
de mutaes. apenas retrospectivamente que a linearidade aparece,
o presente sendo sempre incerto quanto aos seus resultados. Mas
se trata de mutaes tambm no sentido de rupturas em relao
aos pontos anteriores, de modo que os avanos signifcam tambm
perdas. No perdemos a habilidade de calcular mentalmente quando
passamos a utilizar mquinas que fazem isso por ns?
H nessa observao do autor um componente relativista que
acentuado em um dilogo com outra cincia, dessa vez a fsica eins-
teniana. Lvi-Strauss pede que pensemos na situao de dois trens
em relaes variveis: para o viajante em um dos trens, o que ver
do outro depender exatamente daquelas relaes. A situao das
culturas seria semelhante: a cultura na qual viajamos, dependendo de
suas caractersticas, nos permitir distinguir apenas certos aspectos
de outras. Lvi-Strauss conclui que temos a tendncia de reconhe-
cer e de apreciar, em outras culturas, aspectos que so valorizados
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
200
na nossa, recusando ou desconsiderando outros. Assim, quando
louvamos as conquistas tcnicas de outras civilizaes, podemos
estar esquecendo que o aspecto tecnolgico no constitui o mais
valorizado entre elas. Por exemplo, h modos de vida nos quais
a maior parte do tempo dedicada a festas e rituais e no ao que
consideraramos atividades produtivas. Levado s suas devidas conse-
quncias, isso invalidaria qualquer tentativa de hierarquizao das
culturas, uma vez que esta s possvel pelo privilgio a critrios
que correspondem a valores particulares.
Mas Lvi-Strauss no se contenta em sugerir essa teoria da
relatividade generalizada. Pois ele enfrenta um argumento de fato,
muito forte no contexto em que escreve seu texto: longe de recu-
sarem o modo de vida civilizado, ele admirado e buscado por
outros povos e sociedades. O desenvolvimento aparecia como ideal
generalizado em um mundo dividido em novas e antigas naes.
Lvi-Strauss nota que essa admirao e essa busca so o resultado
de uma imposio exercida numa relao de foras desiguais. Mas
ele admite que isso apenas desloca a questo. Ou seja, o que permi-
tiu essa desigualdade de foras, por meio da qual certos povos se
afrmaram superiores a outros? Nesse ponto, a discusso converge
com uma ideia importante do autor, a de histria cumulativa. Se
verdade que todos os povos possuem histria, no menos verdade
que a vivem distintamente. H, por um lado, momentos em que a
atividade humana produz resultados que se mantm prximos dos
pontos de partida; por outro, momentos em que a atividade huma-
na produz resultados que constituem uma sntese ou uma reao
em cadeia, que acumula os achados e as invenes para construir
grandes civilizaes (LVI-STRAUSS, 1973, p. 36).
Lvi-Strauss considera que houve duas grandes revolues,
que singularizam episdios de histria cumulativa, articulando
mudanas tecnolgicas e sociais. A primeira delas a chamada re-
voluo neoltica (em meio qual surgiram a agricultura, a criao
de gado, a olaria, a tecelagem), ocorrida h cerca de 10 mil anos
entre os antepassados de vrias civilizaes. Ocorre que essa pri-
meira revoluo rene tecnologias que so dominadas pela grande
maioria dos grupos humanos, inclusive os chamados primitivos, de
modo que no se pode utiliz-la para traar as distines exigidas
pelo evolucionismo cultural. Lvi-Strauss aproveita essa observao
para refutar argumentos correntes sobre as tecnologias primitivas.
201
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Referindo-se, por exemplo, olaria, ele demonstra a complexidade
e a diversidade de tcnicas nela envolvidas, afrmando que qual-
quer tecnologia resultado de empenho, investimento intelectual
e conhecimento do ambiente.
A segunda revoluo apresenta um desafo maior. Trata-se da
revoluo industrial, entendida como o conjunto de transformaes
ocorrido nas sociedades europeias e norte-americanas desde o sculo
XVIII. Como Lvi-Strauss admite a importncia desse fato civiliza-
cional e ao mesmo tempo destitui a pretenso daquelas sociedades
se apresentarem como superiores? Considerando a raridade dos
momentos de histria cumulativa, ele vai mostrar que, desde a
descoberta das Amricas, o continente europeu reuniu condies
nicas para efetivar uma sntese tecnolgica e social. Por qu? Pelo
fato de que se constituiu em ponto de encontro de infuncias nu-
merosas e diversas as que vinham de seu passado prprio e as
que derivavam de contatos com outras partes do mundo. A Europa,
portanto, longe de obter sozinha suas conquistas, benefciou-se de
relaes que envolveram muitos outros povos.
Lvi-Strauss recorre imagem de um jogo de apostas para
teorizar a soluo que acabamos de apresentar. Sugere, com isso,
que vejamos cada uma das culturas como jogadores que apostam
seguindo suas escolhas prprias. Em outro plano, essas jogadas
acabam se relacionando, voluntria ou involuntariamente, por meio
de migraes, circuitos culturais, trocas comerciais, guerras etc. Para
o autor, quanto mais numerosas e mais variadas forem as culturas
em contato, maiores as chances de ocorrerem as snteses e reaes
em cadeia que caracterizam as revolues. Assim, a histria cumu-
lativa no seria atributo de determinados povos, mas o resultado de
coligaes entre eles. Se isso est correto, no faria sentido pensar
que noo de civilizao mundial corresponderia uma sociedade
ou uma cultura concretas. Ao contrrio, a existncia perene de so-
ciedades e culturas distintas pelo desvio diferencial que oferecem
entre si que asseguraria a possibilidade da civilizao.
Lvi-Strauss desafa, desse modo, certos modos bem arraigados
de conceber a relao entre o universal e o particular. Ao invs de
pensarmos em um patrimnio comum composto pelas contribui-
es de grandes grupos tnicos, somos convidados a vislumbrar for-
mas de coexistncia entre culturas, as quais continuaro a se manter
diversas. Um argumento semelhante aparece quando Lvi-Strauss
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
202
comenta as razes dessa diversidade. Somos tentados a achar que
os povos so diferentes em funo da falta de contato entre eles.
Mas isso s consegue explicar parte da situao e desconsidera a
constatao de que o isolamento mais a exceo do que a regra na
vida de qualquer grupo. Ento, ao lado das diferenas devidas ao
isolamento, existem aquelas, tambm importantes, devidas proxi-
midade: desejo de oposio, de se distinguirem, de serem elas pr-
prias (LVI-STRAUSS, 1973, p. 18). O autor sugere, a partir disso, a
existncia de foras opostas e complementares dentro de cada grupo
particular e da humanidade como um todo: foras de convergncia
e unifcao e foras de particularizao e diversifcao.
O equilbrio entre essas foras uma condio necessria para
a existncia dos grupos, mas pode constituir tambm um dilema.
Assim, Lvi-Strauss reconhece que a intensifcao dos contatos que
aumentam as chances de snteses revolucionrias tambm produz
resultados que diminuem os desvios diferenciais entre os grupos
envolvidos. Para remediar essa consequncia, duas respostas teriam
ocorrido na histria recente. De um lado, a afrmao de diferenas
internas a cada grupo, por meio, por exemplo, de desigualdades so-
ciais. De outro, a anexao de novos jogadores, o que preservaria a
diferena no plano externo. Capitalismo e imperialismo resumiriam
as duas solues. Lvi-Strauss considera ambas provisrias e admite
como insolvel o dilema da produo de homogeneidade a partir da
heterogeneidade. Termina seu texto com uma recomendao s ins-
tituies internacionais: cabe-lhes o direito e o dever de zelar pela
diversidade, sem ceder tentao da preservao pura e simples do
que j existe, nem da criao de um patrimnio nico comum.
Podemos deixar que Lvi-Strauss nos acompanhe ainda, levan-
tando algumas questes formuladas em dilogo com nossa situao
atual. Comecemos notando que um dos desafos da flosofa poltica
contempornea a desvinculao entre desigualdade e diversidade.
Ou seja, como construir um ordenamento que respeite o princpio da
igualdade social e ao mesmo tempo permita a expresso de modos
de vida e vises de mundo muito diferentes? Diante desse ideal,
poder-se-ia condenar a confuso que Lvi-Strauss estabelece quando
sugere que a diversidade pode ser mantida por meio da afrmao
de desigualdades como o capitalismo e o imperialismo. Tambm
temos difculdades em aceitar que as coligaes entre povos po-
dem tomar a forma de guerras ou de relaes coercitivas. preciso
203
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
notar, no entanto, que Lvi-Strauss no assume uma perspectiva
moral sobre essas questes. Com exceo dos ltimos pargrafos,
nos quais faz recomendaes, o que lhe interessa apresentar cons-
tataes. O que nos importa reter delas exatamente a possibilidade
de que diversidade e desigualdade sendo idealmente dissociveis
podem se articular na realidade emprica. Logo veremos algumas
ilustraes disso.
Mais questionvel a expectativa que Lvi-Strauss deposita nas
tais instituies internacionais, que hoje nos pareceria claramen-
te mal proporcionadas. A observao do mundo atual, alm disso,
prova que um dos receios do autor no se realizou. Entramos aqui
no debate sobre os sentidos e consequncias da assim chamada
globalizao. fcil constatar que a intensifcao dos processos de
homogeneizao no implicou em uma subtrao da heterogenei-
dade. Em outras palavras: assistimos a convivncia entre, por um
lado, o compartilhamento e a circulao de objetos e referenciais
que se tornam acessveis em muitos pontos do planeta e, por outro,
a reiterao ou a emergncia de distines entre grupos dos mais
diversos tipos. Mencionaremos alguns exemplos abaixo. Lvi-Strauss
talvez no pudesse ter imaginado a multiplicidade dos caminhos
pelos quais a diversidade se reafrma mesmo em tempos de intensa
globalizao. Que assim acontea, de todo modo, confrma a sugesto
do antroplogo de que unifcao e diversifcao sempre convivem
e de que a diversidade menos funo do isolamento dos grupos
que das relaes que os unem (LVI-STRAUSS, 1973, p. 18).
Os exemplos seriam interminveis (THOMAZ, 1995). Em um
plano mais geral, viu-se que o colapso do chamado socialismo real
(bloco comandando pela potncia sovitica) proporcionou no sim-
plesmente a expanso do capitalismo. Essa expanso vem se fazendo
por caminhos inusitados, como a consolidao e surgimento de po-
tncias econmicas orientais, criando algo curioso, como a produo
de artigos ocidentais por trabalhadores chineses. Alm disso, nas
ltimas dcadas, tornam-se comuns mobilizaes em torno de causas
tnicas. O termo evidencia a presena de um componente cultural
para sustentar reivindicaes de autonomia. Ou, inversamente, para
apoiar ataques muitas vezes violentos a minorias de vrios tipos.
Lembremos das guerras na regio da ex-Iugoslvia na dcada de
1990 e dos confitos em pases africanos. Mais globalmente, o 11 de
setembro se tornou uma espcie de cone de um novo embate, que
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
204
pe em jogo um Ocidente assolado por um terrorismo descrito com
uma face religiosa e, portanto, cultural. Mas, tanto o Ocidente
quanto os seus supostos inimigos esto globalizados.
Podemos encontrar tambm em um plano mais cotidiano a con-
juno entre unifcao e diversifcao. O ambiente escolar oferece
uma situao interessante. Em alguns pases, o embate entre o Oci-
dente e seus outros se manifesta diretamente nos debates e medidas
acerca do uso do vu pelas alunas. Uma pequena pea de roupa
capaz de articular dimenses que passam por questes de gnero,
de identidade religiosa e de polticas de imigrao. O vesturio
dos estudantes, alis, parece ter se tornado um tema candente em
qualquer escola inclusive nas escolas brasileiras. Mesmo o uso de
uniformes no consegue apagar as marcas de afrmaes simblicas
que podem ser importantes na vida dos jovens. O porte de certas
peas ou adereos revela ou proclama o pertencimento do jovem a
um lugar de moradia ou a uma tribo musical. A pea ou o adereo
traz frequentemente uma etiqueta de marca globalizada, mesmo
que seja falsifcada, e, em todo caso, no impossibilita modifcaes
pessoais em funo de pertencimentos coletivos. Em se tratando da
articulao entre cotidiano e questes planetrias, alguns flmes so
especialmente sensveis, como Babel (ver Box).
O que nos importa destacar nessas situaes feitas de unifca-
o e diversifcao, homogeneidade e heterogeneidade, pode ser
resumido em dois comentrios. O primeiro tem a ver com o modo
de lidar com a dimenso cultural que est presente nessas situaes,
seja sob a forma do tnico, do religioso, do racial e mesmo do gosto
pessoal. Pois se, por um lado, essa presena essencial, e deve ne-
cessariamente ser considerada para o entendimento do que se passa,
por outro, no se trata de autonomiz-la. Autonomizar a dimenso
cultural signifca conferir-lhe sozinha um poder explicativo. Mas
cabe notar que a cultura um componente de situaes complexas,
que so complexas exatamente porque fazem interagir mltiplas
dimenses. aqui que, muitas vezes, vemos novamente a relao
entre diversidade e desigualdade, pois marcas culturais podem estar
articuladas com posies de valor social, poltico, econmico etc. A
cultura importante no porque explique qualquer coisa, mas porque
compe realidades complexas.
O segundo comentrio tem a ver com a noo de alteridade. Os an-
troplogos de origem europia, no comeo do sculo XX, aprenderam
205
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
a encontrar e a entender a alteridade em situaes remotas, nas quais
ela parecia evidente. Hoje, muitos antroplogos, de diversas partes
do mundo, tm sua refexo provocada por situaes semelhantes
quelas evocadas aqui. Tais situaes os obrigam a reconhecer outra
evidncia, ou seja, a conexo, virtual e efetiva, entre grupos, povos
e sociedades. Isso, ao contrrio de anular a noo de alteridade, lhe
confere uma validade talvez mais profunda. Pois ela se afrma ou se
reconstitui mesmo em meio ao mximo de conexes. Trata-se ento de
ver a alteridade como constitutiva do humano, cabendo-nos entender
as formas que assume em situaes muito variadas.
Box
Babel, 2006, filme de Alejandro Gonzlez Irritu
Filme idealizado e dirigido por um mexicano e realizado por uma
empresa hollywoodiana, Babel no tem narradores e sim dilogos
que se processam em muitos idiomas, correspondendo aos seus trs
cenrios: vilarejos e aldeias no deserto do Marrocos, uma cidade
americana na fronteira com o Mxico, uma metrpole japonesa. Um
rife conecta esses trs cenrios. A brincadeira de crianas pastoras
com o rife causa um acidente que envolve turistas ocidentais em
viagem pelo deserto. A mulher ferida me de duas crianas ame-
ricanas que fcam sob os cuidados de uma empregada mexicana.
No encontrando com quem deixar as crianas, a empregada as leva
para o casamento do flho do outro lado da fronteira. No Japo,
um policial busca pelo dono do rife que fora parar no Marrocos
em uma expedio de caa. Encontra a flha desse caador, que
surda, envolvida em dilemas juvenis. O flme trata de passagens:
viagem de turismo em regio remota, festa familiar em pas vizinho,
incurses por ambientes constitudos de sons. Trata tambm de
fronteiras, de vrios tipos, que articulam diversidade e desigual-
dade. O tiro disparado por brincadeira facilmente interpretado
como indcio de terrorismo; o retorno aos Estados Unidos, sem
os devidos documentos, gera suspeitas de maus-tratos e ocasiona
uma deportao; a busca de expresso sem o intermdio da voz
gera freqentemente incomunicabilidade dentro da prpria casa.
Babel, em suma, um flme sobre perdas e encontros, mortes e re-
nascimentos, passagens e fronteiras, conexes e distanciamentos.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
206
Referncias
BERLIN, Isaiah. Herder e o Iluminismo. In: ______. Vico e Herder. Braslia, DF:
Ed. UnB, 1982. (Pensamento Poltico). p. 167.
BOAS, Franz. Antropologia cultural. Organizado por Celso Castro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2004.
CUNHA, Manuela Carneiro da. O patrimnio da diferena. Folha de S. Paulo, So
Paulo, 12 jul. 2009. Suplemento Mais, p. 9.
DURHAM, Eunice Ribeiro. A dinmica cultural na sociedade moderna. In: ______.
A dinmica da cultura. So Paulo: Cosac & Naify, 2004. Cap. 7.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
GEERTZ, Cliford. Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa. In:
______. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. Cap. 9.
LVI-STRAUSS, Claude. A cincia do concreto. In: ______. O pensamento selvagem.
So Paulo: Papirus, 2005. Cap. 1.
______. O campo da antropologia. In: ______. Antropologia estrutural dois. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. Cap. 1, p. 11-40.
______. Raa e Histria. Lisboa: Presena, 1973.
LINTON, Ralph. A difuso. In: ______. O homem: uma introduo antropologia.
So Paulo: Martins, 2000. Cap. XIX.
MALINOWSKI, Bronislaw. A vida sexual dos selvagens. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1983.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a ddiva. In: ______. Sociologia e antropologia. So
Paulo: Cosac & Naify, 2003. Introduo, p. 185-193
MONTAIGNE, Michel de. Dos canibais. In: ______. Ensaios. So Paulo: Abril Cul-
tural, 1980. (Os Pensadores). Livro I, cap. XXXI, p. 101-102.
SAHLINS, Marshall. Esperando Foucault, ainda. So Paulo: Cosac & Naify, 2004a.
p. 48-49.
______. O que iluminismo antropolgico?. In: ______. Cultura na prtica. Rio de
Janeiro: Ed. UFRJ, 2004b. Cap. 15.
THOMAZ, Omar Ribeiro. A antropologia e o mundo contemporneo: cultura e
diversidade. In: SILVA, A. L. da; GRUPIONI, D. (Org.). A Temtica Indgena na
Escola. Braslia, DF: MEC/Mari/Unesco, 1995. p. 425-441.
207
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Cul tur a e al ter i dade vistas em sala de aula
O texto de Julio Assis Simes e Emerson Giumbelli analisa o conceito
de cultura sob o ponto de vista da Antropologia Social e tem como preo-
cupao central a interpretao da vida em sociedade, a compreenso do
modo como se organizam os diferentes grupos humanos. Essa caracteriza-
o necessria e fundamental para que discusses desenvolvidas em sala
de aula no assumam rumos diferentes daqueles propostos pela cincia
Antropologia, uma vez que o termo cultura abriga uma srie de signifca-
dos utilizados em diferentes reas do conhecimento. Os autores propem
o desenvolvimento da sensibilidade frente alteridade e diversidade,
prprias das culturas humanas. O aprendizado de que cada cultura possui
uma lgica prpria fundamental para que o carter antropolgico do texto
no se perca frente a variaes de signifcado que o termo encerra.
Logo nos primeiros pargrafos, os autores chamam ateno para a
articulao entre cultura no singular, que sintetiza as caractersticas uni-
versais dos seres humanos; e cultura no plural, que diz respeito s par-
ticularidades de cada um desses grupos. O cuidado com essa distino
por parte dos professores do Ensino Mdio importante para os jovens
entenderem que a concepo de diferena totalmente distinta da concepo
de desigualdade. Cultura singular e cultura plural que tornam possvel
pensar a humanidade como uma unidade, e isso precisa fcar claro para o
trato acadmico que o tema requer.
A proposta para se trabalhar essas questes em sala de aula parte,
inicialmente, da observao dos prprios estudantes como grupos huma-
nos que so plurais, na medida em que guardam suas particularidades;
e singulares, uma vez que sintetizam o que h de universal nos seres
humanos. Aps a constatao das diferenas e universalidades existentes
na prpria classe, a ateno dirigida a outros espaos como o bairro
da escola ou mesmo o municpio. Esse trabalho de observao, contudo,
requer o cuidado de uma investigao etnogrfca, o que inclui observao
criteriosa e anotaes dos dados sobre os grupos observados. A orientao
do professor essencial para que esse tipo de atividade cumpra os obje-
tivos propostos, ou seja, a construo do conceito de cultura a partir da
vivncia dos prprios estudantes.
Os diferentes signifcados do termo cultura podem gerar confuses,
principalmente se o propsito reforar seu carter antropolgico. Conhe-
cer os vrios signifcados do termo enriquece o vocabulrio, na medida
em que outras reas do conhecimento so referenciadas a partir de cada
defnio. Antes de iniciar o estudo antropolgico da cultura, a proposta
para os estudantes pesquisar as diferentes reas do conhecimento em
que o termo utilizado, com seus respectivos signifcados.
As possibilidades de trabalho docente em torno do termo cultura, como
contedo antropolgico, so inmeras. Filmes de produo recente, como
Babel, sugerido pelos autores, podem ser to atrativos e esclarecedores das
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
208
diversidades culturais como, por exemplo, Balada de Narayama, dirigido por
Shohei Imamura, sobre a tradio de algumas regies do Japo, do fnal
do sculo XIX, quando os moradores, ao completarem 70 anos de idade,
subiam a montanha que d nome ao flme e, solitrios, esperavam a hora de
morrer. Muitos outros flmes, ou mesmo trechos deles contribuem para o
entendimento do conceito antropolgico de cultura e das demais concepes
que dele se originam. Guerra do Fogo, dirigido por Jean-Jacques Annaud,
faz parte das preferncias do adolescente, pela caracterizao selvagem de
seus personagens. Trabalha, entre outras questes, a origem da linguagem
humana: dos gestos iniciais capacidade de comunicao. Terra estrangeira,
dirigido por Walter Salles e codirigido por Daniela Thomas, expe a saga
de dois brasileiros, imigrantes em Portugal, que enfrentam, entre outras
situaes, a solido, a discriminao e o preconceito. um flme denso que,
ao ter como protagonistas dois jovens, expe um drama cultural experimen-
tado por muitos estudantes que sonham em viver no exterior.
As festas e comemoraes locais e regionais constituem momentos
de reconhecimento e de valorizao da prpria cultura local. Podem ser
exploradas em sala de aula, no como data comemorativa, mas como
acontecimentos em que a memria do lugar preservada e as pessoas
se reconhecem como membros de um grupo social. A ideia de pertenci-
mento pode ser reforada, mediante o estudo da reconstruo histrica,
de seus protagonistas e dos propsitos que os levaram a perpetuar tais
comemoraes.
Uma outra possibilidade para se trabalhar com noes como cultu-
ra a realizao de um simples exerccio de pesquisa sobre o cotidiano.
Trata-se de um exerccio etnogrfco, ou melhor, de uma breve pesquisa de
campo, para a posterior produo de um texto ou um vdeo (um ensaio de
observao), que exponha a compreenso, a interpretao e a refexo dos
alunos sobre o material coletado e registrado em campo. Para que esta
atividade se concretize necessrio um projeto de pesquisa com tema,
objetivos, justifcativas, metodologias e um cronograma. Algumas aulas
so necessrias para preparar os alunos para que a atividade. O professor
dever explicar aos seus alunos o que esperado deles, como fazer, alguns
detalhes operacionais e o que exatamente observar.
209
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Houve nos ltimos anos grandes mudanas de comportamento
familiar no Brasil, bem como no resto do mundo. Como veremos
nos pargrafos a seguir, mudaram no somente as prticas das pes-
soas, mas tambm a noo do que normal e aceitvel. Tornou-se
aparente que no existe um padro universal de evoluo familiar.
Fatores sociais de religio, classe social, tradies regionais e,
em particular, de legislao e polticas sociais explicam grandes
variaes, mesmo entre territrios geografcamente prximos. Ao
mesmo tempo, observando essas mudanas, os cientistas sociais
passaram a reconhecer que cada um deles formula suas anlises
conforme o lugar e o momento histrico em que trabalha. Ao ftar
a famlia enquanto objeto de anlise sociolgica e antropolgica,
propomos ao longo deste captulo assumir uma perspectiva crtica
diante no somente da tremenda variedade de atitudes e prticas
que poderamos incluir na categoria famlia, mas tambm diante das
ferramentas analticas dos prprios pesquisadores.
Captulo 10
Famlia e parentesco
Claudia Fonseca*
Andrea Cardarello**
* Doutora em Sociologia. Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
** Doutora em Antropologia Social.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
210
1. O legado do sculo XIX: Os primeiros
estudiosos visam entender a evoluo
e a natureza da famlia humana
Conforme Friedrich Engels (1884), a sociologia da famlia s
comea na segunda metade do sculo XIX. At ento, a forma pa-
triarcal de famlia, tal como descrita nos Cinco Livros de Moiss, era
admitida sem reservas como uma instituio natural e eterna, seme-
lhante inclusive famlia burguesa novecentista. Engels cita O direito
materno, obra do jurista Johann Bachofen (1861), como uma primeira
refexo sociolgica sobre a famlia. Nesta, a partir de dados ga-
rimpados na literatura clssica antiga, o jurista havia formulado a
teoria do matriarcado uma poca no incio da humanidade em
que as mulheres, vivendo num tipo de promiscuidade primitiva,
no sabiam quem eram os pais de seus flhos e, assim, tinham do-
mnio absoluto sobre a jovem gerao. Bachofen ponderou que teria
sido o avano da religio o fator responsvel pela transformao da
vida familiar que desembocou milnios mais tarde na monogamia
patriarcal (o casamento estvel entre um homem e uma mulher, o
homem tendo autoridade prioritria). Por outro lado, para Engels,
coerente com sua concepo materialista da histria, o fator princi-
pal da mudana teria sido uma modifcao dos meios de existncia
da forma de produzir alimentos, moradia e de organizar a vida
econmica. Os dois analistas tinham em comum uma perspectiva
evolucionista em que procuravam entender as fases de desenvolvi-
mento da humanidade, classifcando as formas familiares em mais
e menos avanadas.
Hoje, muitos elementos dessas anlises j caducaram. Arque-
logos nunca encontraram evidncias para apoiar a tese do matriar-
cado primevo. A ideia de uma evoluo unilinear da humanidade
postulando que todos os povos seguem uma mesma trajetria,
passando pelas mesmas fases de desenvolvimento tambm foi
desmentida pelas evidncias. A tendncia de reduzir toda a mudan-
a a um s fator (ou a religio ou os meios materiais de existncia)
tem se mostrado pouco adequada extrema complexidade das so-
ciedades humanas. As interpretaes desses primeiros socilogos
da famlia refetiam os preconceitos do contexto em que viviam a
Europa vitoriana. Enalteciam sua prpria forma familiar (mono-
gmica patriarcal) como o apogeu da civilizao, e classifcavam
211
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
tudo que desviava desse modelo como resqucio de uma poca mais
primitiva. Entretanto, essas primeiras pesquisas tiveram o mrito
de arrancar a famlia da fxidez dos debates teolgicos, de algo
dado por Deus ou pela natureza, e apresent-la como algo varivel
que se redefne conforme as circunstncias histricas.
No fnal do sculo XIX e incio do sculo XX, os pesquisadores
comearam a sair de seus gabinetes para ensaiar novas metodologias
para o estudo da famlia. Em vez de trabalhar com lendas e litera-
tura antiga, agora organizavam expedies para chegar em lugares
afastados dos grandes centros. Passando a aprender a lngua e a
conversar com os povos que pesquisavam, realizaram as primeiras
pesquisas etnogrfcas. Os norte-americanos tinham seu campo em
geral perto de casa, entre povos das reservas indgenas do seu prprio
pas; os ingleses aproveitavam a extenso do imprio britnico para
viver com povos tribais na Oceania e na frica. Usaram a tremenda
variedade de dados coletados entre povos exticos para questionar
preconceitos morais e mesmo crenas cientfcas de suas prprias
sociedades (MALINOWSKI, 1929). Nos anos de 1950, o antroplogo
francs Lvi-Strauss (1966) fez um balano das pesquisas realizadas
at ento. Citou inmeros exemplos etnogrfcos para mostrar que
o comportamento humano no podia ser reduzido a um s modelo.
Contradizendo as vises evolucionistas, demonstrou que no era
possvel prever a forma familiar conforme o grau de avano tecnol-
gico do grupo. E rebatendo vises naturalistas, insistiu que estudar
a famlia humana luz da biologia animal acrescentaria pouco
compreenso dos comportamentos sociais. A linguagem, capacida-
de especfca ao ser humano, introduzia uma dimenso simblica
na cultura humana que criava uma ruptura em relao a qualquer
determinismo biolgico.
2. Meados do sculo XX: vises funcionalistas
da famlia
Enquanto os primeiros estudiosos procuravam distinguir o na-
tural do cultural na famlia humana, uma segunda gerao se debru-
ava sobre a especifcidade histrica das dinmicas familiares nas
sociedades complexas, na Europa e na Amrica do Norte. Recorria-se
abordagem funcionalista, segundo a qual a famlia era vista como
um subsistema do sistema social, e procurava-se entender quais
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
212
necessidades (sociais, psquicas e fsicas) ela preenchia. Para cien-
tistas sociais da poca, os camponeses com suas famlias extensas
representavam o tradicional. Ao sofrer os efeitos da urbanizao e
de um regime de trabalho assalariado, a famlia dos migrantes teria
fcado praticamente sem funes, pois, na cidade, havia escolas,
empresas, igrejas, polcias que desempenhavam as vrias funes
que a famlia tinha cumprido no interior.
T. Parsons (1955), a partir de suas anlises entre famlias norte-
americanas urbanas da poca do ps-guerra, afrmava que a famlia
moderna, apesar de seu tamanho reduzido e sua esfera de atividades
limitada, ainda tinha um papel social fundamental a preencher. Ar-
guia que essa unidade conjugal e nuclear, estruturada em torno de
um casal legalmente casado e seus flhos, tendo o pai como provedor
e a me como dona de casa, propiciava um clima de afeto intensivo,
ideal para a adequada preparao de seus membros para a vida so-
cial. Devia garantir a socializao primria de crianas (permitindo
que elas se tornassem indivduos integrados da sociedade); e devia
servir para estabilizar a personalidade dos adultos (na ausncia de
ritos de passagem, era a experincia de m/paternidade que repre-
sentava a entrada na vida adulta).
No Brasil, cientistas sociais, seguindo uma linha de anlise se-
melhante, recorreram obra de Gilberto Freyre (1933) para construir
uma imagem da famlia tradicional brasileira. A partir de dados
colhidos principalmente na zona aucareira nordestina, com nfase
na monocultura latifundiria e escravocrata do perodo colonial,
esse antroplogo e historiador tinha descrito como pessoas de todo
o espectro social desde esposas e flhos at escravos domsticos e
agrcolas se agrupavam em torno do imenso poderio feudal dos
senhores rurais. Era no interior dessa casa-grande que se organizava
a produo, o trabalho, a poltica, a religio, a educao e a vida
familiar de toda a sociedade, sempre sob o controle do patriarca.
Os cientistas sociais dos anos de 1950 e de 1960 traaram uma linha
de evoluo entre essa famlia extensa patriarcal e a famlia conju-
gal nuclear na poca moderna, postulando uma progressiva perda
de funes. Os arranjos domsticos que no cabiam dentro desse
esquema analtico eram vistos como inconsequentes, sintoma da
massa amorfa dos sem-famlia.
Apesar dos valiosos aportes, h hoje vrias objees a esse tipo
de abordagem. Nos ltimos anos, novas pesquisas histricas rea-
213
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
lizadas na Europa, nas Amricas e em outras regies do mundo
tm revelado uma variedade de tipos familiares tradicionais. No
Brasil, tornou-se evidente, a partir da anlise dos primeiros censos
demogrfcos realizados no sculo XIX, que a maioria das pessoas
no vivia dentro de uma casa-grande. A cafeicultura de So Paulo
e a minerao de Minas Gerais trazem exemplos de situaes que
impuseram outras lgicas de organizao domstica em que as fam-
lias eram pequenas (4 a 5 pessoas), muitas vezes chefadas por uma
mulher (at 40% em certos bairros urbanos), e onde o casamento
legal era privilgio de uma minoria. Nem extensas, nem nucleares,
boa parte das dinmicas familiares que povoam a histria brasileira
no se enquadram no modelo patriarcal tradicional (CORRA,
1982). E, como veremos a seguir, a grande variedade de modelos
familiares que aparecem ao longo da histria no converge para um
nico modelo moderno.
3. A segunda metade do sculo XX: Mudanas pro-
fundas nas prticas e percepes de famlia
Enquanto os pesquisadores estavam localizando os processos
que teriam produzido a famlia moderna, a segunda metade do
sculo XX trouxe mudanas que complicariam muito esse modelo.
Seria impossvel exagerar a importncia das conquistas legais das
mulheres no mbito dos direitos civis (SCAVONE, 2001; MACHA-
DO, 2001). No Brasil, por exemplo, no incio do sculo XX, a mulher
casada era considerada praticamente como igual s crianas. No
tinha liberdade de ir e vir, no tinha direito de possuir proprieda-
de, no podia votar nas eleies. Seu marido detinha a autoridade
para decidir tudo o que acontecia na sua vida e na vida dos flhos.
Em princpio, no podia nem sequer sair de um casamento que lhe
desagradava, pois no existia separao legal. Mas, com o tempo, as
mulheres brasileiras, como as do resto do mundo, foram gradativa-
mente ganhando seus espao (o direito ao voto na dcada de 1930,
o direito ao divrcio na dcada de 1970)
1
at a instaurao de sua
plena igualdade legal na Constituio de 1988. Desde a reabertura
democrtica do fm dos anos de 1970, o movimento feminista luta
para efetivar esses direitos no dia a dia das mulheres. Promove po-
lticas sociais que garantem servios de sade reprodutiva acessvel
1
Lei 6.515/77.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
214
a toda a populao. Organiza campanhas e leis para o combate
violncia domstica (a recente Lei Maria da Penha um exemplo;
ver DEBERT; GREGORI, 2008)
2
.
E, para o grande contingente de
mulheres que trabalham fora do lar, almeja oportunidades iguais e
condies dignas incluindo creches de qualidade e escolas de turno
integral para seus flhos.
As crianas tambm mudaram radicalmente de status ao longo
do sculo XX (RIZZINI, 1997). At poucos anos atrs, representavam
uma parte no negligencivel da fora de trabalho, recebiam sua
educao como aprendizes, e traziam uma contribuio renda
familiar. As campanhas contra o trabalho infantil surtiram efeito
na maioria dos pases ocidentais, limitando o ingresso num empre-
go regular ao fm da adolescncia. Ao mesmo tempo, houve uma
tremenda expanso da educao escolar, garantindo o acesso uni-
versal educao fundamental, e multiplicando astronomicamente
o nmero de estudantes inscritos nos nveis superiores de ensino.
No Brasil, as conquistas receberam um grande impulso do Estatuto
da Criana e do Adolescente (1990), que declarou o bem-estar da
criana e do adolescente como prioridade absoluta para a famlia, a
comunidade, a sociedade em geral e o Poder Pblico.
Alm da evoluo de leis e mudanas de mentalidade, alavan-
cadas em grande medida por movimentos sociais, devemos lembrar
mais um fator que teve grande impacto sobre a vida familiar nessa
segunda metade do sculo XX: as descobertas da medicina e da bio-
cincia. J na dcada de 1960, a plula anticoncepcional comeou a
ser comercializada, contribuindo para a consolidao de uma noo
de sexualidade independente da concepo/reproduo. Em 1978,
com o nascimento do primeiro beb de proveta, fcou evidente que
relaes sexuais no eram o sine qua non da concepo. Com a bar-
riga de aluguel tornou-se possvel duas mulheres (uma com o vulo
da outra implantado no seu tero) serem parceiras na procriao
de um flho. E, com as cirurgias transexuais, as autoridades estatais
esto procurando maneiras para classifcar aquele pai que passou a
2
A Lei n 11.340 contra a violncia domstica e familiar, sancionada em agosto
de 2006, recebeu o nome de Maria da Penha, em honra da mulher que fcou
paraplgica depois de receber um tiro de revolver do marido. Foi preciso quase
duas dcadas de militncia, com repercusses internacionais, antes de o agressor
ser punido.
215
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
ter um sexo feminino legal. As bases da procriao natural o casal
exclusivamente heterossexual, a sequncia inevitvel das geraes,
e a complementaridade sexual dos genitores se revelaram mais
frgeis do que os primeiros pesquisadores tinham imaginado.
As mudanas na vida familiar se tornam particularmente apa-
rentes quando consideramos recentes dados censitrios. A seguir,
podemos ver o que esses dados nos revelam no caso brasileiro
(BRASIL, 2008).
Hoje, a vida familiar menos ancorada no casal. No Brasil contem-
porneo, levemente mais da metade das unidades domsticas no
Brasil do tipo casal com flhos. Enquanto o nmero de famlias
conjugais tem diminudo regularmente desde os anos de 1970, as
famlias monoparentais compostas apenas pela me ou apenas pelo
pai e seus flhos tm aumentado a um ritmo intenso. Assim como
aconteceu nas ltimas dcadas em outros pases, no Brasil nota-se
particularmente um aumento do nmero de famlias monoparentais
chefadas por mulheres com flhos (de 15,8% do total de famlias em
1996 para 18,1% em 2006). nas zonas metropolitanas do Nordeste
que se assiste ao aumento mais importante deste tipo de famlia.
O crescimento da proporo de domiclios chefados por mulheres
guarda estreita relao com o aumento da participao feminina no
mercado de trabalho. As mulheres cnjuges, hoje, contribuam para
quase 40% da renda familiar. Tambm aumenta o nmero de fam-
lias que identifcam uma mulher como sua principal responsvel,
mesmo com a presena do cnjuge.
Diminui a importncia do casamento legal. O reconhecimento de no-
vos arranjos familiares, particularmente nas classes mdias, marcado
pela legalizao do divrcio no Brasil em 1977. A partir de ento, no
s o nmero de divrcios aumenta ao longo das prximas dcadas,
mas tambm o de recasamentos. Isto origina as famlias recompostas,
caracterizadas pela convivncia do casal com crianas oriundas de
unies anteriores que terminaram por divrcio ou viuvez.
Enquanto o nmero de separaes e divrcios legais aumentou,
diminuiu a preferncia pela unio civilmente legalizada no Brasil.
Os dados censitrios revelam que, nas ltimas quatro dcadas do
sculo XX (1960-2000), entre as pessoas de 15 anos de idade ou
mais que viviam em casal, houve uma grande queda na proporo
de legalmente casados, passando de 93,5% para 71,4%. Ao mesmo
tempo, as unies consensuais (aquelas em que no h nenhum tipo
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
216
de cerimnia, seja civil ou religiosa) cresceram de 6,5% para 28,5%
do total de unies.
As famlias so menores. H mais pessoas vivendo sozinhas, e
mais casais sem flhos. O tamanho da unidade domstica passou da
mdia de 3,6 pessoas em 1996 para 3,2 em 2006. Da mesma forma, a
taxa de fecundidade diminuiu de uma mdia de 5,8 flhos por mu-
lher nos anos 1970 para 1,83 em 2007. Essa diminuio se observa em
todas as faixas de rendimento. Porm, o nmero de flhos decresce
ainda mais medida que aumenta a renda de famlia.
Esse perfl demogrfco da atual famlia brasileira refete ten-
dncias globais (THERBORN, 2006). Nos pases do hemisfrio norte,
a taxa de casamento caiu de forma dramtica nos ltimos quarenta
anos. O divrcio deu um salto, triplicando e at, em certos pases,
quadruplicando nesse mesmo perodo. Quanto importncia da
legalizao do casamento, h divergncias interessantes. Vemos, por
exemplo, que existe uma alta incidncia de nascimentos fora do ca-
samento nos pases nrdicos da Europa (em torno de 50% de todos
os nascimentos). Nesses pases, encontramos, aliado prosperidade
econmica generalizada, um efciente sistema de previdncia que,
h tempo, no faz distino entre flhos legtimos e ilegtimos. O fato
de que a grande maioria de jovens de 15 anos, nascido ou no de
um casamento legal, ainda mora com ambos os pais sugere que
h muitos casais estveis que simplesmente no acham importante
legalizar sua unio. Observamos tambm nos Estados Unidos uma
alta taxa de nascimentos fora do casamento. Entretanto, nesse caso,
o fenmeno parece particularmente acentuado nas camadas de renda
inferior que vivem numa situao de desamparo econmico e falta
de cobertura previdenciria adequada. Aqui, ao contrrio da situao
no Norte da Europa, elevada a taxa de flhos que no moram com
ambos os pais, o que indica uma acentuada instabilidade conjugal.
Finalmente, nos pases meridionais da Europa (Espanha, Portugal,
Itlia) h um nmero relativamente reduzido de crianas nascidas
fora do casamento refexo, possivelmente, da infuncia religiosa
associada a uma moralidade familiar conservadora.
Em todo caso, devemos lembrar das limitaes dos dados de-
mogrficos, baseados geralmente em um s momento de um s
domiclio artifcialmente isolado. Essas estatsticas no captam a
dinmica das relaes entre pessoas morando em casas separadas,
porm no mesmo ptio. Tampouco retratam o intercmbio cotidiano
217
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
que pode ocorrer entre parentes que moram no mesmo bairro. Para
pensar tais dinmicas dentro e entre as diferentes unidades
necessrio lanar mo de perspectivas analticas diversas.
Sensi bi l i dades no sei o da fam l i a contempor nea
A partir dos anos de 1960, uma nova escola de historiadores
comea a rever suas hipteses sobre a famlia moderna. A particular
confgurao de normas que regem as relaes da famlia conjugal
e nuclear aparece agora no como unidade natural ou refexo auto-
mtico do progresso, mas antes como produto de um complicado
emaranhado de foras sociais, econmicas e polticas. Investigando
a histria europeia, da poca medieval at o incio do sculo XIX,
Philippe Aris (1960) tem como hiptese central a transformao
da sociedade tradicional pela gradativa polarizao da vida social
em torno de uma nova famlia, constituda pelo casal neolocal (em
residncia prpria) e flhos, e caracterizada pela intensidade emo-
cional. Em contraste aos antigos casamentos arranjados, esperava-se
a cumplicidade/amizade entre os cnjuges; atenuando a rigidez das
antigas hierarquias, recomendava-se uma maior intimidade afetiva
entre pais e flhos.
Franois Singly (1993) atualiza a proposta de Aris, ao examinar
as sensibilidades no seio da famlia francesa contempornea. Chama
ateno para o fato de que, j a partir dos anos de 1960, muitas das
antigas responsabilidades familiares foram aliviadas pelas polti-
cas do Estado-Providncia atravs de diferentes subsdios (abonos
pecunirios para dependentes, crianas e velhos) e servios (como
creches, ou ainda centros de lazer e atividades de vero para os f-
lhos de mes e pais que trabalham fora de casa). A unidade familiar
perde algo de seu carter corporativo. Agora, valorizada como
ambiente de relacionamento afetivo onde a interdependncia permite
a cada um se descobrir enquanto indivduo, defnir ele mesmo seus
pertencimentos, e criar uma identidade pessoal independente da que
outros tentam lhe impor. Em outras palavras, a famlia valorizada
enquanto um espao de vida ntima, voltado para a autonomizao
e individualizao das pessoas.
A sociloga francesa Martine Segalen (1995) adota outra pers-
pectiva, procurando entender as novas confguraes familiares que
ocorrem medida que o casamento perde sua centralidade. Confor-
me essa perspectiva, a fragilidade das unies conjugais, caracterstica
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
218
da poca moderna, vem acompanhada pela co-longevidade das
geraes mudana trazida pelo aumento da expectativa de vida
proporcionada por avanos da medicina. Em razo dessas mudanas,
Segalen prope uma anlise centrada na perpetuao familiar,
que tem como foco central as relaes intergeracionais. Constata
a recrudescncia da coabitao (jovens adultos que continuam
a morar na casa dos pais) e re-coabitao (quando voltam a morar
com os pais, muitas vezes por causa de divrcio ou desemprego).
E observa que, mesmo quando a nova gerao mora em casa pr-
pria, a famlia extensa continua a ter grande importncia. Frente
ao anonimato da vida urbana, atravs dos laos de famlia que os
indivduos organizam seus momentos de lazer e de sociabilidade,
e nessas relaes que encontram os alicerces da identidade e do
pertencimento social.
Nessa ltima linha de anlise, a famlia subsumida na noo
englobante de parentesco, defnido como: o conjunto de pessoas liga-
das pela fliao (biolgica ou adotiva) ou pelo casamento (legal ou
informal), ou por formas ritualizadas de amizade que estabelecem
entre si conexes duradouras e afetivamente intensas, e que se re-
conhecem em funo de direitos e deveres recprocos, criados prin-
cipalmente pela presena de crianas nascidas ou criadas por elas.
Trata-se de um conceito analtico que permite pr em valor muitas
das relaes que eram ignoradas ou discriminadas em geraes an-
teriores: entre pais e flhos adotivos, entre parceiros homossexuais,
entre padrastos e enteados...
Repr oduo e desi gual dade
No Brasil, a grande desigualdade da distribuio de renda torna
relevante uma abordagem analtica que pe em relevo a possibili-
dade de lgicas familiares alternativas conforme as condies de
vida. Lembremos que, em 2006, ainda 20% da populao brasileira
ou seja, 36 milhes de pessoas vive abaixo da linha de pobreza
(com rendimentos per capita de menos de 1/2 salrio mnimo), um
quarto da populao considerada funcionalmente analfabeta e,
no obstante uma leve melhora, a diferena entre ricos e pobres
continua a ser uma das mais acentuadas do mundo.
P. Bourdieu (1994), procurando entender como a famlia participa
da perpetuao da ordem social, cunhou uma teoria sobre a reprodu-
o que se adequa particularmente bem sociedade de classes. Pro-
219
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
cura entender como interagem as estruturas objetivas (distribuio
do capital, oportunidades institucionalizadas nas escolas, empregos,
etc.) e as disposies subjetivas inculcadas nos indivduos atravs
da educao familiar e escolar. Atravs da comparao entre pessoas
da grande burguesia, famlias camponesas e proletrias na Frana,
mostra como as famlias lanam mo de estratgias diferentes (de
investimento escolar, de transmisso de patrimnio, de padres de
casamento) para garantir a perpetuao do seu lugar na hierarquia
social. Aplica esse esquema analtico crtica da instituio esco-
lar, sugerindo que, apesar de propor uma educao igualitria, no
compensa a falta de capital social (como, por exemplo, conexes com
pessoas infuentes) e simblico (diplomas de escolas prestigiadas,
hbitos de consumo cultural, atitudes corporais) que criam barreiras
ascenso dos estudantes mais pobres.
Enfocando a relao entre condies materiais e vida familiar,
pesquisadores brasileiros tm levantado a hiptese de que existem
dinmicas familiares distintas conforme a classe social. Por exem-
plo, pesquisas sobre vida familiar em grupos populares urbanos
sublinham a importncia das redes de ajuda mtua que servem para
aproximar no somente pessoas de geraes diferentes (avs, flhos,
netos), mas tambm parentes colaterais (relaes entre irmos ou
entre primos). Os membros dessa parentela podem ser acionados
para diversos tipos de ajuda fornecer um quarto, emprestar di-
nheiro, mediar um emprego, cuidar de flhos. Em muitos bairros, a
prpria disposio das moradias frequentemente puxadas de outra
casa ou implantadas no ptio de algum amigo ou parente uma
indicao da interdependncia dos diferentes ncleos familiares.
Analistas falam de um modelo relacional de famlia em que as rela-
es so regidas por uma lgica hierrquica que pressupe funes
e nveis de autoridade nitidamente desiguais, conforme o gnero
e gerao do indivduo. Aos homens cabe o papel de provedor, s
mulheres o papel de dona do lar e cuidadora dos flhos. O todo seria
regido por um esprito de reciprocidade que favorece o bem-estar
da famlia como um todo (SARTI, 1995).
Esse modelo contrastado a um outro, tido como mais comum
entre as classes mdias onde, conforme o padro neolocal da famlia
moderna, o casal tende a viver numa moradia prpria, afastada de
outros parentes. No seio dessa famlia, rege um iderio igualitrio
em que se valoriza o trabalho feminino profssional e espera-se do
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
220
homem um maior envolvimento nas tarefas domsticas assim como
nos cuidados com as crianas. O projeto familiar, justifcando um
enorme investimento na educao dos flhos, continua importante.
Mas o xito futuro pensado no em termos de benefcio para o
grupo familiar e sim em termos da plena realizao dos flhos en-
quanto indivduos (SALEM, 2007).
No obstante a riqueza dessas abordagens, pesquisas subse-
quentes demonstraram as limitaes de modelos calcados exclu-
sivamente no fator de classe. Em primeiro lugar, no existe uma
correspondncia mecnica entre renda e valor familiar. Em certos
aspectos, as famlias das classes altas, com sua lgica corporativis-
ta, antes de exibir um arranjo moderno, parecem se aproximar mais
da lgica hierrquica tida como tpica das classes populares. E, ao
olhar para a diviso sexual de trabalho domstico, observa-se que
o casal igualitrio das camadas mdias no difere tanto de seus vi-
zinhos aparentemente mais conservadores. Mesmo com o apoio de
uma empregada domstica, as mulheres continuam a se ocupar dos
afazeres domsticos e a ser as principais responsveis pelo cuidado
dos flhos. Alm do mais, diferenas entre regies apontam para a
importncia de fatores tais como religio e tradio cultural que
podem se sobrepor s diferenas de classe (DUARTE, 2008).
Ao introduzir o fator tempo, que leva em considerao mudanas
nas condies de vida, vemos que qualquer modelo que postulamos
pode se tornar rapidamente superado. Por exemplo, muitas das
pesquisas etnogrfcas em famlias de grupos populares brasileiras
foram realizadas nos anos de 1970 e incio dos anos de 1980. Naquela
poca, o mercado de trabalho estava em expanso, dando possibili-
dades de integrao social e at de mobilidade social. Observadores
sugerem que, diante da precarizao das condies de vida das duas
dcadas seguintes (devido ao ajuste estrutural, despolitizao dos
problemas sociais e fragmentao das polticas sociais), as redes de
solidariedade familiar podem ter perdido parte de sua efccia como
amortecedora de crises (CARVALHO; ALMEIDA, 2003). Enfm, em
todas as classes, as mudanas estruturais agem para transformar o
relativo status de cada um no jogo de interdependncias. A amplia-
o ou retraimento do mercado de trabalho favorece ora homens,
ora mulheres, modifcando a relao de poder entre os cnjuges. A
implementao varivel de direitos trabalhistas que provoca uma
futuao no nmero de idosos aposentados pode modifcar sensi-
221
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
velmente as relaes de dependncia entre sucessivas geraes. E
polticas episdicas de habitao que facilitam a aquisio da casa
prpria podem favorecer certos momentos na trajetria de um grupo
familiar, criando disparidades entre irmos e primos (PEIXOTO;
SINGLY; CICCHELLI, 2000).
A mor al i zao das fam l i as
Pesquisadores trabalhando na linha de Michel Foucault (1977)
nos ajudam a aprofundar nossa refexo sobre reproduo e desi-
gualdade. Comentando a proliferao de mendigos, prostitutas e
crianas abandonadas nas cidades europeias do sculo XVIII, essa
perspectiva desenvolve uma anlise sobre a falncia das antigas tc-
nicas de governo. Considera-se que, junto com o Estado moderno,
em vez da represso pura e simples, surgiram novas tecnologias se-
dutoras de poder, calcadas nos saberes especializados de pedagogos,
juristas e mdicos capazes de exercer um controle disciplinador sobre
os comportamentos individuais. Nesse processo, a criana foi uma
pea-chave. Em nome da fragilidade das crianas, formou-se uma
aliana entre as incipientes foras higienistas e as mes de famlia
(DONZELOT, 1977). Cabia s donas do lar combater as formas de so-
ciabilidade insubmissa, tirando seus maridos da taverna e seus flhos
da rua. A necessidade de educar a criana e prepar-la para o futuro
fez com que seus pais virassem as costas s antigas sociabilidades
(da rua, do parentesco extenso), entregando-se privacidade do lar e
seu complemento, a escola. A nova viso da famlia tornou-se braso
da burguesia, legitimando uma distino que se ostentava tanto na
organizao material da residncia quanto no estilo de relacionamen-
to. A valorizao da intimidade o lar doce lar e os novos padres
de conforto domstico se somaram para acentuar o contraste entre
o modo de vida das camadas abastadas e o do povo.
A partir da dcada de 40 do sculo XIX , as leis de proteo
infncia surgidas na Frana organizaram progressivamente uma
transferncia de soberania da famlia moralmente insuficiente dos
pobres para um corpo de especialistas. A criana passa assim a
ser um tipo de refm. A norma estatal coloca a famlia diante da
obrigao de reter e vigiar seus filhos, se no quiser ser, ela pr-
pria, objeto de vigilncia. A nova configurao domstica mina o
poder patriarcal, tornando a vida domstica permevel a vetores
de vigilncia pblica.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
222
Entretanto, este processo vem acompanhado de novas obrigaes
da parte do Estado em relao infncia pobre. Reconhecendo a ine-
fccia da institucionalizao das crianas pobres, o Estado procura
melhorar as condies no seio das famlias de classes populares para
garantir a adequada socializao de futuras geraes. Hoje, por exem-
plo, observa-se que, na Frana, os trabalhadores sociais conseguem
se apoiar em servios pblicos para encontrar apartamentos arejados
para famlias desabrigadas, empregos para pais ociosos, tratamento
para mes alcolatras e centros de lazer que fornecem atividades
educativas para seus flhos durante os feriados escolares.
No Brasil, a formao de um corpo de especialistas para o aten-
dimento ao menor acontece mais tarde a partir do comeo do
sculo XX, especialmente com a promulgao do primeiro Cdigo
de Menores de 1927. Medidas sedutoras tambm foram mais lentas
a se instalar. Ainda hoje, a rede escolar insufciente para atender
s necessidades educativas de crianas (especialmente em idade
pr-escolar) em turno integral. Se, em 2006, a Bolsa Famlia j al-
canou onze milhes de famlias, devemos lembrar que representa
um aporte mensal modesto de, no mximo, em torno de R$ 100,00
por famlia. Observadores crticos sugerem que o resultado dessas
polticas de famlia , antes de tudo, a privatizao de preocupaes
sociais, isto , a responsabilizao individualizada das famlias pelo
enfrentamento da vulnerabilidade e da precariedade das condies
de vida (KLEIN, 2005).
Por outro lado, a moralizao da pobreza no incomum; por
exemplo, quando os termos desestruturado ou desorganizado so usa-
dos para descrever famlias caracterizadas pela ausncia paterna ou
a chefa feminina, especialmente em se tratando de populaes des-
favorecidas ou minorias tnicas (CARDARELLO, 1998). Igualmente
preocupante o preconceito com diferentes formas de circulao
de crianas tambm comum nessas populaes (FONSECA, 1995).
Nessa prtica, em que uma srie de famlias cuidadoras participa
da criao e socializao da nova gerao, no raro encontrar
crianas que falam de duas ou mais mes. Podem incluir, alm da
me biolgica, diversas mes de criao tais como uma av, uma
madrinha, uma madrasta ou mesmo uma vizinha. Para descrever
essa multiplicidade de mes e pais, cientistas sociais cunharam o
conceito de pluriparentalidade (LEGALL; BETTAHAR, 2001). in-
teressante observar que hoje, com o aumento do divrcio e recasa-
223
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
mento de seus pais, jovens das camadas mdias tambm transitam
entre diversas casas da famlia. Entretanto, enquanto que para as
camadas mdias e altas tal comportamento cada vez mais aceito
como parte da famlia moderna, continua a ser visto como fonte de
problemas para as crianas de famlias pobres.
Sexual i dade e popul ao
Segundo Foucault (1977), a preocupao malthusiana que as-
socia a exploso populacional pobreza servia historicamente para
justificar a interveno do Estado no que h de mais ntimo das
pessoas: a vida sexual e procriativa. Durante boa parte do sculo
XIX, moralistas imaginavam uma relao direta entre a sexualidade
desregrada das classes perigosas (e.g. proletrias), a exploso demogr-
fca e o abandono de recm-nascidos na roda dos expostos. Poste-
riormente, junto com o desenvolvimento das cincias acadmicas, o
debate se sofsticou. Uma vertente malthusiana de anlise continuava
a ver a pobreza como consequncia do crescimento descontrolado
de nascimentos. Outra tendncia afrmava que a reduo do nmero
de flhos dependia antes de uma melhoria nas condies de vida
e o aumento subsequente das chances de sobrevivncia de todos
os flhos. De uma forma ou de outra, constatam-se desde o sculo
XVIII orientaes nacionais que oscilam entre polticas natalistas
(que associam o crescimento populacional com a fora da nao)
e polticas de controle de natalidade (que associam a conteno
populacional com a prosperidade) (SCOTT, 2004).
No Brasil, ideias neo-malthusianas apareceram na cena poltica
nos anos de 1960, quando organizaes internacionais passaram a
condicionar a ajuda econmica ao esforo, nas polticas nacionais, de
controlar a chamada exploso demogrfca. Com essas polticas, a este-
rilizao feminina, apesar de sua natureza invasiva e irreversvel, se
tornou o mtodo contraceptivo mais praticado entre mulheres brasilei-
ras. As repetidas campanhas pelo controle de natalidade foram muito
criticadas no s por causa de seu carter autoritrio, mas tambm
porque desviavam energia dos problemas bsicos que as mulheres
enfrentavam, tais como a falta de informao, o acesso limitado a uma
contracepo reversvel sem riscos e o aborto clandestino.
Cabe lembrar que o aborto ilegal no Brasil, a no ser nos casos
de estupro ou quando a vida da mulher est em perigo
3
. A maioria
3
Art. 124 a 128 do Cdigo Penal, Lei 2.848, de 1940.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
224
esmagadora dos abortos so realizados ilegalmente no setor privado.
As estimativas mais recentes variam de 730 a 940 mil abortos anuais
desde os mais seguros, praticados em clnicas privadas, queles
praticados em casa com a ajuda de remdios e mtodos tradicionais
(BERQUO, 2003). Calcula-se que os abortos inseguros so respon-
sveis por at 9% da mortalidade materna no Pas. Observa-se, nas
pesquisas, que a frequncia dos abortos (bem como da escolha da
esterilizao por parte de muitas mulheres pobres) se relaciona com
a falta de acesso, nos servios pblicos, a mtodos contraceptivos
adequados para a populao mais pobre.
No decorrer dos ltimos sculos, a sexualidade tem preocupado
tambm a medicina sanitarista. J no sculo XIX, mdicos consta-
taram a associao entre o ato sexual e certas pragas (e.g., sflis
e gonorria, conhecidas desde ento como doenas venreas). As-
sim, para controlar epidemias, procuraram maneiras de coibir certos
comportamentos sexuais. Cem anos depois, com o surgimento de
AIDS nos anos de 1980, as atenes investidas na vida sexual so
redobradas. Agora, o intuito de interveno no tanto reprimir
quanto disciplinar as atividades sexuais, com nfase na preveno
de doenas e de gravidezes indesejadas.
Entretanto, as pessoas procura de um parceiro afetivo ou
de uma experincia individual voltada para a realizao de si
tm suas prprias concepes que nem sempre coincidem com as
dos governantes. Nos anos de 1990, um leve aumento no nmero
de jovens mes entre 15 e 19 anos no Brasil deu origem a pro-
nunciamentos alarmistas. Entretanto, a partir de 2000 o nmero
de gravidezes na adolescncia entrou em declnio (BRASIL, 2008).
Pesquisas qualitativas recentes que se debruaram sobre o assunto
sugerem que meninos e meninas comeam a namorar em torno de
15 anos de idade, seguindo pouco tempo depois para a primeira
experincia sexual (na mdia, um ou dois anos mais cedo para me-
ninos que para meninas). Apesar do surgimento nos anos de 1980
do costume de fcar (um ferte, durante festas ou em bailes, que no
representa nenhum compromisso de relacionamento posterior), os
jovens em geral continuam a valorizar o namoro que, seguindo os
moldes tradicionais, pressupe um engajamento afetivo duradouro.
Ao escutar os prprios sujeitos, aprendemos que essas gravidezes
so em geral fruto de namoro e, especialmente entre as jovens de
origem modesta, apesar de terem como consequncia o afastamento
225
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
da escola, so frequentemente acolhidas com satisfao, como evento
que abre a vida para o status adulto. Observa-se certa diferena de
comportamento entre jovens conforme as condies sociais: meni-
nas com pouca escolaridade tendem a comear a vida sexual mais
cedo; apesar da maioria dos jovens usar proteo desde a primeira
relao, essa proporo aumenta com a escolaridade da me. Entre-
tanto, em relao a geraes anteriores, h uma relativa aproximao
de comportamentos entre setores sociais (HEILBORN; AQUINO;
KNAUTH; BOZON, 2006).
Finalmente, cabe destacar que, em dcadas recentes, as formas
no procriativas de sexualidade ganharam grande visibilidade e
certa legitimidade. Em particular, novos debates deram ensejo ao
movimento que viria a se consolidar sob a sigla GLBTT (Gays, Ls-
bicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) junto com a contestao da
norma heterossexual de famlia. Na virada do milnio, encontram-
se debates em torno da possibilidade da parceria civil ou seja, o
reconhecimento legal da vida conjugal de duas pessoas do mesmo
sexo ao mesmo tempo que comeam a ser concedidas, no sem
resistncias, as primeiras adoes para casais homossexuais (HEIL-
BORN, 2004, GROSSI; UZIEL; MELLO, 2007).
Ao todo, os diversos estudiosos observam que a famlia, enquan-
to princpio coletivo de construo da realidade, continua central
na vida social e afetiva das pessoas. Desde a carteira de identidade
e as folhas de imposto, em que o nome de famlia ajuda a localizar
o cidado, at os juizados de infncia onde as autoridades cobram
das famlias a socializao adequada da nova gerao, o Estado
lana mo da unidade familiar para organizar a vida social da na-
o. Um bom exemplo disso se encontra na lei 10.317/2001 que,
em nome do direito ao reconhecimento paterno, inclui o exame de
DNA entre os servios de assistncia judiciria gratuita (FONSECA,
2005). Por outro lado, apesar da diversifcao de formas familiares,
a noo de famlia permanece uma referncia fundamental para a
grande maioria. Basta olhar para o trabalho simblico investido
no fortalecimento da rede de parentesco: as festas de aniversrio
e casamento que renem (e revelam) periodicamente os parentes, o
batismo de recm-nascidos que frequentemente pe em relevo um
nome dos antepassados, os ritos cotidianos de telefonema e visita
que estreitam o crculo dos mais ntimos. no entrecruzamento
dessas foras institucionais e desses investimentos individuais es-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
226
paos nos quais a famlia criada e recriada que o cientista social
constri sua anlise.
Referncias
ARIES, Philippe. Histria social da criana e da famlia. So Paulo: Zahar, 1981
[1960].
BERQU, E. (Org.). Sexo e vida: panorama da sade reprodutiva no Brasil. Cam-
pinas: Ed. Unicamp, 2003.
BOURDIEU, Pierre. Razes prticas: sobre a teoria da ao. Oeiras: Celta, 1997
[1994].
BRASIL. IPEA. PNAD 2007: Primeiras anlises (Demografa e Gnero). Comunicado
da Presidncia n 11. Braslia, DF, 2008.
BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispe sobre a criao do Estatuto da
criana e do adolescente. Braslia, DF, 1990.
CARDARELLO, Andra Daniella Lamas. A transformao do internamento assis-
tencial em internamento por negligncia: tirando a cidadania dos pais para d-la
s crianas, Ensaios FEE: Revista da Fundao de Economia e Estatstica Siegfried
Emanuel Heuser, Porto Alegre, ano 19, n. 2, p. 306-331, 1998.
______. Sexualidades no Brasil. Retrato do Brasil, revista Reportagem, v. 80, n.
5, p. 462-467, 2006.
CARVALHO, Inai M. M. de; ALMEIDA, Paulo H. de. Famlia e proteo social.
So Paulo em Perspectiva, ano 17, n. 2, p. 109-122, 2003.
CORREA, Mariza. Repensando a famlia patriarcal brasileira. In: ______. Colcha
de retalhos: estudos sobre a famlia no Brasil. So Paulo: Brasiliense, 1982.
DEBERT, Guita G.; GREGORI, Maria Filomena. Violncia e Gnero: novas propostas,
velhos dilemas. Revista Brasileira de Cincias Sociais, v. 23, p. 165-185, 2008.
DONZELOT, Jacques. A polcia das famlias. Rio de Janeiro: Graal, 1980 [1977].
DUARTE, Luiz Fernando; Edlaine de Campos Gomes. Trs famlias: identidades e
trajetrias transgeracionais nas classes populares. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2008.
DUARTE, L. F.; HEILBORN, Maria Luiza; LINS DE BARROS, Myriam; PEIXOTO
Clarice (Org.). Famlia e Religio. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2006.
ENGELS, Frederic. A Origem da Famlia, da Propriedade Privada e do Estado.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1981 [1884].
FONSECA, Claudia. Caminhos da adoo. So Paulo: Cortez, 1995.
______. DNA e paternidade: a certeza que pariu a dvida. Revista de Estudos
Feministas, Florianpolis, v. 12, n. 2, p. 13-34, 2005.
227
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
FOUCAULT, Michel. Histria da sexualidade. v. 1: Vontade de saber. Rio de Ja-
neiro: Graal, 1977.
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formao da famlia brasileira sob o
regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1978 [1933].
HEILBORN, Maria Luiza (Org.). Famlia e sexualidade. Rio de Janeiro: Ed. FGV,
2004.
______; AQUINO, Estela Maria Leo de; KNAUTH, Daniela Riva; BOZON, Michel.
O aprendizado da sexualidade: reproduo e trajetrias sociais de jovens brasilei-
ros. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
GROSSI, Miriam; UZIEL, Anna Paula; MELLO, Luiz (Org.). Conjugalidades, parenta-
lidades e identidades lsbicas, gays e travestis. Rio de Janeiro: Garamond, 2007.
KLEIN, Carin. A produo da maternidade no programa bolsa-escola. Revista de
Estudos Feministas, Florianpolis, v. 13, n. 1, 31-52, 2005.
LE GALL, Didier; BETTAHAR, Yamina (Org.). La pluriparentalit. Paris: PUF,
2001.
LVI-STRAUSS, C. A famlia. In: SHAPIRO, H. (Org.). Homem, Cultura e Socie-
dade. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1966.
MACHADO, Lia Z. Family and individualism: contemporary tendencies in Brazil.
Interface - Comunicao, Sade, Educao, Botucatu, v. 4, n. 8, p. 11-26, 2001.
MALINOWSKI, Bronislaw. A vida sexual dos selvagens. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1983 [1929].
PARSONS, Talcot. The American Family: Its Relations to Personality and to the
Social Structure. In: PARSONS; BALES, R. F. (Org.). Family, Socialization and
Interaction Process. New York: MacMillan, l955.
PEIXOTO, Clarice Ehlers; SINGLY, F.; CICCHELLI, V. (Org.). Famlia e Individuali-
zao. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas, 2000.
RIZZINI, Irene. O sculo perdido: razes histricas das polticas pblicas para a
infncia no Brasil. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura, Ed. Universidade Santa
rsula, 1997.
SALEM, Tania. O casal grvido: Disposies e dilemas da parceria igualitria. Rio
de Janeiro: Ed. FGV, 2007.
SARTI, Cynthia. A famlia como espelho. So Paulo: Editoras Reunidas, 1995.
SCAVONE, L. Maternidade: Transformaes na famlia e nas relaes de gnero.
Interface - Comunicao, Sade, Educao, Botucatu, v. 5, n. 8, p. 47-60, 2001.
SCOTT, Russel P. Famlia, gnero e poder no Brasil do sculo XX. BIB. Revista
Brasileira de Informao Bibliogrfca em Cincias Sociais, So Paulo, v. 58, n.
1, p. 29-78, 2004.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
228
SEGALEN, Martine. Introduction. In: ______; GULLESTAD, Marianne (Org.). La
famille en Europe: parent et perptuation familiale. [S. l.]: La Dcouverte, 1995.
SINGLY, Franois de. Sociologia da famlia contempornea. Rio de Janeiro: Ed.
FGV, 2007 [1993].
THERBORN, Goran. Sexo e poder: A famlia no mundo 1900-2000. So Paulo:
Contexto, 2006.
Fam l i a e par entesco na sala de aula
Os estudos sobre a famlia inspiraram diferentes tipos de explicaes
para a trajetria das formas familiares existentes. Independentemente de
se eleger uma dessas trajetrias como a mais confvel, o texto de Claudia
Fonseca e Andrea Cardarello deixa claro, logo nos primeiros pargrafos,
que a complexidade das sociedades humanas exigiu que o tema fosse ana-
lisado a partir de uma variao de critrios, sendo impossvel construir
um modelo capaz de dar conta dos inmeros formatos apresentados his-
toricamente pela famlia.
A sugesto metodolgica o professor elaborar, junto com os estudan-
tes do Ensino Mdio, uma linha do tempo, da Antiguidade at os nossos
dias, para acompanhar os diferentes formatos e confguraes que a famlia
assumiu na Histria. Os principais momentos apresentados no texto sero
tomados como referncia para desenvolver anlises que extrapolam o tema
famlia e estabelecem a interdisciplinaridade com a Literatura, a Histria,
a Filosofa, a Geografa e a Biologia. De cada perodo possvel expandir
a anlise a questes que vo alm da instituio familiar, explorando con-
ceitos e teorias sobre o desenvolvimento humano. Por exemplo, a teoria
do matriarcado, pesquisada pelo jurista Bachofen, a partir da literatura
clssica antiga, um exemplar para se compreender como se constri o
conhecimento cientfco, e fazer o contraponto entre cincia e senso comum
ou entre cincia e literatura. As bases do conhecimento cientfco socio-
lgico precisam ser fundadas em evidncias, fruto de trabalho criterioso
de anlise e investigao. Nessa linha, as Cincias Sociais apresentam-se
de modo enftico nos estudos de Lvi-Strauss, principalmente no que se
refere necessidade de analisar as sociedades humanas a partir de uma
perspectiva cultural e no naturalista. As estruturas de parentesco, objeto
de pesquisa do antroplogo, tambm podem ser exploradas pelo professor
do Ensino Mdio, para mostrar o quanto esse estudo contribuiu para que
um novo olhar fosse dirigido s culturas ditas primitivas, livre do precon-
ceito que as colocava comparativamente em patamar inferior s demais. A
dimenso simblica outra referncia que pode ser explorada, a partir de
exemplos do prprio texto, em direo a uma compreenso mais criteriosa
da anlise da famlia em diferentes culturas.
A sugesto de se utilizar a linha do tempo no tem um propsito
unicamente cronolgico. Ao contrrio, visa ampliar a anlise em direo
229
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
a questes fundamentais das Cincias Sociais, estabelecer relao inter-
disciplinar com diferentes contedos do Ensino Mdio e incentivar nos
estudantes uma postura de valorizao da anlise cientfca em relao a
diferentes contedos escolares, principalmente aqueles voltados para as
Cincias Humanas, que normalmente do margem a concluses especu-
lativas, assentadas no senso comum.
Atendendo provocao metodolgica que estabelece a interdisci-
plinaridade, principalmente com a Histria, possvel ser desenvolvida
a partir da seleo de pequenos trechos de Casa Grande e Senzala, de Gil-
berto Freyre. A obra permite, hipoteticamente, visualizar a imagem da
famlia tradicional brasileira do perodo colonial. O autor mostra como a
organizao da vida social trabalho, produo, religio, educao se
desenvolvia em torno do poder dos senhores rurais.
Aps a anlise sociolgica dos trechos, o professor incentiva os es-
tudantes a um mergulho no tempo histrico do Brasil Colnia, retratado
pelo autor, mediante a dramatizao da situao selecionada. Personagens
daquela cena social, escravos domsticos, esposas e flhos e o prprio pa-
triarca revelam diferentes condies sociais, a partir de uma hierarquia de
poder e de desigualdade. Ainda na sequncia dessa atividade, possvel
estabelecer a comparao entre as relaes sociais de poca, retratadas
no livro, e as vivenciadas pelas famlias brasileiras na atualidade. A ins-
pirao para esse ltimo perodo pode ser a msica Famlia, de Arnaldo
Antunes e Tony Belloto, interpretada pelos Tits. A letra, que conhecida
dos jovens, ao se tornar referncia para anlise sociolgica de situaes
cotidianas, conhecidas e experimentadas pelos jovens do Ensino Mdio,
assume novos signifcados.
Para se conhecer um pouco mais os diferentes formatos familiares
deste sculo XXI, nada mais sociolgico do que levar os estudantes a re-
fetirem coletivamente sobre a organizao familiar daqueles que lhes so
mais prximos, ou seja, os colegas de classe e de outras turmas, os vizinhos
e amigos. A proposta de fazer um exerccio de pesquisa sociolgica,
desenvolvida por pequenos grupos de estudantes do nvel mdio, a partir
de orientao criteriosa do professor em relao aos cuidados que essa
atividade requer, discutindo com a turma os objetivos, as hipteses e a
conduta dos pesquisadores, no caso, os prprios estudantes. A partir dos
resultados obtidos com a investigao, traar as diferentes estruturas en-
contradas, inclusive, aquelas que no se enquadram no modelo tradicional
pai, me, flhos. Tais confguraes, como representativas da organizao
familiar, so referncias concretas para se refetir sobre as transformaes
ocorridas na composio da famlia da sociedade contempornea.
O texto comenta pesquisas que sugerem que as dinmicas familiares
so afetadas pela classe social, pode-se propor aos alunos buscarem em
matrias jornalsticas e sites como o do IBGE (www.ibge.gov.br), Ipea (www.
ipea.gv.br) e Dieese (www.dieese.org.br) dados referentes s diferentes
condies em que vivem as famlias brasileiras.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
230
Uma possibilidade interessante de trabalho solicitar aos alunos a
leitura de pequenos trechos do texto de Roberto Da Mata A famlia como
um valor: consideraes no-familiares sobre a famlia brasileira (do livro Repen-
sando a famlia brasileira, organizado por Maria Jos Carneiro e Silvana G. de
Paula), a partir do qual seria solicitado que se organizasse um painel sobre
a predominncia do familiar e privado sobre o espao pblico, no Brasil.
Por fm, uma atividade que pode ser bastante instigante a de refe-
tir sobre a famlia e as mudanas que tem ocorrido neste mbito a partir
de um olhar sobre as imagens e fotografas de famlia. Para tanto, como
subsdio ao professor, recomendamos um texto clssico, A cmara clara:
nota sobre a fotografa, de Roland Barthes e o Retratos de Famlia, de Miriam
Moreira Leite.
Proposta de exerccio:
Pesquise e traga, para a sala de aula, imagens de famlias em
diferentes pocas. Compare e discuta como as circunstncias
podem condicionar dinmicas familiares distintas, usando con-
ceitos como os de famlia patriarcal, famlia nuclear, casamento
e unio consensual.
Comente a maneira em que, durante o ltimo sculo, diferentes
leis e tecnologias biomdicas infuenciaram a evoluo de prticas
familiares que dizem respeito a gnero e gerao.
231
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
O que faz com que jovens nascidos e habitantes em cidades
como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Manaus, no Amazo-
nas, ou So Paulo se sintam e se afrmem como indgenas? Sim, estes
que so oriundos de famlias que habitam a cidade h duas geraes
por vezes, e em matria de aparncia fsica (isto , em termos de fe-
ntipo) parecem com a juventude regional pobre. So eles os mesmos
que ouvem msicas de gneros musicais os mais variados (forr,
rock, MPB, brega, sertaneja etc.), vo a festas, cinemas e bares com
seus colegas, quando tm recursos para isso; estudam em escolas
de Ensino Mdio ou universidades em que os professores no os
reconhecem nem os tratam como diferentes; sendo submetidos
invisibilidade e ao no reconhecimento, seja por escolha prpria
(para evitar os preconceitos), seja pela ignorncia e o preconceito de
seus mestres e dos diretores de escolas e universidades; trabalham
em alguma ocupao compatvel com sua formao, ou estagiam
com bolsas de iniciao cientfca; vestem-se como qualquer jovem
regional. Sero eles de fato indgenas?
Captulo 11
Grupos tnicos
e etnicidades
Antonio Carlos de Souza Lima*
Sergio Ricardo Rodrigues Castilho**
* Doutor em Antropologia Social. Professor de Etnologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
** Doutor em Antropologia Social. Professor da Universidade Federal Fluminense.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
232
Por que famlias extensas de negros, que em outros tempos
chamaramos de camponeses habitantes de regies as mais variadas
do Brasil, que por dcadas demandaram direitos coletivos s terras
por eles ocupadas, hoje se afrmam como comunidades remanescentes
de quilombos? Tero eles de fato direito a uma educao?
Perguntas como estas esto na ordem do dia da sociedade bra-
sileira, aparecem na mdia, surgem como debates nos centros de
formao acadmica e de deciso poltica de nosso Pas. Mas como
entend-las? Que instrumentais tericos e que chaves conceituais
podemos utilizar para ultrapassar a viso simplista do senso comum
que considera manipulao, fruto de interesses esprios, tudo que
no caia nos lugares comuns sobre ndios e negros que todos ns
aprendemos no dia a dia e muitas vezes nos livros de uma velha
educao? Como podemos contribuir formando nossos alunos como
cidados portadores de uma viso mais aprofundada dos fenmenos
sociais, com isso detentores de valores democrticos e pluralistas?
Podemos em alguma medida utilizar uma mesma chave concei-
tual para procurar entender tais situaes? Podemos usar um mesmo
marcador de diferena para entender as colnias de imigrantes no
Brasil, to severamente atacadas durante o governo ditatorial de Get-
lio Vargas (1937-1945), no que se convencionou chamar de Campanha
de Nacionalizao? E poderamos somar a estas, situaes to dspares
tambm, como a dos judeus nascidos e criados fora de Israel e que l
jamais viveram? E os ciganos? Poderamos entender o seu modo de
vida e as reaes que este suscita com as mesmas perspectivas?
A resposta sociolgica que sim. Os conceitos-chaves que tm
sido utilizados para tanto so os de grupo tnico e o de etnicidade,
mais contemporaneamente, assim como j o foram os de minoria e
grupos minoritrios. Em nosso Pas, os estudos de fenmenos tni-
cos tm sido empreendidos pela Antropologia Social. Nos Estados
Unidos e na Inglaterra, alm desta disciplina, a Sociologia urbana
ou da vida cotidiana, assim como os estudos culturais, tm sido as
principais reas de estudo.
A noo de etnicidade a chave explicativa que nos sinaliza para
os complexos processos de identifcao, tanto aqueles pelos quais
uma coletividade se diferencia de outras coletividades em seu entor-
no ou do Estado Nacional, a que est subsumida, quanto aqueles que,
partindo de fora desses coletivos, tambm o considera diferenciado,
via de regra, para isso recorrendo a atributos desqualifcadores de
233
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
sua condio, a estigmas, portanto. Tais coletividades compem o que
denominamos um grupo tnico, e os indivduos que a eles pertencem
como portadores de uma identidade etnicamente diferenciada.
Nesse sentido, etnicidade designa o sentimento de ser portador
de atributos distintivos face aos integrantes de outros grupos, atribu-
tos estes que so considerados os mais importantes pelos indivduos
que pertencem a um dado grupo. Oscilando, portanto, no largo
espectro do estigma imputado por outros e da falta de conscincia
de sua singularidade, de um lado, ao orgulho e conscincia de
sua diferena, de outro, a etnicidade, como marcador de diferena,
um fenmeno de ordem essencialmente cultural. Os grupos tni-
cos diferem, assim, de classes sociais, grupos de status, ordens ou
raas. Na medida em que est estreitamente relacionada s questes
identitrias, a noo de etnicidade aponta tambm para os aspectos
de redefnio do sujeito no mundo moderno, assim como para as
diversas transformaes que esse sujeito vem passando. Das identi-
dades defnidas a partir de parmetros como a posio no processo
produtivo e a luta por interesses comuns, como o pertencimento a
classes sociais, a grupos ordenados pela honra e pelo prestgio, sur-
gem identidades mais fexveis que se defnem crescentemente pelas
suas relaes com outras identidades, implicando mesmo uma das
bases do pertencimento tnico a defnio por contraste e a seleo
de aspectos a serem tomados como contrastivos a cada momento. A
noo de etnicidade designa, pois, a vivncia e expresso de certos
graus e formas de coerncia, solidariedade e uma conscincia da
diferena prpria a cada grupo tnico. Baseia-se no compartilhamen-
to de uma trajetria histrico-social e interpretaes acerca dessas
experincias, inscritas sob a forma de tradies orais ou escritas
em mitos, histrias de origem e trajetrias comuns. Pela seleo de
elementos marcadamente culturais, portanto, a noo de etnicida-
de, como marcador de diferena social de grupos, sinaliza para o
modo como os grupos tnicos se afrmam em matria de orgulho
e positividade em oposio viso que deles tm outros grupos,
em especial quando esses so segmentos dominantes em termos
de poder das sociedades de que fazem parte. As ideologias tnicas
implicam, assim, uma tenso, sob a forma de entendimento, mani-
pulao, crtica e rebatimento das noes dominantes presentes sob
a forma de esteretipos na esfera pblica construo da etnicidade,
por outro lado, implica necessariamente o confronto intercultural.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
234
Para muitos autores na rea do Direito e da Antropologia, como
a subprocuradora da Repblica Dra. Deborah Duprat de B. Pereira,
a Constituio Brasileira de 1988 deu uma virada radical na forma
como se quer pensar e viver o Brasil enquanto experincia coletiva
(PEREIRA, 2000). Em seu ttulo VIII, Da Ordem Social, captulo
VIII, Dos ndios, e pelo artigo n 68 (ttulo X, Ato das disposies
constitucionais transitrias), ao afrmar que Aos remanescentes
das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras
reconhecida a propriedade defnitiva, devendo o Estado emitir-
lhes os ttulos respectivos, a constituio teria instaurado as bases
de um Estado pluritnico, onde um cdigo cultural dominante no
pode suprimir a existncia da diversidade sociocultural.
1
Desta forma, a discusso das questes tnicas est na ordem do
dia na sociedade brasileira. Isto se d, por um lado, pela importncia
simblica e fundiria dos povos indgenas no Brasil, j que esses
so ainda hoje invocados como uma das imagens da nacionalidade
brasileira, e hoje tm direitos reconhecidos em torno de 13% do
territrio brasileiro. Os governos brasileiros de Fernando Henrique
Cardoso e Luis Incio Lula da Silva assinaram, respectivamente,
a Conveno n 169 sobre povos indgenas e tribais, da Organizao
Internacional do Trabalho (OIT), que reconhece o direito autoi-
dentifcao desses povos, e a Declarao das Naes Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indgenas
2
. Tais diplomas legais, uma vez interna-
lizados no ordenamento jurdico brasileiro, consolidam e ampliam
os direitos reconhecidos em nossa Constituio, sendo na prtica
matria de grandes controvrsias e de uma necessria e cotidiana
luta poltica para que sejam efetivamente implementados. No Bra-
sil, a noo de etnicidade mostrou-se particularmente importante
no tratamento que diversos autores deram questo indgena, no
quadro de um dilogo crtico com as perspectivas assimilacionistas,
que imaginavam que os ndios iriam desaparecer e se dissolver no
interior do Estado nacional.
1
Di spon vel em: <ht t p: / / www. pl anal t o. gov. br/ cci vi l _03/ const i t ui cao/
constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 19 set. 2009.
2
O texto da Conveno n 169 pode ser localizado em <htp://www.planalto.gov.
br/consea/Static/documentos/Eventos/IIIConferencia/conv_169.pdf>. Para a Decla-
rao das Naes Unidas sobre os Direitos dos Povos Indgenas, ver <htp://www.
un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_pt.pdf>. Acesso em: 19 set. 2009.
235
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Por outro lado, a crescente etnicizao, de diferentes maneiras,
da diferena de cor tomada como experincia racial, em grande me-
dida enfatizada a partir dos resultados da Conferncia Mundial Contra
o Racismo, Discriminao Racial, Xenofobia e Intolerncia Correlata, reu-
nida em Durban, na frica do Sul, de 31 de agosto a 8 de setembro
de 2001, tm dado lugar a mltiplas polticas de ao afrmativa,
dentre as quais as mais conhecidas (e com o que esta forma de ao
institucional tem sido confundida) tm sido a das cotas para vagas
destinadas a negros e indgenas no acesso a instituies pblicas
de ensino superior. A rigor, no entanto, seria o reconhecimento de
demandas fundirias por comunidades remanescentes de quilombos
que pode melhor ser explicada enquanto fenmeno tnico, j que
implica a mobilizao dos elementos culturais singulares e especf-
cos que no se perdem no horizonte muito amplo e disperso da vida
dos negros no Brasil. Os negros em geral no podem ser pensados,
a princpio, como grupo tnico defnido por uma memria e uma
trajetria comuns, seno em planos muito vagos. Veremos abaixo
como a noo de raa pode ser mais expressiva de dimenses cole-
tivas da vida dos negros no Brasil.
No entanto, o potencial explicativo das noes de etnicidade,
de grupo tnico e de identidade tnica no est apenas restrito
realidade da vida e das lutas de indgenas e negros. Tais noes
permitem-nos melhor compreender no s a experincia de gru-
pos como os ciganos, judeus, muulmanos, ou os descendentes de
inmeros povos imigrantes para o Brasil, mas tambm a experin-
cia da presena brasileira no exterior, dando suporte a discusses
importantes hoje no tocante reviso de nossa legislao referente
aos estrangeiros.
Em termos analticos, o maior foco dos estudos sobre fenme-
nos tnicos pela Antropologia Social no Brasil tem incidido sobre os
povos indgenas, em que ressaltam os trabalhos de Darcy Ribeiro,
Roberto Cardoso de Oliveira e Joo Pacheco de Oliveira; sobre as
populaes imigrantes, em que se destacam Giralda Seyferth, Ellen
Woortmann e Bella Feldman-Bianco, dentre outros pesquisadores,
tanto por sua pesquisa como pela orientao de jovens antroplo-
gos; e no tocante ao estudo sobre comunidades remanescentes de
quilombos, Alfredo Wagner Berno de Almeida, Eliane Cantarino
ODwyer e Ilka Boaventura Leite.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
236
As teorias sobre etnicidade
Existe uma ampla variedade de teorias acerca da etnicidade,
e seria impossvel fazer referncia a todas aqui. Ainda que muitas
delas se reportem a desenvolvimentos intelectuais dos finais do
sculo XIX e incios do sculo XX, a maior nfase em teorias sobre
etnicidade se d recentemente, em especial a partir da dcada de
1970. At meados dos anos de 1960, os fenmenos tnicos eram
considerados como remanescentes de caractersticas pr-industriais,
com declnio garantido face a constructos tais como a modernizao,
o desenvolvimento, a insero no mundo capitalista ou no mundo
socialista. Tratava-se, pois, de fenmenos a serem ultrapassados na
busca da construo de Estados modernos, lderes de processos de
integrao nacional, de aculturao de grupos diferentes cultu-
ra dominante e assimilao integral. Foi diante de mudanas mais
amplas que este modo de pensar se viu confrontado e desafado a
refetir sobre novas alternativas.
Novas ideias surgiram na busca de dar conta de realidades his-
tricas, tais como os movimentos de descolonizao na frica e na
sia, os movimentos tnicos que desde fnais da dcada de 1960 se
espalharam pelo mundo, muitas vezes em contraposio a projetos
desenvolvimentistas de largo impacto sobre populaes at ento
em relativo estado de distncia dos grandes aglomerados urbanos,
isto acontecendo inclusive na Europa Ocidental e nos EUA. Exemplo
disso foi o impacto da construo da hidreltrica de Alta, na No-
ruega, sobre o povo Sami (os Lapes)
3
; e, por outro lado, o Estado
de Israel, na Guerra dos Seis Dias, em 1967, contra uma frente de
pases rabes, formada pelo Egito, Jordnia e Sria, com o suporte
do Iraque, da Arbia Saudita, do Kuwait, do Sudo e da Arglia.
Como sabemos, Israel surgiu da reunio de grupos tnicos judeus
provenientes de distintas partes do mundo, muito diferentes entre
si, ainda que portadores de certos elementos culturais em comum.
Muitos desses grupos haviam fugido dos horrores do holocausto
sob o regime nazista e de outros processos de extermnio, sobretudo
em pases da Europa oriental que, numa franca confuso entre raa
e etnicidade, visavam a purifcao das matrizes raciais. Ganhava
3
Para o surgimento da categoria povos indgenas no plano internacional, sua
relao com os estudos tnicos, a participao dos Sami e dos antroplogos
noruegueses neste processo, ver Hofmann (2009).
237
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
relevo, assim, um conjunto de tenses em torno da Palestina e de
regies adjacentes, que mantm repercusses bem conhecidas no
mundo contemporneo. Na mesma conjuntura, o regime do apartheid
comeava a sofrer uma forte contestao, e foi em 1962 condenado
no plano internacional pela Assembleia Geral das Naes Unidas.
Nos Estados Unidos, iniciava-se o movimento pelos direitos civis de
negros e o American Indian Movement que conduziriam a importantes
transformaes, inclusive no cenrio internacional.
Frente a essas muitas situaes, onde o dado do confronto de
culturas e civilizaes dentro e entre Estados nacionais parecia
um complicador inesperado, e no redutvel meramente luta
anticolonial, fazia-se necessrio analisar como afinidades culturais
podiam ser utilizadas como bases para a filiao poltica intergru-
pal em lutas polticas. Contudo, muitas vezes, a conceituao de
etnicidade em certos enfoques tericos to ampla que a noo
acaba se referindo a praticamente qualquer grupo minoritrio, com
aspiraes comuns no interior de um territrio definido. Mesmo
que a multiplicidade de novas situaes derivada das afirmaes
tnicas e identitrias, num momento de intensa globalizao, apre-
sente dificuldades antes no conhecidas, importante procurar
uma maior preciso conceitual e ter algum domnio de suas inter-
pretaes no interior da Antropologia e Sociologia
4
.
Trs grandes vertentes tericas principais podem melhor bali-
zar os estudos dos fenmenos tnicos. Em todas elas esto em jogo
diferentes vises acerca da sociedade e do que seja cultura (veja o
texto homnimo neste volume). A vertente primordialista (A), em
larga medida baseada em supostos objetivistas, supe laos reais
e tangveis que embasam a identifcao tnica, sendo os vnculos
tnicos entendidos enquanto primordiais e no como contextuais. O
parentesco, as caractersticas lingusticas e religiosas, dentre outros
elementos, so os mais ressaltados por estas teorias como motores
para a organizao de comunidade em contraposio s tendncias
dominantes num certo Estado nacional. A abordagem primordia-
lista pode ser reportada a duas grandes correntes: 1) as teorias que
tomam tais vnculos como sendo de base biolgica, determinadas
pela gentica e por fatores geogrficos, sendo a etnicidade uma
extenso
4
Para uma introduo didtica s discusses sobre etnicidade em suas diversas
vertentes tericas, ver Poutignat e Streif-Fenart (2000).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
238
do parentesco. Esta viso caracterstica da chamada sociobiolo-
gia; 2) as teorias que tomam a etnicidade como primordial, como
fruto de um sentimento de afnidade natural, e no como produto
da interao social, ainda que nesta viso tal afnidade natural seja
produto da cultura e da histria. Tais lealdades primordiais teriam
o poder de concorrer com o vnculo nacional, sob a forma de paro-
quialismos, tribalismos. Um autor que em dado momento de sua
trajetria pensou dessa forma o vnculo tnico foi Cliford Geertz
(1963). O que estava em jogo aqui era uma suposta estrutura cultu-
ral de cada sociedade, supondo-se a cultura como dado essencial
e substantivo, pouco capaz de dar conta de cenrios to dinmicos
como os que se instauravam.
Uma segunda grande vertente (B) dos estudos sobre etnicidade
costumeiramente chamada de instrumentalismo. Na perspectiva
instrumentalista, com amplas bases no funcionalismo, a etnicidade
percebida como reivindicao surgida da criao e manipulao
de mitos polticos produzidos por elites liderando coletividades
culturalmente diferenciadas, na sua luta por acessar recursos e po-
der, dentro de fronteiras determinadas por realidades econmicas
e polticas. Por vezes esta viso adquiriu tinturas da Psicologia So-
cial, incorporando sua explicao a busca pela recuperao de um
orgulho tnico perdido, como o apresentou Horowitz (1985).
A terceira grande vertente (C) e mais importante para o cenrio
brasileiro contemporneo, quer por sua presena quer pelo seu poder
explicativo, inaugurou-se com a coletnea de trabalhos de autores
noruegueses, intitulada Ethnic Groups and Boundaries, organizada
pelo antroplogo Fredrik Barth (1969), publicada em 1969 pela Uni-
versidade de Oslo. Para tal vertente, a etnicidade uma construo
histrica situacional, fruto de um processo de adscrio altamente
dinmico e mutvel, baseado na interao entre grupos que pro-
curam manter fronteiras entre si, a partir de elementos culturais
contextualmente selecionados. Na verdade, para Barth, o que est
em questo como certa forma de organizao social mantida por
mecanismos intergrupais de produo de fronteiras socioculturais,
onde os dados culturais a marcarem a diferena so retirados de
amplos inventrios culturais de acordo com o momento, em um
processo de mobilizao pela luta por recursos e reconhecimento.
Nesta tendncia, os grupos tnicos so uma forma de comunizao
poltica, alicerados em processo dinmico de (auto)atribuio/ne-
239
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
gao de identidades, de excluso/incluso. A etnicidade resulta
desse jogo, que estrutura as relaes intergrupais, servindo como
base dos processos de mobilizao poltica e redefnindo os de es-
tratifcao social.
Muitos autores tm operado, mais contemporaneamente, com os
fenmenos identitrios, anlise dos quais Cardoso de Oliveira (1978,
2006) um dos precursores. Consideram que investigaes calcadas
em termos como grupo e fronteira carregam ainda uma relativa fxidez
face ao que, como j vimos, um cenrio contemporneo progressi-
vamente mais fuido e dinmico, em que mltiplos pertencimentos
superpem-se em identidades muitas vezes volteis. A tendncia
tem sido a de que a vertente construtivista se recombine, em alguma
medida, com elementos instrumentalistas e de outras vertentes, e
que as anlises de identidades ganhem maior relevncia.
Etnicidade e raa
As formas mais essencialistas de se pensar os grupos tnicos ou
as culturas erravam ao no compreender a centralidade das relaes
entre os grupos e as diversas culturas espalhadas pelo mundo. As-
sim, nessas formulaes sobre os grupos tnicos, estes podiam ser
identifcados, por exemplo, a partir de determinadas caractersticas
fenotpicas, s raas.
A superao do conceito de raa humana tanto pela Antropo-
logia quanto pela Biologia encetou um importante golpe no essen-
cialismo. O argumento contra a utilizao da noo de raa por
parte das Cincias Humanas vem, pelo menos, desde Franz Boas,
sendo escrito nos EUA desde o fnal do sculo XIX, e foi sintetizado
por Lvi-Strauss (1976, p. 328-366) em seu libelo Raa e Histria: a
humanidade uma s do ponto de vista de suas capacidades cog-
nitivas e de adaptao, mas as formas de adaptao e de construo
das culturas so distintas. A este trecho poderamos somar uma
observao do j mencionado Cliford Geertz (1989, p. 57) quando
diz que um dos fatos mais signifcativos ao nosso respeito pode ser,
fnalmente, que todos ns comeamos com o equipamento natural
para viver milhares de espcies de vida, mas terminamos por viver
apenas uma espcie.
De fato, a ideia de raa funcionou no s como uma tese cient-
fca acerca das caractersticas biolgicas distintas, mas tambm como
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
240
ideologia e fundamento para os mais diversos tipos de preconceito e
formas de racismo. Caractersticas anatmicas e fsiolgicas distintas
foram aladas a sinal de superioridade de uma raa sobre a outra
e, em particular, da superioridade da raa branca sobre todas as
outras. Todas as outras raas humanas eram consideradas inferiores
e postas numa escala que ordenava a inferioridade de cada uma
em relao raa ariana. Assim, os amarelos (orientais), vermelhos
(indgenas da Amrica do Norte), negros (africanos) e todos os ou-
tros eram considerados possuidores de costumes e crenas brbaras
e bizarras e mais ou menos incapazes de raciocnio, pensamento
lgico e abstrato.
O racismo, servindo como uma ideologia que justifcou as arbi-
trariedades e os desmandos do colonialismo nas Amricas e frica,
estabeleceu a raa negra como um dos alvos privilegiados junto
com os povos indgenas convertidos em raas indgenas de seu
processo civilizatrio. Embora superado do ponto de vista cientfco,
tanto por parte das Cincias Humanas quanto da Biologia, o racis-
mo continua uma fora poderosa a atuar no senso comum e nas
concepes dominantes no interior das sociedades ocidentais.
Mais recentemente, a Biologia tambm foi capaz de identifcar
que a diversidade dos grupos humanos muito maior do que as
caractersticas fenotpicas deixam aparecer. No interior do verda-
deiro campo de batalhas cientfcas e ticas que se tornou o Projeto
Genoma Humano (PGH), o cientista italiano Luca Cavalli-Sforza e
um grupo de geneticistas lanaram um projeto paralelo, o Projeto
da Diversidade do Genoma Humano (PDGH). As preocupaes de
Cavalli-Sforza esto ligadas ao fato de que o PGH mapeou o genoma
humano a partir de amostras provenientes principalmente de labora-
trios ocidentais. Suas investigaes puderam mostrar, claramente,
que impossvel estabelecer relaes entre as caractersticas fenot-
picas e as caractersticas genotpicas de qualquer ser humano.
O estudo das caractersticas que as populaes humanas pos-
suem atualmente mostrou que, por exemplo, dois indivduos de uma
mesma pequena vila no centro da Itlia, com caractersticas fsicas
externas em tudo semelhantes, apresentam gentipos completamente
diferentes. Inversamente, dois indivduos com gentipos semelhan-
tes apresentam caractersticas fsicas distintas. Tais resultados so
consequncia da longa histria de migrao, contato, relaes comer-
ciais, conquistas e pluralismo cultural que, de uma maneira geral,
241
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
caracterizam os grupos humanos. Nada mais afastado da histria
real dos homens e mulheres do que imaginar que os grupos isolados
e sem contato (que existem de fato, mas so em pequeno nmero)
representam a maioria da humanidade (Cavalli-Sforza, 2003).
importante, porm, destacar o que hoje as Cincias Sociais
entendem como raas, de modo que se destaque a diferena entre
o que conceituamos como racial e como tnico. Como diz Antonio
Sergio A. Guimares (2008, p. 65-66),
As sociedades humanas constroem discursos sobre suas ori-
gens e sobre a transmisso de essncias entre geraes. Este
o terreno prprio das identidades sociais e o seu estudo
trata desses discursos sobre origem. Usando essa idia, po-
demos dizer o seguinte: certos discursos falam de essncias
que so basicamente traos fsionmicos e qualidades morais
e intelectuais; s nesse campo a raa faz sentido. O que so
as raas para a sociologia, portanto? So discursos sobre as
origens de um grupo, que usam termos que remetem trans-
misso de traos fsionmicos, qualidades morais, intelectuais
e psicolgicas etc., pelo sangue (conceito) fundamental para
entender raas e certas essncias.
Estamos muito longe aqui das noes de etnicidade e grupos
tnicos, em que ainda a ideia de uma transmisso de essncias s
pode ser apreendida como discurso contextual e situacionalmente
posicionado, e onde o dado somatolgico, ainda que elemento dis-
cursivo, no , todavia, essencial.
O racismo cientfico teve larga influncia em nosso Pas, tanto
mais pela fora quase imorredoura dos costumes e ideologia repor-
tveis ao regime escravista. Numerosos estudos tm mostrado que
a permanncia de ideias como as de branqueamento progressivo da
populao brasileira, de fuso de trs raas como componentes do
esprito do povo brasileiro, da valorizao ou detratao do mestio,
de toda a carga estereotpica ligada aos dispositivos de governo
de populaes, onde a Antropologia fsica de finais do sculo XIX
e incios do XX forneceram as bases de instrumentos de governo
da populao atravs dos subsdios s prticas policiais, onde o
esteretipo do criminoso era equacionado ao do negro ou do mu-
lato. H ainda muito por ser estudado no plano da conexo entre
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
242
racismo, instituies e ideologias republicanas em nosso pas, no
sendo este o lugar para tanto.
Etnicidade e cultura
A noo de etnicidade se insurge tambm contra a tendncia
reificao e objetivao do conceito de cultura como base de identi-
ficao dos grupos tnicos. Aqui, a contribuio do j mencionado
antroplogo noruegus Fredrik Barth continua sendo extremamen-
te importante. Em seu ensaio de 1969, Barth (2000a, p. 33-34) j
apontara que o foco central para investigao dos grupos tnicos
passa a ser a fronteira tnica que define o grupo e no o contedo
cultural por ela delimitado. Numa conferncia pronunciada vinte e
seis anos depois, em 1995, na Universidade de Harvard, e intitula-
da Rethinking Culture (Repensando a cultura), Barth (2006, p. 16-30)
aprofunda seu entendimento do que esta seja, entendendo-a como
claramente distinta do objeto da organizao social.
A cultura est em estado de fuxo constante, e se distribui glo-
balmente atravs de uma continuidade complexa e padronizada
que tem nas pessoas e em suas experincias seu vetor. J os grupos
sociais tendem estabilidade, podem perfeitamente ter fronteiras
defnidas e se distinguem claramente de seus congneres, entre ou-
tros elementos (BARTH, 2006, p. 16-17).
Apresentando de outra forma, Barth (2006, p. 22) est preocu-
pado em combater aquilo que chama de mito central da etnicida-
de, a saber, o argumento segundo o qual se ns que pertencemos
a uma identidade minoritria somos iguais em tantas diferenas
em relao ao(s) grupo(s) dominante(s), porque possumos uma
cultura distinta desses grupos?. Esta uma pergunta extrema-
mente pertinente e atual quando pensamos no exemplo do jovem
estudante indgena mencionado na abertura deste texto. Para Barth
temos de inverter essa relao de causalidade e compreender que
tradies culturais so importantes para os grupos tnicos na me-
dida em que so acionados e utilizados como smbolo ou emblema
de diferena, e que elas as tradies culturais no so o nico
elemento a distinguir tais grupos. No se trata de negar a impor-
tncia do conceito de cultura, mas de revitaliz-lo e impedi-lo de
ser apreendido pelas perspectivas essencialistas de vrios tipos.
243
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Mobilizao tnica e contemporaneidade: para alm
do Estado (mono)nacional
Para concluir, importante assinalar que na direo contrria
aos postulados culturalistas e assimilacionistas dos anos 1950-1960,
e paralelamente s tendncias padronizadoras derivadas da inten-
sifcao do processo de globalizao a partir do fnal da dcada de
1960, os grupos tnicos vm afrmando cada vez mais sua presena
e sua fora. Diversas so as causas dessa emergncia da etnicidade
no mundo atual, inclusive e em relao direta expanso, cada dia
mais aprofundada, da forma poltica do Estado nacional, apesar de
todos os augrios relativos sua dissoluo. Como sinaliza Barth
(2006, p. 24),
importante reconhecer que a dinmica da mobilizao po-
ltica em direo ao confito com base tnica no a expres-
so de sentimentos populares coletivos, mas resulta de aes
estratgicas feitas por agentes polticos. [...] Cruamente, diria
que os confitos que vemos hoje em dia resultam da ao de
polticos de mdio escalo que usam a poltica da diferena
cultural para avanar suas ambies por liderana.
Ao invs de entrar nas difculdades especfcas que tais posies
trazem para propostas de ao coletiva (e lembrando que a existncia
de lideranas que usam a poltica qualquer poltica para avanar
suas ambies por liderana, provavelmente algo to antigo quanto
a histria humana), talvez seja mais produtivo inseri-las num quadro
mais amplo de reavaliao crtica do trabalho de Barth, no que diz
respeito s relaes entre os grupos tnicos e o Estado.
Diversos autores j apontaram o que seria um dos maiores limi-
tes do trabalho do Fredrik Barth, a saber, no dar a devida ateno
e importncia ao papel do Estado (mono)nacional na relao com
os grupos tnicos. O prprio Barth procurou responder a essas cr-
ticas em outra conferncia, esta feita nos marcos do seminrio sobre
Antropologia da etnicidade, em Amsterdam, em 1993. Reconheceu,
na ocasio, que deu ateno limitada aos efeitos da organizao
estatal, focalizando a competio tnica por recursos, mas pouco
avanou alm de criticar a postura inversa que considera que todos
os processos tnicos devem ser compreendidos com referncia s
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
244
variantes muito especfcas de estruturas estatais, representadas nas
democracias contemporneas (BARTH, 2000c, p. 19).
A preocupao maior de Barth (2000b, p. 215) que no se caia
no erro de totalizar o Estado como uma quase-sociedade e que no
se esquea de que o Estado nacional uma formao especfca, no
representando a diversidade de formas que as formaes estatais
podem assumir. O foco da investigao deve partir das relaes
empricas entre os sujeitos concretos.
O Estado no , certamente, uma fora abstrata e sim um ator
no campo poltico (como corretamente defne Barth), mas fun-
damental acrescentar um ator privilegiado. As manifestaes de
afrmao tnica necessitam, dada a correlao de foras na socie-
dade contempornea, de algum tipo de interlocuo com o Estado
que neguem, reconheam ou negociem os direitos pretendidos frente
aos outros grupos.
Assim, os povos indgenas ou as comunidades remanescentes de
quilombos, os ciganos, descendentes de imigrantes de origem variada
vm lutando pela transformao da esfera pblica e mais especif-
camente pela prpria mudana da ideia de Estado no Brasil, assim
como por alteraes no sistema de instituies estatais, no sentido
de construo de uma realidade pluritnica e multicultural tambm
neste plano. O movimento indgena tem sido particularmente vocal
neste sentido e as foras em contrrio tm sido poderosas. O papel da
escola fundamental na mitigao dos preconceitos e na construo
das bases de uma nova conscincia cidad, pautada no mais na ho-
mogeneidade, mas na diversidade real de modos de vida abarcados
pelo Pas Brasil, enquanto ente de direito internacional. Aqui estamos
para muito alm da manipulao interessada de empreendedores
polticos em luta por projeo pessoal, ainda que estes possam existir.
Que este seja s o comeo de muitas outras leituras.
Referncias
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras tradicionalmente ocupadas: terras de
quilombo, terras indgenas, babauais livres, castanhais do povo, faxinais e fundos
de pasto. 2. ed. Manaus: Ed. Universidade do Amazonas, 2008.
______. Os quilombolas e a Base de Lanamentos de foguetes de Alcntara: laudo antro-
polgico. Braslia: MMA, 2006. 2 v.
245
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
BARTH, F. Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difer-
ences. Bergen-Oslo/Boston: Universitet Forlaget/Litle Brown, 1969.
______. Os grupos tnicos e suas fronteiras. In: ______. O guru, o iniciador e outras
variaes antropolgicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000a. p. 25-67.
______. Entrevista. In: ______. O guru, o iniciador e outras variaes antropolgicas.
Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000b. p. 201-238.
______. Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity. In: VERMEULEN,
Hans & GOVERS, Cora (Ed.). The anthropology of ethnicity beyond Ethnic groups
and boundaries. 4. ed. Amsterdam: Het Spinhuis, 2000c. [1994]. p. 11-32.
______. Etnicidade e o conceito de cultura. Antropoltica, Niteri, ano 19, n. 2, p.
16-30, set. 2006.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Identidade, etnia e estrutura social. So Paulo:
Pioneira, 1978.
______. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo. So
Paulo: Ed. Unesp, 2006.
CAVALLI-SFORZA, L. Genes, povos e lnguas. So Paulo: Companhia das Letras,
2003.
FELDMAN-BIANCO, Bela; CAPINHA, Graa (Org.). Identidades: estudos de cultura
e poder. So Paulo: Hucitec, 2000.
GEERTZ, Cliford. The integrative revolution:primordial sentiments and civil order
in the New States. In: ______ (Ed.). Old Societies and New States. New York: The
Free Press of Glencoe, 1963.
______. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
GUIMARES, Antonio Sergio Alfredo. Raa, cor e outros conceitos analticos. In:
SANSONE, Livio; PINHO, Osmundo Araujo (Org.). Raa: novas perspectivas an-
tropolgicas. 2. ed. rev. Salvador: Associao Brasileira de Antropologia; EDUFBA,
2008. p. 63-82.
HOFFMANN, Maria Barroso. Fronteiras tnicas, fronteiras de Estado e imaginao da
nao: um estudo sobre a cooperao internacional norueguesa junto aos povos
indgenas. Rio de Janeiro: E-Papers, 2009.
HOROWITZ, D. Ethnic Groups in confict. Berkeley: University of California Press,
1985.
LEITE, Ilka Boaventura. O legado do testamento. A comunidade de Casca em percia.
2. ed. Florianpolis: NUER/UFSC, 2000.
LVI-STRAUSS, Claude. Raa e histria. In: ______. Antropologia Estrutural Dois.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. p. 328-366.
ODWYER, Eliane Cantarino (Ed.). Quilombo: Identidade tnica e territorialidade.
2. ed. Rio de Janeiro: FGV; Braslia: ABA, 2002.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
246
PACHECO DE OLIVEIRA, Joo. Ensaios em antropologia histrica. Rio de Janeiro:
Ed. UFRJ, 1999.
______. A viagem da volta: etnicidade, poltica e reelaborao cultural no Nordeste
indgena. 2. ed. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004.
PEREIRA, Deborah Duprat de Brito Pereira. O Estado pluritnico. In: SOUZA
LIMA, Antonio Carlos de; BARROSO-HOFFMANN, Maria (Ed.). Alm da tutela:
bases para uma nova poltica indigenista, III. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000.
POUTIGNAT, Philippe; STREIF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade: seguido de
Grupos tnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. So Paulo: Ed. Unesp, 2000.
RIBEIRO, Darcy. Os ndios e a civilizao. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1970.
SEYFERTH, Giralda. Nacionalismo e identidade tnica: a ideologia germanista e o
grupo tnico teuto-brasileiro numa comunidade do Vale do Itaja. Florianpolis:
Fundao Catarinense de Cultura, 1982.
______. Imigrao e cultura no Brasil. Braslia: Ed. UnB, 1990.
WOORTMANN, Ellen F. A colonizao alem no Vale do Mucuri. Belo Horizonte:
Centro de Estudos Histricos e Culturais da Fundao Joo Pinheiro, 1993.
Gr upos tni cos e etni ci dades na sala de aula
O texto de Antonio Carlos de Souza Lima e Srgio Ricardo Rodri-
gues Castilho traz uma refexo bastante circunstanciada por referncias
sobre as questes que envolvem o tema da etnicidade, podendo contribuir
enormemente para a discusso em sala de aula. O contraste desse tema
com o de raa e o de cultura acrescenta informaes fundamentais para
se poder rever esses conceitos muito presentes e opostos nos debates
sobre a formao e confgurao da sociedade brasileira e, recentemente,
sobre as chamadas polticas de afrmao e combate a preconceitos arrai-
gados pela histria.
Assim, talvez um primeiro trabalho a ser feito pelo professor condu-
zir o debate sobre esses trs conceitos, a partir de suas origens, defnies,
pressupostos e compromissos que assumem no campo cientfco e poltico,
por exemplo.
A Associao Brasileira de Antropologia (htp://www.abant.org.br)
produziu dois vdeos, de interesse para a formao do docente de Ensino
Mdio. Trata-se de Muita terra para pouco ndio?, de Bruno Pacheco de Oli-
veira, e de Terra de quilombos: uma dvida histrica, documentrio sobre as
comunidades negras rurais de Alcntara/Maranho, de Murilo Santos.
247
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Em htp://www.laced.etc.br, site do Laboratrio de Pesquisas em Cultu-
ra, Etnicidade e Desenvolvimento/Depto. de Antropologia/Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, numerosos instrumentos podem
ser localizados, sendo de utilidade tanto na ampliao do conhecimento
quanto em fornecer material para uso didtico. Em particular, em htp://
www.laced.etc.br/quilombola.html h um importante banco de dados sobre
a situao quilombola no Brasil.
Em htp://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/, site do projeto Trilhas
de conhecimentos: o ensino superior de indgenas no Brasil, desenvolvido no
suprarreferido Laced, em particular na seo livros, podem ser localizados
e baixados integralmente livros da Srie Vias dos Saberes, da Coleo Edu-
cao para Todos, do MEC/Unesco. Trs deles so de interesse direto:
a) o primeiro sobre a situao indgena no Brasil em termos atu-
ais: htp://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/arquivos/ColET12_
Vias01WEB.pdf;
b) o segundo abordando a presena indgena na histria do Bra-
sil: htp://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/arquivos/ColET12_
Vias01WEB.pdf;
c) o terceiro acerca dos direitos indgenas no Brasil presente: htp://www.
trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/arquivos/ColET14_Vias03WEB.pdf.
Outros sites que podem ser de interesse sobre a temtica indgena so:
htp://www.socioambiental.org/, htp://www.museudoindio.org.br/, htp://
www.funai.gov.br/index.html, htp://www.inesc.org.br/ e htp://www.vide-
onasaldeias.org.br/2009/, pelo qual voc pode comprar vdeos para utilizar
em sala de aula. Voc tambm pode obter material didtico sobre a ques-
to indgena junto Coordenao Geral de Educao Escolar Indgena da
Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade do MEC
(htp://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=290&Itemid=816). Dentre o material que a CGEEI/SECAD-MEC tem para
distribuio, h a srie de vdeos ndios no Brasil.
Sites de interesse sobre a questo quilombola so: htp://www.koi-
nonia.org.br/institucional-koinonia.asp, htp://www.nuer.ufsc.br/ e htp://
www.cpisp.org.br/.
Aps a consulta a estes stios da web, propomos que voc refita sobre
o que voc e seus alunos conhecem sobre as comunidades indgenas e
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
248
quilombolas presentes em seu estado, o modo como so vistos ou desco-
nhecidos e como tais modalidades podem ser criticadas a partir dos textos
deste volume. Seria interessante, assim, fazer um mapeamento da presena
indgena em reas prximas sua escola. Se voc tiver alunos indgenas,
eles devem ser os guias desses levantamentos. Sugerimos, ainda, que voc
leia os captulos e artigos da Constituio citados neste captulo, bem como
consulte e leia os diplomas jurdicos citados em nota neste texto.
249
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
A democracia
A palavra democracia vem do termo grego demokratia: demos
signifca povo e kratos signifca poder. Democracia, portanto, quer
dizer, literalmente: o poder do povo. Contudo, da Grcia clssica
1
,
onde essa forma de governo surgiu, aos dias de hoje muita coisa
mudou, inclusive a prpria concepo de democracia. Para entender-
mos melhor essas mudanas, vamos tomar cada um dos elementos
do termo em separado.
Comecemos pelo demos, isto , o povo. Na verdade, o signifcado
de povo no conceito de democracia no igual ao de populao,
que o conjunto de pessoas que vivem em um mesmo territrio,
mas o de conjunto de cidados. Somente pode ser considerado ci-
dado o indivduo portador de plenos direitos constitucionais. O
exemplo mais conhecido de democracia na Grcia antiga a cidade
de Atenas. Mesmo no perodo em que os direitos de participao na
assembleia e de ocupao de cargos pblicos foram mais estendidos,
sob o governo de Pricles, entre 461 e 429 a.C., o povo se restringia
aos cidados atenienses homens que haviam cumprido servio mi-
litar. Escravos que constituam em mdia 30% da populao das
cidades gregas , estrangeiros e seus flhos, e mulheres estavam
banidos da participao poltica. A democracia ateniense antes de
* Doutor em Cincia Poltica. Professor de Cincia Poltica da UERJ e da UNIRIO.
** Doutora em Cincia Poltica pelo IUPERJ. Professora da UERJ.
1
Considera-se que o perodo clssico se deu nos sculos VI, V e IV a.C.
Captulo 12
Democracia,
cidadania e justia
Joo Feres Jnior*
Thamy Pogrebinschi**
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
250
Pricles era ainda mais restritiva, mesmo os cidados que viviam
do trabalho das prprias mos (agricultores, mecnicos, artesos,
etc.) tambm eram excludos da poltica. Isso nos conduz a duas
concluses importantes:
A noo de povo, como o conjunto de cidados, mudou 1.
muito desde a Antiguidade. Hoje em dia, uma grande parte
da populao goza, pelo menos formalmente, dos direitos
da cidadania. Isso mostra que, da Antiguidade aos dias de
hoje, os direitos de cidadania se expandiram e passaram a
incluir mulheres e homens de todas as profsses, e mesmo
estrangeiros naturalizados e sua prognie. Esse fenmeno da
expanso da cidadania razoavelmente recente na histria
humana, e se deu, em grande medida, nos ltimos dois
sculos. S para termos alguns parmetros, a escravido
s foi abolida no sculo XIX, isto , at ento, em pases
como Brasil e Estados Unidos, a grande massa de pessoas
responsveis pelo sustento material da sociedade quase no
tinha qualquer direito; eram tratadas como coisa. J as mu-
lheres, aproximadamente metade da populao do mundo,
s adquiriram direitos polticos (de votar e serem eleitas) no
sculo XX, com rarssimas excees de alguns pases que o
fzeram na segunda metade do sculo XVIII. No Brasil, isso
s aconteceu em 1932; nos pases escandinavos e eslvicos,
na dcada de 1910; na Frana, em 1944; Itlia, 1946; Mnaco,
1962; e Kuwait, em 2005.
Contudo, devemos notar que, mesmo nos dias de hoje, o 2.
povo que goza de plenos direitos de cidadania, isto , o
conjunto dos cidados, no corresponde exatamente a toda
a populao. Imigrantes em geral no gozam de direitos
polticos, e os ilegais sequer gozam de plenos direitos civis
ainda que a imigrao ilegal seja um problema local no
Brasil (exemplo: Bolivianos na cidade de So Paulo), ela
um fenmeno de grande signifcado poltico e humanitrio
em muitas partes do mundo, incluindo a Europa, Estados
Unidos, frica e sia. Ademais, em nossa sociedade, as-
sim como em vrias outras, muitas das pessoas que detm
formalmente plenos direitos de cidadania no os podem
exercer plenamente por motivos de excluso social ou ter-
251
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
ritorial, segregao, preconceito racial, tnico ou de classe,
defcincia fsica ou mental, pobreza extrema etc.
Vejamos agora o que se passou com a noo de kratos: governo,
mando. O governo na democracia ateniense em outras palavras, o
exerccio do poder poltico de deliberar sobre os destinos da coleti-
vidade era exercido em grande medida de maneira direta, pelos
cidados reunidos na assembleia, da qual eles tinham direito de
participar com voz e voto. Os cargos pblicos, tais como o assento
nos vrios conselhos que administravam a justia e a coisa pbli-
ca, eram, em sua maioria, nomeados por sorteio e em regime de
rotao permanente: o ano se dividia em dez meses e a cidade em
dez demoi, cada ms um demo exercia o poder, sorteando os cargos
entre seus cidados. Desde j notamos uma diferena fundamental
entre esse regime poltico da Antiguidade e o que se entende por
democracia moderna no que toca a questo do exerccio do poder: a
democracia hoje frequentemente associada a eleies, representao
e partidos polticos, mas nenhuma dessas instituies era central
democracia clssica. Entre os marcos mais importantes da formao
da democracia moderna esto a independncia dos Estados Unidos
(1776) e a Revoluo Francesa (1789). Desde a antiguidade clssica,
os EUA foram o primeiro pas a adotar o termo democracia para
denominar seu sistema de governo. Mas essa democracia que surge
tem um elemento fundamental que a distingue da variante antiga:
o papel central da representao. por isso que o modelo antigo
conhecido como democracia direta e o modelo moderno como
democracia representativa, pois que exercida indiretamente pelo
povo por meio de seus representantes eleitos.
Devemos estar cientes tambm de que no h uma continuida-
de histrica entre as democracias antiga e moderna. A democracia
ateniense e as demais democracias gregas padeceram frente s con-
quistas imperiais de Alexandre da Macednia, no sculo IV a.C., e
de Roma, no sculo II. Desde essa poca at a segunda metade do
sculo XVIII, a democracia sobreviveu mais como um termo tcnico
do vocabulrio flosfco, que designa o governo de muitos, do que
como uma experincia de vida coletiva. Nesse interregno houve go-
vernos com participao popular as repblicas (exemplos: Roma
antiga, Florena na renascena e Genebra na idade moderna) , mas
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
252
neles a participao popular era quase sem exceo combinada ao
poder da aristocracia e, s vezes, do rei ou prncipe.
Outra diferena que vale a pena salientar que na democracia
antiga o critrio de escolha da maioria dos cargos pblicos no era
o mrito, mas o simples sorteio, ou seja, todos tinham o direito igual
de ocupar um cargo pblico. Nos regimes democrticos da atuali-
dade, a administrao pblica feita por profssionais selecionados
por meio de critrios de mrito ou por indicao poltica.
Formalmente, a democracia se apresenta como o regime poltico
no qual o povo quem governa: diz-se que o povo soberano. A
soberania popular uma das principais caractersticas da democra-
cia e atravs dela deveramos ter a supremacia da vontade do povo.
De fato, todas as decises polticas de um governo democrtico
se apresentam como tomadas em nome do povo, resguardando e
representando os seus interesses.
Por outro lado, a representao gera problemas e tenses
relacionados ao distanciamento entre aquele que decide (o re-
presentante) e aquele em nome do qual a deciso tomada (o
representado). A experincia de um regime democrtico repre-
sentativo, como o nosso e de dezenas de outros pases do mundo,
revela cotidianamente um descompasso, seno uma tenso entre
a representao do povo e suas vontades e interesses. Ademais,
importante notar que, apesar do papel central da representao
na democracia moderna, no devemos tom-la como nica forma
de prtica poltica, que se d somente quando das eleies. Pelo
contrrio, como indicam muitos autores, a participao poltica,
seja em associaes, sindicatos, ONGs e movimentos sociais, ou
no debate pblico cotidiano atravs dos meios de comunicao de
massa e da interao social, fundamental para garantir o carter
democrtico do governo, ao mesmo tempo legitimando suas insti-
tuies e tornando-as responsivas comunidade de cidados (ver
seo intitulada sociedade civil frente).
Outra caracterstica da democracia moderna que estava ausente
no modelo antigo a diviso de poderes. Em sua variante moder-
na, tal diviso cumpre o objetivo de evitar o abuso de poder por
parte dos governantes. Seu formato mais comum aquele adotado
nos Estados Unidos, grandemente influenciado pelo filsofo fran-
cs Montesquieu, e posteriormente copiado e adaptado por outros
253
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
pases que aderiram ao regime democrtico, como o nosso. Nele,
o governo se divide em trs ramos ou poderes: o Executivo, cuja
funo principal executar as leis e administrar a coisa pblica, o
Legislativo, que tem o papel de elaborar as leis e o Judicirio, que
julga e aplica as leis. Nenhum poder est completamente acima
dos outros. Pelo contrrio, eles so interligados por um sistema de
freios e contrapesos, que prev mecanismos de controle mtuo com
o objetivo de dirimir abusos. Alguns exemplos desses controles
so: o controle da constitucionalidade que o Judicirio faz das leis
aprovadas pelo Legislativo, o poder de veto presidencial das leis
emanadas do Legislativo, a votao do oramento do Executivo
pelo Legislativo etc. Devemos notar que somente os membros do
Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos) e do Poder
Legislativo (deputados, senadores e vereadores) so eleitos direta-
mente. Os membros do Poder Judicirio so escolhidos por meio
de concurso pblico de provas e ttulos.
Tanto no que diz respeito ao demos (o povo) quanto no tocante
ao kratos (o governo), as coisas mudaram muito. Podemos dizer
que o primeiro se tornou mais democrtico, foi expandido, enquan-
to que o segundo foi restringido, tornado indireto. Como definiu
Aristteles, um dos tericos pioneiros da poltica, a democracia
o governo mais apropriado para as sociedades em que todos so
razoavelmente iguais. De fato, a igualdade tem sido o valor fun-
damental da democracia. Nessa comparao histrica que proce-
demos podemos ver que, enquanto ela avanou enormemente em
relao concepo de povo como conjunto de cidados (mulhe-
res, estrangeiros e escravos estavam alijados), retrocedeu no que
diz respeito ao kratos, pois na democracia moderna os prprios
cidados se dividem entre um grupo pequeno que manda e outro
muito maior que obedece.
Em suma, a democracia mudou muito desde sua origem e tudo
indica que ela deva continuar se transformando, incluindo mais pes-
soas e diferentes estilos de vida sob os direitos da cidadania e assu-
mindo novas formas institucionais de participao e representao.
Como dissemos acima, a eleio um mecanismo fundamental
no regime democrtico representativo. por meio dela que escolhe-
mos periodicamente os membros dos poderes Executivo e Legislativo
de nosso Pas, estado e municpio.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
254
Os trs poderes
O Poder Legi sl ati vo
O Poder Legislativo tem como funo bsica a criao das leis,
que so normas que regulam o Estado e a convivncia dos indiv-
duos. As leis devem ser abstratas, gerais e impessoais, pois so feitas
para todas as pessoas ou para um grupo delas, no devendo atender
a interesses ou casos individuais.
No Brasil, o Poder Legislativo exercido, no plano federal,
pelo Congresso Nacional, que composto pela Cmara dos Deputados
e pelo Senado Federal. A esta diviso do Poder Legislativo em duas
casas, chamamos de bicameralismo.
Originalmente criado para garantir a representao da nobreza,
na cmara alta, e dos comuns, na cmara baixa, em regimes mis-
tos, o bicameralismo foi adaptado na democracia moderna para dar
conta da representao em estados federativos, como o caso do
Brasil e dos Estados Unidos. Nesses contextos, ele cumpre o papel
de permitir a representao igual dos estados federados no Senado
Federal, com o fm de servir de contrapeso representao do povo
como um todo, que tem seu lugar na Cmara dos Deputados. No
sistema bicameralista, nenhuma das duas casas legislativas mais
importante do que a outra. A vantagem desse sistema que todos
os projetos de lei so discutidos e votados duas vezes, ou seja, tudo
o que proposto numa das casas sempre revisto pela outra.
A Cmara dos Deputados composta pelos deputados federais,
que so considerados os representantes do povo. Eles so eleitos em
cada estado em nmero proporcional sua populao, havendo
apenas um nmero mnimo e um nmero mximo de deputados a
serem eleitos por estado. Assim que o estado mais populoso pode
eleger at setenta deputados, enquanto que os menos populosos
elegem no mnimo oito.
O Senado Federal compe-se de senadores, que so considera-
dos os representantes dos estados e do Distrito Federal. Cada estado,
assim como o Distrito Federal, elege trs senadores, de modo que a
representao igual para todos, independentemente do tamanho
de sua populao. Os senadores devem representar os interesses do
estado pelo qual foi eleito.
Nos estados, temos as Assemblias Legislativas compostas pelos
deputados estaduais, que elaboram as leis estaduais, vlidas apenas
255
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
dentro de cada unidade federativa. J nos municpios, temos as
Cmaras Municipais, compostas pelos vereadores, que elaboram as
leis municipais, aplicadas apenas dentro de cada municpio. O Poder
Legislativo dos estados e dos municpios no se divide em duas
casas legislativas; ele , portanto, unicameral.
O processo legislativo no Brasil
O processo legislativo se inicia com a apresentao de um pro-
jeto de lei. Esta lei que vai ser proposta pode vir a ser: uma emenda
Constituio, uma lei complementar, uma lei ordinria, uma lei
delegada, uma medida provisria, um decreto legislativo, ou uma
resoluo. Estas so as espcies legislativas do direito brasileiro.
Existem outras, mas estas so as federais, isto , elaboradas pelo
Congresso Nacional com vistas a surtir efeitos sobre todo o Pas.
Em geral, so os deputados e os senadores que propem aquilo
que se chama projeto de lei, isto , uma proposta que, se for aprovada
de acordo com o processo legislativo, virar uma lei a ser aplicada
e respeitada por todos. Mas, muitas vezes, outros representantes e
agentes pblicos tambm podem propor leis, conforme a Constitui-
o lhes confere direito. Assim, as leis complementares e ordinrias,
por exemplo, podem ser propostas, alm dos deputados e senadores,
pelo Presidente da Repblica, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos
Tribunais Superiores e pelo Procurador-Geral da Repblica. Essa
faculdade de propor leis se denomina iniciativa legislativa.
O processo legislativo um conjunto de etapas e atos pelo qual
um projeto passa at virar (ou no) lei. A iniciativa legislativa, ou
seja, a proposio do projeto de lei a primeira destas etapas. Uma
vez iniciado o processo legislativo com a proposio do projeto de
lei, d-se a discusso e votao do mesmo, na maior parte das vezes,
na Cmara dos Deputados. Depois de ser aprovado na Cmara dos
Deputados (nesse caso, a casa iniciadora), o projeto vai para o Se-
nado Federal (nesse caso, a casa revisora) que tambm o discutir e
votar, podendo, no entanto, aprov-lo com algumas emendas, isto
, alteraes feitas ao projeto tal como inicialmente aprovado na
Cmara dos Deputados. Se isso acontecer, o projeto vai voltar para
a casa iniciadora que vai vot-lo novamente.
A casa legislativa que concluir a votao enviar o projeto de
lei para o Presidente da Repblica. Este pode fazer duas coisas:
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
256
sancionar ou vetar o projeto aprovado pelo Congresso. Caso san-
cione, o projeto se torna uma lei. Caso vete, o projeto volta para o
Congresso Nacional que desta vez, em sesso conjunta (isto , as
duas casas reunidas numa s) pode rejeitar o veto do presidente e
ento converter o projeto em lei. Perceba que s h duas maneiras de
uma lei ser promulgada no nosso Pas: com a sano do Presidente
ou com a derrubada do veto presidencial pelo Congresso.
Poder Executi vo
O Poder Executivo o rgo que tem por funo a prtica de
atos de chefa de Estado, de governo e de administrao. O Poder
Executivo aplica as leis elaboradas pelo Poder Legislativo a fm de
governar e administrar o Pas.
No Brasil, o Poder Executivo exercido pelo presidente da Re-
pblica no nvel federal, auxiliado pelos ministros de Estado. Como
o sistema de governo brasileiro presidencialista, nosso presidente
exerce simultaneamente duas funes, a de chefe de Estado e de chefe
de governo. No papel de chefe de Estado, o presidente representa o pas
externamente, isto , perante a comunidade internacional, enquanto
que, como chefe de governo, ele assume todas as tarefas administra-
tivas e executivas compreendidas pelo seu cargo.
Com o presidente, sempre eleito um vice-presidente, o qual
substitui o presidente em situaes em que este esteja impedido
(por exemplo, nos casos de doena, frias ou licena), alm de
auxili-lo em misses especiais. O vice-presidente tambm aquele
que sucede ao presidente no caso deste, por algum motivo, deixar
o seu cargo. O mandato do presidente e de seu vice de quatro
anos, sendo permitida uma reconduo ao cargo, que se d por
meio de sua reeleio.
O presidente da Repblica tambm auxiliado pelos ministros de
Estado. Estes so escolhidos exclusivamente pelo prprio presidente
dentre brasileiros de sua confana que sejam maiores de vinte e um
anos e estejam no exerccio de seus direitos polticos. O presiden-
te tambm defne quantos e quais so os ministrios existentes. A
responsabilidade pelos atos dos ministros sempre do presidente,
pois ele quem os escolhe, exonera e substitui.
Dentro de cada um dos estados e municpios da Federao
brasileira, encontram-se tambm o Poder Executivo, estadual e mu-
nicipal, respectivamente. Nos estados, ele exercido pelos governa-
257
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
dores de estado e, nos municpios, pelos prefeitos. Assim como temos
o vice-presidente no Poder Executivo federal, nos estados temos
um vice-governador e, nos municpios, um vice-prefeito. Do mesmo
modo, assim como temos os ministrios no plano federal, temos as
secretarias nos estados e nos municpios.
Poder J udi ci r i o
O terceiro dos trs poderes do Estado o Poder Judicirio. O
Judicirio o poder estatal responsvel por exercer a jurisdio, isto
, a funo de solucionar confitos de interesses que surjam entre as
pessoas. O modo pelo qual o Poder Judicirio exerce essa sua fun-
o jurisdicional atravs do processo judicial, ou seja, um sistema
de resoluo de confitos de interesses composto por vrias etapas,
atravs das quais se tenta descobrir em cada caso concreto qual das
partes faz jus ao direito pleiteado.
O Poder Judicirio resolve esses confitos, que tambm so cha-
mados litgios ou lides, usando como fonte, principalmente, as leis
elaboradas pelo Poder Legislativo. Alm destas, o Poder Judicirio
pode se valer, em seus julgamentos, dos costumes: hbitos praticados
reiteradamente por nossa sociedade, os quais, apesar de no estarem
escritos na lei, muitas vezes so respeitados como se fossem leis (um
bom exemplo de costume a fla). Alm das leis e dos costumes, o
Poder Judicirio tambm usa a jurisprudncia na resoluo dos con-
fitos. Chama-se jurisprudncia o conjunto das decises anteriores
proferidas pelo prprio Poder Judicirio.
Sentenas so decises isoladas e concretas do Poder Judicirio
que solucionam confitos levados pelas partes em litgio perante a
autoridade judicial. Qualquer confito entre pessoas fsicas, entre
estas e pessoas jurdicas (como as empresas), e entre uma destas
duas e o Estado pode ser levado ao Poder Judicirio.
So os prprios indivduos, as partes interessadas, que devem
levar seus confitos para serem resolvidos pelo Poder Judicirio,
ou melhor, pelos juzes ou magistrados, como so chamados os seus
membros. Neste sentido, dizemos que o Poder Judicirio, para agir,
precisa ser provocado; seus rgos, seus juzes, no podem agir de
ofcio, isto , por conta prpria, sem serem chamados pelas partes
de um confito para resolv-lo. Isto traduz o princpio da inrcia do
Poder Judicirio: trata-se de um poder estatal que deve se manter
inerte at que seja provocado pelas partes interessadas para agir.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
258
Apenas no caso dos confitos penais, ou seja, os crimes, no
h, em geral, a escolha sobre buscar ou no o Judicirio. Nesses
casos, o Ministrio Pblico que faz isso, com a ajuda da Polcia.
O Ministrio Pblico, todavia, no um rgo do Poder Judicirio,
mas uma funo essencial Justia.
O Ministrio Pblico a instituio estatal, atrelada ao Poder
Executivo, responsvel pela defesa da ordem jurdica, do regime
democrtico e daqueles interesses dos indivduos e da sociedade
de que ningum pode abrir mo, e por isso so chamados de in-
disponveis. Na maior parte dos crimes, considera-se que o que foi
violado foi um interesse indisponvel, da que no se tem escolha em
procurar ou no o Poder Judicirio, pois o Ministrio Pblico que
faz isso por ns. No caso do Ministrio Pblico, como se v, no se
aplica o princpio da inrcia. Ao contrrio, O Ministrio Pblico deve
ser uma instituio muito ativa em suas competncias e funes,
sem precisar esperar por provocao de partes interessadas para
agir, pois, de acordo com aquelas, ele tem legitimidade plena para
representar os direitos dos indivduos e da sociedade.
No Brasil, h uma justia federal e uma justia estadual. Na pri-
meira, concentram-se principalmente os confitos em que o prprio
Estado e os rgos da administrao pblica federal esto envolvidos.
J na Justia Estadual concentram-se as outras demais causas.
Temos no Poder Judicirio brasileiro o que se chama de duplo
grau de jurisdio. Isso signifca que sempre que uma parte perde
um confito julgado pelos juzes de primeiro grau, ela pode recorrer
a uma segunda instncia de julgamento. Alm da Justia Federal e
Estadual, que chamamos de Justia Comum, o Poder Judicirio brasi-
leiro se divide tambm na chamada Justia Especial que composta
pela Justia do Trabalho, pela Justia Eleitoral e pela Justia Militar.
Cada estado tem ainda o seu prprio Poder Judicirio, exercido
pelos Tribunais de Justia e pelos juzes estaduais, mas o mesmo no
acontece nos municpios. Estes no tm um Poder Judicirio prprio,
mas utilizam os rgos do Poder Judicirio Estadual.
Vale lembrar que os juzes no so eleitos, mas escolhidos me-
diante concurso pblico de provas e ttulos dentre aqueles que es-
tudaram Direito. J os ministros dos Tribunais Superiores so em
regra nomeados pelo Presidente, que os escolhe entre os juzes de
carreira ou, em alguns casos, entre pessoas que tenham capacidade
equivalente queles para exercer tal funo.
259
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
As formas e os sistemas de governo
Falamos em forma de governo ou regime poltico quando quere-
mos especificar o tipo de organizao poltica adotada por cada
Estado. Por mais que nos Estados sempre haja peculiaridades, h
determinados modelos de governo que so seguidos com maiores
ou menores variaes por todos os Estados.
Monar qui a e r epbl i ca
A monarquia, do grego mono (um) mais arch (princpio gover-
nante), literalmente o governo de uma s pessoa. Da Antiguidade
at o sculo XIX essa foi uma forma de governo adotada em muitas
partes do mundo. O governo monrquico no se restringia ao Oci-
dente europeu, tendo sido adotado, com variaes locais, na China,
ndia, Oriente, frica, nos imprios pr-colombianos da Amrica (Inca,
Asteca e Maia) e mesmo em nosso Pas, por mais de sessenta anos.
De maneira geral, nesse regime, o monarca (rei, prncipe, sulto
ou imperador) exerce o poder central de forma hereditria e vitalcia.
Isto , ele herda o poder do Estado de sua famlia e o exerce at que,
com sua morte, um herdeiro assuma o trono. As pessoas que vivem
em uma monarquia no podiam, assim, escolher os seus governantes
supremos, pois estes sempre pertencero famlia real.
As monarquias da Europa medieval e mesmo da Antiguidade
clssica no raro eram governos mistos, que mesclavam elementos
aristocrticos ao governo do rei. Isto , esse mandava, mas seu poder
era limitado pelo poder dos nobres terratenentes, muitas vezes reu-
nidos em parlamentos ou cortes, que eram conselhos deliberativos da
nobreza. Foi justamente no comeo da Idade Moderna, sculos XVI
e XVII, paralelamente expanso colonial da Europa em direo ao
Novo Mundo, sia e frica, que os reis de regies importantes da
Europa, como Inglaterra, Frana e Espanha, passaram a concentrar
poder em suas mos e a diminuir os poderes e privilgios da nobre-
za. A temos o surgimento daquilo que se convencionou chamar de
monarquia absoluta, que nunca foi absoluta de fato. A coroa francesa
provavelmente a que mais se aproximou do absolutismo.
A radicalizao da monarquia francesa encontrou tambm um
fm radical: a Revoluo de 1789, que guilhotinou e expropriou o casal
real e grande parte da nobreza e do clero, aboliu aquela forma de
governo no pas e exportou o governo republicano para toda Europa
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
260
por meio das invases de Napoleo Bonaparte. J a Inglaterra, se por
um lado conseguiu escapar das invases napolenicas, por outro,
assistiu progressiva e lenta diminuio do poder de seu monarca
perante o parlamento, desde o medievo. Se adicionamos a isso a enor-
me infuncia da democracia norte-americana, primeira no continente
americano e depois no mundo todo, compreendemos porque nos
dias de hoje poucos Estados no mundo so monrquicos: Inglaterra,
Sucia, Espanha, Dinamarca, Arbia Saudita, e alguns outros.
Muitas das monarquias hoje em dia existentes so monarquias
constitucionais. Levam esse nome porque o poder do rei limitado
por uma Constituio (a lei maior de um pas). Alm disso, h tam-
bm muitos casos de monarquias parlamentaristas (a monarquia pode
ser ao mesmo tempo constitucional e parlamentarista), nas quais
o monarca deixa de ter funes de governo e passa a ter apenas
uma funo fgurativa, de representao do pas. Nestes casos, o
parlamento e o primeiro-ministro, que exerce a funo de chefe do
governo, que tomam as decises polticas importantes do Estado,
apesar do monarca ainda continuar sendo o chefe do Estado.
Historicamente, a repblica surgiu como forma de governo oposto
monarquia. O termo em si deriva da unio de duas palavras latinas,
res e publica, e signifca coisa pblica. A repblica prev a participao
do povo no poder do Estado e, por isso, seu signifcado muito pr-
ximo ao de democracia. So caractersticas da forma republicana de
governo a eletividade, a temporariedade e a responsabilidade. A eleti-
vidade signifca que em uma repblica os governantes so eleitos, isto
, escolhidos pelo povo atravs das eleies e do voto. A temporariedade
implica que a escolha mediante eleio confere aos governantes um
mandato, isto , a prerrogativa de governar apenas por um perodo de
tempo determinado, aps o qual ele dever ser substitudo por outro
governante eleito. A responsabilidade a caracterstica que faz com que
os governantes republicanos tenham que prestar contas de seus atos
ao povo, podendo ser responsabilizados por eles e, em alguns casos,
punidos com a perda do mandato.
Pr esi denci al i smo e par l amentar i smo
No parlamentarismo, os assuntos do governo so conduzidos pelo
primeiro-ministro com apoio da maioria do Parlamento, que formada
por membros do partido majoritrio ou por meio de uma coalizo
de partidos (sistema multipartidrio). Por isso, o primeiro-ministro
261
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
considerado o chefe do governo e responsvel por governar o pas
enquanto mantiver a maioria no parlamento. J o chefe do Estado, que
pode ser um monarca (em uma monarquia parlamentar) ou um pre-
sidente da Repblica (em uma Repblica parlamentar), no participa
das decises polticas, tendo apenas a funo de representar o Esta-
do. Sua posio secundria, e em muitas repblicas parlamentares
ele no nem eleito pelo povo, mas escolhido pelo Parlamento. O
Parlamento tem o papel principal nesse regime poltico, sendo difcil
distingui-lo do Poder Executivo j que ele quem aprova a escolha
do primeiro-ministro e o apoia na conduo do governo.
O Presidencialismo o sistema de governo mais conhecido por
ns, brasileiros, j que desde o incio de nossa Repblica somos um
governo presidencialista. No Presidencialismo, o presidente da Rep-
blica , ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja,
ele acumula as funes de conduzir os negcios do governo, tomar
as decises polticas e representar o Estado. Por isso, o presidente
o chefe do Poder Executivo, que no presidencialismo to forte
quanto o Poder Legislativo (o Parlamento). O presidente escolhido
pelo povo, por meio de eleies, para governar o pas por um prazo
pr-determinado (o mandato), aps o qual um novo governante deve
ser eleito (desde que no haja reeleio, isto , a possibilidade de o
presidente ser eleito para mais de um mandato consecutivo).
Cidadania
As Cincias Sociais compreendem a cidadania a partir de dois
pilares principais. De um lado, ela entendida como a participao
dos cidados na vida social e poltica. De outro lado, a cidadania
se expressa por meio do exerccio de direitos, ou melhor, do direito
do cidado de ter direitos. No podemos esquecer que tanto a par-
ticipao quanto o exerccio de direitos no so possveis sem uma
contrapartida: os deveres. o caso do voto, que pode ser compreen-
dido tanto como um direito poltico (de votar e de ser votado) como
tambm como um dever de participar da escolha dos governantes
e, assim, exercer a cidadania.
Tradicionalmente, os cientistas sociais dividem a cidadania
em trs tipos: cidadania civil, cidadania poltica e cidadania social.
Estas trs formas de cidadania corresponderiam s etapas de sua
construo histrica e aos direitos que a elas se associam. A noo
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
262
de cidadania foi historicamente transformada como resultado das
lutas sociais pela aquisio e exerccio de direitos e pelo aumento
da participao das pessoas na vida social e poltica.
Os direitos civis so aqueles relativos ao homem enquanto indi-
vduo, e reconhecem a sua autonomia perante o Estado e os demais
membros da sociedade. Historicamente, foram os primeiros a surgir,
como produto do esfacelamento da hierarquia social que caracterizava
as monarquias europeias at os sculos XVIII e XIX. A Declarao dos
Direitos do Homem e do Cidado, produto da Revoluo Francesa
(1789), estabeleceu a igualdade de todos os cidados franceses perante
as leis do Estado, e o fm dos privilgios da nobreza e do clero. A
Constituio Americana, por meio de suas emendas aprovadas em
1789, garantia a liberdade de religio, de assembleia, de gozo da vida
e da propriedade e de portar armas. A partir do comeo do sculo
XIX, listas de direitos civis bsicos passaram a fazer parte de todas
as constituies liberais. No caso do Brasil, a garantia de direitos ci-
vis no texto constitucional esteve presente desde a primeira carta de
1824. A Constituio do Brasil de 1988 garante a todos os cidados
uma ampla gama de direitos civis, entre eles os direitos vida, li-
berdade, igualdade, segurana e propriedade, de locomoo, e
as liberdades de credo, livre expresso da opinio e de associao.
Os direitos polticos dizem respeito participao do cidado no
processo poltico-decisrio do Estado. Entre os direitos polticos esto
o direito ao sufrgio e o direito ao voto, o direito de se candidatar
nas eleies, entre outros. Os direitos polticos se universalizaram
posteriormente, ao longo do sculo XIX e mesmo no sculo XX, como
o caso do sufrgio das mulheres. A Constituio brasileira garante
esses direitos a todos os cidados. A conquista dos direitos polticos
foi fundamental para a consolidao do regime democrtico moderno,
pois enquanto que os direitos civis so mormente negativos isto ,
protegem o indivduo contra a opresso do Estado e de outros indi-
vduos os direitos polticos tem o sentido positivo de abrir as ins-
tituies polticas e o espao pblico participao dos cidados.
Os direitos sociais tomam as pessoas como seres sociais, que,
portanto, necessitam de garantias materiais mnimas, caso contrrio
estariam impedidas de participar da vida social em p de igualdade
com as outras pessoas, e mesmo de exercer plenamente seus direitos
civis e polticos. Os direitos sociais comearam a aparecer somente
no fnal do sculo XIX e mais marcadamente ao longo do sculo XX,
263
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
com a consolidao do Estado de Bem-Estar Social. Entre eles, temos
o direito sade, educao, ao emprego, ao seguro-desemprego,
seguridade social em geral, aposentadoria, e aos demais auxlios
a pessoas em situao desprivilegiada.
Nas ltimas dcadas, comeou-se a clamar por direitos outros
que no estariam includos na categoria dos direitos civis, polticos e
nem mesmo dos direitos sociais. Trata-se dos direitos econmicos e dos
direitos culturais, os quais representam, ao mesmo tempo, aspectos do
homem enquanto um membro da sociedade e do Estado. Os direitos
econmicos surgiram como uma defesa frente ao sistema de produo
vigente no mundo, o capitalismo. So exemplos de direitos econ-
micos o direito a participar na gesto da empresa e o direito ao emprego.
J os direitos culturais correspondem a garantias por parte do Estado
da sobrevivncia de estilos de vida e prticas culturais de grupos de
pessoas marginalizadas, que, caso contrrio, estariam constantemente
sujeitas opresso, violncia e menosprezo por parte da sociedade
em geral. Entre eles temos o direito diferena e o direito cultura.
Os direitos comentados acima foram classifcados segundo seu
contedo. Entretanto, podemos classifc-los de outras maneiras, como,
por exemplo, no tocante aos seus destinatrios. Nessa perspectiva,
os direitos dividem-se em individuais, coletivos e difusos. Os direitos
individuais so aqueles que dizem respeito s pessoas individualmen-
te consideradas. Os direitos coletivos so aqueles que s podem ser
exercidos simultaneamente por mais de uma pessoa, ou seja, por um
grupo de pessoas. J os direitos difusos tambm compreendem uma
coletividade, porm uma coletividade indefnida, indeterminada.
Um bom exemplo de direito individual o direito de ir e vir,
tambm chamado de liberdade de locomoo. Basta que uma pessoa
queira se movimentar na rua, ir de um lugar para outro ou permane-
cer onde est para que ela o faa sem que ningum possa impedi-la.
Todo cidado tem o direito de ir e vir. Quanto aos direitos coletivos,
um bom exemplo o direito greve. A greve um direito que s
pode ser exercido por uma coletividade, ou seja, por um grupo de
trabalhadores de uma determinada classe ou categoria profssional.
J o direito difuso se diferencia do direito coletivo pela impossibili-
dade de se defnir a coletividade que pode usufru-lo; em princpio,
os direitos difusos aplicam-se a toda e qualquer pessoa, sem que
elas tenham que pertencer a algum grupo social especfco. O direito
ao meio ambiente, por exemplo, um direito difuso. Todo e qualquer
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
264
brasileiro, ao mesmo tempo e em qualquer lugar do Pas, tem direito
a um meio ambiente sadio e equilibrado.
No podemos esquecer que a conquista e a extenso dos direitos
da cidadania no foi um processo histrico espontneo, fcil e sem
confitos. Pelo contrrio, em cada pas, em cada poca a conquista
de direitos s ocorreu por meio do engajamento coletivo das pessoas
no debate pblico e na ao poltica.
Sociedade civil
Aprendemos acima quais so as principais formas de governo
e as mais importantes instituies polticas. Mas, ser que isso que
chamamos poltica se esgota no Estado e nas suas instituies? Ser
que o lugar da poltica apenas os poderes Legislativo, Executivo e
Judicirio? Ser que a poltica algo de que s podemos participar
atravs do voto, a cada dois anos quando acontecem as eleies?
A participao poltica pode se dar de vrias maneiras em so-
ciedade. H vrios modos de exercer a cidadania e afrmar direitos,
e isso pode ser feito cotidianamente por meio de uma srie de insti-
tuies e organizaes sociais que desempenham atividades polticas
sem fazer parte da estrutura do Estado. Elas compem aquilo que
chamamos de sociedade civil. A poltica, portanto, no deve ser def-
nida como aquilo que diz respeito ao Estado, mas sim como aquilo
que diz respeito vida coletiva da sociedade.
Com o intuito de tornar melhor esta vida coletiva, pessoas na
sociedade civil renem-se em grupos que tem por fnalidade su-
prir alguma necessidade ou conquistar algum bem social por meio
da militncia e do ativismo polticos. Esses grupos levam o nome
genrico de movimentos sociais. Os movimentos sociais buscam es-
treitar a relao entre o Estado e a sociedade por meio da realizao
de atividades dos mais diversos tipos. H movimentos sociais que
tem por objeto, por exemplo, a promoo da educao, dos direitos
humanos, do meio ambiente; a reduo da violncia ou a promoo
da paz; a assistncia aos necessitados etc.
Alguns movimentos sociais organizam-se institucionalmente na
forma de organizaes no governamentais. As ONGs tambm possuem
objetos bastante diversos e muitas vezes dependem de uma parceria
entre o setor privado e o governo para levar a cabo suas atividades.
Hoje em dia, h um crescente nmero de ONGs internacionais que
agem em escala mundial a fm de promover seus objetivos.
265
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Alm das ONGs e movimentos sociais, compem a sociedade civil
organizada outras instituies de exerccio da cidadania e defesa dos
direitos coletivos, como, por exemplo, as associaes e os sindicatos.
As associaes consistem em uma das formas mais tradicionais e
antigas de organizao coletiva da sociedade. H associaes de
todos os tipos e com os mais diversos fns. H associaes profs-
sionais, culturais, cientfcas, esportivas etc. As associaes buscam
reunir pessoas com interesses e objetivos comuns. A ideia justa-
mente agregar foras, unir vontades e somar iniciativas e aes. Os
sindicatos (assim como as chamadas entidades de classe) so insti-
tuies organizadas pelos trabalhadores tendo em vista a proteo e
promoo dos seus direitos. As organizaes sindicais representam
politicamente os trabalhadores, os quais encontram nos sindicatos o
frum propcio para reunir interesses e objetivos que so comuns
sua categoria profssional. Os sindicatos possuem um papel histri-
co muito importante na mobilizao poltica popular, na luta pelos
direitos e na resistncia a regimes opressivos.
Democracia, cidadania e justia na sala de aula
O texto de Joo Feres Junior e Thamy Pogrebinschi trata de questes
bsicas para a compreenso do processo democrtico de um pas, mediante
anlise histrica, sociolgica e jurdica. A anlise do conceito de democra-
cia, como fo condutor das discusses desenvolvidas pelos autores, assume
sentido expressivo ao remeter participao dos estudantes na sociedade
em que vivem. As sugestes metodolgicas que seguem visam a relacionar
o contedo acadmico exposto s situaes de vida experimentadas no dia
a dia dos estudantes.
Para entender como a democracia compreendida e experimentada
por ns, brasileiros, na atualidade, preciso fazer um resgate histrico do
conceito. A noo de democracia de hoje no a mesma da Antiguidade.
A proposta metodolgica elaborar uma atividade que destaque a histo-
ricidade da noo de democracia relacionada de cidadania. Para isso,
preciso saber quem era e quem no era considerado cidado em cada um
dos momentos analisados, uma vez que esses dois conceitos democracia e
cidadania caminham juntos. Uma sugesto elaborar um quadro demons-
trativo para visualizar os principais momentos da histria, relacionando
os grupos de pessoas considerados cidados e no cidados. O destaque
dado para o Brasil atual, com a incluso das pessoas nascidas em territrio
nacional, independentemente da idade, cor da pele, escolaridade, religio.
E a excluso dos estrangeiros que vivem ilegalmente no pas. importante,
nessa atividade, compreender que tanto democracia como cidadania so
conceitos histricos, estando em permanente construo.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
266
Alguns simples exerccios podem ajudar compreenso de tais con-
ceitos: pode-se solicitar aos alunos que investiguem quais seriam, na viso
deles, os principais direitos de cidadania expostos em nossa Constituio
Federal (1988). Uma outra atividade pode ser um debate sobre o docu-
mentrio Justia, de Maria Augusta Ramos.
O mais importante ao se discutir as formas de governo com os estu-
dantes, deixar claro que elas se referem ao tipo de organizao poltica
adotada em cada Estado. O presidencialismo o sistema de governo do
Brasil, desde o incio da Repblica, por isso merece ateno especial, para
que se conhea melhor as caractersticas desse sistema em nosso Pas.
Os estudantes podem pesquisar sobre nossos ltimos presidentes: quais
os eleitos pelo voto direto; quais foram empossados indiretamente; a pos-
sibilidade ou no de reeleio; porque determinadas cidades tm segundo
turno e outras no... Outra possibilidade, que certamente demanda melhor
planejamento por parte do professor, envolvimento de outros agentes da
escola e mais tempo dedicado, organizar, junto com os alunos, um processo
eleitoral na prpria escola. Diversas escolas tm realizado este tipo de expe-
rincia, em geral por iniciativa de seus professores de Histria, e j comum
o apoio dos Tribunais Regionais Eleitorais a este tipo de realizao.
A explicao de cada um dos direitos civis, polticos e sociais precisa
ser fundamentada pela participao dos cidados na sociedade. A explicao
do conceito de cidadania est vinculada ao direito do cidado ter direitos. A
subdiviso em direitos civis, polticos e sociais uma opo metodolgica,
que ajuda a compreender a histria da cidadania. Outra questo que pode
ser reforada a dos direitos civis. Por que esses direitos so os que devem
ser primeiro atendidos? Qual a relao entre a Declarao dos Direitos do
Homem e do Cidado, produto da Revoluo Francesa (1789) e a Declarao
Universal dos Direitos do Homem, de 1948 os Direitos Humanos?
Para se trabalhar o tema cidadania e direitos do cidado preciso,
principalmente, com os jovens do Ensino Mdio, enfatizar a contraparti-
da, ou seja, os deveres. A cidadania garante direitos, mas tambm requer
deveres que podem ser trabalhados em sala de aula, comeando com ques-
tes bem simples, mas importantes como a tolerncia com os colegas e o
respeito aos professores, a preservao do ambiente da escola.
Propomos uma experincia, realizada pelos prprios alunos, em dife-
rentes pontos de sua cidade ou bairro, pela qual entrevistariam transeuntes
com somente uma pergunta a ser respondida: O que direito para o se-
nhor? (ou senhora). O objetivo desta atividade seria a de permitir que os
alunos se confrontassem com a distncia entre o discurso jurdico tanto
como o saber jurdico institudo e as percepes sobre direitos e justia
presentes na sociedade.
Algo similar foi feito pelo projeto O Direito achado na rua, expresso
cunhada por Roberto Lyra Filho, que implica os direitos gestados e deman-
dados pelos movimentos sociais, o que resultou num vdeo homnimo de
Csar Mendes e Jos Geraldo de Souza Jnior.
267
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Este captulo aborda os processos de competio poltica e de
formao de governos nos regimes democrticos. Para encaminhar
essa discusso, este texto est estruturado da seguinte maneira. A
primeira parte discute os parmetros tericos fundamentais para o
estudo dos partidos polticos e sistemas partidrios. E, em seguida,
analisa a experincia partidria no Brasil.
Na segunda parte so discutidas as principais diferenas entre
os sistemas de governo contemporneos. Elas so relativas: a) aos
processos de seleo dos agentes de governo; b) s condies de sobre-
vivncia dos mandatos dos representativos polticos; c) composio
do ministrio e ao controle do aparato burocrtico do Executivo.
Partidos e eleies
Partidos e eleies so fenmenos polticos indissociveis da
democracia representativa. Segundo Bobbio (1991, p. 323-324), nesse
tipo de regime o dever de fazer leis diz respeito no a todo o povo
reunido em assembleia, mas a um corpo restrito de representan-
tes eleitos por aqueles cidados a quem so reconhecidos direitos
Captulo 13
Partidos, eleies
e governo
Maria do Socorro Sousa Braga*
Magna Maria Incio**
* Doutora em Cincia Poltica. Professora Adjunta da Universidade Federal de So
Carlos.
** Doutora em Cincia Poltica. Professora Adjunta do Departamento de Cincia Pol-
tica UFMG
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
268
polticos. Nessa concepo, portanto, representao signifca ter au-
toridade para agir por outro de modo responsvel e responsivo. Ou seja,
atuao que consiste na responsabilidade dos representantes para
com o parlamento e a populao. Mas tambm deve agir de modo
responsivo perante o eleitorado, isto , sensvel, atento s demandas
do povo. E o critrio crucial que d autoridade ao representante
(governante) para agir em nome dos representados (governados)
o das eleies.
Quatro elementos so essenciais para a efetividade de uma de-
mocracia representativa enquanto sistema de representao poltica
de uma sociedade: a) um sistema de partidos que estruture a com-
petio eleitoral, disputando apoios em relao aos seus programas
e projetos especfcos para o pas; b) eleies regulares, genunas e
livres, as quais garantam algum nvel de responsividade dos go-
vernantes em relao aos governados; c) um sistema eleitoral que
atue de forma a garantir que o apoio obtido nas urnas se traduza
em poder poltico; d) uma assembleia de representantes que possa
abrigar minorias e/ou pontos de vista signifcativos a fm de expres-
sar uma diversidade de vises e interesses.
Conforme visto acima, no existe democracia moderna sem par-
tidos polticos. Mas como eles podem ser defnidos, ou melhor, qual
defnio adotar? Isso depende da abordagem terica da qual ns
partimos. Se decidimos, por exemplo, estud-los pela abordagem
marxista-leninista, eles so defnidos como uma organizao poltica
portadora dos interesses de uma classe. A nfase nessa concepo na
relao partido-grupo social (instrumento para a defesa dos inte-
resses de uma classe social), bem como na ideologia. Se optarmos
pelo enfoque funcional, um partido entendido como grupo que
compete por poder poltico disputando eleies, mobilizando inte-
resses sociais e advogando posies ideolgicas, e assim, conectando
os cidados ao sistema poltico (ELDERSVELD, 1982, p. 25). J a
abordagem da escolha racional defne partido como equipe de ho-
mens que buscam controlar o aparato de governo, obtendo cargos
numa eleio devidamente constituda (DOWNS, 1999, p. 14). Fi-
nalmente, a teoria do desenvolvimento poltico defne partido como
uma entidade concreta, que apresenta as seguintes caractersticas:
a) continuidade organizacional; b) organizao em nvel local; c)
determinao deliberada dos lderes de chegar ao poder; d) preo-
cupao em buscar apoio popular nas urnas. Para essa concepo,
269
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
os partidos surgem em circunstncias histricas especfcas, as quais
esto relacionadas ao processo de modernizao, ou seja, a emergn-
cia dos partidos est associada a processos de modernizao mais
amplos. Da que o estudo dos partidos focaliza, principalmente, as
condies histricas de seu surgimento.
Logo, os parmetros em que se apoia uma defnio desse tipo
de organizao poltica so: a) identifcao dos contextos em que
os partidos atuam; b) indicao das atividades que desenvolvem; c)
explicitao das implicaes para o sistema poltico. Vamos agora
discutir esses parmetros.
No que diz respeito aos contextos de atuao, os partidos po-
lticos agem em duas arenas. Na arena eleitoral, o partido estrutura
e organiza a competio eleitoral, desenvolvendo as seguintes ati-
vidades: a) recrutamento de candidatos; b) organizao da campa-
nha; c) defnio de um leque de opes sobre polticas pblicas;
d) manuteno de uma organizao poltica em bases permanentes.
O desempenho dessas atividades tem implicaes importantes no
eleitorado. Podemos, por exemplo, averiguar se os partidos esto
expressando e canalizando demandas sociais; se eles proporcionam
ofertas de projetos alternativos sobre polticas pblicas; se esto
mobilizando o eleitorado para o ato de votar; ou ainda que perfl
de candidatos esto selecionando e tentando eleger.
J na arena decisria, o partido poltico formula e implementa
polticas pblicas participando como atores legtimos a) no processo
de negociao sobre polticas e b) na aprovao e implementao
dessas polticas (Executivo e Legislativo). O desenvolvimento dessas
atividades gera as seguintes implicaes para o funcionamento do
sistema poltico. Em primeiro lugar, torna efetivo o governo de-
mocrtico representativo; em segundo lugar, possibilita a conexo
entre sociedade e Estado.
Duas caractersticas no estudo dos partidos polticos so fun-
damentais. A primeira diz respeito ao que os partidos so, ou seja,
est associada identidade poltica histrica dos partidos ( sua
gnese e ao desenvolvimento especfcos). Essa caracterstica explica
a existncia de vrios tipos de partidos. So exemplos os partidos
de quadros; os partidos de massas, os partidos catch-all (ou partidos
pega-tudo) e, mais recentemente, os partidos de tipo cartel.
Os partidos de quadros ou de notveis, segundo Duverger (1970),
so aqueles organizados por pessoas infuentes incumbidas de or-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
270
ganizar e conduzir as eleies e as aes dos representantes no
parlamento. Nesse tipo de partido as qualidades fundamentais so:
amplitude do prestgio, habilidade tcnica e importncia da fortuna.
Esses partidos correspondem aos partidos de comits, descentraliza-
dos e fracamente articulados. So exemplos de partidos de quadros
o Partido Liberal ingls e o Partido Radical Socialista francs. Mais
recentemente, partidos de quadros foram defnidos como aqueles
partidos originados no interior do Parlamento, ou seja, pelos pr-
prios parlamentares. No Brasil, so exemplos de partidos de quadros
tanto o Democratas (antigo PFL) quanto o PSOL.
J os partidos de massas, originrios dos movimentos operrios
de fns do sculo XIX, so entendidos como aquelas organizaes
criadas por segmentos sociais, especialmente os trabalhadores, que
estavam fora do parlamento. Esses partidos assumem conotaes
completamente novas: um squito de massa, uma estrutura organiza-
cional articulada e estvel, composta por um corpo de funcionrios
pagos especialmente para desenvolver atividades polticas e um pro-
grama poltico-sistemtico. O exemplo mais emblemtico de partido
de massas o partido socialista. Esse tipo de organizao poltica
surgiu na Alemanha em 1975, na Itlia em 1892, na Inglaterra em
1900 e na Frana em 1905. No Brasil o partido mais prximo desse
modelo exemplifcado pelo Partido dos Trabalhadores (PT).
O partido catch-all (ou partido pega-tudo), de acordo com Kir-
chheimer (1966), surgiu depois da segunda Guerra Mundial na Eu-
ropa continental. Esse tipo de partido apresenta como caracterstica
distintiva a mobilizao dos eleitores em geral mais do que a dos
associados, isto , no apenas a uma determinada classe social ou
categoria particular. So dotados de organizao com sees, federa-
es, direo centralizada e pessoal poltico trabalhando em tempo
integral. Contudo, tambm se afastam dos partidos socialistas por-
que no propem uma gesto diferente da sociedade e do poder e
defendem plataformas universais, fexveis e sufcientemente vagas
objetivando atrair para o seu campo de infuncia o maior nmero
possvel de eleitores. Justamente por seus objetivos essencialmente
eleitorais, esse tipo de partido tem como atividade crucial a escolha
dos candidatos para as eleies, os quais devem atender aos requisi-
tos necessrios para aumentar o potencial eleitoral do partido. Com
isso, a participao dos fliados no debate poltico de base se reduz
drasticamente, redundando na diminuio do nmero de fliaes
271
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
partidrias e, portanto, das contribuies partidrias oriundas de
seus membros.
Por fm, o partido cartel, segundo Katz & Mair (1995), emergiu
aps a dcada de 1970 nas democracias industriais ocidentais em
decorrncia de vrios fatores, entre os quais os autores destacam
a atenuao do confito poltico-ideolgico causado pela estratgia
dos partidos catch-all, a drstica reduo do nmero de fliados par-
tidrios, a profssionalizao da poltica e dos polticos somada aos
custos crescentes com as campanhas eleitorais e a introduo do
fnanciamento pblico. De acordo com os autores, o processo de car-
telizao dos partidos resulta de uma situao em que o partido se
torna cada vez menos dependente da sociedade e mais dependente
do Estado. Entre as caractersticas apontadas como formadoras do
partido cartel destaca-se a maior importncia atribuda s subven-
es pblicas enquanto meio de sobrevivncia da organizao. O
Estado passa a ser o principal fnanciador da atividade partidria
por meio da introduo do fnanciamento pblico (KATZ; MAIR,
1996). Alm disso, a distino entre governo e oposio no mais
to ntida e so implementados mecanismos que asseguram a con-
tinuidade dos partidos mais signifcativos do sistema poltico, dif-
cultando a entrada de novos atores partidrios.
A segunda caracterstica se refere ao que os partidos fazem, o que
tem a ver com os apelos contemporneos dos partidos ou, mais
especifcamente, com o processo de competio partidria. O que
nos leva a explicar o que um sistema partidrio.
De acordo com Sartori (1982), um sistema partidrio um con-
junto de partidos que operam no sistema poltico. Aqui, o foco da
anlise recai sobre a interao entre os partidos nas eleies e a di-
nmica da competio e cooperao entre eles. A prpria noo de
partido num ambiente democrtico s tem sentido no contexto de
um sistema de partidos, pois partido pressupe um todo constitudo
de elementos que interagem.
De que modo podemos distinguir os sistemas partidrios, ou
seja, quais so os diferentes tipos de sistemas de partido? Quantos
so seus elementos e como se d a inter-relao e a dinmica entre
estes elementos? Enfm, nossa preocupao daqui em diante tra-
tar dos determinantes dos sistemas partidrios e dos padres da
competio entre os partidos. A relevncia desse aspecto est no
fato de que o tipo de sistema partidrio tem consequncias signi-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
272
fcativas para o funcionamento do sistema poltico. Sendo assim, o
conhecimento do formato e da dinmica do sistema partidrio nos
ajuda a conhecer o processo eleitoral e o processo decisrio, enfm,
o sistema poltico de um modo geral.
Em linhas gerais, so trs os determinantes do sistema parti-
drio: a) fator estrutural; b) fator ideolgico; c) fator institucional. De
acordo com o fator estrutural, as diferenas entre os sistemas parti-
drios europeus so explicadas pelo impacto das estruturas socioe-
conmicas existentes. Seymour Lipset & Stein Rokkan (1967, p. 122)
identifcaram quatro linhas de clivagem na evoluo das sociedades
modernas. Duas so produto da Revoluo Nacional (formao do
Estado Nacional) desencadeada na Frana: a) centro/cultura domi-
nante x populaes subjugadas nas provncias (periferia); b) Estado
Nacional/Governo x privilgios corporativos da Igreja (que, acima
de tudo, queria o controle das normas comunitrias; no entanto, o
fundamental no confito Igreja-Estado era o controle da educao).
Duas clivagens so produtos da Revoluo Industrial (origem na In-
glaterra): a) proprietrios rurais x classe de empresrios industriais
emergentes; b) capitalistas x trabalhadores. Portanto, de acordo com
essa perspectiva, para entendemos o formato dos sistemas parti-
drios precisamos saber que tipo de clivagem se manifesta de forma
mais saliente do que outras, que tipo de alianas elas produziram em
determinado pas e que consequncias a constelao de foras teve na
construo de consenso dentro de um Estado nacional.
No fator ideolgico, o nmero de partidos de um sistema par-
tidrio decorre do nmero de opinies relevantes numa socieda-
de. Segundo Anthony Downs (1999), a lgica do mercado eleitoral
leva os partidos a se situarem em um lugar apropriado do espectro
poltico-ideolgico. Esse lugar depender da forma da distribuio
dos eleitores no espectro e do desempenho dos outros partidos.
Por fim, o fator institucional enfatiza o impacto da estrutura
institucional sobre o formato do sistema partidrio. Nesse caso, os
fenmenos partidrios devem ser entendidos a partir de atributos
endgenos poltica, sobretudo derivados da natureza das institui-
es democrticas: sistemas eleitorais, tipos de fnanciamento poltico,
sistema de governo, estrutura do Estado (federalista ou unitrio). Isso
porque so essas instituies que estabelecem os parmetros regula-
trios que infuenciam o comportamento dos dirigentes partidrios
durante e entre os processos eleitorais.
273
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
As eleies e os partidos no Brasil
Quem pretende explicar a experincia partidria brasileira preci-
sa defrontar dois traos que mais chama ateno. O primeiro aspecto
diz respeito falta de continuidade das formaes partidrias que
emergiram e, por conseguinte, curta durao de tais experincias,
cujo trmino deveu-se, na maioria das vezes, a rupturas institucio-
nais por que passou o Pas. O segundo aspecto que chama a ateno
em nossa histria partidria est relacionado com o contexto ou meio
em que os partidos surgiram e se desenvolveram inicialmente.
Como vimos, os partidos so instituies polticas que se afr-
mam enquanto tal ao atuarem em duas arenas: a arena decisria
(especialmente no Congresso) e a arena eleitoral. Em outras palavras:
para que eles se desenvolvam importante que atuem de forma efe-
tiva nessas duas arenas. O problema que, no Brasil, as primeiras
formaes partidrias emergiram e se desenvolveram num contexto
em que estas duas arenas tinham pouca relevncia no sistema polti-
co. No Imprio, segundo Kinzo (1993), a arena parlamentar s existia
tendo o Imperador como centro de gravidade. Era ele que, investido
do Poder Moderador, organizava o gabinete ministerial e administra-
va o confito poltico, promovendo a dissoluo da Cmara para, por
meio de eleies controladas, formar uma nova maioria governista.
Da mesma forma que a arena parlamentar era inautntica, a arena
eleitoral tambm era viciada. Mesmo porque quem participava das
eleies era um nmero bastante reduzido de cidados.
A experincia iniciada com a proclamao da Repblica, a des-
peito das mudanas resultantes da queda do Imprio e da instaura-
o de uma Repblica presidencialista, no foi muito diferente no
que tange ao desenvolvimento de partidos. Isso porque as eleies
continuaram dominadas pela prtica de fraude, coao e restries
ao direito de voto. Por outro lado, o Legislativo no exercia tam-
bm as funes para as quais deveria estar voltado, pois a maioria
governista garantida pela manipulao eleitoral esmagava qual-
quer tentativa de ao efetiva de foras da oposio no mbito do
Congresso fator fundamental para criar uma dinmica poltico-
partidria. Sem condies de desenvolvimento das atividades elei-
torais e parlamentares, o espao nacional da poltica se limitava
esfera da presidncia da Repblica. Por conta disso, vigoraram os
partidos estaduais representantes da fora oligrquica dominante
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
274
em cada estado. Dada a inautenticidade das eleies e do jogo par-
tidrio parlamentar, no foi por acaso que uma das bandeiras da
Revoluo de 1930 foi a moralizao do processo eleitoral e da vida
poltica. Nesse sentido, o Cdigo Eleitoral de 1932 foi um notvel
avano em relao Repblica Velha por duas razes. Em primeiro
lugar, pela ampliao do direito de voto por meio dos seguintes
dispositivos: 1) o limite de idade baixa de 21 para 18 anos; 2) a
mulher conquista o direito de voto (embora exerccio facultativo);
3) obrigatoriedade do alistamento e do voto (Constituio de 1934).
Em segundo lugar, pelas garantias para o exerccio desse direito,
seja pela criao da Justia eleitoral, com a diminuio da fraude,
seja pelo voto secreto. Com tais avanos, surgiram condies mais
propcias para o forescimento partidrio. No entanto, o golpe de
1937 e a instaurao do Estado Novo iriam postergar essa possibi-
lidade. Portanto, foi somente em 1945 com a derrocada do Estado
Novo que se abriram perspectivas para a emergncia de partidos
nacionais na acepo moderna do termo, ou seja, com maior incor-
porao poltica e maior liberdade no exerccio da participao e
da competio. Em suma, o tamanho do eleitorado mais a garantia
do exerccio do voto (fscalizao da Justia eleitoral e voto secreto)
comeavam a dar condies de incerteza poltica, situao propcia
para o desenvolvimento de um sistema partidrio competitivo.
No entanto, tambm a experincia partidria do perodo 1945-
1964 nasceu com problemas. Como assinala Souza (1976), embora
o modelo de construo poltico-institucional rompesse com a di-
tadura varguista, no que tange ao estabelecimento de uma ordem
democrtica, fundada no pluripartidarismo, a concretizao desse
modelo no signifcou uma ruptura com a antiga ordem, dada a
continuidade da elite e de algumas instituies cruciais. De modo
que o modelo institucional construdo durante o Estado Novo foi
mantido e adaptado ao contexto democrtico. Da as continuidades:
a) da centralizao do poder e hipertrofa do Executivo; b) da cultura
autoritria presente na elite; c) dos mecanismos de controle sobre
as eleies e a formao de partidos; d) da preservao da estrutura
corporativa nas relaes entre capital e trabalho. Acrescente ainda o
baixo reconhecimento da legitimidade da oposio (PCB ilegal em
1947), bem como a baixa aceitao das regras de jogo.
A despeito disso, a continuidade da prtica democrtica com
partidos competindo nas eleies e participando nas arenas deci-
275
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
srias foi fator sufciente para que, no fnal do perodo, o sistema
partidrio estivesse se estruturando. Estudos mostram que j esta-
vam se formando identidades partidrias junto ao eleitorado e que
os partidos mais importantes (PSD, UDN, PTB, PSP e PRP) expan-
diram sua organizao no Pas, tornando a disputa poltica mais
competitiva. No entanto, justamente quando esse sistema estava se
fortalecendo, o golpe militar de 1964 ps fm primeira experincia
importante de democracia competitiva no Brasil.
No entanto, a instaurao desse regime no levou extino
dos partidos do regime de 1946. Estes existiriam, mas j depurados
de suas fguras mais combativas. Na verdade, o regime militar-au-
toritrio que se instalou tinha caractersticas singulares: combinao
de mecanismos de cunho marcadamente autoritrio, repressivo e
desmobilizador com mecanismos de uma estrutura democrtico-
representativa. Esse regime manteve em funcionamento o Congresso,
o Judicirio e a Constituio de 1946. Os partidos somente seriam
extintos em 1965, com a crise poltica iniciada depois das eleies
de governador, o que resultou na decretao do AI-2 (27/10/1965).
Com o AC-4 (20/11/1965) determinava-se a criao de partidos cuja
exigncia crucial era o apoio de 1/3 dos senadores e 1/3 dos deputa-
dos. Confgurou-se, assim, o sistema bipartidrio compulsrio com
as formaes partidrias da Arena e MDB agregando parlamentares
oriundos dos partidos do regime anterior.
A partir de 1974, o MDB, apesar das difculdades de organi-
zao, comeou a vencer as eleies legislativas, obtendo 16 das 22
cadeiras em disputa para o Senado, e cresceu de 28% para 44% sua
representao na Cmara. A partir daquele pleito, as eleies passam
a ter um carter plebiscitrio de rejeio ou no do governo militar,
confgurando-se uma tendncia eleitoral: o continuado declnio da
Arena e crescimento do MDB, principalmente nas reas urbanas. Em
consequncia dessas derrotas, o governo militar passou a recorrer
sistematicamente manipulao da legislao eleitoral (Lei Falco,
Senador Binico etc.) e determinou uma reformulao partidria a
fm de evitar sua recorrente deslegitimao nas urnas, propondo a
reforma partidria de 1979 para dividir a oposio. A partir de ento,
em pleno processo de transio de regime, tivemos a emergncia
de um novo sistema partidrio conformado pelo PMDB, PDS, PT,
PDT, PTB e PP. Este foi ampliado depois da Emenda Constitucional
de 1985, que estabeleceu a liberdade total de organizao partidria
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
276
(criao dos PC, PSB, etc.). J o PFL, atual DEM, foi criado durante
as discusses em torno das eleies indiretas para a presidncia
da Repblica, em 1985. Dois anos depois, durante os debates na
Constituinte, uma dissidncia no PMDB levaria criao do PSDB.
importante assinalar que o sistema partidrio ps-autoritarismo
no reproduziu o sistema partidrio anterior a 1964. O realinha-
mento partidrio ps-1979 teve como ponto de referncia a Arena
e o MDB e no os partidos do regime de 1946, bem como sofreu a
infuncia de outros fatores, entre os quais est o tipo de transio
democrtica: gradual e controlada, o que levou a uma soluo nego-
ciada envolvendo a oposio moderada e dissidentes do partido do
governo (que formariam o PFL). Outro fator importante foi a ines-
perada morte de Tancredo Neves e suas consequncias no PMDB.
Finalmente, cabe chamar a ateno para o processo Constituinte e
as desavenas em torno de temas cruciais para a constituio do
novo regime democrtico.
Na democracia competitiva ps-1985, se levarmos em considera-
o o ano de 1980 como o marco inicial do atual sistema partidrio,
veremos que os principais partidos polticos esto organizando a
competio poltico-eleitoral h mais de 29 anos, o que signifca,
conforme Braga (2006), ser esta a mais longa e consistente experi-
ncia partidria de nossa histria poltica.
Sistemas de governo
A democracia requer que os cidados sejam capazes de infuen-
ciar as decises polticas e controlar a atuao de seus represen-
tantes. Essa capacidade afetada pelas condies de participao
eleitoral e de organizao da disputa partidria, mas tambm pelo
funcionamento das instituies de governo. As regras que regulam
as relaes entre os rgos do Estado defnem o sistema de governo
vigente em cada pas e confguram diferentes recursos e oportuni-
dades de infuncia poltica por parte dos cidados. Entender como
os sistemas de governo funcionam nos ajuda a avaliar as condies
de exerccio da democracia em cada um deles.
Um parmetro central na diferenciao dos sistemas de governo
diz respeito ao grau de disperso ou concentrao do poder poltico
produzido por suas instituies. Com esse objetivo, as anlises, em
geral, concentravam-se na extenso em que as funes de governo
277
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
so alocadas em rgos especfcos dos poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judicirio e grau de independncia desses rgos no exerccio
dessas funes. O resultado tem sido a diferenciao entre dois ti-
pos puros de sistemas de governo: o parlamentarista, ancorado em
formas mais fexveis de separao de poderes, e o presidencialista,
assentado em uma rgida separao funcional desses poderes.
Alm dessas diferenas estruturais, as pesquisas mais recentes
chamaram a ateno para um conjunto de regras que afeta a distri-
buio de poderes de agenda e de veto
1
entre os rgos do gover-
no e que molda, tambm, as relaes Executivo-Legislativo. essa
abordagem dos sistemas de governos que ser explorada a seguir.
Esses sistemas sero diferenciados em relao s estruturas
constitutivas dos governos e s regras de distribuio de poderes
de agenda e de veto entre seus agentes. A distribuio desses pode-
res varia de acordo com regras que organizam as relaes entre os
poderes Executivo e Legislativo nas democracias contemporneas
2
.
Podemos destacar trs diferenas principais, relativas: a) aos proces-
1
Um ponto importante dessa crtica o de salientar que no prprio presiden-
cialismo algumas funes so compartilhadas por diferentes rgos como a
participao do Executivo na produo legal, seja pelo direito de propor inicia-
tivas legais ou pela prerrogativa de vetar leis aprovadas pelo Legislativo. Os
poderes de agenda abrangem direitos e prerrogativas que um ator poltico conta
para defnir quais propostas de polticas sero examinadas e a partir de quais
procedimentos. Por exemplo, o Presidente brasileiro utiliza os seus poderes de
agenda ao editar uma Medida Provisria ou solicitar ao Congresso que uma lei
seja examinada em regime de urgncia. Um ator poltico ou institucional tem
poder de veto quando a sua concordncia necessria para que uma deciso
seja tomada.
2
Essas relaes no abrangem apenas os legisladores e o chefe do Executivo. A
responsabilidade pelas funes do Poder Executivo pode basear-se na distino
entre um chefe de Estado, que representa o poder soberano do pas, e um chefe
de governo, responsvel pela direo e coordenao das funes executivas do
governo no cotidiano da administrao pblica. Em geral, nos sistemas par-
lamentaristas prevalece a separao institucional dessas duas posies, sendo
a chefa do governo ocupada pelo primeiro-ministro (ou chanceler) e a che-
fa do Estado, pelo monarca no caso das monarquias parlamentaristas ou
presidentes. Neste caso, o chefe de Estado exerce no governo um papel mais
protocolar. Nos sistemas presidencialistas, as duas posies so exercidas pelo
presidente, na condio de chefe do Executivo. Os sistemas semipresidencialistas,
diferenciam-se dos parlamentaristas por dotar o presidente, enquanto chefe de
Estado, de poderes institucionais mais expressivos, como no caso da Frana,
em que a seleo do primeiro-ministro uma prerrogativa do presidente. Mas,
distanciam-se dos presidencialistas, pelo fato de que a conduo do governo
compartilhada ou realizada de forma coordenada com o primeiro-ministro.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
278
sos de seleo dos agentes de governo; b) s condies de sobrevi-
vncia dos mandatos dos representativos polticos; c) composio
do ministrio e ao controle do aparato burocrtico do Executivo.
Com base nessas diferenas, trs tipos principais de sistemas de go-
vernos podem ser identifcados: Parlamentarismo, Presidencialismo
e Semipresidencialismo
3
.
Cabe salientar que essas so diferenas tpicas, pois nos ajudam
a contrastar os arranjos poltico-institucionais, embora haja uma
grande variao nas regras e procedimentos existentes entre pases
de um mesmo tipo de sistema de governo.
Seleo dos agentes de governo
Os sistemas so diferentes em relao aos processos de seleo
dos membros do Executivo e do Legislativo. Em sistemas parlamen-
taristas, esses processos so interdependentes, pois membros do
Parlamento so eleitos pelo voto popular e so eles que defnem a
composio do gabinete (Primeiro-ministro e seus auxiliares), res-
ponsvel pela direo do governo.
As caractersticas do sistema partidrio e das regras eleitorais
infuenciam esse processo de formao parlamentar do governo. Em
sistemas bipartidrios e com um sistema eleitoral majoritrio, como
o ingls, a formao do governo se limita traduo da maioria
vitoriosa nas urnas em gabinete de governo. Nos sistemas multipar-
tidrios maior a fragmentao poltica do Parlamento e a eleio
de um partido majoritrio mais difcil. Nesse caso, ocorrem acor-
dos interpartidrios e a formao de coalizes de governo para a
formao do governo. Determinados procedimentos tambm afetam
a dinmica das negociaes para a montagem do governo. Esse
o caso dos pases que exigem um voto formal do Legislativo para
3
A referncia principal do parlamentarismo o modelo ingls, mas este se encon-
tra difundido entre ex-colnias britnicas, como Austrlia e Nova Zelndia, e no
prprio continente europeu (Espanha, Itlia, Blgica, Alemanha, ustria, dentre
outros). O presidencialismo tem a sua matriz na experincia americana, sendo
a difuso desse modelo para outros pases, principalmente na Amrica Latina,
acompanhada de importantes inovaes institucionais. O Semipresidencialismo
ganhou visibilidade recente, em face das experincias de reformas polticas em
Portugal e na Frana e a crescente adoo desse modelo nos pases do leste
europeu (Eslovnia, Russia, Romnia, Ucrnia etc.). Esse modelo encontrado
na sia (Monglia e Coria do Sul) e frica (como Egito e Cabo Verde).
279
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
investidura nos cargos, o que amplia o poder de veto de grupos
parlamentares (HELMS, 2005; DOWDING; DUMONT, 2009). Em
outros pases, o voto de confiana no governo ocorre depois da
seleo de seus membros.
O Semipresidencialismo singulariza-se pela presena de um
presidente escolhido por eleio popular e a seleo do primeiro-
ministro pelo Legislativo. Esse arranjo resulta, portanto, na presena
de dois agentes responsveis pela conduo do Poder Executivo:
o presidente, como chefe de Estado, e o primeiro-ministro, como
chefe de governo. A diferena desse sistema, s vezes chamado de
misto ou hbrido, localiza-se no poder institucional do presidente
no mbito do Executivo, incluindo a prerrogativa de indicar ou
nomear o primeiro-ministro.
No Presidencialismo ocorrem eleies separadas para a sele-
o do presidente e dos membros do Legislativo (LIJPHART, 2003;
SHUGART; CAREY, 1992; AMORIM NETO, 2002), o que concorre
para uma maior disperso do poder poltico. Uma vez que so
eleies independentes, abre-se a oportunidade de que candidatos
ou partidos derrotados em uma disputa, sejam vitoriosos na outra.
Para alguns analistas, esse trao um obstculo governabilidade
dado que essa disperso pode levar o Executivo e Legislativo a
serem dirigidos por maiorias polticas e/ou programaticamente
divergentes. Para outros, essa disperso condio importante
para a expresso da pluralidade poltica no interior dos rgos do
governo, alm de ampliar os incentivos para que eles fiscalizem
uns aos outros.
Sobrevivncia dos governos
Uma segunda diferena institucional est diretamente associada
primeira: as condies de sobrevivncia do governo. Em sistemas
parlamentaristas, o chefe do governo e seu gabinete so responsveis
perante o Legislativo, ou seja, eles devem prestar contas de seus atos
e podem ser destitudos de suas funes quando no contam com a
confana desse Poder. Os legisladores tm poderes de destituio
do gabinete, normalmente sobre a forma de moo de censura ou
de desconfana, que, uma vez aprovada, pode exigir a renncia do
governo. O chefe de governo tambm detm poderes que ele usa
estrategicamente para pressionar o Legislativo: o voto de confana e
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
280
o poder de dissolver a legislatura
4
. A existncia dessas regras, sejam
elas formais ou no, pode incentivar as negociaes e os acordos en-
tre Legislativo e Executivo para garantir a sobrevivncia do governo
e evitar que os mandatos sejam abreviados. Quando isso no ocorre
e verifca-se a perda da confana mtua entre os poderes, as regras
de destituio do gabinete ou de dissoluo da Legislatura atuam
como frmulas institucionais de recomposio do governo.
No caso do Semipresidencialismo, a responsabilidade perante
o Legislativo afeta principalmente a continuidade do mandato do
primeiro-ministro, e de seu gabinete, mas no a do mandato presi-
dencial. Nas situaes em que o chefe do governo indicado pelo
presidente, a sobrevivncia do gabinete se torna mais complexa,
pois o primeiro-ministro e seus auxiliares devem ser apoiados por
ambos, Legislativo e presidente.
Diversamente, os representantes polticos no Presidencialismo
tm mandatos fxos, com durao defnida constitucionalmente, que
no dependem da confana mtua entre os poderes
5
. Alguns ana-
listas identifcam na independncia de origem e nos mandatos fxos,
tpicos do Presidencialismo, a fonte de uma legitimidade dual que,
na presena de maiorias divergentes controlando o Legislativo e o
Executivo, pode levar prevalncia dos vetos e bloqueios institucio-
nais (LINZ, 1994). Segundo essa vertente explicativa, a disperso de
poder tpica do Presidencialismo resulta em um sistema complexo de
vetos, conducente paralisia poltica e crises de governabilidade.
Pesquisas recentes, entretanto, chamam a ateno para evidn-
cias de cooperao entre os poderes na forma de alianas construdas
4
Pelo procedimento do voto de confana o governo pressiona o Legislativo a apoiar
determinadas polticas, forando-o a manifestar apoio ao seu gabinete: uma
proposta de poltica submetida ao Legislativo e a sua aprovao tomada
com manifestao de apoio ao gabinete. Em caso de no aprovao, o resultado
pode ser a renncia do gabinete. O poder de dissolver a Legislatura e convocar
novas eleies outro recurso disponvel ao primeiro-ministro.
5
De forma geral, esses sistemas preveem a destituio do presidente em casos
de crimes de responsabilidade poltica, que se referem a infraes poltico-ad-
ministrativas, mas no em decorrncia da perda de apoio poltico por parte do
Legislativo. No Brasil, so considerados crimes de responsabilidade os atos do
presidente da Repblica que atentem contra a Constituio Federal, em especial,
contra o livre exerccio do Poder Legislativo, do Poder Judicirio e do Ministrio
Pblico, contra o exerccio dos direitos polticos, individuais e sociais, contra a
segurana interna do Pas, a probidade da administrao, a lei oramentria e
o cumprimento das leis e decises judiciais (CRFB, art. 85).
281
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
ao longo do processo eleitoral (1 e 2 turno das eleies) ou do
mandato presidencial (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999; AMORIM
NETO, 2002; SANTOS, 2003). No caso do Brasil, a cooperao entre
o presidente e os partidos representados no Legislativo incenti-
vada pelo fato de que esses atores contam com poderes de agenda
que os tornam capazes de infuenciar os processos decisrios. Esses
poderes so utilizados para acomodar os interesses dos diferentes
grupos polticos, por exemplo, mediante concesses e negociaes
relacionadas agenda legislativa do Executivo, ao programa de
governo, ocupao de postos e ao acesso a recursos controlados
pelo Executivo.
Composio do ministrio e controle do aparato
burocrtico do Executivo
Outra diferena importante entre os sistemas de governo diz
respeito ao controle poltico sobre o aparato do Executivo. De forma
geral, a gesto das polticas pblicas durante o governo coordenada
pelo chefe do governo e seu ministrio. Mas o grau de discricionarie-
dade que o chefe de governo detm na montagem de seu ministrio
varia signifcativamente entre os trs sistemas de governo.
No Parlamentarismo, essa discricionariedade limitada pela
influncia que o Legislativo exerce sobre a composio do gabi-
nete ministerial. Em alguns casos, como o britnico, exige-se que
os ministros sejam selecionados apenas entre os legisladores, li-
mitando o leque de escolhas do chefe de governo (HELMS, 2005;
DOWDING; DUMONT, 2009). A exigncia de aprovao formal do
gabinete pelo Legislativo, o chamado mecanismo de investidura,
requer negociaes entre os partidos e seus lderes para composi-
o do gabinete. Uma vez formado o governo, a responsabilidade
do gabinete perante o legislativo induz a formas mais horizontais
de coordenao de suas aes e do aparato burocrtico, pois um
desempenho insatisfatrio do governo pode ameaar a confiana
do Legislativo no gabinete e resultar na demisso coletiva ou in-
dividual de seus membros.
Os poderes de nomear e demitir em sistemas semipresidencia-
listas so, em certa medida, compartilhados pelo primeiro-ministro
e presidente, o que exige aes coordenadas entre eles na direo
do governo. Embora com variaes nas regras formais, o presidente
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
282
nomeia, bem como demite, os ministros mediante recomendao do
chefe do governo.
Em sistemas presidencialistas, em geral, o presidente desfruta
de ampla autonomia de composio de seu ministrio, o que inclui
tanto a prerrogativa de nomear como de demitir os seus membros.
Em consequncia, o presidente dispe de mecanismos importantes
para a coordenao vertical do aparato administrativo do Poder
Executivo e para o controle poltico da implementao da agenda
governamental (SARTORI, 1996)
6
.
Para alguns, o controle do aparato burocrtico exercido pelo
chefe do Executivo pode incentivar o presidente a conduzir o go-
verno de forma unilateral, sem a participao do Legislativo. Esses
incentivos seriam maiores nos casos em que o presidente dispe
de direitos de legislar, alm do poder de nomear e demitir seus
auxiliares. Um governo baseado em aes unilaterais do Executivo
representa uma sria restrio infuncia poltica dos cidados
atravs da ao de seus representantes no Legislativo.
Estudos recentes, no entanto, chamaram a ateno para o fato
de que esses poderes no necessariamente induzem ao unila-
teral do Executivo. Ao contrrio, quando o Legislativo dispe de
poder de veto e pode impor derrotas legislativas ao Executivo, es-
ses poderes so recursos importantes nas negociaes com vista
cooperao entre os poderes (AMORIM NETO, 2002; FIGUEIREDO;
LIMONGI, 1999, 2003). No Brasil, os presidentes, de forma recor-
rente, montam ministrios multipartidrios que comprometem os
partidos com a conduo e sucesso do governo. Essa participao
cimentada por acordos partidrios baseados na distribuio de
postos ministeriais entre os partidos legislativos. Cabe avaliar, no
entanto, em que medida a participao dos partidos legislativos,
na forma de coalizo, amplia e diversifica as oportunidades de
influncia poltica por parte dos cidados.
A discusso acima mostrou que os sistemas de governo defnem
diferentes condies para o exerccio do poder poltico e para o
6
Em alguns casos, como o americano, exige-se a aprovao pelo Sena-
do dos ministros (secretrios de Estado) indicados. No Brasil, no h
previso de consentimento senatorial para a composio do ministrio,
mas exige-se a aprovao pelo Senado dos titulares de alguns cargos do
aparato burocrtico, como a presidncia do Banco Central.
283
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
controle daqueles que o exercem. Cabe destacar agora alguns pontos
em relao ao Presidencialismo, sistema adotado no Brasil.
Ao longo do texto afrmou-se que Presidencialismo, devido
separao dos poderes, possibilita a maior disperso de poder polti-
co. Ou seja, grupos polticos diferentes podem ser representados no
Legislativo e no Executivo, o que favorece a expresso mais abran-
gente de interesses da sociedade na tomada de decises polticas. H
a expectativa de que a presena desses interesses plurais favorea
a vigilncia e controle mtuo entre os poderes, de forma a produ-
zir decises mais representativas e responsveis. Nessa direo,
importante discutir se o sistema de governo brasileiro tem, de fato,
favorecido a expresso desse pluralismo de interesse no interior das
instituies de governo, mediante a incluso de minorias polticas e
dos diversos grupos polticos presentes na sociedade brasileira.
Mas, como salientado antes, no basta olhar para a separao
funcional dos poderes para se entender a dinmica dos sistemas
presidencialistas. Ou seja, a separao de poderes no assegura,
em si, a disperso de poder poltico entre os atores institucionais e
polticos. necessrio considerar os poderes de agenda e de veto
que o Executivo, o Legislativo e o Judicirio controlam.
A prpria experincia brasileira nos ensina sobre isso: compara-
do ao Presidencialismo vigente no perodo de 1946-1964, o sistema
atual bastante diferente devido aos amplos poderes legislativos
atribudos ao chefe do Executivo. Dentre os poderes presidenciais
para infuenciar a produo das leis, podemos destacar as compe-
tncias de apresentar projetos de leis e propostas de emenda cons-
titucional, de solicitar regimes de tramitao urgente para as suas
iniciativas legais, alm de deter a iniciativa exclusiva de certas ma-
trias, como as leis oramentrias. Esses poderes modifcaram muito
as bases de relacionamento entre os poderes e de promoo da go-
vernabilidade do Pas. Mas no perodo atual no ocorreu apenas a
ampliao dos poderes presidenciais, houve tambm fortalecimento
do Legislativo no processo decisrio. Embora o Executivo detenha
recursos importantes para infuenciar os trabalhos parlamentares,
o Legislativo dispe de mecanismos para modifcar ou vetar as ini-
ciativas do governo.
Assim, o presidente incentivado a compor coalizo com parti-
dos legislativos com vistas a obter apoio parlamentar sua agenda.
Esses incentivos so considerveis, uma vez que, no Brasil, o mul-
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
284
tipartidarismo brasileiro e o sistema de representao proporcional
reduzem, consideravelmente, as chances de que o partido do pre-
sidente seja eleito com uma maioria legislativa expressiva. Por sua
vez, os partidos polticos tambm tm incentivos para cooperar com
o Executivo, incluindo a sua participao no governo, dado que a
agenda das polticas pblicas e o acesso aos recursos pblicos so
fortemente controlados por esse Poder.
Os efeitos do controle de agenda exercido pelo presidente e
pelos partidos legislativos sobre as relaes Executivo-Legislativo
no Brasil apontam para uma cooperao estvel entre os poderes
nas ltimas dcadas. No entanto, importante refetir sobre as con-
sequncias dessa concentrao dos poderes de agenda nas mos do
presidente e dos lderes partidrios representados no Congresso.
Como isso afeta a capacidade de infuncia do processo decisrio
por parte de grupos polticos minoritrios e das oposies polticas?
Essa concentrao de poderes dificulta a incorporao de certos
temas e projetos polticos agenda de polticas pblicas?
A refexo sobre essas questes importante porque nos ajuda
a entender no somente como os sistemas de governo funcionam,
mas tambm como eles impactam a prpria democracia.
Consideraes fnais
O presente captulo abordou as instituies e as dinmicas dos
processos eleitorais, de organizao partidria e de formao dos
governos com foco nas condies de competio poltica e de re-
presentao poltica.
Os contextos eleitorais e ps-eleitorais em que os cidados e seus
representantes atuam defnem diferentes condies de exerccio da
infuncia poltica. A abordagem desenvolvida pela presente discusso
procurou demonstrar que a produo de governos responsivos e res-
ponsveis supe uma linha de continuidade entre a infuncia poltica
proporcionada pelos processos eleitorais e de disputa partidria e a
que se efetiva no interior das instituies de governo.
Referncias
ABRANCHES, Sergio. Presidencialismo de Coalizo: O Dilema Institucional Bra-
sileiro. Dados, v. 31, n. 1, p. 5-38, 1988.
285
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
AMORIM NETO, Octavio. Presidential Cabinets, Electoral Cycles, and Coalition
Discipline in Brazil. In: MORGENSTERN, Scot; NACIF, Benito (Ed.). Legislative
Politics in Latin America. New York: Cambridge University Press, 2002.
BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionrio de
Poltica. Braslia, DF: UnB, 1991.
BRAGA, Maria do Socorro S. O Processo Partidrio-Eleitoral Brasileiro: Padres
de Competio Poltica (1982-2002). So Paulo: Humanistas/Fapesp, 2006.
CHEIBUB, J. A.; PRZEWORSKI, A.; SAIEGH, S. Governos de coalizo nas demo-
cracias presidencialistas. Dados, v. 45, n. 2, p. 187-218, 2002.
DOWDING, K.; DUMONT, P. (Ed.). The Selection of Ministers in Europe. London:
Routledge, 2009.
DOWNS, Anthony. Uma Teoria Econmica da Democracia. So Paulo: Edusp, 1999.
DUVERGER, Maurice. Os Partidos Polticos. Traduo Cristiano Monteiro Oiticica.
Rio de Janeiro: Zahar, 1970.
ELDERSVELD, S. Political Parties in American Society. New York: Basic Books, 1982.
FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova
Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
HELMS, Ludger. Presidents, Prime Ministers and Chancellors: executive leader-
ship in Western Democracies. London: Palgrave; New York: Mcmillan, 2005.
KATZ, Richard S.; MAIR, Peter. Cadre, catch-all or cartel? a rejoinder. Party Politics,
v. 2, n. 4, p. 527-536, 1996.
______; ______. Changing models of party organization and party democracy. Party
Politics, v. 1, n. 1, p. 5-28, 1995.
KINZO, Maria DAlva. Radiografa do Quadro Partidrio Brasileiro. So Paulo:
Fundao Konrad-Adenauer, 1993.
KIRCHHIMER, Oto. The Transformation of the Western European Party Systems.
In: LAPALOMBARA, Joseph; WEINER, Myron (Ed.). Political Parties and Political
Development. Princeton: Princeton University Press, 1966.
LIMONGI, F.; FIGUEIREDO, A. C. Medidas provisrias. In: BENEVIDES, M. V.;
VANNUCHI, P.; KERCHE, F. (Ed.). Reforma poltica e cidadania. So Paulo: Fun-
dao Perseu Abramo, 2003.
LIPHART, A. Modelos de democracia. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003.
LINZ, Juan J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Diference?
In: LINZ, Juan J.; VENEZUELA, Arturo (Ed.). The Failure of Presidential Democ-
racy: The Case of Latin America. Baltimore, Md.: Johns Hopkins, 1994.
LIPSET, Seymour M.; ROKKAN, Stein. Party Systems and Voter alignments: cross-
national perspectives. New York: Free Press, 1967.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
286
SANTOS, Fabiano Mendes. O Poder Legislativo no Presidencialismo de Coalizo.
Belo Horizonte: UFMG, 2003.
SARTORI, G. Partidos e Sistemas Partidrios. Braslia, DF: UNB, 1982.
______. Engenharia Constitucional: como mudam as constituies. Braslia, DF:
UnB, 1996.
SHUGART, Mathew; CAREY, John. Presidents and assemblies: constitutional de-
sign and electoral dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
SOARES, Glucio Ary Dillon. Sociedade e Poltica no Brasil. Rio de Janeiro: Corpo
e Alma do Brasil, 1973.
SOUZA, Maria do Carmo. Estado e Partidos Polticos no Brasil (1930 a 1964). So
Paulo: Alfa-Omega, 1976.
Par ti dos, el ei es e gover no na sala de aula
O texto de Maria do Socorro Sousa Braga e de Magna Incio analisa
com objetividade a formao poltico-eleitoral de regimes democrticos.
Para professores do Ensino Mdio, auxilia no entendimento de situaes
que concorrem para a formao dos partidos polticos, geram polmicas em
eleies e caracterizam os governos democrticos. Conceitos especfcos da
Cincia Poltica so relacionados histria poltico-partidria contempor-
nea, concorrendo para diminuir as dvidas e confuses que habitualmente
ocorrem em pocas de eleies, decorrentes das particularidades dos di-
ferentes sistemas eleitorais. Para despertar o interesse dos jovens para as
questes que envolvem as escolhas poltico-eleitorais, interessante que
os conceitos e as discusses apresentados no texto sejam debatidos em
sala de aula. A expectativa oferecer aos jovens uma formao poltica
criteriosa, racionalizada, independente das preferncias ou fliaes parti-
drias, esclarecedora dos processos que envolvem os sistemas de governo
da atualidade a fm de capacit-los para as suas escolhas polticas.
Para provocar a participao dos estudantes e apresentar a poltica
como uma prtica que faz parte do dia a dia das pessoas, a sugesto
iniciar com o rap At quando?, de Gabriel O pensador, Tiago Mocot e Itaal
Schur. A msica pode ser apresentada em CD ou mesmo em videoclipe,
facilmente encontrado no youtube. A grande quantidade de versos, comum
em composies dessa natureza, exige dos professores a anlise mais de-
talhada de determinadas estrofes e expresses.
Ainda recorrendo ao rap, sintetizar as explicaes sobre o tema em
uma pardia, no ritmo de rap, composta em sala de aula pelos prprios
estudantes, uma atividade que chama a classe participao. Desenvolve
a criatividade, a musicalidade, capacidade de expresso e comunicao,
paralelamente anlise e s crticas presentes nos versos.
287
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Uma sugesto interessante, trabalhada nos primeiros pargrafos do
texto a representao democrtica. As autoras apresentam quatro elemen-
tos considerados fundamentais para que a democracia representativa se
concretize. Vale a pena o professor trabalhar com os estudantes cada um
desses elementos com os olhos voltados para a realidade brasileira. O flme
V de Vingana, de James McTeigue, a sugesto para ilustrar a discusso.
Segundo a anlise das autoras, 1980 foi um ano que marcou o incio do
atual sistema partidrio brasileiro, caracterizando a mais longa e consis-
tente experincia partidria de nossa histria poltica. Emergiram partidos
como PMDB, PSDB, PT, PDT e PP. De l para c, inmeras outras mudan-
as provocaram a transformao e a criao de novos partidos. Proponha
aos alunos a seguinte questo: Voc saberia dizer quais os partidos do(a)
governador(a) de seu Estado e do(a) prefeito(a) de sua cidade? Construa
com os alunos uma linha do tempo com a confgurao partidria de cada
momento da histria do Brasil: cada grupo poder montar um quadro
sobre cada etapa dessa histria.
Alternativa que confere materialidade s questes analisadas no texto
pode ser desenvolvida a partir do relato histrico sobre o sistema eleitoral
brasileiro. Entrevistas com pessoas que se interessam pelo assunto po-
dem tornar essa anlise bastante interessante, ao relatarem situaes que
marcaram as eleies da cidade. A lembrana histrica dos entrevistados,
coincidentemente, ilustra as teorizaes do texto e mostra aos jovens o
quanto as questes ligadas ao poder poltico precisam ser conhecidas e
analisadas pela populao, para que seja garantida a representao de-
mocrtica. Pode-se buscar tambm em arquivos de jornais, rdios, e sites
da internet exemplares de propaganda eleitoral, como jingles, santinhos,
cdulas eleitorais, etc.
Considere uma pesquisa, de carter exploratrio e pedaggico, com o
objetivo de compreender a noo corrente sobre a poltica. No ter valor
estatstico, pois no se utilizar de instrumental dessa natureza e no se
basear em tcnicas de amostragem. Sua realizao atender exclusivamente
a objetivos pedaggicos da disciplina sendo concretizada pelos alunos, di-
vididos em grupos e sob a orientao do professor. Metodologicamente, a
pesquisa pode ser desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas
com questes abertas. O pblico alvo pode ser constitudo por 10 (dez)
entrevistados por cada grupo, preservando-se a identidade dos entrevis-
tados. Talvez 5 (cinco) perguntas, iguais para cada um dos entrevistados,
bastem para permitir aos alunos um rico debate:
O que a poltica para o(a) senhor(a)? 1.
A poltica serve para qu? (ou deveria servir para qu) 2.
Como o(a) senhor(a) escolhe seu candidato poltico? (com base 3.
em qu? o que lhe chama mais ateno nele? o que o leva a votar
em algum?)
O(A) senhor(a) acompanha as notcias da poltica nos jornais? Da 4.
poltica nacional, estadual ou municipal? Com que frequncia l
essas notcias?
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
288
O(A) senhor(a) participa politicamente na sociedade? Como? Des- 5.
de quando? Por qu?
Observe que os complementos das perguntas so para esclarecimento
dos alunos. Os alunos, ento, organizaro as ideias em um relatrio de
pesquisa e apresentaro em seminrios.
Stios para obter informaes sobre resultados eleitorais, dados sobre os
partidos polticos e organizao dos poderes no Brasil:
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (www.tse.gov.br).
Laboratrio de estudos experimentais (LEEX) (www.ucam.edu.br/leex).
Dados Eleitorais do Brasil (1982-2006) (www.jaironicolau.iuperj.br).
Poder Legislativo no Brasil:
Cmara dos Deputados (www.camara.gov.br). Conferir tambm o Progra-
ma Institucional Parlamento Jovem (htp://www2.camara.gov.br/internet/
conheca/progrinstitucionais/parlamentojovem).
Senado Federal (www.senado.gov.br).
Poder Executivo no Brasil:
Informaes sobre a estrutura da Unio; a organizao dos poderes exe-
cutivos nos nveis federal, estadual e municipal (htp://www.brasil.gov.br);
informaes sobre a histria e organizao da Presidncia da Repblica
(htp://www.presidencia.gov.br).
Poder Judicirio no Brasil:
Supremo Tribunal Federal (htp://www.stf.jus.br/portal/principal); Links
para as demais instituies do Poder Judicirio podem ser acessados pelo
stio do Superior Tribunal de Justia (htp://www.stj.gov.br); Conselho Na-
cional de Justia (htp://www.cnj.jus.br/).
Stios de interesse (informaes histricas, material de pesquisa e apoio
didtico):
Centro de Referncia da Histria Republicana Brasileira/Museu da Rep-
blica (htp://www.republicaonline.org.br/index_fash.htm).
Centro de Pesquisa e Documentao de Histria Contempornea do Brasil
(htp://www.cpdoc.fgv.br).
289
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Introduo
Durante vinte anos, o Brasil manteve uma economia fechada e
viveu sob regime poltico autoritrio. Este contexto domstico, infuen-
ciado pelo sistema internacional polarizado pela relao entre as duas
grandes potncias mundiais Estados Unidos e Unio Sovitica , fez
com que o Pas tivesse uma atuao externa bastante limitada.
Entretanto, existe um consenso entre os autores especialistas em
poltica internacional no que se refere ao padro de atuao do Bra-
sil no sistema internacional. Atribui-se centralizao decisria em
poltica externa, pelo Itamaraty (Ministrio das Relaes Exteriores),
a manuteno de uma coerncia e estabilidade no comportamento
internacional do Pas. O Itamaraty sempre foi o responsvel pela
definio das prioridades de atuao externa, definindo em que
arenas o Brasil deve atuar.
Ou seja, nunca houve grandes rupturas no que se refere nossa
poltica externa, nem mesmo durante o regime militar. E, embora
a agenda tenha sido predominantemente marcada pelo relaciona-
mento bilateral com os Estados Unidos, o Brasil sempre foi favor-
vel ao multilateralismo (defensor da participao em organizaes
internacionais e das negociaes com mltiplos pases).
Captulo 14
O Brasil no
sistema internacional
Janina Onuki*
* Doutora em Cincia Poltica. Professora do Centro de Estudos das Negociaes
Internacionais da USP.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
290
O incio dos anos de 1990 foi marcado por mudanas impor-
tantes no sistema internacional. No apenas o fim da Guerra Fria
(1945-1989), mas a globalizao econmica fez com que a maior par-
te dos pases desse incio a processos de transio poltica (de um
regime militar a regime democrtico) e de abertura da economia
(ampliando o relacionamento com um nmero maior de pases).
Este contexto modificou o comportamento internacional dos pases
(sobretudo dos pases em desenvolvimento). Neste cenrio, vrias
mudanas passam a ocorrer no sistema internacional, tanto na
economia (a maior parte dos pases comeam a se abrir e ampliar
as relaes com outros pases) quanto nas relaes polticas (que
no precisavam mais ser limitadas pela ideologia do comunismo
ou capitalismo). Na realidade, a maior parte dos pases passa por
um processo de abertura que os induzem a manter relaes com
um nmero maior de pases.
Neste cenrio, duas variveis predominantes marcam o com-
portamento dos pases: a maior cooperao e participao em orga-
nizaes internacionais e a criao de blocos regionais. No caso do
Brasil, o envolvimento com o Mercosul (Mercado Comum do Sul)
e a participao mais ativa em organizaes internacionais, como a
OMC (Organizao Mundial do Comrcio) e a ONU (Organizao
das Naes Unidas), ou o Protocolo de Kyoto, na rea ambiental,
marcam um novo perodo da poltica externa e uma nova postura
do Brasil no sistema internacional.
Em vrias arenas o Brasil tem atuado de forma cooperativa, e
no isoladamente, atravs da formao de coalizes com pases em
desenvolvimento, como o G-20 (que ser discutido mais adiante), ou
da articulao com pases emergentes, onde se destaca o BRIC (grupo
que envolve a articulao de Brasil, Rssia, ndia e China, pases
industrializados que vem se destacando na discusso de questes
importantes para a ordem internacional).
O objetivo deste captulo discutir como se deu a insero inter-
nacional do Brasil, frente s mudanas do sistema internacional e da
relao entre os pases. Para tanto, o captulo est dividido em trs
partes: a primeira discute o impacto dessas mudanas do ponto de
vista da mudana da agenda internacional; a segunda analisa a lide-
rana exercida pelo Pas na constituio e no avano do Mercosul; e a
terceira parte discute a atuao do Brasil em duas frentes multilaterais
(das organizaes internacionais), com foco na ONU e OMC.
291
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Globalizao econmica e mudanas internacionais
A Guerra Fria foi assim defnida para indicar um perodo em
que no havia confronto direto entre as duas superpotncias, e cuja
disputa se passava no plano da competio pela produo de armas
nucleares, e no plano ideolgico (que confrontava o capitalismo
ao comunismo). Neste perodo, a maior parte dos pases era obri-
gada a defnir suas aes a partir de uma dessas orientaes, por
isso defniam-se os grupos de pases por zonas de infuncia, a
depender das ideias que se seguiam (se dos Estados Unidos ou da
Unio Sovitica). Essa condio limitava a autonomia dos pases,
pois todos eles estavam condicionados a defnir sua atuao externa
(seja na relao com outros pases, seja nas votaes nos organismos
internacionais) de acordo com estas orientaes.
Como no havia confito explcito, a guerra era fria. E como
as duas grandes potncias delimitavam a ao externa de todos os
outros pases, dizia-se que o sistema internacional era estvel e que
as aes eram mais previsveis porque controladas.
O fm da Guerra Fria, simbolizado pela queda do muro de Ber-
lim em 1989 e o posterior esfacelamento do imprio sovitico, fez
surgir um novo cenrio internacional que se diferenciava do perodo
anterior justamente pela imprevisibilidade j que cada pas ganha-
va mais autonomia para defnir que relaes iriam privilegiar e
pelo aumento do nmero de negociaes entre os pases. A este ce-
nrio de intensas relaes atribui-se o nome de interdependncia.
Com o trmino do confito ideolgico entre as duas superpo-
tncias, alguns especialistas previram um perodo de paz e maior
equilbrio internacional. Outros anteciparam o surgimento de novos
confitos regionais. Nos primeiros anos da dcada de 1990, havia
pouco consenso sobre como seria estruturada a ordem mundial.
O fato que surgiu um novo contexto internacional marcado
por relaes extremamente complexas, em que emergiram antago-
nismos tnicos, nacionais e religiosos. Por outro lado, o fenmeno da
globalizao econmica passou a defnir as relaes internacionais,
aproximando os estados dos atores no estatais como organizaes
no governamentais (ONGs), empresas e os prprios cidados ,
agora totalmente conectados entre si pelo avano da tecnologia.
Com a globalizao, as informaes passaram a ser praticamente
instantneas, o que permitiu aos atores agirem mais rapidamente,
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
292
mas passaram a ser imediatas tambm a ao de terroristas, os im-
pactos ambientais e a repercusso das crises econmicas. Se, por
um lado, a circulao de ideias passou a ser muito mais ampla,
o aprofundamento da desigualdade tambm. E essa desigualdade
refete-se tambm na participao dos representantes nos debates
internacionais. Ou seja, o aprofundamento da interdependncia teve
impactos sociais, culturais e polticos profundos e ainda no h
consenso sobre os seus benefcios e custos.
Neste contexto de incertezas e da evoluo do sistema interna-
cional no sentido de uma complexidade cada vez maior das relaes
entre os Estados e infuncia dos atores no estatais, ressurgiu o
debate sobre a relevncia da cooperao e das organizaes inter-
nacionais, e dos blocos regionais.
A discusso sobre o papel das instituies internacionais tem
crescido cada vez mais, e mudado depois do fm da Guerra Fria, pois
anteriormente a maior parte das instituies parecia reproduzir a
disputa entre as duas grandes potncias. Atualmente, embora ainda
se discuta a estrutura das grandes organizaes, como, por exemplo,
a ONU (Organizao das Naes Unidas), a OEA (Organizao dos
Estados Americanos) e a OMC (Organizao Mundial do Comrcio),
cada vez mais se reconhece a importncia das mesmas, pois o espa-
o onde os pases podem dialogar de uma forma mais ampla. No
toa que todas essas organizaes passam por processos de reforma
ou de discusso sobre a melhoria da sua estrutura institucional e de
como ampliar a participao dos pases. O crescimento do nmero
de pases que aderiram a esses foros revela o aumento da sua legi-
timidade e marca um perodo de busca de maior regulamentao
das relaes em diversos campos: poltico, comercial, econmico.
Mesmo assim, ainda permanecem discusses sobre a distribuio
dos recursos e a participao dos pases menos desenvolvidos.
Alm dessas organizaes, tambm os blocos de integrao
regional como a Unio Europeia (UE), Mercado Comum do Sul
(Mercosul), Comunidade Andina de Naes (CAN), Associao de
Cooperao Econmica do Pacfco (APEC) etc. se fortaleceram e
passaram a ser vistos como um novo ator internacional.
Nesse contexto, pases (considerados emergentes, tanto do pon-
to de vista econmico quanto do ponto de vista poltico) como o
Brasil tm ampliado sua participao e buscado afrmar um papel
de liderana. Com isso, na dcada de 1990, a insero internacional
293
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
do Brasil passa a ser marcada por uma discusso ampliada trata-
se da reivindicao de liderana da poltica externa brasileira em
vrios mbitos, regional e internacional.
O comportamento internacional do Brasil passa a ser marca-
do por uma caracterstica: a busca pelo reconhecimento da sua
liderana regional (que deveria se refletir no plano internacional).
Embora essa discusso seja histrica, dadas as dimenses territorial
e econmica do Brasil em relao aos seus vizinhos, ela bastante
influenciada pelos avanos conquistados pelo Mercosul em meados
da dcada de 1990.
A ampliao de laos comerciais com um nmero maior de
pases faz tambm o Pas reivindicar um espao de maior visibi-
lidade nas organizaes internacionais, em particular um assento
permanente no Conselho de Segurana da ONU, item que ser
discutido mais adiante. Essa postura que combina um investimento
maior no plano regional e uma postura mais afirmativa nas organi-
zaes fica caracterizada como agenda de insero pela participao.
Significa que a melhor estratgia dada a caracterstica de maior
interdependncia das relaes internacionais era participar das
grandes decises e no se isolar.
Essa defnio (participao) se contrape ideia (que perma-
necia durante o perodo do regime militar) da insero pelo dis-
tanciamento que tinha um signifcado relacionado polarizao do
sistema, pois indicava a necessidade de se distanciar das grandes
potncias para no ter suas aes ainda mais limitadas.
Nesse sentido, que o Brasil com diferentes graus de prioridade e
nfase mantm na sua agenda de poltica externa, a partir do incio dos
anos de 1990, dois temas importantes que caracterizam a sua atuao
no sistema internacional: o Mercosul e as organizaes internacionais.
O Brasil e a construo do Mercosul
O fm da Guerra Fria marca tambm um novo perodo para os
pases sul-americanos. Antes subordinados zona de infuncia norte-
americana, os pases da Amrica do Sul so obrigados a reformular
suas agendas externas, ao mesmo tempo em que se voltam para
seus problemas internos, no que se refere busca de estabilidade
domstica reformas econmicas e fortalecimento de suas institui-
es polticas democrticas.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
294
No que se deixe de discutir a relao com os Estados Unidos
que continua sendo forte, tanto do ponto de vista econmico quanto
poltico. Mas os pases no mais precisavam demonstrar seu alinha-
mento ideolgico e militar. A relao agora tinha outras implicaes
e se tornava mais complexa, pois envolvia vrios setores e negocia-
es em vrios ambientes institucionais diferentes.
A prpria reestruturao do sistema econmico internacional
imps grandes mudanas no relacionamento poltico e econmico
entre os pases do continente americano e, alm disso, pedia a defni-
o de novas estratgias no que diz respeito abertura comercial e
competio global e regional. Nesse contexto, a criao do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) representou a tentativa de reformular os
interesses estratgicos dos pases do Cone Sul.
Embora o Mercosul seja, basicamente, resultante do aprofun-
damento e da expanso do relacionamento entre Brasil e Argentina
iniciado em meados dos anos de 1980, quando ambos os pases re-
tornam ao regime democrtico, a nova ordem internacional pode ser
considerada condio fundamental para a criao do Mercosul. Isso
porque o bloco marcado por diversos elementos: a) caracterizado
dentro de um novo modelo de integrao regional, voltado para a
internacionalizao das economias (em contraposio ao modelo da
dcada de 1960, em que se pretendia um bloco com a inteno de
se criar um mercado protegido). Este modelo fca conhecido como
regionalismo aberto; b) responde ao contexto econmico internacional
de globalizao, privilegiando a abertura dos mercados, a atrao
de investimentos estrangeiros e o aumento do fuxo de comrcio
entre os pases; c) busca reforar as instituies polticas democr-
ticas, medida que partia do pressuposto de que a integrao entre
os pases poderia forar ao cumprimento de regras democrticas e
ajudar na sua manuteno; d) projetar internacionalmente os pases
que passariam a ser reconhecidos enquanto bloco, e no como pa-
ses isolados. Isso poderia ampliar a voz de cada um dos pequenos
pases participantes do Mercosul.
O acordo que marca a criao do Mercosul o Tratado de As-
suno, assinado em 26 de maro de 1991, por Argentina, Brasil, Pa-
raguai e Uruguai. O objetivo inicial dessa iniciativa era consolidar a
integrao econmica e poltica entre os pases signatrios do tratado,
atravs do estabelecimento de um mercado comum, ento previsto
para 31 de dezembro de 1994. Se se tivesse concretizado o mercado
295
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
comum, isso daria incio livre circulao de bens, servios e pes-
soas entre os quatro pases, alm do estabelecimento de uma Tarifa
Externa Comum (TEC) para regular o intercmbio comercial.
A TEC foi criada em 1995. Trata-se de uma tarifa nica para
os mesmos produtos exportados pelos quatro pases. Embora no
tenha abrangncia para todos os produtos comercializados, a TEC
marca a transformao do Mercosul de zona de livre comrcio (em
que se negocia apenas a reduo de tarifas de alguns produtos) para
unio aduaneira (em que se comea a aprofundar a integrao, com
o estabelecimento de regras comuns na rea comercial, incentivando
a cooperao e limitando a competio entre os pases). Intitula-se
unio aduaneira imperfeita porque nem todos os produtos esto dentro
da lista da tarifa externa comum.
No seu perodo inicial, o Mercosul sofreu descrdito por par-
te de alguns setores da sociedade, mas avanou nas negociaes
intergovernamentais e conseguiu ampliar a cooperao econmica
e o intercmbio entre diversos atores, embora uma das principais
defcincias seja a ausncia de uma participao mais efetiva da
sociedade civil no processo de integrao.
Era natural que aparecessem obstculos, advindos principal-
mente do desequilbrio entre as dimenses econmicas e as diver-
gncias no que se refere conduo das polticas macroeconmi-
cas dos dois principais parceiros do Mercosul (Brasil e Argentina).
Estes problemas estruturais, aliados a momentos de agravamento
das crises econmicas internacionais, fzeram com que o Mercosul
enfrentasse diversas instabilidades e retrocessos. Entretanto, da tica
da estratgia do Brasil, fazia sentido manter-se no bloco, pois dava
visibilidade ao Pas e o destacava como uma liderana regional no
plano internacional.
H muitas divergncias em relao aos resultados do Mercosul, e
aos benefcios gerados para o Brasil, mas o fato que o processo avan-
ou e, embora ainda se mantenham difculdades institucionais, polti-
cas, a integrao permanece como um elemento importante na agenda
da poltica externa brasileira, sendo mais recentemente atualizado para
a integrao da Unasul (Unio de Naes Sul-Americanas).
A Unasul, criada em 2004 pela Declarao de Cuzco, tem por
objetivo dar incio integrao dos pases integrantes de dois blo-
cos: Mercosul e Comunidade Andina de Naes. Embora se adote
como modelo a experincia da Unio Europeia que integra a maior
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
296
parte dos pases da Europa no seu mercado comum, ainda existem
muitas divergncias sobre a estrutura e os objetivos desta nova
iniciativa integracionista.
Os dois elementos mais recentes discutidos no mbito do Mer-
cosul dizem respeito:
a) criao do Fundo para a Convergncia Estrutural do Mer-
cosul (Focem), criado em 2005, referente a um fundo para
fnanciar projetos de melhoria da infraestrutura das econo-
mias menores do bloco;
b) criao do Parlamento do Mercosul (Parlasul). Este rgo,
criado em maio de 2007, tem carter legislativo e considera-
da a primeira instituio supranacional do bloco, o que signi-
fca que as decises tomadas no mbito do Parlasul, sediado
na cidade de Montevidu no Uruguai, deveriam ser imedia-
tamente atendidas pelos pases membros do bloco. Por isso,
os pases se preparam para realizar eleies diretas para os
deputados do Parlamento, em 2010, assim como se realizam
eleies para parlamentares no plano nacional.
O Brasil nas organizaes internacionais
Alm da prioridade atribuda integrao regional, o Brasil
passa a investir em outra frente na dcada de 1990: na ampliao
da sua participao nas organizaes internacionais. O Pas sempre
esteve presente nas grandes organizaes desde a sua criao, mas
atuar de forma mais incisiva neste mbito era parte da estratgia bra-
sileira de aumentar a visibilidade internacional. Para tanto, o Brasil
passa a atuar em duas frentes: na ONU, incentivando, sobretudo,
o processo de reforma iniciado em 1994; e na OMC, onde consegue
destaque, liderando a criao de coalizes (grupo de pases que se
renem em defesa de um interesse comum).
Nas negociaes comerciais da OMC, o Brasil tem sido bastante
ativo e respeitado pelas suas posies e pela atuao da diplomacia.
A OMC foi criada em 1994, aps quase dez anos de negociaes du-
rante a Rodada Uruguai (1986-1994). Anteriormente existia apenas
o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comrcio) que era um conjunto
de regras que tinham como objetivo regulamentar o comrcio no
que se refere apenas reduo de tarifas dos produtos.
297
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
Com o aumento das relaes comerciais e a complexidade em
lidar com temas indiretamente relacionados ao comrcio como
meio ambiente, direitos trabalhistas, propriedade intelectual, pres-
tao de servios decidiu-se criar uma organizao com regras
mais claras e sede fxa, de forma a facilitar o dilogo entre os pases.
Todos esses temas passaram a ser includos na OMC, porque vrios
pases passaram a reclamar que algumas barreiras impostas a seus
produtos no eram propriamente tarifrias, mas vinculadas a essas
questes. Por exemplo, a exportao de sapatos para pases europeus
passou a ser barrada at que os pases exportadores comprovassem
que no se utilizava mo de obra infantil na sua confeco.
A estrutura da OMC privilegia negociaes em rodadas que
duram longos anos, e elegem, no seu incio, um conjunto de temas
a serem negociados. Alm disso, considerada como a primeira
organizao internacional do ps-Guerra Fria, porque tem uma estru-
tura mais adequada ao processo de globalizao, que privilegia a
negociao e a busca de consenso entre os pases e evita reprodu-
zir estruturas hierrquicas como acontecia em outras instituies.
Obviamente que ainda existem controvrsias sobre o seu funciona-
mento e sobre o espao que ocupam as grandes potncias econ-
micas principalmente Estados Unidos e Unio Europeia , mas a
estrutura tende a privilegiar a participao mais ampla, j que as
decises so tomadas por consenso.
Alm disso, criou-se, na OMC, o rgo de Soluo de Contro-
vrsias (OSC), responsvel pelo julgamento de reclamaes sobre
problemas comerciais. Qualquer pas pode encaminhar uma recla-
mao se sentir que seu comrcio ou um produto especfco est sendo
prejudicado. O Brasil tem se destacado no apenas no processo de
negociao, mas tambm nos painis (processos judiciais) que se esta-
beleceram no OSC, a maior parte com resultados favorveis ao nosso
Pas, inclusive em painis contra Estados Unidos e Unio Europeia.
Vale destacar que o Brasil criou em 2003 e atualmente lidera a
coalizo G-20, um grupo de vinte e trs pases em desenvolvimento
(www.g-20.mre.gov.br) que atuam em conjunto na OMC, defendendo
o tema da agricultura, na chamada Agenda Doha de Desenvolvimento
(ou Rodada Doha), iniciada em 2001, cujas negociaes duram at os
dias de hoje. Este um exemplo da capacidade de liderana que o
Brasil passou a ter na dcada de 1990, que converge com a agenda
de poltica externa que busca uma maior insero internacional.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
298
O Brasil tem se inserido neste contexto com uma diplomacia
qualifcada, o que o torna um pas lder, inclusive sendo consultado
na defnio de vrias agendas do processo de negociao.
Outra arena internacional em que o Brasil tem atuado com
bastante nfase nas Naes Unidas (ou Organizao das Naes
Unidas, ONU), defendendo um assento permanente no Conselho
de Segurana (CSONU). O CSONU atualmente composto por
cinco membros permanentes (os mesmos quando da criao da
Organizao em 1945: Estados Unidos, Rssia, Gr-Bretanha, Fran-
a e China), e quinze membros no permanentes. A importncia
deste rgo que nele se concentram todas as decises impor-
tantes sobre a ordem internacional (decises sobre como garantir
a segurana em regies de conflito, mediao de cessar fogo em
conflitos, autorizaes para envio de tropas e misses de paz, aes
humanitrias etc.).
O argumento do Brasil que a dimenso do Pas e sua projeo no
plano internacional, adquirida ao longo dos anos, sobretudo na dcada
de 1990, justifcava um espao mais amplo nas organizaes internacio-
nais (e nas decises relacionadas s grandes questes internacionais),
de forma que este espao fosse mais adequado importncia poltica
adquirida pelo pas no sistema internacional. Tambm reivindicam
um assento permanente no CSONU outros pases: Alemanha, Japo
e ndia que, junto com o Brasil, formaram a coalizo G-4.
J a partir de 1994, o Brasil (e o G-4) passa a ser um grande
defensor da reforma da ONU e, para se destacar nessa discusso,
passa a contribuir mais diretamente nas operaes de paz, enviando
tropas militares e civis, ou apoiando fnanceiramente. No caso do
Haiti, a MINUSTAH (Misso das Naes Unidas para a estabili-
zao do Haiti) foi criada em 2004 pelo Conselho de Segurana e
coordenada pelo exrcito brasileiro, com o objetivo de estabilizar a
regio aps a deposio do presidente Jean-Bertrand Aristide. Ini-
ciativas como esta, alm da intensa participao brasileira em outros
rgos da ONU, orientam uma atuao vinculada aos organismos
internacionais.
E O Brasil vem se destacando no cenrio internacional tambm
em outras arenas, seguindo esta mesma orientao. Em vrios ou-
tros regimes internacionais, o pas passou a ganhar um papel de
maior destaque: na Organizao dos Estados Americanos (OEA),
organizao da qual fazem parte os pases do continente americano,
299
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
responsvel por denunciar e acompanhar casos de abusos contra os
direitos humanos e garantir que os regimes democrticos na regio
no sejam ameaados. Em diversas ocasies, como na tentativa de
golpe militar no Paraguai em 1996, o Brasil teve uma atuao bas-
tante destacada e mobilizou a OEA que o apoiou.
Desde 1992, quando da realizao da ECO-92 no Rio de Janeiro,
nas negociaes do Protocolo de Kyoto, e outros regimes de proteo
climtica, o Pas tem se destacado, seja no debate direto com os pases
mais poderosos, seja na articulao dos pases em desenvolvimento.
Em diversos temas no militares, como meio ambiente, direitos huma-
nos, democracia, o Brasil enquanto pas considerado emergente tem
se destacado na sua atuao em regimes internacionais.
Todas essas aes, no plano regional e internacional, marcam
a atuao do Brasil no sistema internacional, nas ltimas duas d-
cadas, delimitando uma poltica externa que no sofreu grandes
rupturas em termos de ao, nem em termos de ideias orientadoras.
Embora alguns especialistas argumentem que houve uma mudana
signifcativa nestas aes no perodo mais recente, nenhuma parece
ser novidade na agenda brasileira, o que confrma a regularidade
da nossa atuao externa.
Mudanas domsticas e insero internacional
Essas mudanas na agenda internacional do Brasil fzeram com
que houvesse tambm uma mudana sentida no processo de deci-
so sobre temas de poltica externa. Isso porque o Ministrio das
Relaes Exteriores (tambm conhecido como Itamaraty, nome do
prdio que sedia o MRE em Braslia) passa a ser pressionado por
outras agncias governamentais e outros atores para tomar decises
de forma menos isolada.
Tradicionalmente, todas as decises sobre temas externos eram
concentradas no Itamaraty, responsvel pela assessoria na atuao
do Pas nas relaes com outros pases e com organismos interna-
cionais. Nem mesmo por parte do Legislativo, a quem cabe ratifcar
os acordos internacionais, havia grandes questionamentos sobre as
aes decididas pelo MRE. H um consenso entre os especialistas
sobre a centralizao decisria que, por um lado, garantiu uma coe-
rncia e continuidade da poltica externa ao longo de vrios anos,
inclusive durante o perodo do regime militar, mas tambm, por
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
300
outro lado, manteve um isolamento do ministrio em relao a ou-
tras burocracias e sociedade.
Com a globalizao, os temas internacionais passam a se voltar
mais a questes econmicas e a se tornarem extremamente comple-
xos. Alm disso, vrios outros atores se sentem afetados por decises
tomadas no mbito global (como na OMC, por exemplo), pois so
obrigados a adaptar sua legislao interna s regras internacionais.
Com isso, passa a haver uma maior demanda por participao antes
do processo de negociao. Por outro lado, o Itamaraty sente ne-
cessidade de ampliar sua legitimidade no plano internacional, com
respaldo maior dos atores sociais.
O Legislativo passa a ser mais atuante a acompanhar de perto os
acordos internacionais e a exigir explicaes da posio do Itamaraty
(vide o acordo de ingresso da Venezuela no Mercosul, o reconheci-
mento da China como economia de mercado, a criao do Mecanismo
de Adaptao Competitiva para regularizar o comrcio com a Argen-
tina no mbito do Mercosul, a instalao de base militar no pas etc.).
Em alguns casos, inclusive tem vetado ou atrasado as decises.
Na maior parte dos temas negociados, outros ministrios e
agncias tomam parte, como o Ministrio do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) que tem se envolvido em
diversas negociaes comerciais internacionais, alm do Ministrio
do Meio Ambiente, da Agricultura e outros que participam das ne-
gociaes sobre temas de meio ambiente, e tantos outros exemplos
de interveno de outras burocracias em temas que antes eram
monopolizados pelo Itamaraty.
Outros atores no governamentais, como o empresariado e
organizaes do terceiro setor (ONGs) tambm se organizaram
para aumentar sua influncia sobre o Itamaraty e garantir que
seus interesses fossem levados em considerao no fechamento
de acordos internacionais. Ainda assim permanece uma discusso
sobre a deficincia dos canais de comunicao entre governo e so-
ciedade civil, embora vrias iniciativas de ampliao desse dilogo
tenham sido criadas.
O sistema presidencialista que vigora no Brasil explica tambm
essa centralizao decisria no Poder Executivo. Apesar das deci-
ses sempre terem passado pelo presidente da Repblica, e muitos
deles terem sido bastante ativos nas relaes com outros pases,
no incio dos anos de 1990 que se coloca em destaque a fgura da
301
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
diplomacia presidencial, na qual o presidente passa a ter uma maior
responsabilidade no apenas na representao do Pas no exterior,
mas tambm na concluso de negociaes importantes.
Em vrios processos, inclusive na criao do prprio Mercosul,
os presidentes dos pases sul-americanos tiveram papel de destaque
na negociao do acordo. Esse perodo tambm conhecido como
dcada das cpulas, em que foram realizadas vrias cpulas (reunies
internacionais que renem representantes dos pases seus presi-
dentes ou primeiro-ministros para discutir questes internacionais
comuns), como a Cpula do Milnio (reunio da ONU em 2002,
que defniu um conjunto de metas que fcaram conhecidas como
Metas do Milnio para serem alcanadas no sentido de erradicar
os principais problemas do mundo, como pobreza, fome, melhoria
da sade, educao etc.).
Esse contexto permitiu aos presidentes ampliarem a sua prpria
visibilidade, ao atuarem de forma mais ampla, mas tambm fez
com que a insero do Brasil, ou seja, a deciso sobre quais lugares
(organizaes internacionais, blocos regionais, relaes bilaterais)
o Pas deveria priorizar na sua atuao e quais temas defender,
tivesse de ser discutida de uma forma muito mais ampla e com um
nmero maior de atores.
isso que d origem ao debate sobre a democratizao da polti-
ca externa, isto , necessidade de incorporao de mais atores no
processo de tomada de deciso de temas internacionais, que passa a
ser um condicionante para a ao mais legtima do representante do
governo. A demanda pela democratizao passa tambm a vigorar
no mbito das organizaes internacionais, em que pases menores e
atores no governamentais tambm pedem que suas reivindicaes
sejam ouvidas. E este passa a ser um dos pontos centrais na reforma
dessas organizaes.
Os ltimos acontecimentos (desde o fm da Guerra fria) muda-
ram o comportamento dos atores no sistema internacional, impe-
dindo que tenham um comportamento isolado. O contexto sugere
uma aproximao maior, seja em termos econmicos, como polticos,
ou na linguagem acadmica, uma maior interdependncia entre os
diferentes atores. Essa interdependncia obriga a um maior dilogo,
estabelecido dentro das organizaes internacionais e dos blocos
regionais, opes tomadas pelo Brasil como prioritrias para lidar
com os novos desafos colocados pela globalizao.
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
302
Referncias
ALBUQUERQUE, Jos Augusto Guilhon. A ONU e a nova ordem mundial. Estudos
Avanados: Revista do IEA-USP, So Paulo, v. 9, n. 25, p. 161-167, set./dez. 1995.
Disponvel em: <htp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artext&pid=S0103-
40141995000300013&lng=en&nrm=isso>. Acesso em: 3 ago. 2009.
LAFER, Celso. Refexes sobre a insero internacional do Brasil no contexto inter-
nacional. Contexto Internacional: Revista da PUC/Rio, Rio de Janeiro, n. 11, p. 33-43,
jan./jun. 1990. Disponvel em: <htp://publique.rdc.puc-rio.br/contextointernacional/
media/Lafer_vol11.ano6.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2009.
PINHEIRO, Letcia. Poltica Externa Brasileira (1889-2002). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2004. (Descobrindo o Brasil).
SOARES DE LIMA, Maria Regina. Teses equivocadas sobre a ordem mundial ps-
Guerra Fria. Dados: Revista do IUPERJ, Rio de Janeiro, v. 39, n. 3, p. 393-421,
1996.
Disponvel em: <htp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artext&pid=S0011-
52581996000300005&lng=en&nrm=isso>. Acesso em: 3 ago. 2009.
VIGEVANI, Tullo. Problemas para a atividade internacional das unidades subna-
cionais: estados e municpios brasileiros. Revista Brasileira de Cincias Sociais, So
Paulo, v. 21, n. 62, p. 129-137, out. 2006. Disponvel em: <htp://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_artext&pid=S0102-69092006000300010&lng=en&nrm=isso>.
Acesso em: 3 ago. 2009.
O Br asi l no si stema i nter naci onal
na sala de aula
A partir do texto de Janina Onuki, nesta parte, procura-se auxiliar o
professor na busca de informaes complementares para a preparao das
aulas e ao sugerir pesquisas para os alunos. Para tanto, apresentam-se al-
guns websites de referncia que contm textos, artigos acadmicos e anlises
de conjuntura internacional que podem ser teis para melhor compreenso
da poltica externa brasileira, assim como para o melhor acompanhamento
das mudanas internacionais que afetam a atuao externa do Brasil e as
relaes com outros pases.
A discusso da insero internacional do Brasil tem se ampliado e
cada vez mais publicaes e cursos de graduao e ps-graduao (htp://
www.capes.gov.br) tm se dedicado ao estudo das relaes internacionais
303
S
o
c
i
o
l
o
g
i
a
V
o
l
u
m
e
1
5
e da poltica internacional. Isso tem se refetido em bons resultados de
pesquisa.
Boas fontes de consulta podem ser elencadas, atualmente todas dis-
ponibilizadas online: Revista Contexto Internacional (http://publique.rdc.
puc-rio.br/contextointernacional/) e Revista Brasileira de Relaes Inter-
nacionais (http://ibri-rbpi.org/rbpi/) so as duas principais referncias,
onde podem ser encontrados artigos que resultam de pesquisas de es-
pecialistas da rea.
Como a rea de Relaes Internacionais cresceu muito nos ltimos
anos, tanto no nmero de cursos de graduao (htp://www.inep.gov.br)
quanto em termos de trabalhos defendidos de ps-graduao; alguns sites
de centros de pesquisa, passaram a publicar informaes e artigos com
regularidade. Alguns deles, onde se encontram bons textos de refern-
cia para aprofundar o estudo dos temas apresentados neste captulo, so
elencados a seguir:
Rede Brasileira de Relaes Internacionais (htp://www.relnet.com.br/);
Observatrio Poltico Sul-Americano (htp://observatorio.iuperj.br);
Centro de Estudos das Negociaes Internacionais (htp://www.caeni.com.br);
Divulgao Cientfica em Relaes Internacionais (http://www.mundo-
rama.net).
Vrios dados primrios sobre os temas podem ser consultados nas suas
fontes originais. A maior parte das informaes encontra-se em ingls, mas
os sites das organizaes costumam ser bastante completos na divulgao
das suas informaes:
Organizao das Naes Unidas ( htp://www.un..org);
Organizao Mundial do Comrcio ( htp://www.wto.org);
Organizao dos Estados Americanos ( htp://www.oas.org);
Mercado Comum do Sul ( htp://www.mercosul.gov.br);
Ministrio das Relaes Exteriores ( htp://www.mre.gov.br).
C
o
l
e
o
E
x
p
l
o
r
a
n
d
o
o
E
n
s
i
n
o
304
Questes para discusso em sala de aula
Que impactos o fenmeno da globalizao criou para os pa- 1.
ses em desenvolvimento?
Como podemos analisar a insero internacional do Brasil 2.
nos anos de 1990?
Quais os custos e benefcios implicam a criao do Merco- 3.
sul?
Como pode ser caracterizada a 4. liderana internacional do
Brasil?
Qual a principal reivindicao do Brasil no Conselho de Se- 5.
gurana da ONU?
Como se avalia a atuao do Brasil nos processos de nego- 6.
ciao na OMC?
You might also like
- Cerimonial de Formatura ABC 2Document5 pagesCerimonial de Formatura ABC 2Karla Kayrone César Grangeiro85% (54)
- Oficina ShantalaDocument38 pagesOficina ShantalaCarlinhos Batanoli Hallberg100% (1)
- Astrologia Dos Relacionamentos PDFDocument40 pagesAstrologia Dos Relacionamentos PDFDRICA SANTOSNo ratings yet
- Segurança no Trabalho: Consultoria em Saúde e RiscosDocument10 pagesSegurança no Trabalho: Consultoria em Saúde e RiscosEvandro Xavier100% (3)
- Formacao Docente para DiversidadeDocument188 pagesFormacao Docente para DiversidadeBruno Christofoleti Ventura33% (3)
- Referencial Curricular Nacional para Educação InfantilDocument47 pagesReferencial Curricular Nacional para Educação InfantilEvandro Gomes FerreiraNo ratings yet
- Eugène Enriquez - 03 - o Vínculo GrupalDocument11 pagesEugène Enriquez - 03 - o Vínculo GrupalElbrujo TavaresNo ratings yet
- Manual MobilizadorDocument33 pagesManual MobilizadorjwerleyNo ratings yet
- Trabalho Final de Teoria Soc ContempDocument7 pagesTrabalho Final de Teoria Soc ContempOzimar BovióNo ratings yet
- Bronislaw Malinowski - Os Argonautas Do Pacífico Ocidental PDFDocument22 pagesBronislaw Malinowski - Os Argonautas Do Pacífico Ocidental PDFSarah Schimidt Guarani Kaiowá60% (5)
- Ética Ambiental - o Debate EcofeminstaDocument98 pagesÉtica Ambiental - o Debate EcofeminstaOzimar BovióNo ratings yet
- Trabalho Final de Teoria Soc ContempDocument7 pagesTrabalho Final de Teoria Soc ContempOzimar BovióNo ratings yet
- Pos Sociolog 2013Document7 pagesPos Sociolog 2013Ozimar BovióNo ratings yet
- Antropologia, Saúde e Envelhecimento.Document90 pagesAntropologia, Saúde e Envelhecimento.Ozimar BovióNo ratings yet
- Discurso Biotipológico Nordestino PDFDocument12 pagesDiscurso Biotipológico Nordestino PDFOzimar BovióNo ratings yet
- Políticas de Cotas e o Vestibular Da UNB MAGGIEDocument6 pagesPolíticas de Cotas e o Vestibular Da UNB MAGGIEOzimar BovióNo ratings yet
- Edital Enem 2015Document81 pagesEdital Enem 2015Thadeu AlonsoNo ratings yet
- Discurso Biotipológico Nordestino PDFDocument12 pagesDiscurso Biotipológico Nordestino PDFOzimar BovióNo ratings yet
- Antropólogos, A Arma Sec... Das Empresas - PÚBLICODocument7 pagesAntropólogos, A Arma Sec... Das Empresas - PÚBLICOOzimar Bovió100% (1)
- POCHMANN Economia Solidária No Brasil Possibilidades e LimitesDocument12 pagesPOCHMANN Economia Solidária No Brasil Possibilidades e LimitesOzimar BovióNo ratings yet
- BABBIE Earl Metodos de Pesquisa de Survey PDFDocument276 pagesBABBIE Earl Metodos de Pesquisa de Survey PDFOzimar Bovió100% (1)
- Salada RadichioDocument2 pagesSalada RadichioOzimar BovióNo ratings yet
- Sbs2011 GT25 Paulo Roberto AzevedoDocument15 pagesSbs2011 GT25 Paulo Roberto AzevedoOzimar BovióNo ratings yet
- A Etnografia em Tempos de Guerra Contextos Temporais e Nacionais Do Objeto Da AntropologiaDocument20 pagesA Etnografia em Tempos de Guerra Contextos Temporais e Nacionais Do Objeto Da AntropologiaAdriana CaetanoNo ratings yet
- MORGADO, Maria Aparecida. Práticas Transgressivas de Jovens Da Classe Média e Alternativas Educacionais. (Artigo)Document11 pagesMORGADO, Maria Aparecida. Práticas Transgressivas de Jovens Da Classe Média e Alternativas Educacionais. (Artigo)Ozimar BovióNo ratings yet
- Resenha O Povo BrasileiroDocument1 pageResenha O Povo BrasileiroOzimar BovióNo ratings yet
- Elementos Básicos Da Estrutura de Um Plano de Pesquisa. (Esboço)Document1 pageElementos Básicos Da Estrutura de Um Plano de Pesquisa. (Esboço)Ozimar BovióNo ratings yet
- AEC - Revisão 2Document13 pagesAEC - Revisão 2Victor DiasNo ratings yet
- Arte Despertar: a primeira década de inclusão culturalDocument121 pagesArte Despertar: a primeira década de inclusão culturalGersonNo ratings yet
- Maria Lúcia Bueno - ARTIGO - Do Moderno Ao Contemporâneo - Uma Perspectiva Sociológica Da Modernidade Nas Artes Plásticas PDFDocument21 pagesMaria Lúcia Bueno - ARTIGO - Do Moderno Ao Contemporâneo - Uma Perspectiva Sociológica Da Modernidade Nas Artes Plásticas PDFWilson D Viana F100% (2)
- Triângulo DramáticoDocument9 pagesTriângulo DramáticoMarcos André Santos dos AnjosNo ratings yet
- Texto de Opinião, Violência No NamoroDocument1 pageTexto de Opinião, Violência No NamoroClara NevesNo ratings yet
- AF-BB - Alfa Fode, Beta Banca (Alpha Fucks-Beta Bucks)Document5 pagesAF-BB - Alfa Fode, Beta Banca (Alpha Fucks-Beta Bucks)Vendedor João PedroNo ratings yet
- O Profissional de Recreação e suas áreas de atuaçãoDocument5 pagesO Profissional de Recreação e suas áreas de atuaçãojb.8No ratings yet
- Roteiro TeatroDocument5 pagesRoteiro TeatroArthuro Meirelles GomesNo ratings yet
- Referências - Prova EscritaDocument8 pagesReferências - Prova Escritageder22No ratings yet
- Guia de Transição - Língua PortuguesaDocument64 pagesGuia de Transição - Língua PortuguesaCláudiaLealKeller100% (2)
- Cap 7 Caracteristicas Profissao YamamotoDocument22 pagesCap 7 Caracteristicas Profissao YamamotoCCS VernacularNo ratings yet
- Desbloqueando Os Segredos Da Mente: O Projeto Gateway Da CIADocument22 pagesDesbloqueando Os Segredos Da Mente: O Projeto Gateway Da CIAmatheusfelipe0611100% (2)
- LENDO FREUD #08 - Os Três Tipos de CiúmeDocument3 pagesLENDO FREUD #08 - Os Três Tipos de CiúmeLetícia AranhaNo ratings yet
- Anais Do IV Congresso Brasileiro de Psicologia Da SaudeDocument843 pagesAnais Do IV Congresso Brasileiro de Psicologia Da SaudeVinicius CescaNo ratings yet
- Recortes - Aula 1 - Abordagem EstruturalistaDocument7 pagesRecortes - Aula 1 - Abordagem EstruturalistaJulia Silva GonçalvesNo ratings yet
- Autoconhecimento leva à empatia e paz socialDocument8 pagesAutoconhecimento leva à empatia e paz socialcebolel de fariasNo ratings yet
- Simulado 1Document2 pagesSimulado 1PetrustnNo ratings yet
- A dinâmica da transferência na clínica psicanalíticaDocument12 pagesA dinâmica da transferência na clínica psicanalíticaPablo PessanhaNo ratings yet
- Rimas Camões InfoDocument2 pagesRimas Camões InfoMagdaMagalhãesCostaNo ratings yet
- O Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaDocument20 pagesO Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaNaiane ReisNo ratings yet
- Como Fazer Um Seminário - Cola Da WebDocument4 pagesComo Fazer Um Seminário - Cola Da WebDanielRibeiroNo ratings yet
- Apostila Negociacao B FGVDocument119 pagesApostila Negociacao B FGVJonas Faria100% (1)