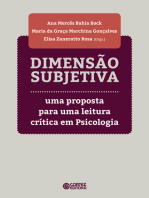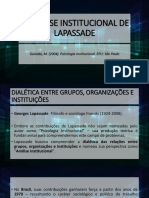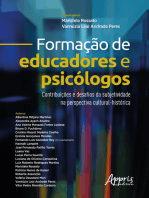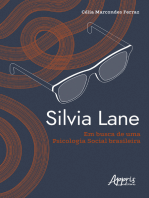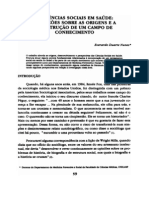Professional Documents
Culture Documents
LIVRO MOSCOVICI - Representacoes-Sociais - Investigações em Psicologia Social
Uploaded by
rafaelmrezendeOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
LIVRO MOSCOVICI - Representacoes-Sociais - Investigações em Psicologia Social
Uploaded by
rafaelmrezendeCopyright:
Available Formats
4
Editado em ingl s por Gerard Duveen
Traduzido do ingls por Pedrinho A. Guareschi
Serge Moscovici and Gerard Duveen 2000
Ttulo original ingls: Social Representations
Explorations in Social Psychology
Publicado pela primeira vez em 2000 por Polity Press
em associao com Blackwell Publishers Ltd.
Direitos de publicao em lingua portuguesa: 2003, Edi tora Vozes Ltda.
Rua Frei Lus, 100 25689-900 Petrpolis, RJ
Internet: http://www.vozes.com.br Brasil
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poder
ser reproduzi da ou transmiti da por qualquer forma e/ou quaisquer meios
(eletrnico ou mecnico, incluindo fotocpia e gravao) ou arquivada em
qualquer sistema ou banco de dados sem permisso escri ta da Editora.
Editorao e org literria: Sheila Ferreira Neiva
ISBN 85.326.2896-6 (edio brasileira) ISBN O-7456-2226-7 (edio inglesa)
Moscovici, Serge
Representaes sociais: investi gaes em psicologia social / Serge Moscovici: editado em
ingls por Gerard Duveen: traduzido do ingls por Pedrinho A. Guareschi. -5 ed. Petrpo-
lis, RJ: Vozes, 2007.
Ttulo original: Social representations: explorations in social psychology Bibliografia
1. Interao social 2. Interacionismo simblico 3. Psicologia social
I. Duveen, Gerard. II. Ttulo. III Ttulo: Investigaes em psicologia social.
O3-3O44 CDD-3O2. 1
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
(Cmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
ndices para catlogo sistemtico:
1. Representaes sociais: Psicologia social: Sociologia 3O2. 1
Este livro foi composto e impresso pel a Editoras Vozes Ltda.
ateno este material foi scaneado e revisado superficialmen-
te, pode conter algum erro de transcrio.
5
SUMRIO
Introduo - O poder das idias, 7
1. O fenmeno das representaes sociais, 29
2. Sociedade e teoria em psicologia social, 111
3. A histria e a atualidade das representaes sociais, 167
4. O conceito de themata, 215
5. Caso Dreyfus, Proust e a psicologia social, 251
6. Conscincia social e sua histria, 283
7. Idias e seu desenvolvimento - Um dilogo entre Serge
Moscovici e Ivan Markov, 305
Referncias bibliogrficas, 389
6
7
INTRODUO
O poder das idias
1. Uma psicologia social do conhecimento
Imagine-se olhando para um mapa da Europa, sem nenhuma
indicao nele, com exceo da cidade de Viena, perto do centro, e
ao norte dela, a cidade de Berlim. Onde voc localizaria as cidades
de Praga e Budapeste? Para a maioria das pessoas que nasceram
depois da II Guerra Mundial, ambas as cidades pertencem divi-
so do Leste da Europa, enquanto Viena pertence ao Oeste e, con-
seqentemente, tanto Praga como Budapeste deveriam se lo-
calizar a Leste de Viena. Mas olhe agora para o mapa da Europa e
veja a localizao real dessas duas cidades. Budapeste, com certe-
za, est afastada, ao Leste, bem abaixo de Viena, ao longo do Da-
nbio. Mas Praga est, na verdade, a Oeste de Viena.
Esse pequeno exemplo ilustra algo do fenmeno das repre-
sentaes sociais. Nossa imagem da geografia da Europa foi re-
construda em termos da diviso poltica da Guerra Fria, em que as
definies ideolgicas de Leste e Oeste substituram as geogrfi-
cas. Podemos tambm observar, nesse exemplo, como padres de
comunicao, nos anos do ps-guerra, influenciaram esse proces-
so e fixaram uma imagem especfica da Europa. E verdade que no
Oeste houve certo medo e ansiedade do Leste, que antecederam a
II Grande Guerra e que persistem mesmo at hoje, uma dcada
depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria. Mas
essa representao, duma Europa dividida nos anos do ps-guer-
ra, teve sua influncia mais forte no eclipse da velha imagem da
Mitteleuropa, de uma Europa Central, abarcando as reas centrais
do Imprio Austro-Hngaro, e estendendo-se ao norte, em dire-
o a Berlim. Foi essa Europa Central, desmembrada pela Guerra
Fria, que reposicionou tambm ideologicamente Praga ao leste da
Viena ocidental. Hoje, a idia da Mitteleuropa est sendo nova-
8
mente discutida, mas talvez o sentido da outridade leste marcou
a imagem de Praga to nitidamente, que poderemos necessitar de
muito tempo antes que esses novos padres de comunicao re-
posicionem a cidade novamente a oeste de Viena.
Esse exemplo, alm de ilustrar o papel e a influncia da co-
municao no processo da representao social, ilustra tambm a
maneira como as representaes se tomam senso comum. Elas en-
tram para o mundo comum e cotidiano em que ns habitamos e
discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mdia que
lemos e olhamos. Em sntese, as representaes sustentadas pelas
influncias sociais da comunicao constituem as realidades de
nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio para esta-
belecer as associaes com as quais ns nos ligamos uns aos ou-
tros.
Por mais de quatro dcadas Serge Moscovici, juntamente com
seus colegas, fez avanar e desenvolver o estudo das representa-
es sociais. Esta coleo rene alguns dos ensaios principais, ex-
trados de um corpo bem maior de trabalho, que apareceu nesses
anos. Alguns desses ensaios apareceram anteriormente em ingls,
enquanto outros so traduzidos aqui para o ingls pela primeira
vez. Juntos, eles ilustram a maneira como Moscovici elaborou e de-
fendeu a teoria das representaes sociais, enquanto na entrevista
conclusiva com Ivana Markov, ele apresenta os elementos princi-
pais da histria de seu itinerrio intelectual. No corao deste proje-
to esteve a idia de construo duma psicologia social do conheci-
mento e dentro do contexto deste projeto mais vasto que seu tra-
balho sobre representaes sociais deve ser visto.
Com que, ento, uma psicologia social do conhecimento pode
se parecer? Que espao ela procurar explorar e quais sero as ca-
ractersticas-chave desse espao? O prprio Moscovici apresenta
este tema da seguinte maneira:
H numerosas cincias que estudam a maneira como as pessoas tra-
tam, distribuem e representam o conhecimento. Mas o es-
tudo de como, e por que, as pessoas partilham o conhecimento e des-
se modo constituem sua realidade comum, de como eles
transformam idias em prtica - numa palavra, o poder das idi-
as - o problema especifico da psicologia social (Moscovici, 1990a: 169).
Por conseguinte, da perspectiva da psicologia social, o conhe-
cimento nunca uma simples descrio ou uma cpia do estado
de coisas. Ao contrrio, o conhecimento sempre produzido atra-
9
vs da interao e comunicao e sua expresso est sempre liga-
da aos interesses humanos que esto nele implicados. O conheci-
mento emerge do mundo onde as pessoas se encontram e intera-
gem, do mundo onde os interesses humanos, necessidades e de-
sejos encontram expresso, satisfao ou frustrao. Em sntese, o
conhecimento surge das paixes humanas e, como tal, nunca
desinteressado; ao contrario, ele sempre produto dum grupo es-
pecifico de pessoas que se encontram em circunstncias especifi-
cas, nas quais elas esto engajadas em projetos definidos (cf. Bauer
& Gaskell, 1999). Uma psicologia social do conhecimento est in-
teressada nos processos atravs dos quais o conhecimento gera-
do, transformado e projetado no mundo social.
2. A La recherche des concepts perdus ( procura dos conceitos
perdidos)
Moscovici introduziu o conceito de representao social
em seu estudo pioneiro das maneiras como a psicanlise penetrou
o pensamento popular na Frana. Contudo, o trabalho em que esse
estudo relatado, la Psicanalyse: Son image et son public, primei-
ramente publicado na Frana em 1961 (com uma segunda edio,
bastante revisada, em 1976), permanece sem traduo para o in-
gls, uma circunstncia que contribuiu para a problemtica recep-
o da teoria das representaes sociais no mundo anglo-saxo.
claro que uma traduo inglesa desse texto no iria, por si mesma,
resolver todas as diferenas entre as idias de Moscovici e os pa-
dres dominantes do pensamento sociopsicolgico na Inglaterra e
nos EE.UU., mas teria, ao menos, ajudado a reduzir o nmero de
maus entendimentos do trabalho de Moscovici, e adicionado uma
penumbra de confuso s discusses destas idias em ingls.
Mais que isso, porm, a falta duma traduo significa que a cultura
anglo-sax, predominantemente monolinge, no teve acesso a
um texto, em que temas centrais e idias sobre a teoria das re-
presentaes sociais so apresentados e elaborados, no contexto
vital dum estudo especifico de pesquisa. Quando estas idias so
colocadas em ao na estrutura dum projeto de pesquisa, na orde-
nao e no processo de tomar inteligvel a massa de dados empri-
cos que emergem, elas assumem tambm um sentido concreto,
que apenas fracamente visvel nos textos tericos mais abstra-
tos, ou programticos.
10
Mas se o trabalho de Moscovici foi obscurecido no mundo an-
glo-saxo, o prprio conceito de representao social teve
uma histria problemtica dentro da psicologia social. Na
verdade, Moscovici intitula o capitulo inicial de La Psychanalyse
Representao social: um conceito perdido, e introduz seu traba-
lho nesses termos:
As representaes sociais so entidades quase tangveis.
Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam continua-
mente, atravs duma palavra, dum gesto, ou duma reunio,
em nosso mundo cotidiano- Elas impregnam a maioria de
nossas relaes estabeleci das, os objetos que ns produzi-
mos ou consumimos e as comuni caes que estabelecemos.
Ns sabemos que elas correspondem, dum lado, substn-
cia simblica que entra na sua elaborao e, por outro lado,
prtica especifica que produz essa substncia, do mesmo
modo como a cincia ou o mito correspondem a uma prti-
ca cientfica ou mtica.
Mas se a realidade das representaes fcil de ser compreen-
dida, o conceito no o . H muitas boas razes pelas quais
isso assim. Na sua maioria, elas so histricas e por isso
que ns devemos encarregar os historiadores da taref a de
descobri-las. As razes no-histricas podem todas ser re-
duzidas a uma nica: sua posio
mista, no cruzamento
entre uma srie de conceitos sociolgicos e uma srie de
conceitos psicolgicos. nessa encruzilhada que ns temos
de nos situar. O caminho, certamente, pode representar algo
pedante quanto a isso, mas ns no podemos ver outra maneira
de libertar tal conceito de seu glorioso passado, de revitali-
z-lo e de compreender sua especificidade (1961/1976: 40-41).
O ponto de partida fundamental para essa jornada intelect u-
al, contudo, foi a insistncia de Moscovici no reconhecimento da
existncia de representaes sociais como uma forma caractersti-
ca de conhecimento em nossa era, ou, como ele coloca, uma in-
sistncia em considerar como um fenmeno, o que era antes con-
siderado como um conceito (capitulo 1).
Na verdade, desenvolver uma teoria das representaes so-
ciais implica que o segundo passo da jornada deve ser comear a
teorizar esse fenmeno. Mas, antes de nos voltarmos para esse se-
gundo passo, gostaria de parar, por um momento, no primeiro
passo e perguntar o que significa considerar como um fenmeno
11
o que era antes visto como um conceito, pois o que pode parecer
como um pequeno aperu (apanhado), de fato, contm alguns
tropos especificamente moscovicianos. Antes de tudo, h certa
coragem nessa idia, em no ter receio de afirmar uma generaliza-
o conclusiva, uma generalizao que tem tambm o efeito de
separar radicalmente a concepo de Moscovici, com respeito aos
objetivos e ao escopo da psicologia social, das formas predomi-
nantes dessa disciplina. Mais precisamente, Moscovici se filia aqui
corrente de pensamento sociopsicolgico que foi sempre uma
corrente minoritria, ou marginal, dentro duma disciplina domi-
nada, em nosso sculo, primeiro pelo comportamentalismo e, mais
recentemente, por um cognitivismo no menos reducionista e, du-
rante todo esse tempo, por um individualismo extremo. Mas, em
suas origens, a psicologia social se construiu ao redor dum con-
junto diferente de preocupaes. Se Wilhelm Wundt lembrado
hoje principalmente como o fundador da psicologia experimental,
ele tambm, cada vez mais, reconhecido pela contribuio que
sua Vlkerpsychologie trouxe ao estabelecimento da psicologia
social (Danziger, 1990; Farr, 1996; Jahoda, 1992).
Apesar de todas as suas falhas, a teoria de Wundt, contudo,
situou claramente a psicologia social na mesma encruzilhada, en-
tre os conceitos sociolgicos e psicolgicos indicados por Mosco-
vici. Longe de abrir uma linha produtiva de pesquisa e teoria, o tra-
balho de Wundt foi logo eclipsado pelas crescentes correntes de
pensamento psicolgico que rejeitaram toda a associao com o
social, como se ele fosse comprometer o status cientfico da psi-
cologia. O que Danziger (1979) chamou de o repdio positivista
de Wundt serviu para garantir a excluso do social do campo de
ao da psicologia social emergente. Ao menos, esse foi o caso que
Farr (1996) chamou de sua forma psicolgica, mas, como ele tam-
bm mostra, uma forma sociolgica tambm persistiu, brotando
principalmente do trabalho de Mead, no qual a Vlkerpsychologic de
Wundt teve uma grande influncia (e devemos dizer que uma
preocupao com o social tambm caracterstica da psicologia de
Vygotsky; ver captulos 3 e 6). Na verdade, Farr chegou a sugerir
que a separao radical, feita por Durkheim (1891/1974), de re-
presentaes individuais e coletivas, contribuiu para a insti-
tucionalizao duma crise na psicologia social, que perdura
at hoje. Durante o sculo vinte, sempre que formas sociais de
psicologia surgiram, ns testemunhamos o mesmo drama de ex-
cluso, que marcou a recepo do trabalho de Wundt.
12
Uma compulso em repetir mascara um tipo de neurose i-
deolgica, que foi mobilizada sempre que o social ameaou invadir
o psicolgico. Ou, para passar duma metfora freudiana para uma
antropolgica, o social representou, consistentemente, uma amea-
a de poluio pureza da psicologia cientfica.
Por que se mostrou to difcil estabelecer uma psicologia so-
cial que inclusse tanto o social como o psicolgico? Embora Mos-
covici sugerisse, na citao acima, que isso era uma questo para
historiadores, ele mesmo contribuiu, de algum modo, para escla-
recer esse enigma, como muitos dos textos aqui coletados teste-
munham (ver captulos 1, 2, 3 e 7). Num ensaio histrico importan-
te, The Invention of Society, Moscovici (1988/1993) oferece mais
um conjunto de consideraes que discutem a questo comple-
mentar de por que as explicaes psicolgicas foram vistas como
ilegtimas, na teoria sociolgica. Durkheim formulou suas idias
explicitamente em seu aforismo de que sempre que um fenme-
no social diretamente explicado por um fenmeno psicolgico,
podemos estar seguros que a explicao falsa (1895/1982: 129).
Mas, como mostra Moscovici, esse preceito contra a explicao
psicolgica no apenas percorre, como um fio unificador, atravs
do trabalho dos escritores clssicos da teoria social moderna, mas
tambm sub-repticiamente contradito por esses mesmos textos.
Pois, ao construir explicaes sociais para fenmenos sociais, es-
tes socilogos (Weber e Simmel so os exemplos analisados por
Moscovici, junto com Durkheim), necessitam tambm introduzir
alguma referncia aos processos psicolgicos para fornecer coe-
rncia e integridade a suas anlises. Em sntese, nesse trabalho
Moscovici capaz de demonstrar, atravs de sua prpria anlise
destes textos fundantes da sociologia moderna, que o referencial
explanatrio exigido para tornar os fenmenos sociais inteligveis
deve incluir conceitos psicolgicos, bem como sociolgicos.
A questo, contudo, de por que foi to difcil conseguir um re-
ferencial terico estvel, abrangendo tanto o psicolgico como o
social, permanece obscura. Para dizer a verdade, a hostilidade da
parte dos psiclogos ao sociologismo foi tanta quanto a dos so-
cilogos ao psicologismo. Ao dizer que a psicologia social, como
uma categoria mista, representa uma forma de poluio, ficamos
apenas nas palavras, enquanto ns no compreendermos por que
o social e o psicolgico so considerados como categorias exclusi-
vas.
13
Esse o centro do enigma histrico que retm seu poder es-
pecifico at hoje. Embora fosse ingnuo pretender oferecer uma
explicao clara de sua origem, ns podemos vislumbrar algo de
sua histria na oposio entre razo e cultura que, como discute
Gellner (1992), foi to influente desde a formulao do racionalis-
mo de Descartes. Contra o relativismo da cultura, Descartes pro-
clamou a certeza que brota da razo. O argumento em favor do co-
gito introduziu um ceticismo sobre as influncias da cultura e do
social que foi difcil de superar. Na verdade, se Gellner est correto
ao constatar nesse argumento uma oposio entre cultura e razo,
ento toda a cincia da cultura ser uma cincia da no-razo. A
partir daqui, um curto passo chegar-se a uma cincia desprovida
de razo, o que parece ser a reputao dada a toda tentativa de
combinar os conceitos sociolgicos com os psicolgicos numa
cincia mista. Mas foi justamente tal cincia desprovida de ra-
zo, que Moscovici procurou ressuscitar, atravs dum retorno ao
conceito de representao, como central a uma psicologia social
do conhecimento.
3. Durkheim, o ancestral ambguo
Ao procurar estabelecer uma cincia mista, centrada no
conceito de representao, Moscovici reconheceu uma dvida du-
radoura ao trabalho de Durkheim. Como vimos acima, contudo, a
formulao feita por Durkheim do conceito de representaes co-
letivas mostrou-se uma herana ambgua para a psicologia social.
O esforo para estabelecer a sociologia como uma cincia autno-
ma levou Durkheim a defender uma separao radical entre repre-
sentaes individuais e coletivas e a sugerir que as primeiras de-
veriam ser o campo da psicologia, enquanto as ltimas formariam o
objeto da sociologia (interessante notar que em alguns de seus
escritos sobre esse tema Durkheim flertou com a idia de chamar a
esta cincia de psicologia social, mas preferiu sociologia, a fim de
eliminar toda possvel confuso com a psicologia (cf. Durkheim,
1895/1982). No apenas Farr quem mostrou as dificuldades que
a formulao de Durkheim trouxe para a psicologia social. Numa
discusso anterior, sobre a relao entre o trabalho de Durkheim e a
teoria das representaes sociais, Irwin Deutscher (1984) tam-
14
bm escreveu sobre a complexidade de tomar Durkheim como um
ancestral para uma teoria sociopsicolgica. O prprio Moscovici
sugeriu que, ao preferir o termo social, queria enfatizar a quali-
dade dinmica das representaes contra o carter mais fixo, ou
esttico, que elas tinham na teoria de Durkheim (ver captulo 1,
onde Moscovici ilustra a maneira como Durkheim usou os termos
social e coletivo de maneira intercambivel). Ao comentar este
ponto, depois na sua entrevista a Markov, no capitulo 7, Moscovi-
ci se refere impossibilidade de manter qualquer distino clara
entre o social e o coletivo. Esses dois termos no se referem a
ordens distintas na organizao da sociedade humana, mas tam-
bm no o caso de que os termos representao social e repre-
sentao coletiva apenas colocam uma distino, sem estabelecer
uma diferena. Em outras palavras, a psicologia social de Moscovici
no pode simplesmente ser reduzida a uma variante da sociologia
durkheimiana. Como devemos, ento, entender a relao das re-
presentaes sociais com o conceito de Durkheim?
A partir duma perspectiva sociopsicolgica, podemos ser ten-
tados a pensar que a resoluo dessa ambigidade pode ser bus-
cada atravs dum esclarecimento dos termos individual e cole-
tivo, como empregados na argumentao de Durkheim. No
absolutamente claro, contudo, que tal esforo possa conseguir,
com sucesso, algum espao terico para a psicologia social, parti -
cularmente porque, como mostra Farr (1998), a questo se tornou
problemtica, devido ao reconhecimento do individualismo como
uma poderosa representao coletiva na sociedade moderna.
Um enfoque mais produtivo pode ser constatado atravs
duma reflexo posterior sobre o prprio argumento de Durkheim.
Durkheim no estava simplesmente interessado em estabelecer o
carter sui generis das representaes coletivas como um elemen-
to de seu esforo para manter a sociologia como uma cincia aut-
noma. Toda sua sociologia , ela prpria, consistentemente orien-
tada quilo que faz com que as sociedades se mantenham coesas,
isto , s foras e estruturas que podem conservar, ou preservar, o
todo contra qualquer fragmentao ou desintegrao. dentro
desta perspectiva que as representaes coletivas assumem sua
significncia sociolgica para Durkheim; seu poder de abrigar,
ajuda a integrar e a conservar a sociedade. De fato, em parte essa
capacidade de manter e conservar o todo social que d s repre-
sentaes coletivas seu carter sagrado na discusso que Durkheim
15
faz em The Elementary Forms of Religious Life (1912/1995). A psi-
cologia social de Moscovici, por outro lado, foi consistentemente
orientada para questes de como as coisas mudam na sociedade,
isto , para aqueles processos sociais, pelos quais a novidade e a
mudana, como a conservao e a preservao, se tornam parte
da vida social. J aludi a esse seu interesse na transformao do
senso comum, em seu estudo das representaes sociais da psi-
canlise. no curso de tais transformaes que a ancoragem e a
objetivao se tornam processos significantes (ver captulo 1).
Uma afirmao mais clara desse enfoque do trabalho de Moscovici
pode ser encontrada em seu estudo sobre influncia social (1976)
que, na verdade, tem o titulo de Influncia Social e Mudana So-
cial. O ponto de partida para esse estudo foi a insatisfao com os
modelos de influncia social, que apreenderam apenas a confor-
midade ou a submisso. Se esse fosse o nico processo de influn-
cia social que tivesse existido, como seria possvel qualquer mu-
dana social? Tais consideraes levaram Moscovici a se interes-
sar pelo processo de influncia da minoria, ou na inovao, um in-
teresse que ele levou adiante atravs de uma srie de investiga-
es experimentais. esse interesse com a inovao e a mudana
social que levou tambm Moscovici a ver que, da perspectiva so-
ciopsicolgica, as representaes no podem ser tomadas como
algo dado nem podem elas servir simplesmente como variveis
explicativas. Ao contrrio, a partir dessa perspectiva, a constru-
o dessas representaes que se torna a questo que deve ser
discutida, dai sua insistncia, tanto em discutir como um fenme-
no que antes era visto como um conceito, como em enfatizar o ca-
rter dinmico das representaes, contra seu carter esttico de
representaes coletivas da formulao de Durkheim (uma dis-
cusso mais ampla desse ponto, feita por Moscovici, pode ser en-
contrada no capitulo 1).
Por conseguinte, enquanto Durkheim v as representaes co-
letivas como formas estveis de compreenso coletiva, com o po-
der de obrigar que pode servir para integrar a sociedade como um
todo, Moscovici esteve mais interessado em explorar a variao e
a diversidade das idias coletivas nas sociedades modernas. Essa
prpria diversidade reflete a falta de homogeneidade dentro das
sociedades modernas, em que as diferenas refletem uma distribui-
o desigual de poder e geram uma heterogeneidade de represen-
taes. Dentro de qualquer cultura h pontos de tenso, mesmo de
16
fratura, e ao redor desses pontos de clivagem no sistema repre-
sentacional duma cultura que novas representaes emergem. Em
outras palavras, nestes pontos de clivagem h uma falta de sentido,
um ponto onde o no-familiar aparece. E, do mesmo modo que a
natureza detesta o vcuo, assim tambm a cultura detesta a ausn-
cia de sentido, colocando em ao algum tipo de trabalho represen-
tacional para familiarizar o no-familiar, e assim restabelecer um
sentido de estabilidade (veja-se a discusso de Moscovici sobre no-
familiaridade como uma fonte de representaes sociais, no captu-
lo 1). As divises de sentido podem ocorrer de muitos modos. Po-
dem ser muito dramticas, como todos ns vimos ao assistir queda
do muro de Berlim e sentimos as estruturas de sentido que manti-
veram uma viso estabelecida do mundo, desde o fim da guerra,
evaporarem. Ou de novo, quando a apario sbita dum fenmeno
ameaador, tal como HIV/Aids, pode oferecer uma oportunidade
para um trabalho representacional. Mais freqentemente, as re-
presentaes sociais emergem a partir de pontos duradouros de
conflito, dentro das estruturas representacionais da prpria cultu-
ra, por exemplo, na tenso entre o reconhecimento formal da uni-
versalidade dos direitos do homem, e sua negao a grupos espe-
cficos dentro da sociedade. As lutas que tais fatos acarretaram
foram tambm lutas para novas formas de representaes.
O fenmeno das representaes est, por isso, ligado aos pro-
cessos sociais implicados com diferenas na sociedade. E para
dar uma explicao dessa ligao que Moscovici sugeriu que as
representaes sociais so a forma de criao coletiva, em condi-
es de modernidade, uma formulao implicando que, sob outras
condies de vida social, a forma de criao coletiva pode tambm
ser diferente. Ao apresentar sua teoria de representaes sociais,
Moscovici, muitas vezes, traou esse contraste (ver captulo 1), e
sugeriu, s vezes, que esta foi a razo principal de preferir o termo
social, ao termo coletivo de Durkheim. Existe aqui uma aluso a
uma complexa explicao histrica da emergncia das repre-
sentaes sociais que Moscovici apenas delineia muito de leve e,
sem querer apresentar uma explicao mais detalhada ou exten-
sa, ser til, para se poder compreender algo do carter das repre-
sentaes sociais, para chamar a ateno, nesse ponto, de dois as-
pectos relacionados dessa transformao histrica.
17
A modernidade sempre se coloca em relao a algum passado
que considerado como tradicional e embora seja errado (como
Bartlett, 1923, viu muito previdentemente) considerar as socieda-
des pr-modernas - ou tradicionais - como efetivamente homog-
neas, o fio condutor central do argumento de Moscovici sobre a
transformao das formas de criao coletiva na transio para a
modernidade se relaciona questo da legitimao. Nas socieda-
des pr-modernas (que, nesse contexto, so as sociedades feudais
na Europa, embora este ponto possa ser tambm relevante para
outras formas de sociedade pr-moderna), so as instituies cen-
tralizadas da Igreja e do Estado, do Bispo e do Rei, que esto no
pice da hierarquia de poder e regulam a legitimao do conheci-
mento e das crenas. De fato, dentro da sociedade feudal, as pr-
prias desigualdades entre diferentes estratos, dentro dessa hierar-
quia, foram vistas como legitimas. A modernidade, em contraste,
se caracteriza por centros mais diversos de poder, que exigem au-
toridade e legitimao, de tal modo que a regulao do conheci-
mento e da crena no mais exercida do mesmo modo. O fen-
meno das representaes sociais pode, neste sentido, ser visto
como a forma como a vida coletiva se adaptou a condies des-
centradas de legitimao. A cincia foi uma fonte importante de
surgimento de novas formas de conhecimento e crena no mundo
moderno, mas tambm o senso comum, como nos lembra Mosco-
vici. A legitimao no mais garantida pela interveno divina,
mas se torna parte duma dinmica social mais complexa e contes-
tada, em que as representaes dos diferentes grupos na socieda-
de procuram estabelecer uma hegemonia.
A transio para a modernidade tambm caracterizada pelo
papel central de novas formas de comunicao, que se originaram
com o desenvolvimento da imprensa e com a difuso da alfabeti-
zao. A emergncia das novas formas de meios de comunicao
de massa (cf. Thompson, 1995) gerou tanto novas possibilidades
para a circulao de idias, como tambm trouxe grupos sociais
mais amplos para o processo de produo psicossocial do conhe-
cimento. Esse tema muito complexo para ser tratado adequada-
mente aqui, exceto para dizer que, em sua anlise das diferentes
formas de representao da psicanlise nos meios de comunica-
o da Frana, Moscovici (1961/1976) mostrou como a propaga-
o, propaganda e difuso foram do modo que foram, porque os
diferentes grupos sociais representam a psicanlise de diferentes
18
modos e procuram estruturar diferentes tipos de comunicao
sobre esse objeto, atravs dessas diferentes formas. Cada uma
dessas formas procura estender sua influncia na construo du-
ma representao especifica e cada uma delas tambm reivindica
sua prpria legitimao para a representao que ela promove. a
produo e circulao de idias dentro dessas formas difusas de
comunicao que distinguem a era moderna da pr-moderna e
ajudam a distinguir as representaes sociais como a forma de
criao coletiva, distinta das formas autocrticas e teocrticas da
sociedade feudal. As questes de legitimao e comunicao servem
para enfatizar o sentido da heterogeneidade da vida social moderna,
uma viso que ajudou a dar pesquisa sobre representaes sociais
um foco distinto, na emergncia de novas formas de representa-
o.
4. Representaes sociais e psicologia social
A recepo da teoria das representaes sociais dentro duma
disciplina mais ampla da psicologia social foi tanto fragmentada,
como problemtica. Se algum olhar para trs, para a era domada
da psicologia social, pode ver certa afinidade entre o trabalho de
Moscovici e o de certos predecessores, como Kurt Lewin, Solomon
Asch, Fritz Heider ou, talvez o ltimo representante desta era, Leon
Festinger uma afinidade mais que uma similaridade, pois embora
o trabalho de Moscovici partilhe com esses predecessores uma pre-
ocupao comum na anlise das relaes entre processos sociais e
formas psicolgicas, seu trabalho retm uma qualidade distintiva,
do mesmo modo como esses autores diferem entre si. No difcil,
contudo, imaginar a possibilidade dum dilogo produtivo baseado
nessa afinidade. Mas difcil imaginar tal dilogo produtivo na dis-
ciplina de psicologia social como ela existe hoje, onde a predomi -
nncia dos paradigmas de processamento da informao e a emer-
gncia de variedades de formas ps-modernistas de psicologia
social aumentaram a segmentao do campo.
O prprio Moscovici (1984b) sugeriu que a psicologia social
contempornea continua a exibir um tipo de desenvolvimento
descontinuo de paradigmas que mudam e se substituem, para-
digmas solitrios, como ele os descreve. Dentro deste fluxo, cada
paradigma aparece mais ou menos desconectado de seus prede-
19
cessores e deixa pequenos traos em seus sucessores. Nesse con-
texto, tem sido destino comum das intervenes tericas, na psi-
cologia social, bruxulear brevemente, antes de passar para um tipo
de territrio de sombras, s margens duma disciplina que trocou
seu centro para o prximo paradigma, deixando pouco tempo para
que as idias fossem assimiladas e para um uso produtivo. Desse
ponto de vista, h algo de notvel na persistncia da teoria das re-
presentaes sociais durante um perodo de quarenta anos. No
esprito de sua problemtica relao com o terreno cambiante da
corrente em voga da disciplina, a teoria das representaes sociais
sobreviveu e prosperou. Ela se tomou no apenas uma das contri-
buies tericas mais duradouras na psicologia social, mas tam-
bm uma contribuio que amplamente difundida por todo o
mundo.
Nessa discusso sobre os paradigmas em psicologia social,
Moscovici vai frente afirmando que:
Conceitos que operam em grandes profundidades parecem
necessitar mais de cinqenta anos para penetrar as camadas mais
baixas da comunidade cientifica. por isso que muitos de ns es-
tamos apenas agora comeando a perceber o sentido de
certas idias que estiveram germinando na sociologia, psi-
cologia e antropologia, desde o limiar desse sculo (Mosco-
vici, 1984b: 941).
essa constelao de idias que forma o foco para alguns dos
ensaios dessa coleo (ver especialmente os captulos 3 e 6 e a en-
trevista no captulo 7), dentro dos quais a teoria das representa-
es sociais tomou forma.
Para compreender a especificidade da contribuio de Mos-
covici importante lembrar, em primeiro lugar, de tudo aquilo
contra o qual sua inovao psicossociolgica reagiu. A revoluo
cognitiva, na psicologia, iniciada na dcada de 1950, legitimou a
introduo de conceitos mentalistas, que tinham sido proscritos
pelas formas mais militantes do comportamentalismo, que domi-
nou a primeira metade do sculo vinte e, subseqentemente, as
idias de representaes foram o elemento central na emergncia
da cincia cognitiva, nas duas ltimas dcadas. Mas a partir desta
perspectiva, a representao foi geralmente vista num sentido
muito restrito, como uma construo mental dum objeto externo.
Embora isso tenha permitido o desenvolvimento dum clculo in-
formacional, em que representaes foram termos centrais, o ca-
rter social, ou simblico, das representaes raramente figurou
20
em tais teorias. Para retornar, por um momento, ao exemplo do
mapa da Europa, embora formas contemporneas de cincia cog-
nitiva possam reconhecer o deslocamento de Praga nas represen-
taes populares, elas no possuem conceitos com os quais pos-
sam compreender o significado desse deslocamento, nem as in-
fluncias dos processos sociais que subjazem a ele. Na melhor das
hipteses, tal deslocamento ir aparecer como uma das muitas
distores do pensamento comum, que foram documentadas
em teorias de cognio social. Mas enquanto tais teorias em psi-
cologia social tenham discutido distores como exemplos de
como o pensamento comum se afasta da lgica sistemtica da ci-
ncia, do ponto de vista das representaes sociais elas so vistas
como formas de conhecimento produzidas e sustentadas por gru-
pos sociais especficos, numa determinada conjuntura histri ca
(cf. Farr, 1998).
Conseqentemente, enquanto as formas clssicas de psico-
logia cognitiva (incluindo a cognio social, que se tomou a forma
contempornea predominante de psicologia social) tratam a re-
presentao como um elemento esttico da organizao cogniti -
va, na teoria da representao social o prprio conceito de repre-
sentao possui um sentido mais dinmico, referindo-se tanto ao
processo pelo qual as representaes so elaboradas, como s es-
truturas de conhecimento que so estabelecidas. Na verdade,
atravs dessa articulao da relao entre processo e estrutura, na
gnese e organizao das representaes, que a teoria oferece, na
psicologia social, uma perspectiva distinta daquela da cognio
social (cf. Jovchelovitch, 1996). Para Moscovici, a fonte dessa relao
est na funo das prprias representaes. Fazendo eco a formu-
laes anteriores de McDougal e Bartlett, Moscovici argumenta
que o propsito de todas as representaes tomar algo no-
familiar, ou a prpria no-familiaridade, familiar (cf. capitulo 1). A
familiarizao sempre um processo construtivo de ancoragem e
objetivao (cf. captulo 1), atravs do qual o no-familiar passa a
ocupar um lugar dentro de nosso mundo familiar. Mas a mesma
operao que constri um objeto dessa maneira tambm consti-
tutiva do sujeito (a construo correlativa do sujeito e objeto na
dialtica do conhecimento foi tambm um trao caracterstico da
psicologia gentica de Jean Piaget e do estruturalismo gentico de
Lucien Goldman). As representaes sociais emergem, no
apenas como um modo de compreender um objeto particular, mas
21
tambm como uma forma em que o sujeito (indivduo ou grupo)
adquire uma capacidade de definio, uma funo de identidade,
que uma das maneiras como as representaes expressam um
valor simblico (algo que tambm empresta noo de famili-
arizao de Moscovici uma inflexo que distinta da de McDougall
ou Bartlett). Nas palavras de Denise Jodelet, colega durante muito
tempo de Moscovici, a representao uma forma de co-
nhecimento prtico [savoir] conectando um sujeito a um objeto
(Jodelet, 1989: 43), e ela continua dizendo que quantificar esse
conhecimento como prtico refere-se experincia a partir da
qual ele produzido, aos referenciais e condies em que ele
produzido e, sobretudo, ao fato de que a representao empre-
gada para agir no mundo e nos outros (Jodelet, 1989: 43-44).
As representaes so sempre um produto da interao e co-
municao e elas tomam sua forma e configurao especficas a
qualquer momento, como uma conseqncia do equilbrio especifico
desses processos de influncia social. H uma relao sutil, aqui, en-
tre representaes e influncias comunicativas, que Moscovici
identifica, quando ele define uma representao social como:
Um sistema de valores, idias e prticas, com uma dupla
funo: primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitar
as pessoas orientar-se em seu mundo material e social e
control-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunica-
o seja possvel entre os membros de uma comunidade, for-
necendo-lhes um cdigo para nomear e classif icar, sem am-
bigidade, os vrios aspectos de seu mundo e da sua hist-
ria individual e social (1976: xiii).
A relao entre representao e comunicao pode bem ser o
aspecto mais controverso da teoria de Moscovici e em seu prprio
livro ela est expressa, de forma muito clara, na segunda parte de
seu estudo La Psychanalyse, a anlise das representaes na
mdia francesa, como mostrei acima (e esse um ponto devido ao
qual uma compreenso da teoria das representaes sociais foi di-
ficultada de maneira muito sria, pela falta duma traduo inglesa
do texto, como notou Willem Doise (1993); essa seco do livro ra-
ramente figurou nas discusses anglo-saxs da teoria).
Em relao psicologia cognitiva, no difcil ver por que es-
sa concepo deva ser controversa, pois a fora duradoura da i-
dia de psicologia como uma cincia natural, concentrada em pro-
22
cessos segregados da influncia poluidora do social, tornou im-
pensvel a idia de que nossas crenas, ou aes, possam ser for-
madas fora de tais influncias.
claro que a psicologia de Moscovici no a primeira a pro-
por tal tema. A psicanlise de Freud, por exemplo, procurou as
origens dos pensamentos nos processos libidinais, que, especial-
mente para a escola das relaes objetais, refletem as primeiras
experincias da criana no mundo dos outros (Jovchelovtch,
1996). Mead tambm pode ser considerado como tendo feito uma
argumentao semelhante, em sua anlise do desenvolvimento do
self (ver Moscovici, 1990b). Mas o trabalho de Moscovici no enfoca
as origens libidinais de nossos pensamentos (embora Lucien
Goldmann, 1996, tenha construdo um paralelo sugestivo entre a
organizao das construes psicanalticas e as sociais), nem est
ele fundamentalmente interessado com as fontes interpessoais do
self seu foco principal foi argumentar no apenas que a criao
coletiva est organizada e estruturada em termos de representa-
es, mas que essa organizao e estrutura tanto conformada
pelas influncias comunicativas em ao na sociedade, como, ao
mesmo tempo, serve para tornar a comunicao possvel. As represen-
taes podem ser o produto da comunicao, mas tambm verda-
de que, sem a representao, no haveria comuni cao. Precisa-
mente devido a essa interconexo, as representaes podem tam-
bm mudar a estabilidade de sua organizao e estrutura depende
da consistncia e constncia de tais padres de comunicao, que
as mantm. A mudana dos interesses humanos pode gerar
novas formas de comunicao, resultando na inovao e na emer-
gncia de novas representaes. Representaes, nesse sentido,
so estruturas que conseguiram uma estabilidade, atravs da
transformao duma estrutura anterior.
Se a perspectiva oferecida pela teoria das representaes so-
ciais foi, em geral, contrastada muito acentuadamente com a cor-
rente em voga da disciplina, para que pudesse emergir da um di-
logo construtivo (embora um interesse nesse dilogo esteja come-
ando a emergir nos EE.UU. (cf. Deaux & Philogene, 2000), o que foi
tanto mais surpreendente, como mais decepcionante, foi a re-
cepo da teoria entre aquelas correntes de pensamento sociopsi-
colgico, que tinham sido suas vizinhas nessa terra de sombras
marginal. Com algumas excees marcantes (por exemplo, Billig,
1988, 1993; Harr, 1984, 1998, que entraram num dilogo de enga-
jamento construtivo a partir das perspectivas retricas e discursi-
23
vas), a maioria dos comentrios, fora da corrente em voga, foram
contrrios, ou mesmo hostis, teoria das representaes sociais
(ver, por exemplo, o catlogo de objees, na recente contribuio
de Potter & Edwards, 1999). No h espao, aqui, para oferecer
uma relao sistemtica de todas as criticas levantadas contra o
trabalho de Moscovici, mas um enfoque sobre alguns temas cen-
trais ir no apenas dar o tom das questes levantadas, mas tam-
bm elaborar um pouco mais algumas das caractersticas centrais
da prpria teoria.
Em certo sentido, como mencionei anteriormente, o trabalho
de Moscovici foi parte da perspectiva europia em psicologia so-
cial, que emergiu nas dcadas de 196O e 197O. Olhando para esse
trabalho agora, contudo, podem-se notar tambm as diferenas
dentro desse enfoque europeu. Por exemplo, a coleo editada
por Israel e Tajfel (1972, um trabalho muitas vezes citado como a
fonte central da viso europia, e para o qual o capitulo 2 dessa co-
leo foi uma contribuio de Moscovici), aparece agora como
sendo caracterizada mais pela diversidade de seus pontos de vista
do que por um esprito critico comum entre os colaboradores.
Algumas das criticas mais fortes teoria das representaes so-
ciais vieram de Gustav Jahoda (1988; ver tambm a resposta de
Moscovici, 1988), que pertence mesma gerao de psiclogos
sociais de Moscovici, e que apresentou sua prpria contribuio
tradio europia. Para Jahoda, longe de ajudar a iluminar os
problemas da psicologia social, a teoria das representaes sociais -
serviu antes para obscurec-los. De modo particular, ele acha a te-
oria vaga na construo de seus conceitos, uma acusao que foi
um tema importante nas discusses sobre representaes sociais,
que veio tona de novo recentemente num comentrio mais sim-
ptico de Jan Smedslund (1998; ver tambm Duveen, 1998).
O fato de uma teoria ser vaga , na verdade, em grande parte,
uma questo de ponto de vista. Onde um escritor acha que uma
teoria necessita tanto de preciso, que no chega a apresentar
nada mais que uma srie de quimeras. Para outros escritores, a
mesma teoria pode abrir novos caminhos para discutir antigos
problemas. Desse modo, Jahoda sugere que, desprovida de sua
retrica, a teoria das representaes sociais pouco contribuiu,
alm do que j est contido na psicologia social tradicional das ati-
tudes. Mas, como mostraram Jaspars e Fraser (1984), embora a
formulao original do conceito de atitudes sociais, na obra de
Thomas & Znaniecki (1918/1920), pudesse ter algumas similarida-
24
des importantes como conceito de representaes sociais, o con-
ceito de atitude sofreu, ele prprio, uma transformao consider-
vel nas teorias sociopsicolgicas subseqentes. Nessa transfor-
mao, a idia de atitude foi despojada de seu contedo e de suas
origens sociais e simblicas. Na psicologia social contempornea,
as atitudes aparecem como disposies cognitivas ou motivacio-
nais, de tal modo que a idia duma conexo inerente entre comu-
nicao e representao evaporou. Se a pesquisa em representa-
es sociais continuou a empregar alguma tecnologia da mensu-
rao da atitude, ela procurou referenciar essas atitudes como
parte duma estrutura representacional maior (ver tambm a dis-
cusso das relaes entre atitudes e representaes na entrevista
no capitulo7).
A partir de outra perspectiva, as correntes mais radicais da
teoria do discurso, em psicologia social (por exemplo, Potter &
Edwards, 1999), objetaram contra a prpria idia de representa-
o, como sendo um anexo tardio da psicologia cognitiva moder-
nista. Desse ponto de vista, todos os processos sociopsicolgicos
se explicam nos efeitos do discurso e nas realizaes e reformula-
es fugazes da identidade que ele sustenta. E apenas a atividade
do discurso que pode ser o objeto de estudo, nessa forma de psico-
logia social, e qualquer fala sobre estrutura e organizao no nvel
cognitivo se apresenta como uma concesso hegemonia dos mo-
delos de processamento da informao (e pouco importa a esses
crticos que a teoria das representaes sociais tenha sempre i n-
sistido no carter simblico da cognio; ver tambm os comen-
trios de Moscovici na entrevista do capitulo 7). Aqui, o fato de a
teoria das representaes sociais ser vaga deve-se ao seu afasta-
mento insuficientemente radical dum discurso mentalista, mas,
como observou Jovchelovitch (1996), a pressa em evacuar o men-
tal do discurso da psicologia social est conduzindo a uma re-cria-
o duma forma de comportamentalismo.
Apesar de tudo o que seus crticos possam sugerir, a teoria
das representaes sociais se mostrou suficientemente cl ara e
precisa para apoiar e manter um crescente corpo de pesquisa,
atravs de diversas reas da psicologia social. Na verdade, a partir
dum ponto de vista diverso, poder-se-ia argumentar que a pesqui-
sa em representaes sociais contribuiu tanto quanto qualquer
25
outro trabalho em psicologia social, seno mais, para nossa com-
preenso dum amplo espectro de fenmenos sociais (tais como o
entendimento pblico da cincia, idias populares sobre sade e
doena, concepes de loucura, ou o desenvolvimento de identi-
dades de gnero, para nomear apenas alguns poucos). Contudo, a
insistncia com que a acusao de ser vaga foi apresentada contra
a teoria merece alguma considerao a mais. Alguma compreen-
so do que se quer com essa caracterizao da teoria pode ser
identificada considerando-se alguns dos estudos centrais de
pesquisa que ela inspirou. Alm do prprio estudo de Moscovici
sobre as representaes da psicanlise, o estudo de Denise Jodelet
(1989/1991; ver tambm captulo 1) sobre as representaes
sociais da loucura numa aldeia francesa oferece um segundo e-
xemplo paradigmtico de pesquisa nesse campo. Metodologica-
mente, esses dois estudos adotam enfoques bastante diferentes
(mostrando a importncia do que Moscovici chamou de signifi-
cncia do politesmo metodolgico). Moscovici empregou m-
todos de levantamento e analise de contedo, enquanto o estudo
de Jodelet se baseou na etnografia e entrevistas. O que ambos os
estudos partilham, contudo, uma estratgia de pesquisa similar,
em que o passo inicial o estabelecimento duma distncia critica
do mundo cotidiano do senso comum, em que as representa-
es circulam. Se as representaes sociais servem para familiari-
zar o no-familiar, ento a primeira tarefa dum estudo cientifico
das representaes tornar o familiar no-familiar, a fim de que
elas possam ser compreendidas como fenmenos e descritas atra-
vs de toda tcnica metodolgica que possa ser adequada nas cir-
cunstncias especficas. A descrio, claro, nunca independente
da teorizao dos fenmenos e, nesse sentido, a teoria das repre-
sentaes sociais fornece o referencial interpretativo tanto para
tornar as representaes visveis, como para tom-las inteligveis
como formas de prtica social.
A questo de uma teoria ser vaga pode ser vista como sendo,
em grande parte, um problema metodolgico, pois ela se refere,
fundamentalmente, quilo que diferentes perspectivas sociopsi-
colgicas tornam visvel e inteligvel. Com respeito a isso, diferentes
perspectivas em psicologia social operam com critrios e con-
dies diferentes. Armado com o aparato conceptual da psicologia
social tradicional, algum ir lutar para no ver nada mais que
atitudes, do mesmo modo que a perspectiva discursiva ir revelar
26
apenas os efeitos do discurso nos processos sociopsicolgicos.
Cada um desses enfoques opera dentro dum universo terico mais
ou menos hereticamente lacrado. Dentro de cada perspectiva,
h uma ordem conceptual que traz claridade e estabilidade co-
municao dentro dela (cada perspectiva, podemos dizer, esta-
belece seu prprio cdigo para intercmbio social). O que perma-
nece fora duma perspectiva particular mostra-se vago e o precur-
sor de desordem. Esse fato, na verdade, no mais que uma ex-
presso da permanente crise na disciplina da psicologia social que
continua a existir como um conjunto de paradigmas solitrios. O
reconhecimento desse estado de coisas, por si mesmo, no confere
status especial, ou privilegiado, teoria das representaes so-
ciais. O que d ao trabalho de Moscovici seu particular interesse e a
razo pela qual ele continua a exigir ateno que seu trabalho
em representaes sociais forma parte dum empreendimento
mais amplo para estabelecer (ou re-estabelecer) os fundamentos
para uma disciplina que tanto social, como psicolgica.
5. Para uma psicologia social gentica
A partir desse ponto de vista, importante situar os estudos
de Moscovici, sobre representaes sociais, dentro do contexto de
seu trabalho como um todo, pois como parte duma contribuio
mais ampla psicologia social que esse trabalho permanece de
capital importncia. J aludi ao sentido como seu trabalho expres-
sou um esprito critico e inovador em relao disciplina e nesse
sentido ele tambm contribuiu para uma reavaliao critica mais
ampla das formas dominantes de psicologia social, que comeou
na dcada de 1960 e foi, por um tempo, associada a uma perspec-
tiva distintivamente europia da disciplina (algo desse esprito
critico evidente em muitos dos captulos dessa coleo, mas par-
ticularmente no captulo 2 e na entrevista do captulo 7). O que
marcou a contribuio de Moscovici como inovadora foi o fato de
que ela no se limitou a uma crtica negativa das fraquezas e limi-
taes das formas predominantes de psicologia social, mas sem-
pre procurou, em vez disso, elaborar uma alternativa positiva. A
esse respeito, tambm importante reconhecer que, embora a
teoria das representaes sociais tenha sido um centro de seu
esforo terico, o trabalho de Moscovici estendeu-se, numa ampli-
tude maior, atravs da psicologia social, abrangendo estudos de
27
psicologia da multido, conspirao e decises coletivas, bem co-
mo o trabalho sobre influncia social. Em todas essas contribui-
es encontra-se alguma inspirao em ao, uma forma parti-
cular do que pode ser descrito como a imaginao sociopsicolgi-
ca. Se o trabalho de Moscovici pode ser visto como oferecendo
uma perspectiva distinta em psicologia social, ela uma perspec-
tiva que mais ampla que o que conotado simplesmente pelo
termo representaes sociais, embora esse termo tenha sido, mui-
tas vezes, tomado como emblemtico dessa perspectiva.
O prprio Moscovici raramente aventurou-se em esforos
para articular as interconexes entre essas diferentes reas de
trabalho (embora a entrevista no capitulo 7 oferea alguns pen-
samentos importantes). Em parte, isso reflete o fato de que cada
uma dessas reas de trabalho foi articulada atravs de procedi-
mentos metodolgicos diferentes. Seus estudos de influncia soci-
al e processos de grupo, por exemplo, foram rigorosamente expe-
rimentais, enquanto seu estudo sobre multido se inspirou numa
anlise crtica das primeiras conceptualizaes da psicologia das
massas. Em parte, isso pode tambm refletir a razo pela qual
esses estudos enfocam diferentes nveis de anlise, desde a intera-
o face a face, at a comunicao de massa e a circulao de idi-
as coletivas. Todos esses estudos, contudo, parecem estar grvi-
dos das idias que foram articuladas ao redor do conceito de re-
presentaes sociais, de tal modo que um focar sobre esse concei-
to pode indicar algo de sua perspectiva subjacente. Com respeito a
isso, o ensaio sobre Proust, no capitulo 5, oferece um estudo ilu-
minador das imbricaes das relaes entre influncia e represen-
tao. Outro exempla sua anlise crtica da discusso de Weber
sobre a tica protestante em The Invention of Society (Moscovici,
1988/1993).O que claro em ambos os ensaios que a influn-
cia sempre dirigida sustentao, ou mudana, das represen-
taes, enquanto, inversamente, representaes especificas se
tornam estabilizadas atravs de um equilbrio conseguido num
modelo particular de processos de influncia. Aqui, como nos estu-
dos de tomada de deciso nos grupos, a relao entre comunica-
o e representao que central.
Em seu livro sobre influncia social, Moscovici (1976) identi-
ficou a perspectiva que ele descreveu como uma psicologia
28
socialgentica, para enfatizar o sentido em que os processos de
influncia emergiram nos intercmbios comunicativos entre as
pessoas. O emprego do termo gentico faz ecoar o sentido que
lhe foi dado tanto por Jean Piaget, como por Lucien Goldmann. Em
todas essas instncias, estruturas especificas somente podem ser
entendidas como as transformaes de estruturas anteriores (ver o
ensaio sobre themata - temas 7 - capitulo 4 desta publicao). Na
psicologia social de Moscovici, atravs dos intercmbios comu-
nicativos que as representaes sociais so estruturadas e trans-
formadas. essa relao dialtica entre comunicao e represen-
tao que est no cento da imaginao sociopsicolgica de Mos-
covici e a razo para se descrever essa perspectiva como uma
psicologia social gentica (cf. Duveen & Lloyd, 1990). Em todos os
intercmbios comunicativos, h um esforo para compreender o
mundo atravs de idias especificas e de projetar essas idias de
maneira a influenciar outros, a estabelecer certa manei ra de criar
sentido, de tal modo que as coisas so vistas desta maneira, em
vez daquela. Sempre que um conhecimento expresso, por
determinada razo; ele nunca desprovido de interes se. Quan-
do Praga localizada a leste de Viena, certo sentido de mundo e
um conjunto particular de interesses humanos esto sendo
projetados. A procura de conhecimentos nos leva de volta ao tu-
multo da vida humana e da sociedade humana; aqui que o co-
nhecimento toma aparncia e forma atravs da comunicao e,
ao mesmo tempo, contribui para a configurao e formao
dos intercmbios comunicativos. Atravs da comunicao, so-
mos capazes de nos ligar a outros ou de distanciar-nos deles.
Esse o poder das idias, e a teoria das representaes sociais de
Moscovici procurou tanto reconhecer um fenmeno social espec-
fico, como fornecer os meios para torn-lo inteligvel como um
processo sociopsicolgico.
Gerard Duveen
29
29
O FENMENO DAS REPRESENTAES SOCIAIS
1. O pensamento considerado como ambiente
1.1 Pensamento primitivo, cincia e senso comum
A crena em que o pensamento primitivo - se tal termo ain-
da aceitvel - est baseado uma crena no poder ilimitado da
mente em conformar a realidade, em penetr-la e ativ-la e em
determinar o curso dos acontecimentos. A crena em que o pen-
samento cientfico moderno est baseado exatamente o oposto,
isto , um pensamento no poder ilimitado dos objetos de confor-
mar o pensamento, de determinar completamente sua evoluo e
de ser interiorizado na e pela mente. No primeiro caso, o pensa-
mento visto como agindo sobre a realidade; no segundo, como
uma reao realidade; numa, o objeto emerge como uma rplica
do pensamento; na outra, o pensamento uma rplica do objeto; e
se para o primeiro, nossos desejos se tornam realidade - ou wish--
ful thinking - ento, para o segundo, pensar passa a ser transfor-
mar a realidade em nossos desejos, despersonaliz-los. Mas sendo
que as duas atitudes so simtricas, elas somente podem ter a
mesma causa e uma causa com a qual ns j estvamos familiari-
zados h muito tempo: o medo instintivo do homem de poderes
que ele no pode controlar e sua tentativa de poder compensar
essa impotncia imaginativamente. Sendo esta a nica diferena,
enquanto a mente primitiva se amedronta diante das foras da na-
tureza, a mente cientfica se amedronta diante do poder do pensa-
mento. Enquanto a primeira nos possibilitou sobreviver por mi-
lhes de anos e a segunda conseguiu isso em poucos sculos, de-
vemos aceitar que ambas, a seu modo, representam um aspecto
real da relao entre nossos mundos internos e externos; um as-
pecto, alm disso, que vale a pena ser investigado.
30
A psicologia social , obviamente, uma manifestao do pen-
samento cientfico e, por isso, quando estuda o sistema cognitivo
ela pressupe que:
1. os indivduos normais reagem a fenmenos, pessoas ou acon-
tecimentos do mesmo modo que os cientistas ou os estatsti-
cos, e
2. compreender consiste em processar informaes.
Em outras palavras, ns percebemos o mundo tal como e to-
das nossas percepes, idias e atribuies so respostas a est -
mulos do ambiente fsico ou quase-fsico, em que ns vivemos. O
que nos distingue a necessidade de avaliar seres e objetos corre-
tamente, de compreender a realidade completamente; e o que dis-
tingue o meio ambiente sua autonomia, sua independncia com
respeito a ns, ou mesmo, poder-se-ia dizer, sua indiferena com
respeito a ns e a nossas necessidades e desejos. O que era tido
como vieses cognitivos, distores subjetivas, tendncias afetivas
obviamente existem. Como ns, todos estamos cientes disso, mas
eles so concretamente vieses, distores e tendncias em rel a-
o a um modelo, a regras, tidas como norma.
Parece-me, contudo, que alguns fatos comuns contradizem
esses dois pressupostos:
a) Primeiro, a observao familiar de que ns no estamos
conscientes de algumas coisas bastante bvias; de que ns no
conseguimos ver o que est diante de nossos olhos. como se
nosso olhar ou nossa percepo estivessem eclipsados, de tal mo-
do que uma determinada classe de pessoas, seja devido a sua ida-
de - por exemplo, os velhos pelos novos e os novos pelos velhos -
ou devido a sua raa - p. ex. os negros por alguns brancos, etc. - se
tomam invisveis quando, de fato, eles esto nos olhando de fren-
te. assim que um arguto escritor negro descreve tal fenmeno:
Eu sou um homem invisvel. No, eu no sou um fantasma como
os que espantaram Edgar Allan Poe; nem sou eu um de vos-
sos ectoplasmas dos cinemas de Hollywood. Eu sou um ho-
mem concreto, de carne e osso, fibra e lquidos e de mim
pode-se at dizer que tenho inteligncia. Eu sou invisvel,
entenda-se, simplesmente porque as pessoas recusam ver-
me. Como a cabea sem corpo, que s vezes se v em circos,
acontece como se eu estivesse cercado de espelhos de vidro
grossa e que distorcem a figura. Quando eles se aproximam
de mim, eles vem apenas o que me cerca, se vem eles
31
mesmos, ou construes de sua imaginao na realidade,
tudo, exceto eu mesmo (Ellison, 1965: 7).
Essa invisibilidade no se deve a nenhuma falta de informao
devida viso de algum, mas a uma fragmentao preestabeleci-
da da realidade, uma classificao das pessoas e coisas que a com-
preendem, que faz algumas delas visveis e outras invisveis.
b) Em segundo lugar, ns muitas vezes percebemos que
alguns fatos que ns aceitamos sem discusso, que so bsicos a
nosso entendimento e comportamento, repentinamente trans-
formam-se em meras iluses. Por milhares de anos os homens
estavam convencidos que o sol girava ao redor de uma terra pa-
rada. Desde Coprnico ns temos em nossas mentes a imagem
de um sistema planetrio em que o sol permanece parado,
enquanto a terra gira a seu redor; contudo, ns ainda vemos o que
nossos antepassados viam. Distinguimos, pois, as aparncias da
realidade das coisas, mas ns as distinguimos precisamente por-
que ns podemos passar da aparncia realidade atravs de al-
guma noo ou imagem.
c) Em terceiro lugar nossas reaes aos acontecimentos, nos-
sas respostas aos estmulos, esto relacionadas a determinada de-
finio, comum a todos os membros de uma comunidade qual
ns pertencemos. Se, ao dirigirmos pela estrada, ns encontramos
um carro tombado, uma pessoa ferida e um policial fazendo um
relatrio, ns presumimos que houve um acidente. Ns lemos
diariamente sobre colises e acidentes nos jornais a respeito dis-
so. Mas esses so apenas acidentes porque ns definimos assim
qualquer interrupo involuntria no andamento de um carro que
tem conseqncias mais ou menos trgicas. Sob outros aspectos,
no existe nada de acidental, quanto a um acidente de automvel.
Sendo que os clculos estatsticos nos possibilitam avaliar o n-
mero de vtimas, de acordo com o dia da semana e da localidade,
os acidentes de carro no so mais casuais que a desintegrao
dos tomos em uma acelerao sob alta presso; eles esto direta-
mente relacionados a um grau de urbanizao de uma dada socie-
dade, velocidade e ao nmero dos seus carros particulares e
inadequao do seu transporte pblico.
Em cada um desses casos, notamos a interveno de repre-
sentaes que tanto nos orientam em direo ao que visvel,
como quilo a que ns temos de responder; ou que relacionam a
32
aparncia realidade; ou de novo aquilo que define essa realida-
de. Eu no quero dizer que tais representaes no correspondem
a algo que ns chamamos o mundo externo. Eu simplesmente per-
cebo que, no que se refere realidade, essas representaes so
tudo o que ns temos, aquilo a que nossos sistemas perceptivos,
como cognitivos, esto ajustados. Bower escreve:
Ns geralmente usamos nosso sistema perceptivo para interpretar
representaes de mundos que ns nunca podemos ver. No
mundo feito por mos humanas em que vivemos, a percepo das re-
presentaes to importante como a percepo dos obj e-
tos reais. Por representao eu quero dizer um conjunto de estmulos
feitos pelos homens, que tm a finalidade de servir como um
substituto a um sinal ou som que no pode ocorrer natu-
ralmente. Algumas representaes funcionam como substitutos de
estmulos; elas produzem a mesma experincia que o mundo na-
tural produziria (Bower, 1977: 58).
De fato, ns somente experienciamos e percebemos um
mundo em que, em um extremo, ns estamos familiarizados com
coisas feitas pelos homens, representando outras coisas feitas pe-
los homens e, no outro extremo, com substitutos por estmulos
cujos originais, seus equivalentes naturais, tais como partculas ou
genes, ns nunca veremos. Assim que nos encontramos, por vezes,
em um dilema onde necessitamos um ou outro signo, que nos auxili-
ar a distinguir uma representao de outra, ou uma representa-
o do que ela representa, isto , um signo que nos dir: Essa
uma representao, ou Essa no uma representao. O pintor
Ren Magritte ilustrou tal dilema com perfeio em um quadro em
que a figura de um cachimbo est contida dentro de uma figura que
tambm representa um cachimbo Nessa figura dentro da figura
podemos ler a mensagem: Esse um cachimbo, que indica a dife-
rena entre os dois cachimbos. Ns nos voltamos ento para o
cachimbo real flutuando no ar e percebemos que ele real, en-
quanto o outro apenas uma representao
1
. Tal interpretao,
contudo, incorreta, pois ambas as figuras esto pintadas na
mesma tela, diante de nossos olhos. A idia de que uma delas
1
Nota do editor: Moscovici est se referindo a um quadro de Magritte, que pode no ser tio
familiar aos leitores, O famoso quadro data de 1926 e mostra uma simples imagem de um ca-
chimbo com a inscri~o Isso n~o um cachimbo, embaicho da pintura. Em 1966, ele pintou
outro quadro chamado Les deux mistres (Os dois mistrios), em que o quadro de 1966 mostra-
do em um cavalete, em uma sala vazia, com uma segunda imagem de um cachimbo flutuando no
ar, sobre ele. As questes sobre representao relacionadas a ambas as pinturas so extensa-
mente discutidas por Michel Foucault (1983).
33
uma figura que est, ela mesma, dentro de uma figura e por isso um
pouco menos real que a outra, totalmente ilusria. Uma vez que
se chegou a um acordo de entrar na moldura, ns j estamos com-
prometidos: temos de aceitar a imagem como realidade. Continua
contudo a realidade de uma pintura que, exposta em um museu e
definida como um objeto de arte, alimenta o pensamento, provoca
uma reao esttica e contribui para nossa compreenso da arte
da pintura.
Como pessoas comuns, sem o benefcio dos instrumentos ci-
entficos, tendemos a considerar e analisar o mundo de uma ma-
neira semelhante; especialmente quando o mundo em que vive-
mos totalmente social. Isso significa que ns nunca conseguimos
nenhuma informao que no tenha sido destorcida por re-
presentaes superimpostas aos objetos e s pessoas que lhes
do certa vaguidade e as fazem parcialmente inacessveis. Quando
contemplamos esses indivduos e objetos, nossa predisposio
gentica herdada, as imagens e hbitos que ns j aprendemos, as
suas recordaes que ns preservamos e nossas categorias cultu-
rais, tudo isso se junta para faz-las tais como as vemos. Assim, em
ltima anlise, elas so apenas um elemento de uma cadeia de rea-
o de percepes, opinies, noes e mesmo vidas, organizadas
em uma determinada seqncia essencial relembrar tais lugares
comuns quando nos aproximamos do domnio da vida mental na
psicologia social. Meu objetivo reintroduzi-los aqui de uma ma-
neira que, espero, seja frutfera.
1.2 A natureza convencional e prescritiva das representaes
De que modo pode o pensamento ser considerado como um
ambiente (como atmosfera social e cultural)? Impressionistica-
mente, cada um de ns est obviamente cercado, tanto individu-
almente como coletivamente, por palavras, idias e imagens que
penetram nossos olhos, nossos ouvidos e nossa mente, quer quei-
ramos quer no e que nos atingem, sem que o saibamos, do mesmo
modo que milhares de mensagens enviadas por ondas eletromag-
nticas circulam no ar sem que as vejamos e se tomam palavras em
um receptor de telefone, ouse tomam imagens na tela da televiso.
Tal metfora, contudo, no realmente adequada. Vejamos se po-
34
demos encontrar uma maneira melhor de descrever como as re-
presentaes intervm em nossa atividade cognitiva e at que pon-
to elas so independentes dela, ou, pode-se dizer, at que ponto a
determinam. Se ns aceitamos que sempre existe certa quantidade,
tanto de autonomia, como de condicionamento em cada ambiente,
seja natural ou social - e no nosso caso em ambos - digamos que as
representaes possuem precisamente duas funes:
a) Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pes-
soas ou acontecimentos que encontram. Elas lhes do uma forma
definitiva, as localizam em uma determinada categoria e gradual-
mente as colocam como um modelo de determinado tipo, distinto e
partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos elementos se
juntam a esse modelo e se sintetizam nele. Assim, ns passamos a
afirmar que a terra redonda, associamos comunismo com a cor
vermelha, inflao como decrscimo do valor do dinheiro. Mesmo
quando uma pessoa ou objeto no se adquam exatamente ao mo-
delo, ns o foramos a assumir determinada forma, entrar em deter-
minada categoria, na realidade, a se tornar idntico aos outros, sob
pena de no ser nem compreendido, nem decodificado.
Bartlett conclui, a partir de seus estudos sobre percepo,
que:
Quando uma forma de representao comum e j conven-
cional est em uso antes que o signo seja introduzido, exi s-
te uma f orte tendncia para caractersticas particulares de-
saparecerem e para que todo o signo seja assimilado em uma forma
mais familiar. Assim o pisca-pisca quase sempre identifi-
cado a uma forma comum e regular de ziguezague e quei-
xo perdeu seu ngulo bastante agudo, tornando-se mais
semelhante a representaes convencionais dessa caracte-
rstica (Bartlett, 1961: 106).
Essas convenes nos possibilitam conhecer o que represen-
ta o que: uma mudana de direo ou de cor indica movimento ou
temperatura, um determinado sintoma provm, ou no, de uma
doena; elas nos ajudam a resolver o problema geral de saber
quando interpretar uma mensagem como significante em relao
a outras e quando v-la como um acontecimento fortuito ou casu-
al. E esse significado em relao a outros depende ainda de um
nmero de convenes preliminares, atravs das quais ns pode-
mos distinguir se um brao levantado para chamar a ateno,
para saudar um amigo, ou para mostrar impacincia. Algumas ve-
zes suficiente simplesmente transferir um objeto, ou pessoa, de
35
um contexto a outro, para que o vejamos sob nova luz e para sa-
bermos se eles so, realmente, os mesmos. O exemplo mais provo-
cante foi o apresentado por Marcel Duchamp que, a partir de 1912,
restringiu sua produo cientifica em assinar objetos j prontos e
que, com esse nico gesto, promoveu objetos fabricados ao status
de objetos de arte. Um outro exemplo no menos chocante o dos
criminosos de guerra que so responsveis por atrocidades que no
sero facilmente esquecidas. Os que os conheceram, contudo, e que
tinham familiaridade com eles tanto durante como depois da guer-
ra, elogiaram sua humanidade e sua gentileza, assim como sua efi-
cincia tradicional, comparando-os aos milhares de indivduos
tranqilamente empregados em trabalhos burocrticos.
Esses exemplos mostram como cada experincia somada a
uma realidade predeterminada por convenes, que claramente
define suas fronteiras, distingue mensagens significantes de men-
sagens no-significantes e que liga cada parte a um todo e coloca
cada pessoa em uma categoria distinta. Nenhuma mente est livre
dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe so impostos
por suas representaes, linguagem ou cultura Ns pensamos atra-
vs de uma linguagem; ns organizamos nossos pensamentos, de
acordo com um sistema que est condicionado, tanto por nossas
representaes, como por nossa cultura. Ns vemos apenas o que
as convenes subjacentes nos permitem ver e ns permanece-
mos inconscientes dessas convenes. A esse respeito, nossa po-
sio muito semelhante da tribo tnica africana, da qual Evans-
Pritchard escreveu:
Nessa rede de crenas, cada fio depende dos outros fios e
um Zande no pode deixar esse esquema, porque este o nica
mundo que ele conhece. A rede no uma estrutura externa
em que ele esta preso. Ela a textura de seu pensamento e
ele no pode pensar que seu pensamento esteja errado (Evans-
Pritchard, 1937: 199).
Podemos, atravs de um esforo, tornar-nos conscientes do
aspecto convencional da realidade e ento escapar de algumas
exigncias que ela impe em nossas percepes e pensamentos.
Mas ns no podemos imaginar que podemos libertar-nos sempre
de todas as convenes, ou que possamos eliminar todos os pre-
conceitos. Melhor que tentar evitar todas as convenes, uma es-
36
tratgia melhor seria descobrir e explicitar uma nica representa-
o.
Ento, em vez de negar as convenes e preconceitos, esta estra-
tgia nos possibilitar reconhecer que as representaes constitu-
em, para ns, um tipo de realidade. Procuraremos isolar quais
representaes so inerentes nas pessoas e objetos que ns en-
contramos e descobrir o que representam exatamente. Entre
elas esto as cidades em que habitamos, os badulaques que usa-
mos, os transeuntes nas ruas e mesmo a natureza pura, sem polui-
o, que buscamos no campo, ou em nossos jardins.
Sei que dada alguma ateno s representaes na prtica
de pesquisa atual, na tentativa de descrever mais claramente o
contexto em que a pessoa levada a reagir a um estimulo particu-
lar e a explicar, mais acuradamente, suas respostas subseqentes.
Afinal, o laboratrio uma realidade tal que representa uma outra,
exatamente como a figura de Magritte dentro de um quadro. Ele
uma realidade em que necessrio indicar isso um estimulo e
no simplesmente uma cor ou um som e isso um sujeito e no
um estudante de direita ou de esquerda que quer ganhar algum
dinheiro para pagar seus estudos. Mas ns devemos tomar isso em
considerao em nossa teoria. Por isso, ns devemos levar ao cen-
tro do palco o que ns procuramos guardar nos bastidores laterais.
Isso poderia at mesmo ser o que Lewin tinha em mente quando
escreveu: A realidade , para a pessoa, em grande parte, deter-
minada por aquilo que socialmente aceito como realidade (Le-
win, 1948: 57).
b) Em segundo lugar, representaes so prescritivas, isto ,
elas se impem sobre ns com uma fora irresistvel. Essa fora
uma combinao de uma estrutura que est presente antes
mesmo que ns comecemos a pensar e de uma tradio que de-
creta o que deve ser pensado. Uma criana nascida hoje em qual-
quer pas ocidental encontrar a estrutura da psicanlise, por
exemplo, nos gestos de sua me ou de seu mdico, na afeio com
que ela ser cercada para ajud-la atravs das provas e tribula-
es do conflito edpico, nas histrias em quadrinhos cmicas
que ela ler, nos textos escolares, nas conversaes com os co-
legas de aula, ou mesmo em uma anlise psicanaltica, se tiver de
recorrer a isso, caso surjam problemas sociais ou educacionais.
Isso sem falar dos jornais que ela ter, dos discursos polticos que
37
ter de ouvir, dos filmes a que assistir etc. Ela encontrar uma
resposta j pronta, em um jargo psicanaltico, a todas essas
questes e para todas as suas aes fracassadas ou bem-
sucedidas, uma explicao estar pronta, que a levar de volta a
sua primeira infncia, ou a seus desejos sexuais. Ns menciona-
mos a psicanlise como uma representao. Poderamos do mes-
mo modo mencionar a psicologia mecanicista, ou uma psicologia
que considera o homem como se fosse uma mquina, ou o para-
digma cientfico de uma comunidade especfica.
Enquanto essas representaes, que so partilhadas por
tantos, penetram e influenciam a mente de cada um, elas no so
pensadas por eles; melhor, para sermos mais precisos, elas so re-
pensadas, re-citadas e re-apresentadas.
Se algum exclama: Ele um louco, pra e, ento, se corrige
dizendo: No, eu quero dizer que ele um gnio, ns imediata-
mente conclumos que ele cometeu um ato falho freudiano. Mas
essa concluso no resultado de um raciocnio, nem prova de
que ns temos uma capacidade de raciocnio abstrato, pois ns
apenas relembramos, sem pensar e sem pensar em nada mais, a
representao ou definio do que seja um ato falho freudiano. Po-
demos, na verdade, ter tal capacidade e perguntar-nos por que a
pessoa em questo usou uma palavra em vez de outra, sem chegar a
nenhuma resposta. , pois, fcil ver por que a representao que
temos de algo no est diretamente relacionada nossa maneira
de pensar e, contrariamente, por que nossa maneira de pensar e o
que pensamos depende de tais representaes, isto , no fato
de que ns temos, ou no temos, dada representao. Eu quero di-
zer que elas so impostas sobre ns, transmitidas e so o produto
de uma seqncia completa de elaboraes e mudanas que ocor-
rem no decurso do tempo e so o resultado de sucessivas gera-
es. Todos os sistemas de classificao, todas as imagens e todas
as descries que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as
descries cientficas, implicam um elo de prvios sistemas e ima-
gens, uma estratificao na memria coletiva e uma reproduo
na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento an-
terior e que quebra as amarras da informao presente.
A atividade social e intelectual , afinal, um ensaio, ou recital,
mas muitos psiclogos sociais a tratam, erradamente, como se ela
fizesse perder a memria. Nossas experincias e idias passadas
no so experincias ou idias mortas, mas continuam a ser ativas,
a mudar e a infiltrar nossa experincia e idias atuais. Sob muitos
38
aspectos, o passado mais real que o presente. O poder e a clari-
dade peculiares das representaes - isto , das representaes
sociais - deriva do sucesso com que elas controlam a realidade de
hoje atravs da de ontem e da continuidade que isso pressupe.
De fato, o prprio Jahoda as identificou como propriedades aut-
nomas que no so necessariamente identificveis no pen-
samento de pessoas particulares (Jahoda, 1970: 42); uma nota a
que seu compatriota McDougall identificara e aceitara, meio scu-
lo antes, na terminologia de seus dias: Pensar, com a ajuda de re-
presentaes coletivas, possui suas leis prprias, bem distintas
das leis da lgica (McDougall, 192O: 74). Leis que, obviamente,
modificam as leis da lgica, tanto na prtica, como nos resultados.
luz da histria e da antropologia, podemos afirmar que essas re-
presentaes so entidades sociais, com uma vida prpria, comu-
nicando-se entre elas, opondo-se mutuamente e mudando em
harmonia com o curso da vida; esvaindo-se, apenas para emergir
novamente sob novas aparncias. Geralmente, em civilizaes to
divididas e mutveis como a nossa, elas co-existem e circulam
atravs de vrias esferas de atividade, onde uma delas ter pre-
cedncia, como resposta nossa necessidade de certa coerncia,
quando nos referimos a pessoas ou coisas. Se ocorrer uma mu-
dana em sua hierarquia, porm, ou se uma determinada imagem-
idia for ameaada de extino, todo nosso universo se pre-
judicar. Um acontecimento recente e os comentrios que ele pro-
vocou podem servir para ilustrar esse ponto.
A American Psychiatric Association recentemente anunciou
sua inteno de descartar os termos neurose e neurtico para defi-
nir desordens especificas. Os comentrios de um jornalista sobre
essa deciso em um artigo intitulado Goodbye Neurosis (Inter-
national Herald Tribune, 11 de set de 1978) so muito signifi-
cativos:
Se o dicionrio das desordens ment ais no mais aceitar o
termo neurtico ns, leigos, somente podemos fazer o mes-
mo. Consideremos, contudo, a perda cultural: sempre que
algum chamado de neurtico, ou um neurtico, isso
envolve um ato implcito de perdo e compreenso: Oh, Mano
de tal apenas um neurtico, significa Oh, fulano excessi-
vamente nervoso. Ele real mente no quer atirar a loua na
tua cabea. apenas o seu leito. Ou ento Fulano apenas
um neurtico - signif icando ele no pode se controlar. No
quer dizer que todas s vezes ele vai jogar a loua em sua ca-
bea.
39
Pelo f ato de chamar algum de neurtico, ns colocamos o
peso do ajustamento no em algum, mas sobre ns mes-
mos. um tipo de apelo gentileza, a uma espcie de genero-
sidade social.
Seria tambm assim se os mentalmente perturbados atiras-
sem a loua? Pensamos que no. Desculpar Mano de tal pelo
fato de citar sua desordem mental - a categoria especif ica
de sua desordem - o mesmo que desculpar um carro por fal-
tar-lhe os freios - ele precisa ser consertado o mais rpido pos-
svel. O peso do desajustamento ser colocado diretamente
no desajustamento do carro. No se solicitar compaixo para
a sociedade em geral e naturalmente nenhuma ser espera-
da.
Pensemos tambm na auto-estima do prprio neurtico,
que foi longamente confortado com o conhecimento que ele
apenas um neurtico -apenas algumas linhas de segu-
rana abaixo de um psictico, mas muitas acima da linha
normal das pessoas. Um neurtico um excntrico tocado
por Freud. A sociedade lhe concede um lugar honrado, muitas
vezes louvvel. Conceder-se-ia o mesmo lugar para os que
sofrem de desordens somticas ou desordens depressi-
vas mais graves, ou desordens dissociati vas? Provavel-
mente no.
Tais ganhos culturais e perdas, esto, obviamente, relaciona-
dos a fragmentos de representaes sociais. Uma palavra e a defi-
nio de dicionrio dessa palavra contm um meio de classificar
indivduos e ao mesmo tempo teorias implcitas com respeito
sua constituio, ou com respeito s razes de se comportarem de
uma maneira ou de outra - uma como que imagem fsica de cada
pessoa, que corresponde a tais teorias. Uma vez difundido e aceito
este contedo, ele se constitui em uma parte integrante de ns
mesmos, de nossas inter-relaes com outros, de nossa maneira
de julg-los e de nos relacionarmos com eles; isso at mesmo define
nossa posio na hierarquia social e nossos valores. Se a palavra
neurose desaparecesse e fosse substituda pela palavra de-
sordem, tal acontecimento teria conseqncias muito alm de
seu mero significado em uma sentena, ou na psiquiatria. So nos-
sas inter-relaes e nosso pensamento coletivo que esto implica-
dos nisso e transformados.
Espero que eu tenha amplamente demonstrado como, por
um lado, ao se colocar um signo convencional na realidade, e por
outro lado, ao se prescrever, atravs da tradio e das estruturas
41
40
imemoriais, o que ns percebemos e imaginamos, essas criaturas
do pensamento, que so as representaes, terminam por se cons-
tituir em um ambiente real, concreto.
Atravs de sua autonomia e das presses que elas exercem
(mesmo que ns estejamos perfeitamente conscientes que elas
no so nada mais que idias), elas so, contudo, como se fossem
realidades inquestionveis que ns temos de confront-las. O peso
de sua histria, costumes e contedo cumulativo nos confronta
com toda a resistncia de um objeto material. Talvez seja uma
resistncia ainda maior, pois o que invisvel inevitavelmente
mais difcil de superar do que o que visvel.
1.3. A era da representao
Todas as interaes humanas, surjam elas entre duas pessoas
ou entre dois grupos, pressupem representaes. Na realidade,
isso que as caracteriza. O fato central sobre as interaes huma-
nas, escreveu Asch, que elas so acontecimentos, que elas esto
psicologicamente representadas em cada um dos participantes
(Asch, 1952: 142). Se esse fato menosprezado, tudo o que sobra
so trocas, isto , aes e reaes, que so no-especficas e, ainda
mais, empobrecidas na troca. Sempre e em todo lugar, quando ns
encontramos pessoas ou coisas e nos familiarizamos com elas, tais
representaes esto presentes. A informao que recebemos,
e a qual tentamos dar um significado, est sob seu controle e no
possui outro sentido para ns alm do que elas do a ele.
Para alargar um pouco o referencial, ns podemos afirmar que
o que importante a natureza da mudana, atravs da qual as
representaes sociais se tornam capazes de influenciar o com-
portamento do individuo participante de uma coletividade. des-
sa maneira que elas so criadas, internamente, mentalmente, pois
dessa maneira que o prprio processo coletivo penetra, como o
fator determinante, dentro do pensamento individual. Tais repre-
sentaes aparecem, pois, para ns, quase como que objetos ma-
teriais, pois eles so o produto de nossas aes e comunicaes.
Elas possuem, de fato, uma atividade profissional: Eu estou me re-
ferindo queles pedagogos, idelogos, popularizadores da cincia
ou sacerdotes, isto , os representantes da cincia, culturas ou re-
ligio, cuja tarefa cri-las e transmiti-las, muitas vezes, infeliz-
41
mente, sem sab-lo ou quer-lo. Na evoluo geral da sociedade,
essas profisses esto destinadas a se multiplicar e sua tarefa se
tornar mais sistemtica e mais explcita. Em parte, devido a isso e
em vista de tudo o que isso implica, essa era se tornar conhecida
como a era da representao, em cada sentido desse termo.
Isso no subverter a autonomia das representaes em rela-
o tanto conscincia do indivduo, ou do grupo. Pessoas e
grupos criam representaes no decurso da comunicao e da co-
operao. Representaes, obviamente, no so criadas por um
individuo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem
uma vida prpria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem
e do oportunidade ao nascimento de novas representaes, en-
quanto velhas representaes morrem. Como conseqncia dis-
so, para se compreender e explicar uma representao, necess-
rio comear com aquela, ou aquelas, das quais ela nasceu. No
suficiente comear diretamente de tal ou tal aspecto, seja do com-
portamento, seja da estrutura social. Longe de refletir, seja o com-
portamento ou a estrutura social, uma representao muitas vezes
condiciona ou at mesmo responde a elas. Isso assim, no por-
que ela possui uma origem coletiva, ou porque ela se refere a um
objeto coletivo, mas porque, como tal, sendo compartilhada por
todos e reforada pela tradio, ela constitui uma realidade social
sui generis. Quanto mais sua origem esquecida e sua natureza
convencional ignorada, mais fossilizada ela se torna. O que
ideal, gradualmente torna-se materializado. Cessa de ser efmero,
mutvel e mortal e torna-se, em vez disso, duradouro, perma-
nente, quase imortal. Ao criar representaes, ns somos como o
artista, que se inclina diante da esttua que ele esculpiu e a adora
como se fosse um deus.
Na minha opinio, a tarefa principal da psicologia social es-
tudar tais representaes, suas propriedades, suas origens e seu
impacto. Nenhuma outra disciplina dedica-se a essa tarefa e ne-
nhuma est melhor equipada para isso. Foi, de fato, psicologia
social que Durkheim confiou essa tarefa:
No que se ref ere s leis do pensamento coletivo, elas so to-
talmente desconhecidas. A psicologi a social, cuja taref a se-
ria defini-las, no nada mais que uma palavra descrevendo
todo tipo de variadas generalizaes, vagas, sem um objeto
def inido como foco. O que necessrio descobrir, pela
42
comparao de mitos, lendas, tradies populares e li n-
guagens, como as representaes sociais se atraem e se ex-
cluem, como elas se mesclam ou se distinguem etc. (Durkheim,
1895/1982: 41-42).
Apesar de numerosos estudos posteriores, idias fragmenta-
das e experimentos, ns no estamos mais avanados do que ns
estvamos h quase um sculo. Nosso conhecimento como uma
maionese que azedou. Mas uma coisa certa: As formas princi pais
de nosso meio ambiente fsico e social esto fixas em repre-
sentaes desse tipo e ns mesmos fomos moldados de acordo
com elas. Eu at mesmo iria ao ponto de afirmar que, quanto me-
nos ns pensamos nelas, quanto menos conscientes somos delas,
maior se torna sua influncia. o caso em que a mente coletiva
transforma tudo o que toca. Nisso reside a verdade da crena pri-
mitiva que dominou nossa mentalidade por milhes de anos.
2. O que uma sociedade pensante?
Ns pensamos atravs de nossas bocas (Tristan Tzara).
2.1. Behaviorismo como o estudo das representaes sociais
Vivemos em um mundo behaviorista, praticamos uma cincia
behaviorista e usamos metforas behavioristas. Eu digo isso sem
orgulho ou vergonha. Pois eu no vou embarcar em uma critica do
que deveria, forosamente, ser chamado de uma viso do ser hu-
mano contemporneo, pois sua defesa, ou refutao, no , en-
quanto eu posso perceber, interesse da cincia, mas da cultura.
No se defende, nem se refuta, uma cultura. Dito isso, bvio que o
estudo das representaes sociais deve ir alm de tal viso e
deve fazer isso por uma razo especfica. Ela v o ser humano en-
quanto ele tenta conhecer e compreender as coisas que o circun-
dam e tenta resolver os enigmas centrais de seu prprio nasci-
mento, de sua existncia corporal, suas humilhaes, do cu que
est acima dele, dos estados da mente de seus vizinhos e dos po-
deres que o dominam: enigmas que o ocupam e preocupam desde
o bero e dos quais ele nunca pra de falar. Para ele, pensamentos
43
43
e palavras so reais - eles no so apenas epifenmenos do com-
portamento. Ele concorda com Frege, que escreveu:
A influncia de uma pessoa sobre outra acontece princi-
palmente atravs do pensamento. Algum comunica um pen-
samento- Como acontece isso? Algum causa mudanas no
mundo externo normal que, percebidas por outra pessoa,
so consideradas como induzindo-a a apreender um pen-
samento e aceit-lo como verdadeiro. Poderiam os grandes
acontecimentos do mundo terem se tornado realidade sem
a comunicao do pensamento? E apesar disso, estamos in-
clinados a considerar os pensamentos como irreais, porque
parecem no possurem inf luncia sobre os acontecimen-
tos, embora pensar, julgar, f alar, compreender, so fatos da
vida humana. Como um martelo parece muito mais real que
um pensamento. Como diferente o processo de usar um mar-
telo do de comunicar um pensamento (Frege, 1977: 38).
isso que os livros e artigos esto continuamente martelando
sobre nossa cabea: os martelos so mais reais que pensamentos;
preste ateno a martelos, no a pensamentos. Tudo, em ltima
anlise, comportamento, um problema de fixar estmulos para as
paredes de nosso organismo, como agulhas. Quando estudamos
representaes sociais ns estudamos o ser humano, enquanto
ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e no enquanto ele
processa informao, ou se comporta. Mais precisamente, en-
quanto seu objetivo no comportar-se, mas compreender.
O que uma sociedade pensante? Essa nossa questo e
isso que ns queremos observar e compreender, atravs do estu-
do (a) das circunstncias em que os grupos se comunicam, tomam
decises e procuram tanto revelar, como esconder algo e (b) das
suas aes e suas crenas, isto , das suas ideologias, cincias e
representaes. Nem poderia ser diferente; o mistrio profundo,
mas a compreenso a faculdade humana mais comum. Acredita-
va-se antigamente que esta faculdade fosse estimulada, primeira e
principalmente, pelo contato com o mundo externo. Mas aos poucos
ns nos fomos dando conta que ela na realidade brota da comuni-
cao social. Estudos recentes sobre crianas muito pequenas mos-
traram que as origens e o desenvolvimento do sentido e do pen-
samento dependem das inter-relaes sociais; como se uma crian-
a chegasse ao mundo primariamente preparada para se relacio-
nar com outros: com sua me, seu pai e com todos os que a espe-
44
ram e se interessam por ela. O mundo dos objetos constitui apenas
um pano de fundo para as pessoas e suas interaes sociais.
Ao fazermos a pergunta: o que uma sociedade pensante?,
ns rejeitamos ao mesmo tempo a concepo que, creio eu, pre-
dominante nas cincias humanas, de que uma sociedade no pen-
sa, ou, se pensa, esse no um atributo essencial seu. O negar que
uma sociedade pense pode assumir duas formas diferentes:
a) afirmar que nossas mentes so pequenas caixas pretas,
dentro de uma caixa preta maior, que simplesmente recebe infor-
mao, palavras e pensamentos que so condicionados de fora, a
fim de transform-los em gestos, juzos, opinies, etc. De fato, ns
sabemos muito bem que nossas mentes no so caixas pretas,
mas, na pior das hipteses, buracos pretos, que possuem uma
vida e atividade prprias, mesmo quando isso no bvio e quan-
do as pessoas no trocam nem energia nem informao com o
mundo externo. A loucura, esse buraco negro na racionalidade,
prova irrefutavelmente que assim que as coisas so.
b) assegurar que grupos e pessoas esto sempre e completa-
mente sob controle de uma ideologia dominante, que produzida
e imposta por sua classe social, pelo estado, igreja ou escola e que
o que eles pensam e dizem apenas reflete tal ideologia. Em outras
palavras, sustenta-se que eles, como regra, no pensam, ou pro-
duzem nada de original por si mesmos: eles reproduzem e, em
contrapartida, so reproduzidos. Apesar de sua natureza progres-
sista, esta concepo est essencialmente de acordo com a de Le
Bon, que afirma que as massas no pensam nem criam; e que so
apenas os indivduos, a elite organizada, que pensa e cria. Desco-
brimos aqui, quer gostemos ou no, a metfora da caixa preta,
com a diferena que agora ela est composta de idias j prontas e
no apenas com objetos. Pode ser esse o caso, mas ns no o po-
demos garantir, pois, mesmo que as ideologias e seu impacto te-
nham sido amplamente discutidos, elas no foram extensivamente
pesquisadas. E isso tambm foi reconhecido por Marx e Wood: Em
comparao, porm, com outras reas, o estudo da ideologia foi
relativamente negligenciado pelos socilogos, que em geral se
sentem em situao mais confortvel estudando a estrutura social
e o comportamento, do que estudando crenas e smbolos (Marx &
Wood, 1975: 382).
O que estamos sugerindo, pois, que pessoas e grupos, longe
de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e
45
comunicam incessantemente suas prprias e especficas repre-
sentaes e solues s questes que eles mesmos colocam. Nas
ruas, bares, escritrios, hospitais, laboratrios, etc. as pessoas ana-
lisam, comentam, formulam filosofias espontneas, no oficiais,
que tm um impacto decisivo em suas relaes sociais, em suas
escolhas, na maneira como eles educam seus filhos, como plane-
jam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as cincias e as ideologias
apenas lhes fornecem o alimento para o pensamento.
2.2. Representaes sociais
bvio que o conceito de representaes sociais chegou at
ns vindo de Durkheim. Mas ns temos uma viso diferente dele -
ou, de qualquer modo, a psicologia social deve consider-lo de um
ngulo diferente - de como o faz a sociologia. A sociologia v, ou
melhor, viu as representaes sociais como artifcios explanat-
rios, irredutveis a qualquer anlise posterior. Sua funo terica
era semelhante do tomo na mecnica tradicional, ou do genes
na gentica tradicional; isto , tomos e genes eram considerados
como existentes, mas ningum se importava sobre o que faziam,
ou com o que se pareciam. Do mesmo modo, sabia-se que as re-
presentaes sociais existiam nas sociedades, mas ningum se
importava com sua estrutura ou com sua dinmica interna. A psi-
cologia social, contudo, estaria e deveria estar pr-ocupada so-
mente com a estrutura e a dinmica das representaes. Para ns,
isso se explica na dificuldade de penetrar o interior para descobrir
os mecanismos internos e a vitalidade das representaes sociais
o mais detalhadamente possvel; isto , em cindir as representa-
es, exatamente como os tomos e os genes foram divididos. O
primeiro passo nessa direo foi dado por Piaget, quando ele estu-
dou a representao do mundo da criana e sua investigao per-
manece, at o dia de hoje, como um exemplo. Assim, o que eu pro-
ponho fazer considerar como um fenmeno o que era antes visto
como um conceito.
Ainda mais: do ponto de vista de Durkheim, as representa-
es coletivas abrangiam uma cadeia completa de formas intelec-
tuais que incluam cincia, religio, mito, modalidades de tempo e
espao, etc.
De fato, qualquer tipo de i dia, emoo ou crena, que ocor-
46
resse dentro de uma comunidade, estava includo. Isso representa
um problema srio, pois pelo fato de querer incluir demais, inclui-
se muito pouco: querer compreender tudo perder tudo. A intui-
o, assim como a experincia, sugere que impossvel cobrir um
raio de conhecimento e crenas to amplo. Conhecimento e crena
so, em primeiro lugar, demasiado heterogneos e, alm disso,
no podem ser definidos por algumas poucas caractersticas ge-
rais. Como conseqncia, ns estamos obrigados a acrescentar
duas qualificaes significativas:
a) As representaes sociais devem ser vistas como uma ma-
neira especifica de compreender e comunicar o que ns j sabemos.
Elas ocupam, com efeito, uma posio curiosa, em algum ponto
entre conceitos, que tm como seu objetivo abstrair sentido do
mundo e introduzir nele ordem e percepes, que reproduzam o
mundo de uma forma significativa. Elas sempre possuem duas
faces, que so interdependentes, como duas faces de uma folha de
papel: a face icnica e a face simblica. Ns sabemos que: repre-
sentao = imagem/significao; em outras palavras, a represen-
tao iguala toda imagem a uma idia e toda idia a uma imagem.
Dessa maneira, em nossa sociedade, um neurtico uma idia
associada com a psicanlise, com Freud, com o Complexo de dipo
e, ao mesmo tempo, ns vemos o neurtico como um indivduo
egocntrico, patolgico, cujos conflitos parentais no foram ainda
resolvidos. De outro lado, porm, a palavra evoca uma cincia, at
mesmo o nome de um heri clssico e um conceito, que, por ou-
tras, evoca um tipo definido, caracterizado por certos traos e uma
biografia facilmente imaginvel. Os mecanismos mentais que so
mobilizados nesse exemplo e que constroem essa figura em nosso
universo e lhe do um significado, uma interpretao, obviamente
diferem dos mecanismos cuja funo isolar uma percepo pre-
cisa de uma pessoa ou de uma coisa e de criar um sistema de con-
ceitos que as expliquem. A prpria linguagem, quando ela carrega
representaes, localiza-se a meio caminho entre o que chamado
de a linguagem de observao e a linguagem da lgica; a primeira,
expressando puros fatos - se tais fatos existem - e a segunda, ex-
pressando smbolos abstratos. Este , talvez, um dos mais marcan-
tes fenmenos de nosso tempo - a unio da linguagem e da re-
presentao. Deixem-me explicar:
47
At o inicio do sculo, a linguagem verbal comum era um
meio tanto de comunicao, como de conhecimento; de idias co-
letivas e de pesquisa abstrata, pois ela era igual tanto para o senso
comum, como para a cincia. Hoje em dia, a linguagem no-verbal
- matemtica e lgica - que se apropriou da esfera da cincia, subs-
tituiu signos por palavras e equaes por proposies. O mundo
de nossa experincia e de nossa realidade se rachou em dois e as
leis que governam nosso mundo cotidiano no possuem, agora,
relao direta com as leis que governam o mundo da cincia. Se
ns estamos, hoje, muito interessados em fenmenos lingsticos,
isso se deve, em parte, ao fato de a linguagem estar em declnio, do
mesmo modo como estamos preocupados com as plantas, com a
natureza e os animais, porque eles esto ameaados de extin-
o. A linguagem, excluda da esfera da realidade material, re-
emerge na esfera da realidade histrica e convencional; e, se ela
perdeu sua relao com a teoria, ela conserva sua relao com a
representao, que tudo o que ela deixou. Se o estudo da lin-
guagem, pois, cada vez mais preocupao da psicologia social,
isso no porque a psicologia social quer imitar o que aconteceu
com as outras disciplinas, ou porque quer acrescentar uma dimen-
so social a suas abstraes individuais, ou por qualquer outros
motivos filantrpicos. Isso est, simplesmente, ligado mudana
que ns mencionamos h pouco e que a liga to exclusivamente ao
nosso mtodo normal, cotidiano, de compreender e intercambiar
nossas maneiras de ver as coisas.
b) Durkheim, fiel tradio aristotlica e kantiana, possui uma
concepo bastante esttica dessas representaes - algo parecido
com a dos esticos. Como conseqncia, representaes, em sua
teoria, so como o adensamento da neblina, ou, em outras pa-
lavras, elas agem como suportes para muitas palavras ou idias -
como as camadas de um ar estagnado na atmosfera da sociedade,
do qual se diz que pode ser cortado com uma faca. Embora isso
no seja inteiramente falso, o que mais chocante ao observador
contemporneo seu carter mvel e circulante; em suma, sua
plasticidade. Mais: ns as vemos como estruturas dinmicas, ope-
rando em um conjunto de relaes e de comportamentos que sur-
gem e desaparecem, junto com as representaes. o mesmo que
aconteceria com o desaparecimento, de nossos dicionrios, da pa-
lavra neurtico, que iria, com isso, tambm banir certos senti-
mentos, certos tipos de relacionamento para com algumas pessoas
determinadas, uma maneira de julg-las e, conseqentemente, de
48
nos julgarmos a ns mesmos.
Eu acentuo essas diferenas com uma finalidade especifica.
As representaes sociais que me interessam no so nem as das
sociedades primitivas, nem as suas sobreviventes, no subsolo de
nossa cultura, dos tempos pr-histricos. Elas so as de nossa so-
ciedade atual, de nosso solo poltico, cientifico, humano, que nem
sempre tm tempo suficiente para se sedimentar completamente
para se tornarem tradies imutveis. E sua importncia continua
a crescer, em proporo direta com a heterogeneidade e a flutua-
o dos sistemas unificadores - as cincias, religies e ideologias
oficiais - e com as mudanas que elas devem sofrer para penetrar
a vida cotidiana e se tornar parte da realidade comum. Os meios
de comunicao de massa aceleraram essa tendncia, multiplica-
ram tais mudanas e aumentaram a necessidade de um elo entre,
de uma parte, nossas cincias e crenas gerais puramente abstra-
tas e, de outra parte, nossas atividades concretas como indivduos
sociais. Em outras palavras, existe uma necessidade continua de
re-constituir o senso comum ou a forma de compreenso que
cria o substrato das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma cole-
tividade pode operar. Do mesmo modo, nossas coletividades hoje
no poderiam funcionar se no se criassem representaes sociais
baseadas no tronco das teorias e ideologias que elas transformam
em realidades compartilhadas, relacionadas com as interaes en-
tre pessoas que, ento, passam a constituir uma categoria de fe-
nmenos parte. E a caracterstica especifica dessas representa-
es precisamente a de que elas corporificam idias em expe-
rincias coletivas e interaes em comportamento, que podem,
com mais vantagem, ser comparadas a obras de arte do que a rea-
es mecnicas. O escritor bblico j estava consciente disso quan-
do afirmou que o verbo (a palavra) se fez carne; e o marxismo con-
firma isso quando afirma que as idias, uma vez disseminadas en-
tre as massas, so e se comportam como foras materiais.
Ns no sabemos quase nada dessa alquimia que transforma
a base metlica de nossas idias no ouro de nossa realidade. Como
transformar conceitos em objetos ou em pessoas o enigma que
nos pr-ocupou por sculos e que o verdadeiro objetivo de nossa
cincia, como distinto de outras cincias que, na realidade, inves-
tiga o processo inverso. Eu estou bastante consciente que uma
distncia quase insupervel separa o problema de sua soluo,
uma distncia que bem poucos esto preparados para transpor.
49
Mas eu no deixarei de repetir que se a psicologia social no ten-
tar transpor esse valor, ela fracassar em sua tarefa e com isso no
somente no conseguir progredir, mas cessar mesmo de exis-
tir.Para sintetizar: se, no sentido clssico, as representaes cole-
tivas se constituem em um instrumento explanatrio e se referem a
uma classe geral de idias e crenas (cincia, mito, religio, etc.),
para ns, so fenmenos que necessitam ser descritos e explicados.
So fenmenos especficos que esto relacionados com um modo
particular de compreender e de se comunicar - um modo que aia
tanto a realidade como o senso comum. para enfatizar essa distin-
o que eu uso o termo social em vez de coletivo.
2.3. Cincias sagradas e profanas; universos consen-
suais e reificados
O que nos interessa aqui o lugar que as representaes ocu-
pam em uma sociedade pensante. Anteriormente, este lugar seria
- e at certo ponto o foi - determinado pela distino entre uma
esfera sagrada - digna de respeito e venerao e desse modo man-
tida bastante longe de todas as atividades intencionais, humanas -
e uma esfera profana, em que so executadas atividades triviais e
utilitaristas. So esses mundos separados e opostos que, em di-
ferentes graus, determinam, dentro de cada cultura e de cada indi-
vduo, as esferas de suas foras prprias e alheias; o que ns pode-
mos mudar e o que nos muda; o que obra nossa (opus proprium) e
o que obra alheia (opus alienum). Todo conhecimento pressupe
tal diviso da realidade e uma disciplina que estivesse interessada
em uma das esferas, era totalmente diferente de uma disciplina
que estivesse interessada na outra; as cincias sagradas no teri-
am nada em comum com as cincias profanas. Sem dvida, era pos-
svel passar de uma para outra, mas isso somente ocorria quando
os contedos fossem obscuros.
Essa distino foi agora abandonada. Foi substituda por outra
distino, mais bsica, entre universos consensuais e reificados.
No universo consensual, a sociedade uma criao visvel, conti-
nua, permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz hu-
50
mana, de acordo com a existncia humana e agindo tanto como
reagindo, como um ser humano. Em outras palavras, o ser huma-
no , aqui, a medida de todas as coisas. No universo reificado, a
sociedade transformada em um sistema de entidades slidas,
bsicas, invariveis, que so indiferentes individualidade e no
possuem identidade. Esta sociedade ignora a si mesma e a suas
criaes, que ela somente como objetos isolados, tais como pes-
soas, idias, ambientes e atividades. As vrias cincias que esto
interessadas em tais objetos podem, por assim dizer, impor sua
autoridade no pensamento e na experincia de cada individuo e
decidir, em cada caso particular, o que verdadeiro e o que no o .
Todas as coisas, quaisquer que sejam as circunstncias, so,
aqui, a medida do ser humano.
Mesmo o uso dos pronomes ns e eles pode expressar
esse contraste, onde ns est em lugar do grupo de indivduos
com os quais ns nos relacionamos e eles - os franceses, os pro-
fessores, os sistemas de estado etc. - est em lugar de um grupo
diferente, ao qual ns no pertencemos, mas podemos ser fora-
dos a pertencer. A distncia entre a primeira e a terceira pessoa do
plural expressa a distncia que separa o lugar social, onde nos
sentimos includos, de um lugar dado, indeterminado ou, de qual-
quer modo, impessoal. Essa falta de identidade, que est na raiz
da angstia psquica do homem moderno, um sintoma dessa ne-
cessidade de nos vermos em termos de ns e eles; de opor
ns a eles; e, por conseguinte, da nossa impotncia de ligar
um ao outro. Grupos de indivduos tentam superar essa necessi-
dade tanto identificando-se como ns e dessa maneira fechando-
se em um mundo parte, ou identificando-se com o eles e tor-
nando-se os robs da burocracia e da administrao.
Tais categorias de universos consensuais e reificados so
prprios de nossa cultura. Em um universo consensual, a sociedade
vista como um grupo de pessoas que so iguais e livres, cada um
com possibilidade de falar em nome do grupo e sob seu auspcio.
Dessa maneira, presume-se que nenhum membro possua compe-
tncia exclusiva, mas cada qual pode adquirir toda competncia
que seja requerida pelas circunstncias. Sob este aspecto, cada
um age como um amador responsvel, ou como um observador
curioso nas frases feitas e chaves do ltimo sculo. Na maioria
dos locais pblicos de encontro, esses polticos amadores, douto-
res, educadores, socilogos, astrnomos, etc. podem ser encon-
trados expressando suas opinies, revelando seus pontos de vista
51
e construindo a lei. Tal estado de coisas exige certa cumplicidade,
isto , convenes lingsticas, perguntas que no podem ser fei-
tas, tpicos que podem, ou no podem, ser ignorados. Esses mun-
dos so institucionalizados nos clubes, associaes e bares de
hoje, como eles foram nos sales e academias do passado. O que
eles fazem prosperar a arte declinante da conversao. E isso
que os mantm em andamento e que encoraja relaes sociais
que, de outro modo, definhariam. Em longo prazo, a conversao
(os discursos) cria ns de estabilidade e recorrncia, uma base co-
mum de significncia entre seus praticantes. As regras dessa arte
mantm todo um complexo de ambigidades e convenes, sem o
qual a vida social no poderia existir. Elas capacitam as pessoas a
compartilharem um estoque implcito de imagens e de idias
que so consideradas certas e mutuamente aceitas. O pensar
feito em voz alta. Ele se torna uma atividade ruidosa, pblica, que
satisfaz a necessidade de comunicao e com isso mantm e con-
solida o grupo, enquanto comunica a caracterstica que cada mem-
bro exige dele. Se ns pensamos antes de falar e falamos para nos
ajudarmos a pensar, ns tambm falamos para fornecer uma reali-
dade sonora presso interior dessas conversaes, atravs das
quais e nas quais ns nos ligamos aos outros. Beckett sintetizou
essa situao em Endgame:
Clov: O que h a para me manter aqui?
Hamm: Conversao.
E o motivo profundo. Toda pessoa que mantiver seus ouvidos
fixos nos lugares onde as pessoas conversam, toda pessoa que l
entrevistas com alguma ateno, perceber que a maioria das con-
versaes se referem a profundos problemas metafsicos - nasci-
mento, morte, injustia, etc. - e sobre leis ticas da sociedade. Por-
tanto, elas provem um comentrio permanente sobre os principais
acontecimentos e caractersticas nacionais, cientficas ou urbanas
e so, por isso, o equivalente moderno do coro grego que, embora
no esteja mais no palco histrico, permanece nas sacadas.
Num universo reificado, a sociedade vista como um sistema
de diferentes papis e classes, cujos membros so desiguais. So-
mente a competncia adquirida determina seu grau de participa-
o de acordo com o mrito, seu direito de trabalhar como mdi-
52
co, como psiclogo, como comerciante, ou de se abster desde
que eles no tenham competncia na matria.
Troca de papis e a capacidade de ocupar o lugar de outro
so muitas maneiras de adquirir competncia ou de se isolar, de
ser diferente. Ns nos confrontamos, pois, dentro do sistema, co-
mo organizaes preestabelecidas, cada uma com suas regras e
regulamentos. Dai as compulses que ns experienciamos e o sen-
timento de que ns no podemos transform-las conforme nossa
vontade. Existe um comportamento adequado para cada circuns-
tncia, uma frmula lingstica para cada confrontao e, nem
necessrio dizer, a informao apropriada para um contexto de-
terminado. Ns estamos presos pelo que prende a organizao e
pelo que corresponde a um tipo de acordo geral e no a alguma
compreenso recproca, a alguma seqncia de prescries, no a
uma seqncia de acordos. A histria, a natureza, todas as coisas
que so responsveis pelo sistema, so igualmente responsveis
pela hierarquia de papis e classes, para sua solidariedade. Cada
situao contm uma ambigidade potencial, uma vagueza, duas
interpretaes possveis, mas suas conotaes so negativas, elas
so obstculos que ns devemos superar antes que qualquer coisa
se tome clara, precisa, totalmente sem ambigidade. Isso conse-
guido pelo processamento da informao, pela ausncia de envol-
vimento do processador e pela existncia de canais adequados. O
computador serve como o modelo para o tipo de relaes que so,
ento, estabelecidas e sua nacionalidade, podemos ao menos es-
perar, a racionalidade do que computado.
O contraste entre os dois universos possui um impacto psico-
lgico. Os limites entre eles dividem a realidade coletiva, e, de fato,
a realidade fsica, em duas. facilmente constatvel que as cin-
cias so os meios pelos quais ns compreendemos o universo reifi-
cado, enquanto as representaes sociais tratam com o uni verso
consensual. A finalidade do primeiro estabelecer um mapa das
foras, dos objetos e acontecimentos que so independentes de
nossos desejos e fora de nossa conscincia e aos quais ns de-
vemos reagir de modo imparcial e submisso. Pelo fato de ocultar
valores e vantagens, eles procuram encorajar preciso intelectual
e evidncia emprica. As representaes, por outro lado, restau-
ram a conscincia coletiva e lhe do forma, explicando os objetos e
acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessveis a qual-
quer um e coincidem com nossos interesses imediatos. Eles esto,
53
conforme William James, interessados em: a realidade prtica,
realidade para ns mesmos; e para se conseguir isso, um obj eto
deve no apenas aparecer, mas ele deve parecer tanto interessante
como importante. O mundo, cujos objetos no sejam nem interes-
santes, nem importantes, ns o tratamos apenas negativamente,
ns o rotulamos como irreal (W. James, 1890/1980: 295).
O uso de uma linguagem de imagens e de palavras que se tor-
naram propriedade comum atravs da difuso de idias existentes
d vida e fecunda aqueles aspectos da sociedade e da natureza com
os quais ns estamos aqui interessados. Sem dvida - e isso o que
eu decidi mostrar - a natureza especfica das representaes ex-
pressa a natureza especifica do universo consensual, produto do
qual elas so e ao qual elas pertencem exclusivamente. Disso resulta
que a psicologia social seja a cincia de tais universos. Ao mesmo
tempo, ns vemos com mais clareza a natureza verdadeira das
ideologias, que de facilitar a transio de um mundo a outro, isto
, de transformar categorias consensuais em categorias reificadas e
de subordinar as primeiras s segundas. Por conseguinte, elas no
possuem uma estrutura especifica e podem ser percebidas tanto
como representaes, como cincias. assim que elas chegam a
interessar tanto sociologia, como histria.
3. O familiar e o no-familiar
4.
Para se compreender o fenmeno das representaes sociais,
contudo, ns temos de iniciar desde o comeo e progredir passo a
passo. At esse ponto, eu no fiz nada mais que sugerir certas re-
formas e tentar defend-las. Eu no poderia deixar de enfatizar de-
terminadas idias, caso quisesse defender o ponto de vista que eu
estava sustentando. Mas, ao fazer isso, demonstrei que:
a) as representaes sociais devem ser vistas como
uma atmosfera, em relao ao indivduo ou ao
grupo;
b) as representaes so, sob certos aspectos, espe-
cficas de nossa sociedade.
Por que criamos ns essas representaes? Em nossas razes
de cri-las, o que explica suas propriedades cognitivas? Estas so
as questes que irei abordar em primeiro lugar. Ns poderamos
54
responder recorrendo a trs hipteses tradicionais: (1) a hiptese
da desiderabilidade, isto , uma pessoa ou um grupo procura criar
imagens, construir sentenas que iro tanto revelar, como ocultar
sua ou suas intenes, sendo essas imagens e sentenas distor-
es subjetivas de uma realidade objetiva; (2) a hiptese do dese-
quilbrio, isto , todas as ideologias, todas as concepes de mun-
do so meios para solucionar tenses psquicas ou emocionais,
devidas a um fracasso ou a uma falta de integrao social; so,
portanto, compensaes imaginrias, que teriam a finalidade de
restaurar um grau de estabilidade interna; (3) a hiptese do con-
trole, isto , os grupos criam representaes para filtrar a informa-
o que provem do meio ambiente e dessa maneira controlam o
comportamento individual. Elas funcionam, pois, como uma esp-
cie de manipulao do pensamento e da estrutura da realidade,
semelhantes queles mtodos de controle comportamental e de
propaganda que exercem uma coero forada em todos aqueles
a quem eles esto dirigidos.
Tais hipteses no esto totalmente desprovidas de verdade.
As representaes sociais podem, na verdade, responder a deter-
minada necessidade; podem responder a um estado de desequil-
brio; e podem, tambm, favorecer a dominao impopular, mas
impossvel de erradicar, de uma parte da sociedade sobre outra.
Mas essas hipteses tm, contudo, a fraqueza comum de serem
demasiado gerais; elas no explicam por que tais funes devem
ser satisfeitas por esse mtodo de compreender e de comunicar e
no por algum outro, como pela cincia ou a religio, por exemplo.
Devemos, pois, procurar uma hiptese diferente, menos geral e
mais de acordo com o que os pesquisadores desse campo tm ob-
servado. Alm do mais, por necessidade de espao, eu no posso
nem elaborar mais longamente minhas reservas, nem justificar
minha teoria. Deverei expor, sem querer causar mais problemas,
uma intuio e um fato que eu creio que sejam verdadeiros, isto ,
que a finalidade de todas as representaes tomar familiar algo
no-familiar, ou a prpria no-familiaridade.
O que eu quero dizer que os universos consensuais so lo-
cais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer ris-
co, atrito ou conflito. Tudo o que dito ou feito ali, apenas confirma
as crenas e as interpretaes adquiridas, corrobora, mais do que
55
contradiz, a tradio. Espera-se que sempre aconteam, sempre de
novo, as mesmas situaes, gestos, idias. A mudana como tal
somente percebida e aceita desde que ela apresente um tipo
de vivncia e evite o murchar do dilogo, sob o peso da repetio.
Em seu todo, a dinmica das relaes uma dinmica de familiari-
zao, onde os objetos, pessoas e acontecimentos so percebidos e
compreendidos em relao a prvios encontros e paradigmas.
Como resultado disso, a memria prevalece sobre a deduo, o
passado sobre o presente, a resposta sobre o estmulo e as ima-
gens sobre a realidade. Aceitar e compreender o que familiar,
crescer acostumado a isso e construir um hbito a partir disso,
uma coisa; mas outra coisa completamente diferente preferir
isso como um padro de referncia e medir tudo o que acontece e
tudo o que percebido, em relao a isso. Pois, nesse caso, ns
simplesmente no registramos o que tipifica um parisi ense, uma
pessoarespeitvel, uma me, um Complexo de Edipo etc., mas
essa conscincia usada tambm como um critrio para avaliar o
que incomum, anormal e assim por diante. Ou, em outras pala-
vras, o que no-familiar.
Na verdade, para nosso amigo, o homem da rua (ameaado
agora de extino, junto com os passeios pelas caladas, a ser em
breve substitudo pelo homem diante da televiso), a maioria das
opinies provindas da cincia, da arte e da economia, que se refe-
rem a universos reificados, diferem, de muitas maneiras, das opi-
nies familiares, prticas, que ele construiu a partir de traos e pe-
as das tradies cientficas, artsticas e econmicas e diferem da
experincia pessoal e dos boatos. Porque eles diferem, ele tende a
pensar neles como invisveis, irreais - pois o mundo da realidade,
como o realismo na pintura, basicamente resultado das limita-
es e/ou de conveno. Ele, pois, pode experimentar esse senti do
de no-familiaridade quando as fronteiras e/ou as convenes
desaparecerem; quando as distines entre o abstrato e o concre-
to se tomarem confusas; ou quando um objeto, que ele sempre
pensou ser abstrato, repentinamente emerge com toda sua con-
cretude etc. Isso pode acontecer quando ele se defronta com um
quadro da reconstruo fsica de tais entidades puramente nacio-
nais como os tomos e os robs, ou, de fato, com qualquer com-
portamento, pessoa ou relao atpico, que poder impedi-lo de
reagir como ele o faria diante de um padro usual. Ele no encon-
tra o que esperava encontrar e deixado com uma sensao de in-
completude e aleatoriedade. desse modo que os doentes men-
56
tais, ou as pessoas que pertencem a outras culturas, nos incomo-
dam, pois estas pessoas so como ns e contudo no so como
ns; assim ns podemos dizer que eles so sem cultura, brba-
ros, irracionais etc. De fato, todas as coisas, tpicos ou pessoas,
banidas ou remotas, todos os que foram exilados das fronteira de
nosso universo possuem sempre caractersticas imaginrias; e pr-
ocupam e incomodam exatamente porque esto aqui, sem estar
aqui; eles so percebidos, sem ser percebidos; sua irrealidade se
torna aparente quando ns estamos em sua presena; quando sua
realidade imposta sobre ns - como se nos encontrssemos
face a face com um fantasma ou com um personagem fictcio na
vida real; ou como a primeira vez que vemos um computador jo-
gando xadrez. Ento, algo que ns pensamos como imaginao, se
torna realidade diante de nossos prprios olhos; ns podemos ver
e tocar algo que ramos proibidos.
A presena real de algo ausente, a exatido relativa de um
objeto o que caracteriza a no-familiaridade. Algo parece ser vis-
vel sem o ser: ser semelhante, embora sendo diferente, ser acess-
vel e no entanto ser inacessvel. O no-familiar atrai e intriga as pes-
soas e comunidades enquanto, ao mesmo tempo, as alarma, as
obriga a tomar explcitos os pressupostos implcitos que so bsi-
cos ao consenso. Essa exatido relativa incomoda e ameaa, como
no caso de um rob que se comporta exatamente como uma criatura
viva, embora no possua vida em si mesmo, repentinamente se
torna um monstro Frankenstein, algo que ao mesmo tempo fascina
e aterroriza. O medo do que estranho (ou dos estranhos) pro-
fundamente arraigado. Foi observado em crianas dos seis aos
nove meses e certo nmero de jogos infantis so na verdade um
meio de superar esse medo, de controlar seu objeto. Fenmenos
de pnico, de multides muitas vezes provem da mesma causa e
so expressos nos mesmos movimentos dramticos de fuga e mal-
estar. Isso se deve ao fato de que a ameaa de perder os marcos
referenciais, de perder contato como que propicia um sentido de
continuidade, de compreenso mtua, uma ameaa insuportvel.
E quando a alteridade jogada sobre ns na forma de algo que no
exatamente como deveria ser, ns instintivamente a rejeitamos,
porque ela ameaa a ordem estabelecida.
O ato da re-apresentao uni meio de transferir o que nos
perturba, o que ameaa nosso universo, do exterior para o interi-
or,do longnquo para o prximo. A transferncia efetivada pela
57
separao de conceitos e percepes normalmente interligados
e pela sua colocao em um contexto onde o incomum se torna co-
mum, onde o desconhecido pode ser includo em uma categoria
conhecida. Por isso, algumas pessoas iro comparar a uma con-
fisso
a tentativa de definir e tornar mais acessveis as prticas do
psicanalista para com seu paciente - esse tratamento mdico sem
remdio
que parece eminentemente paradoxal a nossa cultura. O
conceito ento separado de seu contexto analtico e transporta-
do a um contexto de padres e penitentes, de sacerdotes confesso-
res e pecadores arrependidos. O mtodo de livre associao , en-
to, ligado s regras da confisso. Dessa maneira, o que primeira-
mente parecia ofensivo e paradoxal, torna-se um processo comum e
normal. A psicanlise no mais que uma forma de confisso. E
posteriormente, quando a psicanlise for aceita e se tomar uma re-
presentao social de pleno direito, a confisso vista, mais ou
menos como uma forma de psicanlise. Uma vez que o mtodo da
livre associao tenha sido separado de seu contexto terico e te-
nha assumido conotaes religiosas, ele cessa de causar surpresa
e mal-estar e toma, em contraposio, um carter absolutamente
comum. E isso no , como poderamos ser tentados a crer, um
simples problema de analogia, mas uma juno real, socialmente
significante, uma mudana de valores e sentimentos.
Nesse caso, como tambm em outros que ns observamos, as
imagens, idias e a linguagem compartilhadas por um determina-
do grupo sempre parecem ditar a direo e o expediente iniciais,
com os quais o grupo tenta se acertar com o no-familiar. O pensa-
mento social deve mais conveno e memria do que razo;
deve mais s estruturas tradicionais do que s estruturas intelec-
tuais ou perceptivas correntes. Denise Jodelet (1989/1991) anali-
sou - em um trabalho infelizmente ainda no publicado - as rea-
es dos habitantes de vrias aldeias s pessoas mentalmente de-
ficientes que eram colocadas em seu meio. Esses pacientes, devi do
sua aparncia quase normal e apesar das instrues que os habi-
tantes da aldeia tinham recebido, continuaram a ser vistos como
estrangeiros, apesar de sua presena ter sido aceita por muitos e
durante muitos anos os pacientes tivessem compartilhado o dia-a-
dia e at as casas desses aldees. Tornou-se ento evidente que as
representaes que eles provocaram derivavam de vises e noes
tradicionais e que eram essas representaes que determinavam
as reaes dos aldees para com eles.
59
58
Contudo, embora ns tenhamos a capacidade de perceber tal
discrepncia, ningum pode livrar-se dela. A tenso bsica entre o
familiar e o no-familiar est sempre estabelecida, em nossos uni-
versos consensuais, em favor do primeiro. No pensamento social, a
concluso tem prioridade sobre a premissa e nas relaes so-
ciais, conforme a frmula adequada de Nelly Stephane, o veredicto
tem prioridade sobre o julgamento. Antes de ver e ouvir a pessoa,
ns j a julgamos; ns j a classificamos e criamos uma imagem
dela. Desse modo, toda pesquisa que fizermos e nossos esforos
para obter informaes que empenharmos somente serviro para
confirmar essa imagem. Mais experimentos de laboratrio corro-
boram essa observao:
Os erros usuais que os sujeitos cometem sugerem que exi s-
te um f ator geral governando a ordem em que determina-
das observaes so feitas. As pessoas parecem estar inclinadas na
direo de confirmar uma concluso, seja ela sua prpria resposta
inicial, ou a que lhe seja dada pelo experimentador para ser
avaliada. Eles buscam determinar se as premissas podem
ser combinadas de tal forma que tornem a concluso verdadei-
ra. Na verdade, isso apenas mostra que a concluso e as premissas
so consistentes e no que a concluso segue das premissas (Wa-
son & Johnson-Laird, 1972: 157).
Quando tudo dito e feito, as representaes que ns fabrica-
mos - duma teoria cientifica, de uma nao, de um objeto, etc. - so
sempre o resultado de um esforo constante de tornar comum e
real algo que incomum (no-familiar), ou que nos d um senti-
mento de no-familiaridade. E atravs delas ns superamos o pro-
blema e o integramos em nosso mundo mental e fsico, que , com
isso, enriquecido e transformado. Depois de uma srie de ajusta-
mentos, o que estava longe, parece ao alcance de nossa mo; o
que parecia abstrato, torna-se concreto e quase normal. Ao
cri-los, porm, no estamos sempre mais ou menos conscientes
de nossas intenes, pois as imagens e idias com as quais ns
compreendemos o no-usual (incomum) apenas trazem-nos de
volta ao que ns j conhecamos e como qual ns j estvamos fa-
miliarizados h tempo e que, por isso, nos d uma impresso se-
gura de algo j visto (dj vu) e j conhecido (dj connu). Bar-
tlett escreve: Como j foi apontado antes, sempre que o material
mostrado visualmente pretende ser representativo de algum obje-
to comum, mas contm caractersticas que so incomuns (no-fa-
59
miliares) comunidade a quem o material apresentado, essas
caractersticas invariavelmente sofrem transformao em direo
ao que familiar (Bartlett, 1961: 178).
como se, ao ocorrer uma brecha ou uma rachadura no que
geralmente percebido como normal, nossas mentes curem a ferida
e consertem por dentro o que se deu por fora. Tal processo nos
confirma e nos conforta; restabelece um sentido de continuidade
no grupo ou no indivduo ameaado com descontinuidade e falta
de sentido. por isso que, ao se estudar uma representao, ns
devemos sempre tentar descobrir a caracterstica no-familiar que
a motivou, que esta absorveu. Mas particularmente importante
que o desenvolvimento de tal caracterstica seja observada no mo-
mento exato em que ela emerge na esfera social.
O contraste com a cincia marcante. A cincia caminha pelo
lado oposto; da premissa para a concluso, especialmente no
campo da lgica, assim como o objetivo da lei assegurar a priori-
dade do julgamento sobre o veredicto. Mas a lei tem de se apoiar
em um sistema completo de lgica e provas a fim de proceder de
uma maneira que completamente estranha ao processo e fun-
o natural do pensamento em um universo consensual ordinrio.
Ela deve, alm disso, colocar certas leis - no envolvimento, repe-
tio de experimentos, distncia do objeto, independncia da au-
toridade e tradio - que nunca so totalmente aplicadas.
Para tornar possvel a troca de ambos os termos da argumen-
tao, ela cria um meio totalmente artificial, recorrendo ao que
conhecido como a reconstruo racional dos fatos e idias. Para
superar, pois, nossa tendncia de confirmar o que familiar, para
provar o que j conhecido - o cientista deve falsificar, deve ten-
tar invalidar suas prprias teorias e confrontar a evidncia com a
no-evidncia. Mas essa no toda a histria. A lei se tornou mo-
derna e rompeu com o senso comum, a cincia se ocupou com su-
cesso em demolir constantemente a maioria de nossas percep-
es e opinies correntes, em provar que resultados impossveis
so possveis e em desmentir o conjunto central de nossas idias e
experincias costumeiras. Em outras palavras, o objetivo da cin-
cia tomar o familiar no-familiar em suas equaes matemticas,
como em seus laboratrios. E dessa maneira a cincia prova, por
contraste, que o propsito das representaes sociais precisa-
mente o que eu j indiquei anteriormente.
60
4. Ancoragem e objetivao, ou os dois processos
que geram representaes sociais
4.1. Cincia, senso comum e representaes sociais
Cincia e representaes sociais so to diferentes entre si e
ao mesmo tempo to complementares que ns temos de pensar e
falar em ambos os registros. O filsofo francs Bachelard observou
que o mundo em que ns vivemos e o mundo do pensamento no
so um s e o mesmo mundo. De fato, no podemos continuar
desejando um mundo singular e idntico e lutando por consegui-
lo. Ao contrrio do que se acreditava no sculo passado, longe de
serem um antdoto contra as representaes e as ideologias, as
cincias na verdade geram, agora, tais representaes. Nossos
mundos reificados aumentam com a proliferao das cincias. Na
medida em que as teorias, informaes e acontecimentos se multi-
plicam, os mundos devem ser duplicados e reproduzidos a um
nvel mais imediato e acessvel, atravs da aquisio de uma forma
e energia prprias. Com outras palavras, so transferidos a um
mundo consensual, circunscrito e re-apresentado. A cincia era
antes baseada no senso comum e fazia o senso comum menos
comum; mas agora senso comum a cincia tornada comum. Sem
dvida, cada fato, cada lugar comum esconde dentro de sua prpria
banalidade um mundo de conhecimento, determinada dose de
cultura e um mistrio que o fazem ao mesmo tempo compulsivo e
fascinante. Baudelaire pergunta: Pode algo ser mais encantador,
mais frutfero e mais positivamente excitante do que um lugar
comum? E, poderamos acrescentar, mais coletivamente efetivo?
No fcil transformar palavras no-familiares, idias ou seres, em
palavras usuais, prximas e atuais. necessrio, para dar-lhes uma
feio familiar, pr em funcionamento os dois mecanismos de um
processo de pensamento baseado na memria e em concluses
passadas.
O primeiro mecanismo tenta ancorar idias estranhas, redu-
zi-las a categorias e a imagens comuns, coloc-las em um contexto
familiar. Assim, por exemplo, uma pessoa religiosa tenta relacionar
61
uma nova teoria, ou o comportamento de um estranho, a uma es-
cala religiosa de valores. O objetivo do segundo mecanismo obje-
tiv-los, isto , transformar algo abstrato em algo quase concreto,
transferir o que est na mente em algo que exista no mundo fsico.
As coisas que o olho da mente percebe parecem estar diante de
nossos olhos fsicos e um ente imaginrio comea a assumir a rea-
lidade de algo visto, algo tangvel. Esses mecanismos transformam
o no-familiar em familiar, primeiramente transferindo-o a nossa
prpria esfera particular, onde ns somos capazes de compar-lo
e interpret-lo; e depois, reproduzindo-o entre as coisas que ns
podemos ver e tocar, e, conseqentemente, controlar. Sendo que as
representaes so criadas por esses dois mecanismos, essencial
que ns compreendamos como funcionam.
Ancoragem - Esse um processo que transforma algo estra-
nho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de
categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que
ns pensamos ser apropriada. quase como que ancorar um bote
perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de nosso espao
social. Assim, para os aldees do estudo de Denise Jodelet, os do-
entes mentais colocados em seu meio pela associao mdica fo-
ram imediatamente julgados por padres convencionais e compa-
rados a idiotas, vagabundos, epilpticos, ou aos que, no dialeto lo-
cal, eram chamados de rogues(maloqueiro). No momento em que
determinado objeto ou idia comparado ao paradigma de uma
categoria, adquire caractersticas dessa categoria e re-ajustado
para que se enquadre nela. Se a classificao, assim obtida, geral-
mente aceita, ento qualquer opinio que se relacione com a cate-
goria ir se relacionar tambm com o objeto ou com a idia. Por
exemplo, a idia dos aldees mencionados acima sobre os idiotas,
vagabundos e epilpticos, foi transferida, sem modificao, aos
doentes mentais. Mesmo quando estamos conscientes de alguma
discrepncia, da relatividade de nossa avaliao, ns nos fixamos
nessa transferncia, mesmo que seja apenas para podermos garan-
tir um mnimo de coerncia entre o desconhecido e o conhecida.
Ancorar , pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas
que no so classificadas e que no possuem nome so estranhas,
no existentes e ao mesmo tempo ameaadoras. Ns experimenta-
mos uma resistncia, um distanciamento, quando no somos ca-
pazes de avaliar algo, de descrev-lo a ns mesmos ou a outras
pessoas, O primeiro passo para superar essa resistncia, em dire-
62
o conciliao de um objeto ou pessoa, acontece quando ns
somos capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma determi-
nada categoria, de rotul-lo com um nome conhecido. No momento
em que ns podemos falar sobre algo, avali-lo e ento comunic-lo
- mesmo vagamente, como quando ns dizemos de algum que ele
inibido - ento ns podemos representar o no-usual em nosso
mundo familiar, reproduzi-lo como uma rplica de um modelo fami-
liar. Pela classificao do que inclassificvel, pelo fato de se dar
um nome ao que no tinha nome, ns somos capazes de imagin-
lo, de represent-lo. De fato, representao , fundamentalmente,
um sistema de classificao e de denotao, de alocao de ca-
tegorias e nomes. A neutralidade proibida, pela lgica mesma do
sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um valor positivo ou
negativo e assumir um determinado lugar em uma clara escala hie-
rrquica. Quando classificamos uma pessoa entre os neurticos, os
judeus ou os pobres, ns obviamente no estamos apenas colocan-
do um fato, mas avaliando-a e rotulando-a E neste ato, ns revela-
mos nossa teoria da sociedade e da natureza humana.
Em minha opinio, esse um fator vital na psicologia social,
que no recebeu toda ateno que merece; de fato, os estudos
existentes dos fenmenos de avaliao, classificao e categori-
zao (Eiser & Stroebe, 1972) e assim por diante, no conseguem
levar em considerao o substrato (os pressupostos) de tais fen-
menos, ou dar-se conta de que eles pressupem uma representa-
o de seres, objetos e acontecimentos. Na verdade, o processo
de representao envolve a codificao, at mesmo dos estmu-
los fsicos, em uma categoria especifica, como uma pesquisa sobre
a percepo das cores, em diferentes culturas, tem revelado. Na
verdade, os estudiosos admitem que as pessoas, quando se lhes
mostram diferentes cores, as percebem em relao a um pa-
radigma - embora tal paradigma possa ser-lhes totalmente des-
conhecido - e as classificam atravs de uma imagem mental (Ros-
ch,1977). De fato, uma das lies que a epistemologia con-
tempornea nos ensinou que todo sistema de categorias pres-
supe uma teoria que o defina e o especifique e especifique o seu
uso. Quando tal sistema desaparece, ns podemos presumir que
a teoria tambm desapareceu. Deixem-nos, porm, continuar sis-
tematicamente. Classificar algo significa que ns o confinamos a
um conjunto de comportamentos e regras que estipulam o que ,
ou no , permitido, em relao a todos os indivduos pertencentes
63
a essa classe. Quando classificamos uma pessoa como marxista,
diabo marinho ou leitor do The Times, ns o confinamos a um con-
junto de limites lingsticos, espaciais e comportamentais e a cer-
tos hbitos. E se ns, ento, chegamos ao ponto de deix-lo saber o
que ns fizemos, ns levaremos nossa interferncia ao ponto de
influenci-lo, pelo fato de formularmos exigncias especificas re-
lacionadas a nossas expectativas. A principal fora de uma classe, o
que a torna to fcil de suportar, o fato de ela proporcionar um
modelo ou prottipo apropriado para representar a classe e uma
espcie de amostra de fotos de todas as pessoas que supostamen-
te pertenam a ela. Esse conjunto de fotos representa uma espcie
de caso-teste, que sintetiza as caractersticas comuns a um nme-
ro de casos relacionados, isto , o conjunto , de um lado, uma
sntese idealizada de pontos salientes e, de outro lado, uma matriz
icnica de pontos facilmente identificveis. Muitos de ns, por
conseguinte, temos, como nossa representao visual de um cida-
do francs, a imagem de uma pessoa de estatura abaixo do
normal, usando um bon e carregando uma grande pea de po
francs.
Categorizar algum ou alguma coisa significa escolher um dos
paradigmas estocados em nossa memria e estabelecer uma rela-
o positiva ou negativa com ele. Quando ns sintonizamos o r-
dio no meio de um programa, sem conhecer que programa , ns
supomos que uma novela se suficientemente parecido com
P, quando P corresponde ao paradigma de uma novela, isto ,
onde h dilogo, enredo, etc. A experincia mostra que muito
mais fcil concordar com o que constitui um paradigma, do que
com o grau de semelhana de uma pessoa com esse paradigma. Da
pesquisa de Denise Jodelet se percebe que, embora os aldees fos-
sem uniformes com respeito classificao geral dos doentes
mentais que viviam na aldeia, eles se mostravam bem mais discor-
dantes em sua opinio no referente semelhana de cada um dos
pacientes em relao ao caso teste, aceito em sua generalidade.
Quando se fazia alguma tentativa para definir este caso teste, inu-
merveis discrepncias vinham luz, que no eram normalmente
bvias, graas cumplicidade de todos os interessados.
64
Pode-se dizer, contudo, que em sua grande maioria essas
classificaes so feitas comparando as pessoas a um prottipo,
geralmente aceito como representante de uma classe e que o pri -
meiro definido atravs da aproximao, ou da coincidncia com o
ltima Desse modo, ns dizemos de certas personalidades - de
Gaulle, Maurice Chevalier, Churchill, Einstein, etc. - que eles so
representativos de uma nao, de polticos e de cientistas e ns
classificamos outros polticos ou cientistas em relao a eles. Se
verdade que ns classificamos e julgamos as pessoas e coisas
comparando-os com um prottipo, ento ns, inevitavelmente,
estamos inclinados a perceber e a selecionar aquelas caracters-
ticas que so mais representativas desse prottipo, exatame n-
te como os aldees de Denise Jodelet estavam mais claramente
conscientes da fala e do comportamento esquisito dos doentes
mentais, durante os dez ou vinte anos de sua estadia l, do que da
gentileza, interesse e humanidade generalizados dessas desafor-
tunadas pessoas.
Na verdade, qualquer pessoa que tenha sido jornalista, socilo-
go ou psiclogo clnico, sabe como a representao de tal ou qual
gesto, ocorrncia ou palavra, pode confirmar uma noticia ou um
diagnstico. A ascendncia do caso teste deve-se, penso eu, a sua
concretude, a uma espcie de vitalidade que deixa uma marca to
profunda em nossa memria, que somos capazes de us-lo aps
isso como um referencial contra o qual ns medimos casos indivi-
duais e qualquer imagem que se parea com ele, mesmo de longe.
Por conseguinte, cada caso teste e cada imagem tpica contm o
abstrato no concreto, que os possibilita, posteriormente, a conse-
guir o objetivo fundamental da sociedade: criar classes a partir dos
indivduos. Desse modo, ns no podemos nunca dizer que conhe-
cemos um indivduo, nem que ns tentamos compreend-lo, mas
somente que ns tentamos reconhec-lo, isto , descobrir que tipo
de pessoa ele , a que categoria pertence e assim por diante. Isso
concretamente significa que ancorar implica tambm a prioridade
do veredicto sobre o julgamento e do predicado sobre o sujeito. O
prottipo a quintessncia de tal prioridade, pois favorece opinies
j feitas e geralmente conduz a decises super apressadas.
Tais decises so geralmente conseguidas por uma dessas
duas maneiras: generalizando ou particularizando. Algumas vezes,
65
uma opinio j feita vem imediatamente mente e ns tentamos
descobrir a informao, ou o particular que se ajuste a ela; outras
vezes, ns temos determinado particular em mente e tentamos
conseguir uma imagem precisa dele. Generalizando, ns re-
duzimos as distncias. Ns selecionamos uma caracterstica alea-
toriamente e a usamos como uma categoria: judeu, doente mental,
novela, nao agressiva, etc. A caracterstica se torna, como se re-
almente fosse, co-extensiva a todos os membros dessa categoria.
Quando positiva, ns registramos nossa aceitao; quando ne-
gativa, nossa rejeio. Particularizando, ns mantemos a distncia
e mantemos o objeto sob anlise, como algo divergente do pro-
ttipo. Ao mesmo tempo, tentamos descobrir que caracterstica,
motivao ou atitude o torna distinto. Ao estudar as representa-
es sociais da psicanlise, eu tive possibilidade de observar como a
imagem bsica do psicanalista podia, atravs da exagerao de
uma caracterstica especfica - sade, status, inflexibilidade -, ser
modificada e particularizada, at chegar a produzir a do psicana-
lista americano e que algumas vezes essas caractersticas eram
enfatizadas conjuntamente. De fato, a tendncia para classificar,
seja pela generalizao, ou pela particularizao, no , de nenhum
modo, uma escolha puramente intelectual, mas reflete uma atitude
especfica para com o objeto, um desejo de defini -lo como normal
ou aberrante. isso que est em jogo em todas as classificaes de
coisas no-familiares - a necessidade de defini-las como con-
formes, ou divergentes, da norma. Ademais, quando ns falamos
sobre similaridade ou divergncia, identidade ou diferena, ns
estamos j dizendo precisamente isso, mas de uma maneira
descomprometida, que est desprovida de conseqncias sociais.
Existe uma tendncia, entre psiclogos sociais, de ver a clas-
sificao como uma operao analtica, envolvendo uma espcie
de catlogo de caractersticas separadas - cor da pele, tipo de ca-
belo, formato do crnio e do nariz, etc. se for uma questo de raa
- com as quais o indivduo comparado e depois includo na cate-
goria da qual ele possui mais caractersticas em comum. Em outras
palavras, ns julgaremos sua especificidade, ou no-especificida-
de, sua similaridade ou diferena, de acordo com uma caractersti-
ca ou outra. E no nos admiremos que tal operao analtica tenha
sido assumida, pois somente exemplos de laboratrio foram estu-
dados at agora e apenas sistemas de classificao que no pos-
suem relao com o substrato das representaes sociais, como
66
por exemplo, a viso coletiva do que est sendo ento classificado.
E devido a essa tendncia que eu sinto que devo dizer algo mais
sobre minhas prprias observaes sobre representaes sociais,
que mostraram que, quando ns classificamos, ns sempre faze-
mos comparaes com um prottipo, sempre nos perguntamos se
o objeto comparado normal, ou anormal, em relao a ele e ten-
tamos responder questo: ele como deve ser, ou no?
Essa discrepncia tem conseqncias prticas. Pois, se mi -
nhas observaes esto corretas, ento todos nossos preconcei-
tos, sejam nacionais, raciais, geracionais ou quaisquer que al -
gum tenha, somente podem ser superados pela mudana de nos-
sas representaes sociais da cultura, da natureza humana e
assim por diante. Se, por outro lado, a viso dominante que a
correta, ento a nica coisa que precisamos fazer persuadir os
grupos ou indivduos contrrios, que eles possuem uma quantida-
de enorme de caractersticas em comum, que eles so, de fato,
espantosamente semelhantes e com isso ns nos livramos de clas-
sificaes profundas e rpidas e de esteretipos mtuos. O suces-
so bastante limitado desse projeto at essa data, contudo, pode su-
gerir que o outro digno de ser tentado.
Por outro lado, impossvel classificar sem, ao mesmo tempo,
dar nomes. Na verdade, essas so duas atividades distintas. Em
nossa sociedade, nomear, colocar um nome em alguma coisa ou em
algum, possui um significado muito especial, quase solene. Ao
nomear algo, ns o libertamos de um anonimato perturbador,
para dot-lo de uma genealogia e para inclu-lo em um complexo
de palavras especficas, para localiz-lo, de fato, na matriz de iden-
tidade de nossa cultura.
De fato, o que annimo, o que no pode ser nomeado, no se
pode tornar uma imagem comunicvel ou ser facilmente ligado a
outras imagens. relegado ao mundo da confuso, incerteza e
inarticulao, mesmo quando ns somos capazes de classific-lo
aproximadamente como normal ou anormal. Claudine Herzlich
(Herzlich, 1973), em um estudo sobre representaes sociais da
sade e da doena, analisou admiravelmente esse aspecto alusivo
dos sintomas, as tentativas muitas vezes fracassadas que todos
ns fazemos para prend-los pela fala e a maneira como eles esca-
pam de nossas garras, como um peixe escapa das malhas largas
de uma rede. Dar nome, dizer que algo isso ou aquilo - se neces-
67
srio, inventar palavras para esse fim - nos possibilita construir
uma malha que seja suficientemente pequena para impedir que o
peixe escape e desse modo nos d a possibilidade de representar
essa realidade. O resultado sempre algo arbitrrio mas, desde
que um consenso seja estabelecido, a associao da palavra com a
coisa se torna comum e necessria.
De modo geral, minhas observaes provam que dar nome a
uma pessoa ou coisa precipit-la (como uma soluo qumica
precipitada) e que as conseqncias da resultantes so trplices: a)
uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e adquire
certas caractersticas, tendncias etc.; b) a pessoa, ou coisa, torna-
se distinta de outras pessoas ou objetos, atravs dessas caracters-
ticas e tendncias; c) a pessoa ou coisa toma-se o objeto de uma
conveno entre os que adotam e partilham a mesma conveno.
O estudo de Claudine Herzlich revela que o rtulo convencional
fadiga relaciona um conjunto de sintomas vagos a certos pa-
dres sociais e individuais, distingue-os dos conceitos de doena e
sade e toma-os aceitveis, quase justificveis, nossa socieda-
de. E, pois, permitido falar sobre nossa fadiga, dizer que estamos
sofrendo de cansao e reclamar certos direitos que, normalmente,
em uma sociedade baseada no trabalho e bem-estar, seriam proi-
bidos. Em outras palavras, algo que era antes negado agora ad-
mitido.
Fui capaz de fazer eu mesmo uma observao semelhante.
Percebi que termos psicanalticos como neurose ou complexo
davam consistncia e mesmo realidade a estados de tenso, desa-
justamento, de alienao mesmo, que costumavam ser vistos
como meio-caminho entre a loucura e a sanidade, mas nunca
eram levados muito a srio. Era bvio que, na medida em que re-
cebiam um nome, eles paravam de incomodar. A psicanlise
tambm responsvel pela proliferao de termos derivados de um
modelo nico, de tal modo que ns vemos um sintoma psquico
rotulado complexo de timidez, complexo de gmeos, com-
plexo de poder, complexo de Sardanpalo que, est claro, no
so termos psicanalticos, mas palavras cunhadas para imit-los.
Ao mesmo tempo, o vocabulrio psicanaltico se ancora no voca-
bulrio da linguagem do dia-a-dia e toma-se, assim, socializado.
Tudo o que era incmodo e enigmtico sobre essas teorias est re-
lacionado a sintomas, ou a pessoas, que eram vistas como algo
68
que incomodava ou perturbava, com o objetivo de construir ima-
gens estveis, dentro de um contexto organizado, que no tem ab-
solutamente nada de perturbador em si mesmo.
Na realidade, dada uma identidade social ao que no estava
identificado- o conceito cientifico torna-se parte da linguagem
comum e os indivduos ou sintomas no so mais que termos tc-
nicos familiares e cientficos. E dado um sentido, ao que antes no
o tinha, no mundo consensual. Poderamos quase dizer que essa
duplicao e proliferao de nomes corresponde a uma tendncia
nominalstica, a uma necessidade de identificar os seres e coisas,
ajustando-os em uma representao social predominante. Cha-
mamos antes a ateno multiplicao de complexos que acom-
panhou a popularizao da psicanlise e tomou o lugar de expres-
ses correntes, tais como timidez, autoridade, irmos, etc.
Com isso, os que falam e os de quem se fala so forados a entrar
em uma matriz de identidade que eles no escolheram e sobre a
qual eles no possuem controle.
Podemos at mesmo ir ao ponto de sugerir que essa a ma-
neira como todas as manifestaes normais e divergentes da exis-
tncia social so rotuladas - indivduos e grupos so estigmatiza-
dos, seja psicolgica, seja politicamente. Por exemplo, quando
ns chamamos uma pessoa, cujas opinies no esto de acordo
com a ideologia corrente, de um inimigo do povo, o termo que, de
acordo com aquela ideologia, sugere uma imagem definida, exclui
essa pessoa da sociedade qual ela pertence. pois evidente que
dar nome no uma operao puramente intelectual, com o obje-
tivo de conseguir uma clareza ou coerncia lgica. uma operao
relacionada com uma atitude social. Tal observao ditada pelo
senso comum e nunca deve ser ignorada, pois ela vlida para
todos os casos e no apenas para os casos excepcionais que eu dei
como exemplos.
Sintetizando, classificar e dar nomes so dois aspectos dessa
ancoragem das representaes. Categorias e nomes partilham do
que o historiador de arte Gombrich chamou de sociedade de con-
ceitos. E no simplesmente em seu contedo, mas tambm em
suas relaes. No nego, de modo algum, o fato de que eles so
naturalmente lgicos e tendem a uma estabilidade e consistncia,
como asseguram Heider e outros. Nem que tal ordem seja prova-
velmente exigente. Posso ajudar, contudo, a observar que essas
69
relaes de estabilidade e consistncia so altamente rarefeitas e
so abstraes rigorosas que no se relacionam, nem direta, nem
operacionalmente, com a criao de representaes. Por outro
lado, relaes diferentes, que so induzidas por padres sociais e
produzem um caleidoscpio de imagens ou emoes, podem ser
vistas como presentes. A amizade parece desempenhar uma parte
importante na psicologia de Fritz Heider, quando ele analisa as re-
laes pessoais (veja o capitulo de Flement nesse volume). Sem
dvida, ele chama isso pelo nome geral de estabilidade, mas deve
ficar claro para todos que, entre os exemplos possveis de estabili-
dade, ele escolheu este como um prottipo para todos os outros.
A famlia outra imagem muito popular para relaes em ge-
ral. Assim, intelectuais e trabalhadores so descritos como irmos;
complexos, como pais; e os neurticos, como filhos (o complexo
o pai do neurtico, como disse algum recentemente em uma
entrevista); e assim por diante. O conflito ocupa o lugar de outro
tipo de relao e est sempre implcito em toda descrio de pares
contrastantes: o que o termo normal implica e o que ele exclui; a
dimenso consciente e inconsciente do individuo; o que ns cha-
mamos sade e o que ns chamamos doena. A hostilidade est
tambm sempre presente, como pano de fundo, quando ns com-
paramos raas, naes ou classes. E relaes de fora e fraqueza
freqentemente definem preferncias, onde a hierarquia abrange
as vrias categorias e nomes. Eu cito aleatoriamente, mas valeria a
pena explorar, em detalhe, as maneiras em que a lgica da lingua-
gem expressa a relao entre os elementos de um sistema de clas-
sificao e o processo de dar nome. Padres mais sugestivos do
que os com que ns estamos agora familiarizados podem emergir.
Nossos padres atuais so, de qualquer modo, muito artifici-
ais de um ponto de vista psicolgico e socialmente vazios de sen-
tido. O fato que se ns tomamos a estabilidade como um tipo de
amizade, ou o conflito como uma hostilidade total, simplesmente
porque os padres so mais acessveis e concretos em tais formas
e podem ser correlacionados com nossos pensamentos e emoes;
temos, pois, maiores possibilidades de express-los ou de
inclu-los em uma descrio que ser facilmente inteligvel a qual-
quer pessoa. esse o resultado da rotinizao -um processo que
nos possibilita pronunciar, ler ou escrever uma palavra ou noo
familiar no lugar de, ou preferencialmente, a uma palavra ou no-
o menos familiar.
70
A esta altura, a teoria das representaes traz duas conse-
qncias. Em primeiro lugar, ela exclui a idia de pensamento ou
percepo que no possua ancoragem. Isso exclui a idia do assim
chamado vis no pensamento ou percepo. Todo sistema de clas-
sificaes e de relaes entre sistemas pressupe uma posio
especifica, um ponto de vista baseado no consenso. E impossvel
ter um sistema geral, sem vieses, assim como evidente que existe
um sentido primeiro para qualquer objeto especifico. Os vieses
que muitas vezes so descritos no expressam, como se diz, um
dficit ou limitao social ou cognitiva, mas uma diferena normal
de perspectiva, entre indivduos ou grupos heterogneos dentro
de uma sociedade. E no podem ser expressos pela simples razo
que seu oposto - a ausncia de um dficit ou de uma limitao
social ou cognitiva - no tem sentido. Isso equivale a admitir a im-
possibilidade de uma psicologia social de um ponto de vista de
Sirius, como os que querem que as coisas sejam como pretendem
que sejam, isto , se colocarem unicamente e ao mesmo tempo,
tanto dentro da sociedade, como observ-la de fora; que afirmavam
que uma das posies, dentro da sociedade, era normal e todas as
outras divergentes dela. Essa uma posio totalmente insusten-
tvel.
Em segundo lugar sistemas de classificao e de nomeao
(classificar e dar nomes) no so, simplesmente, meios de graduar
e de rotular pessoas ou objetos considerados como entidades dis-
cretas. Seu objetivo principal facilitar a interpretao de caracte-
rsticas, a compreenso de intenes e motivos subjacentes s
aes das pessoas, na realidade, formar opinies. Na verdade
esta uma preocupao fundamental. Grupos, assim como indiv-
duos, esto inclinados, sob certas condies, tais como super-
excitao ou perplexidade, ao que ns poderamos chamar de ma-
nias de interpretao. Pois ns no podemos esquecer que inter-
pretar uma idia ou um ser no-familiar sempre requer categori-
as, nomes, referncias, de tal modo que a entidade nomeada possa
ser integrada na sociedade dos conceitos de Gombrich. Ns os
fabricamos com esta finalidade, na medida em que os sentidos
emergem; ns os tornamos tangveis e visveis e semelhantes i-
dias e seres que ns j integramos e com os quais ns estamos
familiarizados. Desse modo, representaes preexistentes so de
certo modo modificadas e aquelas entidades que devem ser re-
presentadas so mudadas ainda mais, de tal modo que adqui-
rem nova existncia.
71
Objetivao - O fsico ingls Maxwell disse, certa vez, que o
que parecia abstrato a uma gerao se torna concreto para a se-
guinte. Surpreendentemente, teorias incomuns, que ningum le-
vava a srio, passam a ser normais, criveis e explicadoras da reali-
dade, algum tempo depois. Como um fato to improvvel, como o
de um corpo fsico produzindo uma reao distncia em um lu-
gar onde ele no est concretamente presente, pode transfor-
mar-se, menos de um sculo depois, em um fato comum, inques-
tionvel - isso ao menos to misterioso, como sua descoberta, e
de conseqncias prticas muito maiores. Poderamos mesmo ir
alm da colocao de Maxwell, acrescentando que o que inco-
mum e imperceptvel para uma gerao, torna-se familiar e bvio
para a seguinte. Isso no se deve simplesmente a passagem do
tempo ou dos costumes, embora ambos sejam provavelmente ne-
cessrios. Essa domesticao o resultado da objetivao, que
um processo muito mais atuante que a ancoragem e que ns va-
mos discutir agora.
Objetivao une a idia de no-familiaridade com a de realida-
de, torna-se a verdadeira essncia da realidade. Percebida primei-
ramente como um universo puramente intelectual e remoto, a ob-
jetivao aparece, ento, diante de nossos olhos, fsica e acess-
vel. Sob esse aspecto, estamos legitimados ao afirmar, com Lewin,
que toda representao torna real - realiza, no sentido prprio do
termo - um nvel diferente da realidade. Esses nveis so criados e
mantidos pela coletividade e se esvaem com ela, no tendo exis-
tncia por si mesmos; por exemplo, o nvel sobrenatural, que em
certo tempo era quase onipresente, agora praticamente inexis-
tente. Entre a iluso total e a realidade total existe uma infinidade
de graduaes que devem ser levadas em considerao, pois ns
as criamos, mas a iluso e a realidade so conseguidas exatamente
do mesmo modo.
A materializao de uma abstrao uma das caractersticas
mais misteriosas do pensamento e da fala. Autoridades polticas e
intelectuais, de toda espcie, a exploram com a fi nalidade de sub-
jugar as massas. Em outras palavras, tal autoridade est funda-
mentada na arte de transformar uma representao na realidade
da representao; transformar a palavra que substitui a coisa, na
coisa que substitui a palavra.
Para comear, objetivar descobrir a qualidade icnica de
uma idia, ou ser impreciso; reproduzir um conceito em uma
imagem. Comparar j representar, encher o que est natural-
72
mente vazio, com substncia. Temos apenas de comparar Deus
com um pai e o que era invisvel, instantaneamente se toma visvel
em nossas mentes, como uma pessoa a quem ns podemos res-
ponder como tal. Um enorme estoque de palavras, que se referem
a objetos especficos, est em circulao em toda sociedade e ns
estamos sob constante presso para prov-los com sentidos con-
cretos equivalentes. Desde que suponhamos que as palavras no
falam sobre nada, somos obrigados a lig-las a algo, a encontrar
equivalentes no-verbais para elas. Assim como se acredita na
maioria dos boatos por causa do provrbio: No h fumaa sem
fogo, assim uma coleo de imagens criada por causa do pro-
vrbio: Ningum fala sobre coisa alguma.
Mas nem todas as palavras, que constituem esse estoque, po-
dem ser ligadas a imagens, seja porque no existem imagens sufi-
cientes facilmente acessveis, seja porque as imagens que so
lembradas so tabus. As imagens que foram selecionadas, devido a
sua capacidade de ser representadas, se mesclam, ou melhor,
so integradas no que eu chamei de um padro de ncleo figurati-
vo, um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um
complexo de idias. Por exemplo, o padro popular da psiqu her-
dado dos psicanalistas est dividido em dois, o inconsciente e o
consciente - reminiscente de dualidades mais comuns, tais como
involuntrio-voluntrio, alma-corpo, interno-externo - localizado,
no espao um sobre o outro. Acontece, assim, que o mais alto, e-
xerce presso sobre o que est abaixo e esta represso o que d
origem aos complexos. Vale tambm a pena notar que os termos
representados so os que so mais conhecidos e mais comumente
empregados. A ausncia, pois, de sexualidade, ou libido, certa-
mente surpreendente, pois ela desempenha uma parte significati-
va na teoria e tem possibilidade de ser fortemente carregada de
um conjunto de imagens. Sendo, contudo, o objeto de um tabu, ela
permanece abstrata. Fui capaz, na verdade, de mostrar que nem
todos os conceitos psicanalticos sofrem tal transformao, que
nem todos so igualmente favorecidos. Parece, ento que a soci-
edade faz uma seleo daqueles aos quais ela concede poderes
figurativos, de acordo com suas crenas e como esto preexistente
de imagens. Por isso afirmei, h algum tempo: Embora um para-
digma seja aceito porque ele possui um forte referencial, sua
aceitao deve-se tambm sua afinidade com paradigmas mais
atuais. A concretude dos elementos desse sistema psquico deriva
73
de sua capacidade de traduzir situaes comuns (Moscovici,
1961/1976).
Isso no implica, de modo algum, que mudanas subseqen-
tes no aconteam. Mas tais mudanas acontecem durante a
transmisso de referenciais familiares, que respondem gradualmen-
te ao que foi recentemente aceito, do mesmo modo que o leito do
rio gradualmente modificado pelas guas que correm entre as
margens.
Uma vez que uma sociedade tenha aceito tal paradigma, ou
ncleo figurativo, ela acha fcil falar sobre tudo o que se relacione
com esse paradigma e devido a essa facilidade as palavras que se
referem ao paradigma so usadas mais freqentemente. Surgem,
ento, frmulas e clichs que o sintetizam e imagens, que eram
antes distintas, aglomeram-se ao seu redor. No somente se fala
dele, mas ele passa a ser usado, em vrias situaes sociais, como
um meio de compreender outros e a si mesmo, de escolher e deci-
dir. Mostrei (Moscovici, 1961/1976) como a psicanlise, uma vez
popularizada, tornou-se uma chave que abria todos os cadeados
da existncia privada, pblica e poltica. Seu paradigma figurativo
foi separado de seu ambiente original atravs de uso contnuo e
adquiriu uma espcie de independncia, do mesmo modo como
acontece com um provrbio bastante comum, que vai sendo gra-
dualmente separado da pessoa que o disse pela primeira vez e tor-
na-se um dito corriqueiro. Quando, pois, a imagem ligada pala-
vra ou idia se torna separada e deixada solta em uma socieda-
de, ela aceita como uma realidade, uma realidade convencional,
clara, mas de qualquer modo uma realidade.
Embora ns todos saibamos que um complexo uma noo
cujo equivalente objetivo bastante vago, ns ainda pensamos e
nos comportamos, como se ele fosse algo que realmente existisse,
no momento em que ns julgamos uma pessoa e a relacionamos a
ele. Ele no simboliza simplesmente sua personalidade, ou sua
maneira de se comportar, mas na verdade o representa, , passa a
constituir
,
sua personalidade complexada e sua maneira de se
comportar. Na verdade, pode-se dizer, sem equvocos, que em to-
dos os casos, uma vez conseguida a transfigurao, a idolatria co-
letiva , ento, uma possibilidade. Todas as imagens podem conter
realidade e eficincia em seus incios e terminar sendo adoradas.
Em nossos dias, o div psicanaltico ou o progresso so exem-
75
74
plos flagrantes desse fato. Isso acontece na medida em que a di s-
tino entre imagem e realidade so esquecidas. A imagem do
conceito deixa de ser um signo e torna-se a rplica da realidade,
um simulacro, no verdadeiro sentido da palavra. A noo, pois, ou a
entidade da qual ela proveio, perde seu carter abstrato, arbitr-
rio e adquire uma existncia quase fsica, independente. Ela passa
a possuir a autoridade de um fenmeno natural para os que a
usam. Esse precisamente o caso do complexo, ao qual tanta rea-
lidade geralmente concedida, quanto a um tomo ou a um aceno
de mo. Esse um exemplo de uma palavra que cria os meios.
O segundo estgio, no qual a imagem totalmente assimilada
e o que percebido substitui o que concebido, o resultado lgi-
co deste estado de coisas. Se existem imagens, se elas so essen-
ciais para a comunicao e para a compreenso social, isso por-
que elas no existem sem realidade (e no podem permanecer
sem ela), do mesmo modo que no existe fumaa sem fogo. Se as
imagens devem ter uma realidade, ns encontramos uma para
elas, seja qual for. Ento, como por uma espcie de imperativo l-
gico, as imagens se tornam elementos da realidade, em vez de ele-
mentos do pensamento. A defasagem entre a representao e o
que ela representa preenchida, as peculiaridades da rplica do
conceito tornam-se peculiaridades dos fenmenos, ou do ambien-
te ao qual eles se referem, tornam-se a referncia real do conceito.
Todos podem, por isso, hoje em dia, perceber e distinguir as re-
presses de uma pessoa, ou seus complexos, como se eles fos-
sem suas caractersticas fsicas.
Nosso ambiente fundamentalmente composto de tais ima-
gens e ns estamos continuamente acrescentando-lhe algo e mo-
dificando-o, descartando algumas imagens e adotando outras.
Mead escreve: Vimos precisamente que o conjunto de imagens
mentais que entra na formao da estrutura dos objetos e que re-
presenta o ajustamento do organismo a ambientes inexistentes
pode servir para a reconstruo do campo objetivo (Mead, 1934).
Quando isso acontece, as imagens no ocupam mais aquela posi-
o especifica, em algum lugar entre palavras, que supostamente
tenham um sentido e objetos reais, aos quais somente ns pode-
mos dar um sentido, mas passam a existir como objetos, so o que
significam.
A cultura - mas no a cincia- nos incita, hoje, a construir rea-
lidades a partir de idias geralmente significantes. Existem razes
bvias para isso, dentre as quais a mais bvia, do ponto de vista da
75
sociedade, apropriar-se e transformar em caracterstica comum
o que originalmente pertencia a um campo ou esfera especfica.
Os filsofos gastaram muito tempo tentando compreender o
processo de transferncia de uma esfera a outra. Sem representa-
es, sem a metamorfose das palavras em objetos, absolutamen-
te impossvel existir alguma transferncia. O que afirmei a respeito
da psicanlise confirmado pela pesquisa meticulosa:
Atravs da objetivao do contedo cientifico da psicanli-
se, a sociedade no confronta mais a psicanlise ou o psic a-
nalista, mas um conjunto de fenmenos que ela tem a liberdade de
tratar como quer. A evidncia de homens particulares tomou-se a e-
vidncia de nossos sentidos, um universo desconhecido
agora um territrio familiar, O indivduo, em contato direto com
esse universo, sem a mediao de peritos ou de sua cincia,
passou de uma relao secundaria com seu objeto para uma rela-
o primria e esse pressuposto indireto de poder uma ao cultu-
ralmente produtiva (Moscovici, 1961/1976: 1O9).
Na verdade, ns encontramos, ento, incorporados em nossa
fala, nossos sentidos e ambiente, de uma maneira annima, ele-
mentos que so preservados e colocados como material comum
do dia-a-dia, cujas origens so obscuras ou esquecidas. Sua reali-
dade um espao vazio em nossa memria - mas no toda reali-
dade uma s? No objetivamos ns de tal modo que esquecemos
que a criao, que a construo material o produto de nossa pr-
pria atividade, que alguma coisa tambm algum? Como afir-
mei: Em ltima anlise, a psicanlise poderia estar morta e sepul-
tada, mas ainda assim, como a Fsica de Aristteles, ela iria permear
nossa viso de mundo e seu jargo seria usado para descrever o
comportamento psicolgico (Moscovici, 1961/1976: 109).
O modelo de toda aprendizagem, em nossa sociedade, a ci-
ncia da fsica matemtica, ou a cincia dos objetos quantificveis,
mensurveis. Desde que o contedo cientfico, mesmo de uma
cincia do homem ou da vida, pressuponha esse tipo de realidade,
todos os seres aos quais ela se refira so concebidos de acordo com
tal modelo. Sendo que a cincia se refere a rgos fsicos e a psican-
lise uma cincia, ento o inconsciente, por exemplo, ou um com-
plexo, sero vistos como rgos do sistema fsico. Desse modo, um
complexo poder ser amputado, desenhado ou percebido. Como se
76
pode perceber, o que vivo assimilado ao que inerte, o subjeti-
vo ao objetivo e o psicolgico ao biolgico. Cada cultura possui
seus prprios instrumentais para transformar suas representa-
es em realidade. Algumas vezes as pessoas, outras os animais,
serviram para tal propsito. Desde o comeo da era mecnica, os
objetos dominaram e ns estamos obsessionados com um ani-
mismo s avessas, que povoa nosso mundo com mquinas, em vez
de criaturas vivas. Podemos, pois, dizer que no referente a comple-
xos, tomos e genes, ns no apenas imaginamos um objeto, mas
criamos, em geral, uma imagem com a ajuda do objeto com o qual
ns os identificamos.
Nenhuma cultura, contudo, possui um instrumento nico, ex-
clusivo. E devido ao fato de que o nosso instrumento est relacio-
nado com os objetos, ele nos encoraja a objetivar tudo o que en-
contramos. Ns personificamos, indiscriminadamente, sentimen-
tos, classes sociais, os grandes poderes, e quando ns escrevemos,
ns personificamos a cultura, pois a prpria linguagem que nos
possibilita fazer isso. Gombrich escreve:
Acontece, pois, que as lnguas indo-europias tendem em
direo a essa configurao particular, que ns chamamos
personificao, pois muitas delas do aos nomes um gnero, que os
tornam inseparveis dos nomes dados a espcies vivas.
Nomes abstratos em grego, em latim, quase sempre assu-
mem um gnero f eminino e desse modo o caminho est a-
berto para que o mundo das idias seja povoado por abs-
traes personif icadas, tais como Vitria, Fortuna ou Justi-
a (Gombrich, 1972).
Mas apenas o acaso que no pode responder pelo uso exten-
sivo que ns fazemos das particularidades da gramtica, nem po-
de explicar sua eficincia.
Isso pode ser feito de uma maneira melhor, atravs da tenta-
tiva de objetivar a prpria gramtica, o que conseguido muito
simplesmente colocando substantivos - que, por definio, se refe-
rem a substncias, a seres - em lugar de adjetivos, advrbios, etc.
Desse modo, atributos ou relaes so transformadas em coisas.
Na verdade, no existe tal coisa como uma represso, pois ela se
refere a uma ao (reprimir a memria), ou um inconsciente, pois
ele um atributo de algo diferente (os pensamentos e desejos de
uma pessoa). Quando ns dizemos que algum est dominado por
seu inconsciente ou sofre de uma represso como se tivesse bcio
ou dor de garganta, o que ns realmente queremos dizer que
77
este indivduo no est consciente do que faz ou pensa; do mesmo
modo, quando ns dizemos que uma pessoa sofre de ansiedade,
ns queremos dizer que est ansiosa, ou se comporta de uma
maneira ansiosa.
Desde que ns escolhemos, porm, usar um substantivo para
descrever o estado de uma pessoa, dizer que est dominada pelo
seu inconsciente, ou sofre de ansiedade, em vez de dizer que seu
comportamento retrata determinada particularidade (que est in-
consciente ou ansioso), ns estamos, com isso, juntando um de-
terminado nmero de coisas a um determinado nmero de seres
vivos. A tendncia, pois, de transformar verbos em substantivos,
ou o vis pelas categorias gramaticais de palavras com sentidos
semelhantes, um sinal seguro de que a gramtica est sendo ob-
jetivada, de que as palavras no apenas representam coisas, mas
as criam e as investem com suas prprias caractersticas. Nessas
circunstncias, a linguagem como um espelho que pode separar a
aparncia da realidade, separar o que visto do que realmente
existe e do que o representa sem mediao, na forma de uma apa-
rncia visvel de um objeto ou pessoa, ao mesmo tempo que nos
possibilita avaliar esse objeto ou pessoa, como se estes objetos
no fossem distintos da realidade, como se fossem coisas reais - e
particularmente avaliar o seu prprio eu, com algo com que ns
no temos outra maneira de nos relacionarmos. Os nomes, pois,
que inventamos e criamos para dar forma abstrata a substncias
ou fenmenos complexos, tornam-se a substncia ou o fenmeno e
isso que ns nunca paramos de fazer. Toda verdade auto-evi-
dente, toda taxonomia, toda referncia dentro do mundo, repre-
senta um conjunto cristalizado de significncias e tacitamente
aceita nomes; seu silncio precisamente o que garante sua im-
portante funo representativa: expressar primeiro a imagem e
depois o conceito, como realidade.
Para se ter uma compreenso mais clara das conseqncias
de nossa tendncia em objetivar, poderamos analisar fenmenos
sociais to diferentes como a adorao de um heri, a personifica-
co das naes, raas, classes, etc. Cada caso implica uma repre-
sentao social que transforma palavras em carne, idias em po-
deres naturais, naes ou linguagens humanas em uma lingua-
gem de coisas. Acontecimentos recentes mostraram que o resul-
tado de tais transformaes podem ser desastrosas e desencora-
jadoras ao extremo para aqueles de ns que gostariam que todas
78
as tragdias do mundo tivessem um final feliz e de ver o direito
triunfar. A derrota da racionalidade e o fato de a histria ser to
parca em seus finais felizes no nos devem desencorajar de exami-
nar esses fenmenos significativos e principalmente no devem
tirar a convico de que os princpios implcitos so simples e no
diferentes dos que ns analisamos acima. Nossas representaes,
pois, tornam o no-familiar em algo familiar. O que uma maneira
diferente de dizer que elas dependem da memria. A solidez da
memria impede de sofrer modifi caes sbitas, de um lado e de
outro, fornece-lhes certa dose de independncia dos aconteci-
mentos atuais - exatamente como uma riqueza acumulada nos
protege de uma situao de penria.
dessa soma de experincias e memrias comuns que ns
extramos as imagens, linguagem e gestos necessrios para supe-
rar o no-familiar, com suas conseqentes ansiedades. As expe-
rincias e memrias no so nem inertes, nem mortas. Elas so
dinmicas e imortais. Ancoragem e objetivao so, pois, maneiras
de lidar com a memria. A primeira mantm a memria em movi-
mento e a memria dirigida para dentro, est sempre colocando
e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de
acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo
mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira dai concei-
tos e imagens para junt-los e reproduzi-los no mundo exterior,
para fazer as coisas conhecidas a partir do que j conhecido. Seria
oportuno citar Mead aqui uma outra vez: A inteligncia peculiar da
espcie humana reside nesse complexo controle, conseguido pelo
passado (Mead, 1934).
5. Causalidades de direita e de esquerda
5.1. Atribuies e representaes sociais
Farr (1977) mostrou com acerto que existe uma relao en-
tre a maneira como ns concebemos algo para ns mesmos e a
maneira descrevemos aos outros. Vamos, pois, aceitar essa rel a-
o, embora notemos que o problema da causalidade foi sempre
79
um problema crucial para as pessoas interessadas em representa-
es sociais, como Fauconnet, Piaget e, mais modestamente, eu
mesmo. Ns enfocamos o problema, porm, de um ngulo muito
diverso do de nossos colegas americanos - americano usado
aqui em um sentido puramente geogrfico. O psiclogo social do
outro lado do Atlntico baseia suas investigaes na teoria da atri-
buio e est interessado principalmente na maneira como ns
atribumos causalidade as pessoas ou coisas que nos rodeiam.
Certamente no seria exagero dizer que suas teorias so baseadas
em um principio nico - o ser humano pensa como um estatstico -
e que existe somente uma regra em seu mtodo - estabelecer a
coerncia da informao que ns recebemos do meio ambiente.
Nessas circunstncias, grande nmero de idias e imagens - na
realidade, todas as que a sociedade nos apresenta - devem ou en-
quadrar-se com o pensamento estatstico e assim consideradas
como sem valor, pois elas no podem se adequar a ele, ou ento
ofuscar nossa percepo da realidade como de fato . Elas so, por
isso, pura e simplesmente ignoradas.
A teoria das representaes sociais, por outro lado, toma,
como ponto de partida, a diversidade dos indivduos, atitudes e fe-
nmenos, em toda sua estranheza e imprevisibilidade. Seu objeti-
vo descobrir como os indivduos e grupos podem construir um
mundo estvel, previsvel, a partir de tal diversidade. O cientista
que estuda o universo est convencido de que existe l uma or-
dem oculta, sob o caos aparente, e a criana que nunca pra de
perguntar por qu? no est menos segura a esse respeito. Esse
um fato: se, pois, ns procuramos uma resposta ao eterno por-
qu?, isso no se deve fora da informao que ns recebemos,
mas porque ns estamos convencidos de que cada ser e cada ob-
jeto no mundo diferente da maneira como se apresenta. O objeti-
vo ltimo da cincia eliminar esse porqu?, embora as repre-
sentaes sociais tenham grande dificuldade de faz-lo sem ele.
As representaes sociais se baseiam no dito: No existe fu-
maa sem fogo. Quando ns ouvimos ou vemos algo ns, instinti-
vamente, supomos que isso no casual, mas que este algo deve
ter uma causa e um efeito. Quando ns vemos fumaa, ns sabe-
mos que um fogo foi aceso em algum lugar e, para descobrir de
onde vem a fumaa, ns vamos em busca desse fogo. O dito, pois,
80
no uma mera imagem, mas expressa um processo de pensa-
mento, um imperativo - a necessidade de decodificar todos os sig-
nos que existem em nosso ambiente social e que ns no podemos
deixar ss, at que seu sentido, o fogo escondido, no tenha
sido localizado. O pensamento social faz, pois, uso extensivo das
suspeies, que nos colocam na trilha da causalidade.
Poderia dar um grande nmero de exemplos. Os mais interes-
santes so aqueles julgamentos onde os acusados so apresenta-
dos como culpados, malfeitores e criminosos e o processo apenas
serve para confirmar um veredicto preestabelecido. Os cidados
alemes ou russos, que viram seus judeus ou compatriotas sub-
versivos serem enviados aos campos de concentrao, ou embar-
cados para as Ilhas Gulag, certamente no pensavam que eles fos-
sem inocentes. Eles deviam ser culpados, pois foram presos. Boas
razes para serem presos foram atribudas (a palavra boa) a eles,
pois era impossvel crer que eles tivessem sido acusados, maltra-
tados e torturados por absolutamente nenhuma razo.
Tais exemplos de manipulao, para no dizer de distoro
da causalidade, provam que a cortina de fumaa no tem sem-
pre como finalidade esconder astutamente medidas repressivas,
mas podem, na verdade, chamar nossa ateno para elas, de tal
modo que os espectadores sejam levados a supor que haveria,
certamente, boas razes para acender o fogo. Os tiranos so, ge-
ralmente, especialistas em psicologia e sabem que as pessoas iro
caminhar, automaticamente, da punio at ao criminoso e ao cri-
me, a fim de fazer essas estranhas e horrveis ocorrncias, compa-
tveis com as idias de julgamento e justia.
5.2. Explicaes bi-causais e mono-causais
A teoria das representaes sociais assume, baseada em inu-
merveis observaes, que ns, em geral, agimos sob dois conjun-
tos diferentes de motivaes. Em outras palavras, que o pensa-
mento bi-causal e no mono-causal e estabelece, simultanea-
mente, uma relao de causa e efeito e uma relao de fins e meios.
aqui onde nossa teoria difere da teoria de atribuio e onde, nessa
dualidade, as representaes sociais diferem da cincia.
Quando um fenmeno se repete, ns estabelecemos uma cor-
81
relao entre ns mesmos e ele, e ento encontramos alguma ex-
plicao significativa que sugere a existncia de uma regra ou lei,
ainda no descoberta. Nesse caso, a transio da correlao para a
explicao no estimulada por nossa percepo da correlao,
ou pela repetio dos acontecimentos, mas por nossa percepo
de uma discrepncia entre esta correlao e outras, entre o fen-
meno que ns percebemos e o que ns temos que prever, entre um
caso especfico e um prottipo, entre a exceo e a regra; na ver-
dade, para usar os termos que eu empreguei anteriormente, entre
o familiar e o no-familiar. Esse , de fato, o fator decisivo. Para citar
Maclver: a exceo, o desvio, a interferncia, a anormalidade,
que estimula nossa curiosidade e parece exigir uma explicao. E
ns, muitas vezes, atribumos a alguma causa especifica todo o
acontecimento que caracteriza a situao nova, ou no prevista, ou
mudada (Maclver, 1992).
Ns vemos uma pessoa, ou coisa, que no se enquadra em
nossas representaes, que no coincide com o prottipo (uma
mulher primeira-ministra), ou um vazio, uma ausncia (uma cida-
de sem armazns), ou ns encontramos um muulmano em uma
comunidade catlica, um mdico (phisician) sem usar coi-
sasfsicas (physics) (como um psicanalista, por exemplo), etc.
Em cada caso, ns somos provocados a encontrar uma explicao.
De um lado, existe uma falta de reconhecimento (recognition); de
outro lado, existe uma falta de conhecimento (cognition). De um lado,
uma falta de identidade; de outro, uma afirmao de no-identida-
de. Nessas circunstncias, ns somos sempre obrigados a parar
e pensar e finalmente a admitir que ns no sabemos por que
essa pessoa se comporta desse modo, ou que esse objeto tenha
tal ou tal efeito.
Como podemos responder a esse desafio? Essa causalidade
primria, para a qual ns nos voltamos espontaneamente, depen-
de de finalidades. Sendo que a maioria de nossas relaes se do
com seres humanos, ns somos confrontados com intenes e
propsitos de outros que, por razes prticas, no podemos enten-
der. Mesmo quando nosso carro no funciona, ou o aparelho que
estamos usando no laboratrio no funciona, de nada nos adianta
pensar que o carro no quer andar, que o aparelho irritado recu-
sa colaborar e desse modo no nos permite continuar com nosso
experimento. Tudo o que as pessoas fazem, ou dizem, cada con-
tratempo normal, parece ter um sentido, inteno ou propsito
82
ocultos, que ns tentamos descobrir. Do mesmo modo, ns temos
a tendncia de interpretar as polmicas ou controvrsias intelec-
tuais como conflitos pessoais e pensar qual seria a razo da animo-
sidade dos protagonistas, que motivos pessoais esto por detrs
destes antagonismos.
Em vez de dizer: Por que razo ele se comporta desse mo-
do?, ns dizemos: Com que propsito ele se comporta assim? e
a procura de uma causa se torna a procura de motivos e intenes.
Em outras palavras, ns interpretamos, procuramos animosidades
ocultas e motivos obscuros, tais como dio, inveja ou ambio.
Ns estamos sempre convencidos que as pessoas no agem por
acaso
,
que tudo o que fazem corresponde a um plano prvio. Daqui
provm a tendncia generalizada de personificar motivos e in-
centivos, de representar uma causa imaginariamente, como quan-
do ns dizemos de um dissidente poltico que ele um traidor,
um inimigo do povo, ou quando usamos o termo Complexo de
dipo para descrever determinado tipo de comportamento, etc.
A noo torna-se quase que um agente fsico, um ator que, em
certas circunstncias, possui uma inteno precisa. E essa noo
termina por corporificar a prpria coisa, em vez de ser vista como
uma representao de nossa percepo particular dessa coisa
Causalidade secundria, que no espontnea, uma causa-
lidade eficiente. ditada por nossa educao, nossa linguagem,
nossa viso cientfica do mundo e tudo isso nos leva a desvestir as
aes
,
conversaes e fenmenos do mundo exterior, de sua por-
o de intencionalidade e responsabilidade consider-los apenas
como dados experimentais, que devem ser vistos imparcialmente.
Tendemos, assim, a juntar toda a informao possvel a respeito
destes dados, de tal modo que possamos classific-los em uma
determinada categoria e desse modo identificar sua causa, expli-
c-los. Tal a atitude do historiador, do psiclogo, ou mesmo de
qualquer cientista. Por exemplo, ns inferimos do comportamento
de uma pessoa se ela pertence classe mdia ou baixa, se esqui-
zofrnica ou paranica: explicamos, ento, seu comportamento
atual. Indo do efeito para causa, na base da informao que coleta-
mos, ns relacionamos um ao outro, atribumos efeitos a causas
especficas. Heider j mostrou, h muito tempo, que o comporta-
mento de uma pessoa provm de dois conjuntos diferentes de mo-
83
tivaes internas e externas e que o conjunto das motivaes ex-
ternas provm no da pessoa, mas de seu ambiente, de seu status
social e das presses que outras pessoas exercem sobre ela. Desse
modo, a pessoa que vota em um partido poltico, faz isso por con-
vico prpria; mas em alguns pases tal voto pode ser obrigatrio e
votar em um partido diferente, ou abster-se de votar, implica ex-
pulso ou priso.
Assim, para sintetizar a maneira como o processo de atribui-
o opera, podemos dizer que, primeiro e principalmente, existe
ali um prottipo que serve como uma barra de medio, para a-
contecimentos ou comportamentos que so considerados como
efeitos. Se o efeito se coaduna com o prottipo, assume-se que ele
possui uma causa exterior
;
se no se coaduna, assume-se que a
causa seja especfica ou interna. Um homem usando um bon,
carregando uma longa pea de po francs sob seus braos, um
francs, pois tal nossa representao desse tipo. Mas se acontece
que essa pessoa um americano, ele no se adqua mais a esse
modelo e ns supomos que seu comportamento singular, ou
mesmo aberrante, pois no est de acordo com o tipo.
Obviamente, tudo isso grosseiramente simplificado; o que
realmente acontece na cabea no to facilmente deduzido. Mas
eu queria tornar esse ponto claro: nas representaes sociais, as
duas causalidades agem conjuntamente, elas se misturam para
produzir caractersticas especificas e ns saltamos constantemen-
te de uma para outra. Por um lado, pelo fato de procurar uma or-
dem subjetiva, por detrs dos fenmenos aparentemente objeti-
vos, o resultado ser uma inferncia; por outro lado, pelo fato de
procurar uma ordem objetiva por detrs de fenmenos aparente-
mente subjetivos, o resultado ser uma atribuio. Por um lado,
ns reconstrumos intenes ocultas para explicar o comporta-
mento da pessoa: essa uma causalidade de primeira pessoa. Por
outro lado, ns procuramos fatores invisveis para explicar o com-
portamento visvel: essa uma causalidade de terceira pessoa.
O contraste entre esses dois tipos de causalidade deve ser en-
fatizado, pois as circunstancias da existncia social so, muitas ve-
zes, manipuladas com o propsito de ressaltar uma ou outra dessas
duas causalidades, como por exemplo, para fazer passar um fim,
como um efeito. Quando os nazistas, portanto, colocaram fogo no
84
Reichstag, fizeram isso para que suas perseguies parecessem
no a execuo de um plano, mas um resultado, cuja causa seria,
supostamente, o incndio colocado por seus inimigos e cuja fuma-
a escondia um fogo muito diferente. No raro uma pessoa pro-
vocar, em uma escala menor, um incndio desse tipo, para obter
promoo, por exemplo, ou para conseguir um divrcio. Alm do mais,
esses exemplos nos possibilitam perceber que as atribuies sem-
pre envolvem uma relao entre fins, ou intenes e meios. Como,
disse Maclver: O porqu da motivao reside, muitas vezes de ma-
neira oculta, por trs do porqu do objetivo (Maclver, 1942).
As cincias biolgicas e sociais tentam reverter a ordem psi-
colgica de duas perguntas e apresentar motivaes como cau-
sas. Quando eles examinam um fenmeno, eles perguntam: A que
propsito ele corresponde? Que funo ele desempenha? Uma vez
estabelecido o propsito, ou funo, eles apresentam o propsito
ou funo como uma causa impessoal e o resultado como o meca-
nismo que eles disparam. Do mesmo modo que Darwin, quando.
descobriu a seleo natural. O termo causalizao seria adequada
nesse caso, sugerindo, como na realidade ele o faz, que os fins esto
disfarados como causas, os meios como efeitos e as intenes
como resultados. Relaes entre indivduos, do mesmo modo que
as relaes entre partidos ou grupos polticos de todo tipo, fazem
extenso uso desse procedimento, sempre que o comporta-1 mento
de outras pessoas deve ser interpretado. Sempre, contudo; a per-
gunta Por que? deve ser respondida. E a resposta dada; muitas
vezes, suficiente para apaziguar as mentes a fim de preservar a
representao ou para convencer uma audincia, que jau estava
suficientemente preparada para ser convencida.
5.3. Causalidade social
Para sintetizar, uma teoria de causalidade social uma teoria
das atribuies e inferncias que os indivduos fazem e tambm,
da transio de uma a outra. Evidentemente, tal transio inse-
parvel da teoria cientifica que lida com esse fenmeno. Os psic-
logos, contudo, tm o hbito de estudar tanto as atribuies, como
as inferncias e de ignorar a transio entre elas. Desse modo, eles
atribuem causas a um ambiente ou a um indivduo, cada um visto
independentemente, o que , evidentemente, to ridculo como
85
estudar a relao de um efeito para com sua causa, sem primeiro,
formular uma teoria, ou definir um paradigma que d conta dessa
relao. Essa atitude muito peculiar possui suas limitaes, como
eu espero provar com o seguinte exemplo.
A teoria de atribuio apresenta certa quantidade de razes
para explicar por que um indivduo atribui certos comportamentos
a outra pessoa e outros comportamentos ao ambiente - o fato de
Pedro ter habilidade para certos jogos, ou ento o fato de ele morar
nas periferias, por exemplo. Como vimos antes, porm, isso est
baseado em um principio nico: o ser humano um estatstico e
seu crebro funciona como um computador infalvel
2
. A psicanli-
se, por outro lado, tomaria tais comportamentos como a simples
racionalizao de sentimentos hostis ou familiares, pois, para o
psicanalista, todas as avaliaes esto baseadas em emoes.
Esse exemplo trivial ilustra com clareza o fato que toda explicao
depende primariamente da idia que ns temos de realidade.
uma idia como essa que governa nossas percepes e as infern-
cias que ns construmos a partir delas. E esta idia governa, da
mesma maneira, nossas relaes sociais. Podemos afirmar, pois,
que quando ns respondemos pergunta por que, ns comea-
mos de uma representao social ou de um contexto geral para o
qual ns fomos levados, a fim de dar essa resposta especifica.
Eis um exemplo concreto: o desemprego, nesse momento,
geral e cada um de ns tem ao menos um homem ou uma mulher
desempregados entre nossos amigos mais ntimos. Por que esse
homem ou mulher no tem trabalho? A resposta a essa pergunta
ir variar de acordo com quem fala. Para alguns, os desemprega-
dos, na verdade, no se preocupam em procurar um trabalho, so
muito exigentes ou, no mnimo, no tm sorte. Para outros, eles
so vitimas de uma recesso econmica, ou de uma sobreposio
injustificada de empregos ou, mais comumente, de uma injustia
inerente economia capitalista. O primeiro, assim, atribui a causa
do desemprego ao indivduo, a sua atitude social, enquanto o se-
gundo a atribui situao econmica e poltica, a seu status so-
cial, a um ambiente que torna essa situao inevitvel. As duas
2
Experimentos feitos por Tversky e Kabneman (1974) tiveram mui to sucesso ao provar
que esse pressuposto infundado e deve sua popularidade a um equvoco que se baseia em
principios artificiais
86
explicaes so totalmente opostas e obviamente provm de
representaes sociais distintas. A primeira representao acena
responsabilidade individual e a energia pessoal os problemas
sociais somente podem ser resolvidos por cada indivduo. A se-
gunda representao acentua a responsabilidade social, denuncia:
a injustia social e prope solues coletivas para problemas indivi-
duais. Shaver notou tais reaes at mesmo nos Estados Unidos.
Atribuies pessoais sobre a razo para a assistncia social
(wel-f are) levam a discursos sobre aproveitadores do assisten-
cialismo, a apelos para voltar aos tempos antigos, para a -
tica protestante, ou para leis com a finalidade de tornar a
assistncia f inanceira obrigatria mais difcil de ser conseguida. A-
tribuies situacionais, por outro lado, vo, mais provavelmente, su-
gerir que a expanso dos empregos, por parte do governo, a melhor
preparao para o trabalho e o aumento de oportunidade educa-
cional para todos, iro propiciar redues mais duradouras
na assistncia pblica (Shaver, 1975: 133).
Contudo, absolutamente no concordo com meu colega ame-
ricano. Eu mesmo reverteria a ordem dos fatores envolvidos, acen-
tuando a primazia das representaes e dizendo que so elas, em
cada caso, as que ditam a atribuio, tanto para o indivduo, quanto
para a sociedade. Ao fazer isso, eu obviamente no nego a idia de
racionalidade e uma manipulao correta da informao recebida,
mas simplesmente afirmo que o que tomado em considerao, as
experincias que ns temos, isto , as causas que ns sele-
cionamos, tudo isso ditado, em cada caso, por um sistema de re-
presentaes sociais.
Chego, ento, seguinte proposio: nas sociedades em que
ns vivemos hoje, a causalidade pessoal uma explicao de direita
e a causalidade situacional uma explicao de esquerda. A psico-
logia social no pode ignorar o fato de que o mundo est es-
truturado e organizado de acordo com tal diviso e de que existe
uma diviso permanente. De fato, cada um de ns est necessa-
riamente obrigado a adotar um desses dois tipos de causalidade,
juntamente com a viso do outro que ele implica. As conseqn-
cias que derivam de tal proposio no poderiam ser mais preci-
sas: os motivos de nossas aes so ditados e esto relacionados
com a realidade social, a realidade cujas categorias contrastantes
87
87
dividem o pensamento humano to nitidamente como o fazem dua-
lidades tais como alto e baixo, homem e mulher, etc. Tinha-se a
impresso de que a motivao poderia ser atribuda a um simples
processo de pensamento e agora se v que ela determinada por
influncias ambientais, status social, relao de uma pessoa com
outras, suas opinies pr-concebidas, cada uma das pessoas res-
pondendo por sua parte. Isso de extrema importncia e, uma vez
aceita, a pessoa passa a negar a existncia de categorias suposta-
mente neutras de atribuio pessoal ou situacional e as substitui
por categorias de motivao claramente de direita ou de esquerda.
Mesmo que a substituio no se afirme em todos os casos, ela ,
em geral, constatvel.
Experimentos feitos por certos psiclogos (Hewstone & Jas-
pars, 1982) confirmam a noo de tal substituio. Aqui est, por
exemplo, um caso tpico: o psiclogo americano Lerner sugeriu
que ns explicamos o comportamento de algum na premissa de
que as pessoas somente recebem o que merecem. Essa hiptese
chegou a ser conhecida como a hiptese do mundo justo. Ele v
isso como uma maneira quase natural de pensar. Os psiclogos
canadenses Guimond e Simard tentaram concretizar essa teoria e
no se surpreenderam ao descobrir que tal atitude era principal-
mente a das pessoas pertencentes, em sua grande maioria, classe
dominante. Por outro lado, no existia nenhum trao dela entre os
que pertenciam s minorias ou classes desprivilegiadas. Falando
mais claramente, eles conseguiram mostrar que os canadenses de
fala inglesa tendiam a ver os canadenses franceses como res-
ponsveis por sua situao e apresentavam explicaes individu-
alsticas. Os canadenses de fala francesa, contudo, mostravam
que os responsveis eram os canadenses ingleses e suas explica-
es envolviam a prpria estrutura da sociedade.
Se podemos tomar um experimento de laboratrio como um
exemplo do que acontece na sociedade, temos a possibilidade de ir
mais adiante nessas descobertas. Classes dominantes e domi nadas
no possuem uma representao igual do mundo que elas com-
partilham, mas o vem com olhos diferentes, julgam-no de acordo
com critrios especficos e cada uma faz isso de acordo com suas
prprias categorias. Para as primeiras o indivduo que respon-
svel por tudo o que lhe acontece e especialmente por seus fra-
cassos. Para as segundas, os fracassos se devem sempre s cir-
cunstncias que a sociedade cria para o indivduo. E nesse exato
sentido que a expresso causalidade de direita/de esquerda (uma
88
expresso que to objetiva e cientfica como as dualidades al-
to/baixo, pessoa/ambiente, etc.) pode ser aplicada a casos con-
cretos.
Concluses
Pelo fato de se restringir a um indivduo e a um quadro de refe-
rncia indutivo, a teoria de atribuio se mostrou menos til do
que poderia ter sido. Esse estado de coisas poderia ser melhorado
nos seguintes pontos: a) atravs da mudana da esfera individual
para a esfera coletiva; b) atravs do abandono da idia de ser hu-
mano como um estatstico e da relao mecanicista entre o ser hu-
mano e o mundo; c) pela re-colocao das representaes sociais
como mediadoras necessrias.
Algumas sugestes j foram dadas no sentido de melhorar a
teoria (Hewstone & Jaspars, 1982). Devemos, contudo, ter em
mente que a causalidade no existe por si mesma, mas somente
dentro de uma representao que a justifique. Nem devemos es-
quecer que quando ns consideramos duas causalidades, ns te-
mos tambm de considerar a relao entre elas. Em outras pala-
vras, ns devemos sempre procurar aquelas sobre causas que pos-
suem uma ao dual, tanto como causas agentes como causas efi -
cientes, que constituem essa relao. Todas nossas crenas, pro-
cessos de pensamento e concepes do mundo possuem uma
causa desse tipo qual ns apelamos como ltimo recurso. nisso
que colocamos nossa confiana e a ela que ns invocamos em
todas as circunstncias. O que eu tenho em mente so palavras
tais como Deus, Progresso, Justia, Histria. Estas pala-
vras se referem a uma entidade ou a um ser dotado com status so-
cial agindo tanto como causa e como fim. As palavras so impor-
tantes, pois respondem por tudo o que acontece em cada esfera
possvel de realidade. No h dificuldade em identific-las, mas eu
penso que seria uma tarefa difcil explicar a parte que elas desem-
penham e seu extraordinrio poder.
Estou convencido de que, cedo ou tarde, ns conseguiremos
uma idia mais clara de causalidade. E eu consideraria nossas in-
vestigaes atuais concludas, mesmo que seu objetivo ltimo
no fosse alcanado quando os psiclogos dominarem uma lin-
89
89
guagem comum que os possibilitasse estabelecer uma concor-
dncia entre as formas de pensamento dos indivduos e o conte-
do social destes pensamentos.
6. Um levantamento das primeiras pesquisas realizadas
em representaes sociais
61. Alguns temas metodolgicos comuns e ligaes com outras cin-
cias sociais
O corpo de pesquisa em que essas teorias esto baseadas e de
onde elas surgiram relativamente restrito. Mas isso tudo o que
temos at agora. Seja qual tiver sido o objetivo especifico dessas
pesquisas, elas compartilharam, contudo, os quatro princpios
metodolgicos seguintes:
a) Obter o material de amostras de conversaes normalmente
usadas na sociedade. Algumas dessas partilhas tratam de tpicos
importantes, enquanto outras se referem a tpicos que podem ser
estranhos ao grupo - alguma ao, acontecimento ou personalida-
de, com que ou quem as pessoas se surpreendessem, exclaman-
do: Do que se trata, afinal?, Por que aconteceu isso?, Por
que ele fez isso?, Qual o propsito de tal ao? - mas tudo ten-
dendo a um acordo mtuo. Tarde (1910) foi o primeiro a afirmar
que opinies e representaes so criadas no curso de conver-
saes, como maneiras elementares de se relacionar e se comu-
nicar. Ele demonstrou como elas emergem em lugares especial-
mente reservados (tais como sales, cafs, etc.); como elas so de-
terminadas pelas dimenses fsicas e psicolgicas desses encon-
tros entre indivduos (Moscovici, 1961/1967) e como elas mu-
dam como passar do tempo. Ele at elaborou um plano para a ci-
ncia social do futuro, que seria um estudo comparativo de con-
versaes. Na verdade, as interaes que ocorrem natural mente
no decurso das conversaes possibilitam os indivduos e os gru-
pos a se tornarem mais familiarizados com objetos e idias in-
compatveis e desse modo poder lidar com eles (Moscovici,
1976). Tais infra-comunicaes e pensamento, baseados no
boato, constituem um tipo de camada intermediria entre a vida
pblica e a privada e facilitam a passagem de uma para a outra.
Em outras palavras, a conversao est no centro de nossos uni-
versos consensuais, porque ela configura e anima as representa
90
sociais e desse modo lhes d uma vida prpria.
b) Considerar as representaes sociais como meios de re-criar
a realidade. Atravs da comunicao, as pessoas e os grupos con-
cedem uma realidade fsica a idias e imagens, a sistemas classifi-
cao e fornecimento de nomes. Os fenmenos e pessoas com que
ns lidamos no dia-a-dia no so, geralmente, um material bruto,
mas so os produtos, ou corporificaes, de uma coletividade, de
uma instituio, etc. Toda a realidade a realidade algum, ou
uma realidade para algo, mesmo que seja a de laboratrio onde
ns fazemos nossos experimentos. No seria lgico pensar esses
fenmenos de outro modo, tirando-os do contexto maioria dos
problemas que ns enfrentamos, no curso de nossa caminhada
social ou intelectual, no provm da dificuldade de presentear coi-
sas ou pessoas, mas do fato que elas so representaes, isto ,
substitutos para outras coisas e outras pessoas. Antes de entrar,
pois, em um estudo especifico, devemos averiguar origens do ob-
jeto e consider-lo como uma obra de arte e como matria-prima.
Para ser preciso, contudo, deve-se dizer que se trata de re-
feito, re-construdo e no de algo recm-criado, pois, por lado, a
nica realidade disponvel a que foi estruturada pelas geraes
passadas ou por outro grupo e, por outro lado, ns a re-
produzimos no mundo exterior e por isso no podemos evitar a
distoro de nossas imagens e modelos internos. O que ns cria-
mos, verdade, um referencial, uma entidade qual ns nos refe-
rimos que distinta de qualquer outra e corresponde a nossa re-
presentao dela. E sua repetio - seja durante uma conversao,
ou ambiente (por exemplo, um complexo, um sintoma, etc.) -
garante sua autonomia, diferentemente de um ditado que se toma
dependente da pessoa que o disse pela primeira vez depois que
repetido muitas vezes. O resultado mais importante dessa re-
construo de abstraes em realidades que elas se tornam se-
paradas da subjetividade do grupo, das vicissitudes de suas intera-
es e conseqentemente, do tempo, e adquirem, portanto, per-
manncia e estabilidade. Isoladas do fluxo de comunicaes que as
deduziu, elas se tomam to independentes delas como uma cons-
truo se torna independente do plano do arquiteto ou dos an-
daimes empregados em sua construo.
91
Poderia ser til apontar algumas distines que devem ser le-
vadas em considerao. Algumas representaes se referem a fa-
tos, outras a idias. As primeiras transportam seu objeto de um
nvel abstrato para um nvel cognitivo concreto; as segundas, atra-
vs de uma mudana de perspectiva, tanto compem, como de-
compem seu objeto - elas podem, por exemplo, apresentar as bo-
las de bilhar como uma ilustrao do tomo ou considerar uma
pessoa, psicanaliticamente falando, como dividida em um cons-
ciente e em um inconsciente. Ambas, contudo, criam quadros de
referncia pr-estabelecidos e imediatos para opinies e percep-
es, dentro dos quais ocorrem automaticamente reconstrues
objetivas tanto de pessoas, como de situaes e que subjazem
experincia e ao pensamento subjetivos. O que surpreendente e
que deve ser explicado no tanto o fato de que tais reconstrues
so sociais e influenciam a todos, mas antes que a sociabilidade as
exige, expressa nelas sua tendncia de posar como no-sociabili-
dade e como parte do mundo natural.
c) Que o carter das representaes sociais revelado especial-
mente em tempos de crise e insurreio, quando um grupo, ou suas
imagens, est passando por mudanas. As pessoas esto, ento,
mais dispostas a falar, as imagens e expresses so mais vivas, as
memrias coletivas so excitadas e o comportamento se torna mais
espontneo. Os indivduos so motivados por seu desejo de enten-
der um mundo cada vez mais no-familiar e perturbado. As repre-
sentaes sociais se mostram transparentes, pois as divises e bar-
reiras entre mundos privado e pblico se tornaram confusas. Mas a
crise pior acontece quando as tenses entre universos reificados e
consensuais criam uma ruptura entre a linguagem dos conceitos e a
das representaes, entre conhecimento cientfico e popular.
como se a prpria sociedade se rompesse e no houvesse mais
maneira de preencher o vazio entre os dois universos. Essas ten-
ses podem ser o resultado de novas descobertas, novas concep-
es, sua popularizao na linguagem do dia-a-dia e na conscincia
coletiva - por exemplo, a aceitao, pela medicina tradicional, de
teorias modernas, tais como a psicanlise e a seleo natural. Es-
sas tenses podem ser seguidas por revolues concretas no sen-
so comum, que no so menos importantes que as revolues cien-
tficas. A maneira como ocorrem e re-ligam um universo a outro
joga alguma luz sobre o processo de representaes sociais e d
significado excepcional a nossas investigaes.
92
d) Que as pessoas que elaboram tais representaes sejam vistas
como algo parecido a professores amadores e os grupos que for-
mam como equivalentes modernos daquelas sociedades de profess o-
res amadores que existiam h mais ou menos um sculo. Tal na
natureza da maioria das reunies no-oficiais, das discusses em
bares e clubes, ou reunies polticas onde os modos de pensamento
e expresso refletem as curiosidades que so comentadas e os laos
sociais que so estabelecidos nessas ocasies. Por outro lado, mui-
tas representaes provm de trabalhos profissionais que se diri-
gem a esse pblico amador; eu estou pensando; em certos peda-
gogos, em popularizadores da cincia e em determinado tipo de
jornalista (Moscovici, 1961/1976), cujos escritos tornam possvel
a qualquer um considerar-se um socilogo, economista, fsico,
doutor ou psiclogo. Eu mesmo me vi na pele de um doutor de
Agatha Christie que observa: Tudo bem com a psicologia, se for
deixada para o psiclogo. O problema que todas as pessoas so
psiclogos amadores hoje em dia. Meus pacientes me dizem exa-
tamente de que complexos e neuroses eles esto sofrendo, sem me
darem a chance de falar (Agatha Christie, 1957).
Ao final de contas, talvez esse trabalho chegue muito tarde.
Na verdade, certo nmero de teorias minhas concorrem com as de
vrias escolas de sociologia e da sociologia do conhecimento em
pases de fala inglesa. Farr (1978; 1981) se refere, em alguns arti-
gos, relao entre as teorias discutidas acima e as teorias de atri-
buio, construo social da realidade, etnometodologia, etc.
De outro ponto de vista, contudo, esse trabalho parece chegar pre-
cisamente no momento exato, para uma re-avaliao do campo da
psicologia social em relao s disciplinas a ela relacionadas. (No
de todo novo, mas novo para a psicologia social.)
No se pode negar que o programa para uma sociologia do
conhecimento, embora muitas vezes discutido, ainda nem come-
ou a ser concretizado. Na verdade, obras como as de Berger e
Luckmann (1967) se referem a uma teoria das origens do senso
comum e da estrutura da realidade, mas eu creio que essa teoria,
ao contrrio da minha, no foi testada. Quanto etnometodologia,
ela se originou da distino entre a racionalidade da cincia e a
racionalidade do senso comum, aplicadas vida cotidiana. Ela
examinou essa distino, separando, porm, deliberadamente, a
estrutura social e ento, luz de tentativas de restabelecer a uni-
dade do tecido, mostrando as normas e convenes sociais que
93
constituem sua continuidade e tessitura. Uma vez mais o resultado
uma estrutura da realidade que brota de uma escolha de regras e
convenes partilhadas de maneira geral.
Quanto a mim, por outro lado, achei mais compensador tirar
proveito das rupturas que ocorrem naturalmente e que revelam
tanto a propenso dos indivduos e dos grupos para intervir na se-
qncia normal dos acontecimentos e para modificar seu desen-
volvimento e quanto eles conseguem seu objetivo. Desse modo,
no so apenas as regras e convenes que vm luz, mas tam-
bm as teorias em que elas esto baseadas e as linguagens que
as expressam. Na minha opinio, isso essencial as regularida-
des e equilbrios sociais aparecem em uma representao comum
e no podem ser compreendidos separadamente. Alm do mais, o
trabalho de construo em que os socilogos esto interessados
em nossas sociedades consiste principalmente em um processo
de transformao de um universo reificado para um universo con-
sensual, ao qual tudo o mais est subordinado.
Escolhi esses dois exemplos para enfatizar as afinidades, mas
outros poderiam ser acrescentados. O que eles todos tm em co-
mum sua preocupao com as representaes sociais e os inves-
tigadores fariam bem em lembrar-se do aviso de Durkheim: Sen-
do a observao reveladora da existncia de um tipo de fenmeno
conhecido como representao, com caractersticas especificas
que o distinguem de outros fenmenos naturais, intil compor-
tar-se como se o fenmeno no existisse (Durkheim, 1895/1982).
Grande parte da imaginao sociolgica est preocupada,
hoje, com universos consensuais, ao ponto, quase, de mais ou me-
nos se restringirem a eles. Tal atitude pode ser justificada pelo fato
de eles estarem preenchendo um vazio deixado pela psicologia so-
cial. Mas seria melhor se houvesse um reagrupamento de discipli-
nas ao redor desse tipo de fenmeno conhecido como represen-
tao, esclarecendo a tarefa da sociologia e dando a nossa disci-
plina a amplitude de viso de que ela urgentemente necessita.
6.2. Breve reviso de alguns dos principais campos de estudo
Numa publicao recente, tive a satisfao de mostrar que, fi-
nalmente, os psiclogos americanos esto preparados para reco-
94
nhecer, embora sem concretamente dar-lhes o nome, a importn-
cia das representaes sociais. Tais teorias tcitas, globais, jun-
tamente com muitas teorias mais especificas, incluindo teorias
sobre indivduos especficos ou classes de indivduos, governam;
nossa compreenso ou comportamentos, nossa explicao causal
do comportamento passado e nossas predies de comportamen-
tos futuros (Nisbett & Ross, 1980).
Ou, podemos acrescentar, servem para ocultar, ignorar e subs-
tituir o comportamento. E sendo que Gedankenexperiments o Ge-
dankenbehaviours so pelo menos to importantes na vida cotidia-
na, como o so na cincia, seria um erro ignor-los, simplesmente
porque eles no explicam, nem predizem nada. Mas a falta de in-
teresse por tudo, exceto pelo que for escrito em ingls ou por
experimentos feitos em outro pas - uma falta de interesse que, h
uma gerao, teria desqualificado qualquer professor, seja nos
Estados Unidos ou em qualquer outro lugar - os levaria afirmar com
confiana total:
Houve, surpreendentemente, pouca pesquisa sobre crenas e teor nas
partilhadas pela massa da populao, em nossas culturas.
Heider (1958) foi talvez o primeiro a enf atizar sua impor-
tncia e Abelson (1968) foi o primeiro (e quase o nico) investiga-
dor a tentar estud-los empiricamente. O pouco de pesquisa realiza-
do sobre teorias das pessoas focalizou diferenas individuais na crena e
teorias (Nisbett & Ross, 1980).
Acontece, porm, que, exatamente por esse tempo, a pesquisa
sobre teorias das pessoas estava florescendo e produzindo resul-
tados amplamente apreciados. No estou dizendo que tal pes quisa
era superior pesquisa mencionada, ou mesmo excelente em si
mesma, mas estou dizendo que ela existia e no estava restrita ao
estudo das diferenas individuais. Se os pesquisadores em nosso
campo continuam a ver a totalidade da cincia representada ape-
nas pela cincia de seu pas, existir sempre um Joe Bloggs ou um
Jacques Dupont para inventar tudo, do mesmo modo que o Ivan Po-
poff antes deles. Isso algo que podemos perfeitamente dispen-
sar.
Como dissemos, durante o processo de transformao que
os fenmenos so mais facilmente percebidos. Por isso nos con-
centramos na emergncia das representaes sociais, provenham
95
elas de teorias cientificas - seguindo suas metamorfoses dentro de
uma sociedade e a maneira como elas renovam o senso comum -
ou originem-se de acontecimentos correntes, experincias e co-
nhecimento objetivo, que um grupo tem de enfrentar a fim de
constituir e controlar seu prprio mundo.
Ambos os pontos de partida so igualmente vlidos, pois, em
um caso, uma questo de observar o efeito de uma mudana de
um nvel intelectual e social para outro e no outro, de observar a
organizao de um conjunto de objetos quase-materiais e de ocor-
rncias ambientais que uma representao implcita normalmente
oculta. Os mecanismos envolvidos so, contudo, idnticos.
O senso comum est continuamente sendo criado e re-criado
em nossas sociedades, especialmente onde o conhecimento cien-
tfico e tecnolgico est popularizado. Seu contedo, as imagens
simblicas derivadas da cincia em que ele est baseado e que,
enraizadas no olho da mente, conformam a linguagem e o compor-
tamento usual, esto constantemente sendo retocadas. No proces-
so, a estocagem de representaes sociais, sem a qual a sociedade
no pode se comunicar ou se relacionar e definir a realidade, rea-
limentada. Ainda mais: essas representaes adquirem uma auto-
ridade ainda maior, na medida em que recebemos mais e mais
material atravs de sua mediao - analogias, descries implcitas
e explicaes dos fenmenos, personalidades, a economia, etc.,
juntamente com as categorias necessrias para compreender o
comportamento de uma criana, por exemplo, ou de um amigo.
Aquilo que, a longo prazo, adquire a validade de algo que nossos
sentidos ou nossa compreenso percebem diretamente, passa a
ser sempre um produto secundrio e transformado de pesquisa
cientifica. Em outras palavras, o senso comum no circula mais de
baixo para cima, mas de cima para baixo; ele no mais o ponto de
partida, mas o ponto de chegada. A continuidade, que os filsofos
estipulam entre senso comum e cincia, ainda existe, mas no
o que costumava ser.
A difuso da psicanlise na Frana forneceu um exemplo pr-
tico para comear nossas investigaes sobre a gnese do senso
comum. Como conseguiu a psicanlise penetrar as vrias camadas
de nossa sociedade e influenciar sua cosmoviso e comporta-
mento? Que modificaes sofreu ela a fim de conseguir isso? Ns
investigamos, metodicamente, as maneiras pelas quais suas teo-
rias se ancoraram e objetivaram, como um sistema de classifica-
o e de nominalizao de pessoas e comportamentos foi elabora-
96
do, como uma nova linguagem foi criada a partir de termos psi-
canalticos e a tarefa desempenhada pela bi-causalidade no pensa-
mento normal. Alm disso, explicamos como uma teoria passa de
um nvel cognitivo a outro, tornando-se uma representao social.
Ns, naturalmente, levamos em considerao os fundamentos po-
lticos e religiosos, enfatizamos seu papel em tais transies. Fi-
nalmente, nossa investigao nos possibilitou especificar a ma-
neira como uma representao molda a realidade em que vive-
mos, cria novos tipos sociais - o psicanalista, o neurtico, etc. - e
modifica o comportamento em relao a essa realidade.
Simultaneamente, estudamos o problema dos meios de co-
municao de massa e seu papel no estabelecimento do senso co-
mum. Nesse caso, o senso comum pode ser elevado funo de
uma ideologia dominante. Pois esse o status da psicanlise na
Frana de hoje: comparvel, em qualquer ponto, ao de um credo
oficial, tornou-se claro, ao menos no que se refere evoluo, que
a presena de uma representao social constitui um pressuposto
necessrio para a aquisio de tal status. Ainda mais: pudemos
estabelecer, mais ou menos definitivamente, a ordem das trs fa-
ses da evoluo: a) a fase cientfica de sua elaborao, a partir de
uma teoria, por uma disciplina cientifica (economia, biologia,
etc.); b) a fase representativa, em que ela se difunde dentro de
uma sociedade e suas imagens, conceitos e vocabulrio so difun-
didos e adaptados; c) a fase ideolgica, em que a representao
apropriada por um partido, uma escola de pensamento ou um r-
go do estado e logicamente reconstruda, de tal modo que um
produto, criado pela sociedade como um todo, pode se legitimar
em nome da cincia. Toda ideologia possui, pois, esses dois ele-
mentos: um contedo, derivado da base e uma forma, que provm
de cima, que d ao senso comum uma aura cientfica. Outras in-
vestigaes se interessaram com teorias mais cientficas (Acker-
mann & Zygouris, 1974; Barbichon & Moscovici, 1965) e nossos
achados contriburam para a formulao de uma teoria mais geral
de popularizao do conhecimento cientfico (Roqueplo, 1974).
Numa segunda srie de estudos, ns examinamos mais espe-
cificamente a dinmica das mudanas tcnicas e tericas. Em pou-
cas palavras, durante os anos de 1950 a 1960, uma grande difuso
de tcnicas e teorias mdicas surgiu na Frana, como resul tado de
um crescimento no consumo mdico. Juntamente com uma
nova relao mdico-paciente, uma atitude totalmente nova com
respeito sade e ao corpo foi rapidamente transformando ima-
97
gens e teorias antigas. Uma das primeiras a estudar essa situao
foi Claudine Herzlich, em seu trabalho sobre as representaes da
sade e da doena. Seu objetivo era enfatizar o surgimento de um
sistema de classificao e interpretao de sintomas, como res-
posta ao que algum dia ser reconhecido como uma revoluo
cultural em nossas vises de sade, doena e morte (Herzlich,
1973). Se algum sente saudade pelo desaparecimento da morte
de nossa conscincia e de nossos rituais, a causa disso remonta ao
tempo em que a confiana nos poderes cientficos da medicina foi
estabelecida.
Um estudo posterior tratou das representaes sociais do
corpo. Ele mostrou que nossas percepes e concepes do
corpo no eram mais adequadas realidade que ia surgindo e que
uma revoluo importante era inevitvel. Analisamos, por isso,
essas representaes; e no decorrer da caminhada, sob a influn-
cia dos movimentos de jovens, do movimento de libertao das
mulheres e a difuso da biodinmica, etc., as maneiras de ver e ex-
perienciar o corpo foram transformadas radicalmente. Retomando
novamente nossa investigao depois que essa mudana profunda
de representaes tinha ocorrido, pudemos tirar proveito de algo
parecido com um experimento natural. De fato, tendo acontecido
uma revoluo cultural importante, ns estvamos em situao de
poder observar seus efeitos, passo a passo, e comparar o que ns
tnhamos observado anteriormente, com o que estava agora acon-
tecendo. Em outras palavras, ns comeamos a perceber o proble-
ma da modificao nas representaes sociais e sua evoluo.
Isso constitui o centro do trabalho de Denise Jodelet (Jodelet &
Moscovici, 1975) no momento presente. Ela, porm, estava muito
bem preparada para tal investigao devido a seu estudo com do-
entes mentais, colocados entre os habitantes de vrias aldeias
francesas. Pela observao desse projeto pelo perodo de dois anos,
Jodelet foi capaz de descrever, com grande detalhe, o desenvolvi-
mento das relaes entre os aldees e os pacientes e como Mosco-
vici, por sua prpria natureza, deu chance a discriminaes, quan-
do tentou situar, em um mundo familiar, os pacientes mentais
cuja presena era eminentemente perturbadora. Essas discrimi-
naes, alm do mais, estavam baseadas em um vocabulrio e em
representaes sociais que tinham sido pormenorizadamente ela-
boradas pelas pequenas comunidades. Essas comunidades se sen-
tiram, de certo modo, ameaadas pelos seres indefesos que tinham
98
sido colocados em seu meio, devido prpria infelicidade e rotina
institucional.
Finalmente, um estudo totalmente original de Ren Kaes (1976),
sobre psicoterapia de grupo, mostra, de um lado, como tais grupos
produzem certos tipos de representao, relacionada com o que
constitui um grupo e como ele funciona; de outro lado, como tais
representaes refletem a evoluo do grupo. No h dvida que
eles tm uma significncia cultural, se no cientifica, e at certo
ponto surpreendente v-los surgir em tais circunstncias. Perma-
nece, contudo, o fato de que tais representaes canalizam o fluxo
de emoes e de relaes interpessoais flutuantes.
O trabalho de Denise Jodelet, em colaborao com Stanley
Milgram (Jodelet & Milgram, 1977; Milgram, 1984), sobre as ima-
gens sociais de Paris, mostra que o espao urbano, ou a matria-
prima do dia-a-dia, totalmente determinado pelas represen-
taes e no , de nenhum modo, to artificial como estamos acos-
tumados a crer. Alm do mais, esse estudo confirma nossa afirma-
o que o pensamento uma atmosfera social e cultural, pois nada
pode estar mais grvido de idias, do que uma cidade. As teorias
expressas nas primeiras quatro seces desse trabalho foram
comprovadas por esta primeira gerao de investigaes.! Outras,
inspirando-se na cultura (Kaes, 1968), em relaes inter grupais
(Quaglino, 1979), em mtodos educacionais (Gorin, 198O), etc. ela-
boraram alguns aspectos que ns omitimos, enquanto es tudos das
representaes da criana enfatizaram a importncia heurstica
do sujeito como um todo (Chombart de Lauwe, 1971).
7. O status das representaes: estmulos ou mediado-
res?
7.1. Representaes sociais como variveis independentes
J.A. Fodor escreve:
Um dos argumentos principais deste livro foi que, se voc
quer saber que resposta um dado estimulo ir evocar, voc
deve descobrir que representao interna o organismo ir
designar para o estmulo. Evidentemente, o carter de tais de-
signaes deve, por sua vez, depender de que tipo de sistema re-
99
presentacional est disponvel, para medrar os processos cognitivos
do organismo (Fodor, 1975).
Uma preocupao saudvel, tanto para com a teoria, como para
com o fato das representaes, pode ser observada agora em qua-
se todos os lugares. Assim, o que acontece dentro de uma socieda-
de, tornou-se uma pr-ocupao importante, muito mais do que
simplesmente saber como ela cria e transforma a atmosfera. Mas,
apesar desta preocupao existir, , no obstante, essencial para
proteger contra as tradicionais meias-medidas como as que su-
pem a injeo de um mnimo de subjetividade e pensamento na
caixa preta dos nossos crebros ou simplesmente adicionam um
pouco mais de esprito ao nosso mundo desumanizado, mecaniza-
do.
De fato, se o texto de Fodor - que congrega uma extensa varie-
dade de escritos - lido com certa ateno, o uso de duas palavras
acabam por assombrar: interna e medial. Estes termos impli-
cam que as representaes substituem o fluxo de informaes que
chegam at ns do mundo externo: que as representaes so elos
mediadores entre a causa real (estmulo) e o efeito concreto (respos-
ta). Ento, os elos so mediadores ou causas aleatrias. Este beha-
viorismo re-condicionado, ao qual ns sempre recosemos em tem-
pos difceis, um pedao inteligente de remendo, mas um remen-
do ad hoc por definio e no muito convincente.
Devemos, aqui, sublinhar a posio firme que a teoria das re-
presentaes tomou, com respeito a isso: no que concerne psico-
logia social, representaes sociais so variveis independentes,
estmulos explanatrios. Isto no significa que, por exemplo, no que
concerne sociologia ou histria, aquilo que para ns explanat-
rio no seja, para elas, uma explicao
3
. Obvio porque isto deveria
ser assim. Todo estmulo selecionado de uma grande variedade
de estmulos possveis e pode produzir uma variedade infinita de
reaes. So as imagens e paradigmas preestabelecidos que de-
terminam a escolha e restringem a gama de reaes. Quando uma
criana v o sorriso da sua me, ela percebe certo nmero de dife-
3
Ns discutiremos de novo representaes socials depois que ns tivermos delineado as
criticas levantadas sobre o conceito de atitude que e, por definio, uma causa mediadora. Desse
modo, ns esperamos demonstrar a autonomia da psicologia social e inserir no contexto coletivo
uma teoria (isto , a das atitudes), que se tomou muito individualstica. O trabalho de Jaspers &
Fraser (1984) d muito peso a esse ponto de vista
100
rentes signos - olhos bem abertos, lbios distendidos, movimentos
da cabea - que a incitam a ficar de p, gritar, etc. Estas imagens e
paradigmas predizem o que surgir como estimulo ou resposta ao
ator ou espectador: os braos da criana estendidos em direo ao
rosto sorridente da me, ou o rosto sorridente da me inclinado em
direo aos braos estendidos da criana.
Reaes emocionais, percepes e racionalizaes no so
respostas a um estimulo exterior como tal, mas categoria na qual
ns classificamos tais imagens, aos nomes que ns damos a elas.
Nos reagimos a um estmulo medida em que, ao menos parcial-
mente, ns o objetivamos e o re-criamos, no momento de sua
constituio. O objeto ao qual ns respondemos pode assumir di-
versos aspectos e o aspecto especfico que ele realmente assume
depende da resposta que ns associamos a ele antes de defini-lo. A
me v os braos da criana estendidos para ela e no para uma
outra pessoa, quando ela j est se preparando para sorrir e est
consciente de que seu sorriso indispensvel para a estabilidade
da criana.
Em outras palavras, representaes sociais determinam tanto o
carter do estimulo, como a resposta que ele incita, assim como, em
uma situao particular, eles determinam quem quem. Conhec-los e
explicar o que eles so e o que significam o primeiro passo em toda
anlise de uma situao ou de uma relao social e constitui-se em um
meio de predizer a evoluo das interaes grupais, por exemplo. Na
maioria dos nossos experimentos e observaes sistemticas ns, de
fato, manipulamos representaes quando pensamos que estamos
manipulando motivaes, inferncias e percepes e somente por-
que no as levamos em considerao, que estamos convencidos do
contrrio. O laboratrio mesmo, para onde uma pessoa se dirige para
ser objeto de um experimento, representa para ela e para ns o prot-
tipo de um universo reificado (cf. o captulo de Farr). A presena do
aparato, a forma como o espao organizado, as instrues que ela
recebe, a natureza mesma do empreendimento, a relao artificial
entre o experimentador e o sujeito e o fato de que tudo isso ocorre no
contexto de uma instituio e sob a gide da cincia, tudo isso repro-
duz muitas caractersticas essenciais de um universo reificado. Est
muito claro que a situao determina tanto as questes que vamos
formular, como as respostas que elas vo fornecer.
101
Figura 1.1 -Modelos de representao
Idia corrente
Estimulo
Representao
Resposta
Idia proposta
Estimulo
Representao
Resposta
7.2. Representaes sociais em situaes de laboratrio
Algumas investigaes buscaram restabelecer sentidos e re-
presentaes em situaes de laboratrio e, tanto quanto poss-
vel, corroborar o postulado terico da sua autonomia, sem o que o
experimento e a teoria perderiam muito do seu significado. Em
1968, Claude Faucheux e eu tentamos provar que representaes
modelam nosso comportamento, no contexto de um jogo compe-
titivo. Ns baseamos nosso experimento em jogos familiares de
cartas. A nica variante que ns introduzimos era que a alguns
dos sujeitos era dito que jogavam contra a natureza, enquanto
que a outros era dito que seu adversrio era o acaso. O primeiro
termo evoca uma imagem do mundo mais tranqilizadora, com-
preensvel e controlvel, enquanto a idia de acaso, enfatizada
aqui pela presena de um baralho, lembra adversidade e inevoca-
bilidade. Como ns prevamos, a escolha dos sujeitos e especial -
mente seus comportamentos diferiam de acordo com a represen-
tao do seu oponente. Assim, a maioria dos sujeitos confrontados
com a natureza gastaram algum tempo estudando as regras e
montando algum tipo de estratgia; ao passo que aqueles sujeitos
que enfrentaram o acaso concentraram sua ateno no baralho,
tentando adivinhar qual carta seria jogada e no se preocuparam
102
com as regras do jogo. Os nmeros falam por si s: 38 dos 4O que
jogavam contra a natureza foram capazes de racionalizar as re-
gras, enquanto somente 12 dos outros 4O foram capazes de
faz-lo (Faucheux & Moscovici, 1968).
Desse modo, nossas representaes internas, que herdamos
da sociedade, ou que ns mesmos fabricamos, podem mudar nos-
sa atitude em relao a algo fora de ns mesmos. Juntamente com
Abric e Plon (Abric et a1., 1967), ns realizamos outra variao
deste experimento. Aqui, um grupo era instrudo para jogar contra
um computador e as escolhas que fariam seriam programadas. O
computador, assim como eles, tentaria acumular o mximo de
pontos. O objetivo do outro grupo era idntico, mas, neste, eram
instrudos a jogar contra um outro estudante, igual a eles, cujas
escolhas lhes seriam comunicadas por telefone. Uma vez mais ns
observamos estratgias e racionalizaes diferentes e at mesmo
contrastastes, de acordo com o grupo. Compreensivelmente, emer-
giu uma relao mais cooperativa como outro, do que com o com-
putador. Outros experimentos realizados por Codol (Codol, 1974)
relativos ao processo de ancoragem de vrias representaes do
self, do grupo e da tarefa a ser executada, lanaram uma luz pe-
culiar, na sua variedade e impacto, em uma situao competit i-
va. Abric (1976), em um experimento muito ambicioso e sistem-
tico, dissecou cada uma dessas representaes e mostrou por que
eles se comportaram da maneira que o fizeram. Um relato da ex-
tensa gama de resultados obtidos ser publicado em breve.
Numa outra srie de experimentos igualmente convincentes
e sem problemas, Flament, em colaborao com Codol e Rossignol
(Codol & Flament, 1971; Rossignol & Flament, 1975; Rossignol
& Houel, 1976), consideraram o mesmo problema em um outro
nvel mais importante. De fato, a psicologia social est bas tante
preocupada com a descoberta dos assim chamados mecanismos
universais que, inscritos nos nossos crebros ou nas nos sas gln-
dulas, supostamente determinam cada uma de nossas aes e
pensamentos. Eles ocorrem na sociedade, sem serem sociais. Mais
ainda, eles so mecanismos formais muito desconectados de um
contedo individual ou coletivo de qualquer tipo, ou mesmo da
histria responsvel por tal contedo. Um desses mecanismos
supostamente nico e universal o da coerncia e estabilidade.
103
Ele sugere que indivduos tentam organizar suas crenas em es-
truturas internamente coerentes. Conseqentemente, ns pre-
feriramos estruturas estveis s instveis. O postulado implcito
pode ser colocado assim: relaes interpessoais positivas e nega-
tivas so determinadas pelo princpio da estabilidade. As duas
proposies que o sintetizam - Os amigos dos meus amigos so
meus amigos e Os inimigos dos meus inimigos so meus amigos
- servem como leis imutveis, separadas de qual quer sentido im-
plcito e independentes de qualquer circunstncia particular.
Em outras palavras, os dois ditos axiomatizados formam a base de
uma sintaxe de relaes entre pessoas e determinam sua prpria
semntica e pragmtica.
Sem dvida, j era bvio antes de Flament que tais proposi-
es aplicam-se somente a objetos que tenham um quadro de
referncia comum, ou que esto situados ao longo de uma dimen-
so cognitiva (Jaspers, 1965). Mas o uso que Flament fez da teoria
das representaes sociais lhe possibilitou ir mais longe e mais a
fundo. Para comear, ele mostrou que cada indivduo que tivesse
que avaliar a relao entre vrios outros indivduos possui uma
gama de representaes do grupo ao qual eles pertencem e do tipo
de elos que existem entre eles. Estas podem ser convencionais ou
at mesmo um pouco mticas (e.g. o grupo fraternal ou Rousseau-
niano, etc.). O princpio de estabilidade caracterizar tais relaes
somente se a pessoa j tem em mente a noo de um grupo bsi co,
igualitrio e amigvel. Ento, ela tentar formar uma opinio coe-
rente dos membros que o constituem. Em outras palavras, so-
mente em um contexto social desse tipo que os amigos dos meus
amigos sero necessariamente meus amigos. Em tais casos, o
princpio da cognio e afetividade de Heider expressa somente as
normas coletivas e os elos internos do grupo particular, mas no
uma tendncia geral. De fato, Flament mostra com propriedade
que a representao de tal princpio que d proeminncia parti-
cular a afabilidade e ao igualitarismo dos seus membros e no o
contrrio. Nas representaes de um tipo diferente de grupo, afa-
bilidade e igualitarismo no esto necessariamente ligados e no
tm a mesma significao. Por fim, parece que a funo do princ-
pio de estabilidade consiste em criar um paradigma social de
relacionamentos interpessoais positivos e negativos e que a sua
significao depende deste paradigma. O que simplesmente quer
dizer que o principio do equilbrio, longe de determinar, ele
104
mesmo determinado pela forma como o contexto das relaes
interpessoais foi representado. E no realmente de se surpreen-
de que isto no tenha aparecido antes.
Muitos estudos contemporneos em psicologia social tomam
como seu paradigma este grupo de pessoas de opinio igual, que
tendem a ter opinies e gostos semelhantes e anseiam por evitar
conflitos e aceitar o status quo. Mas o que eles no percebem
fato de que tal grupo uma materializao da noo tradicional
mtica, de uma comunidade ideal. Neste caso, a tendncia em rea-
o estabilidade e coerncia pode bem ser vista como um fato -
determinante dos relacionamentos interpessoais. Mas se ns com-
pararmos esta representao social do grupo com outras, ns logo
nos daremos conta que estas tendncias gerais so realmente
peculiares a ele, que ns trocamos o efeito pela causa. As indaga-
es realizadas por Flament e a sua equipe de Aix-en-Proven nos
tornaram possvel a reinterpretao das teorias de Heider, atravs
de uma reavaliao que leva em conta a dimenso social e histrica
das nossas percepes e opinies dos outros.
Mas nos referimos somente a um nmero restrito de experi-
mentos. Mesmo assim, cada um deles prova, no seu campo espe-
cfico (competio, conscincia de outros, etc.), que o nosso pos-
tulado tem uma ampla significao. Mais do que motivaes, as-
piraes, princpios cognitivos e os outros fatores que so habitu-
almente apresentados so as nossas representaes que em lti-
ma instncia determinam nossas reaes e as suas significaes
so, assim, as de uma causa real. Atravs delas, a sociedade se
comporta de certa forma como Marcel Duchamp; como esse pintor
com os seus objetos j-feitos, ela pe a sua assinatura nos pro-
cessos feitos-pela-sociedade e assim modifica seu carter. Ns es-
peramos ter demonstrado que, na verdade, todos os elementos do
campo psquico so revertidos, uma vez que a assinatura social te-
nha sido colocada neles.
A lio a ser tirada do que foi dito acima que a maneira atual
de proceder - que ns devemos a Sherif e que consiste em de-
monstrar como os mecanismos psquicos se transformam em pro-
cessos sociais - deveria ser revertida. Pois tal o processo da pr-
pria evoluo e, seguindo-o, ns estaremos mais aptos a compre-
end-lo. apenas lgico pensar que os processos sociais e pbli-
cos foram os primeiros a ocorrer e que eles foram gradualmente
interiorizados at se transformarem em processos psqui-
cos.Assim, quando ns analisamos processos psicossociais, ns
105
descobrimos que eles so psicossociais. como se a nossa psico-
logia contivesse a nossa sociologia de uma forma condensada. E
uma das tarefas mais urgentes da psicologia social descobrir
uma dentro da outra e compreender esse processo de condensa-
o.
Observaes finais
No posso concluir essa exposio sem mencionar algumas
das implicaes mais gerais da teoria das representaes sociais.
Em primeiro lugar, o estudo destas representaes no deveria per-
manecer restrito a um mero salto do nvel emocional para o intelec-
tual. Nelas no deveriam ser vistas como puramente pr- ou anti-
behavioristas. Se este fosse o caso, no haveria razo para insistir
nelas. No, o que se requer que examinemos o aspecto simblico
dos nossos relacionamentos e dos universos consensuais em que
ns habitamos. Porque toda cognio, toda motivao e todo
comportamento somente existem e tm repercusses uma vez
que eles signifiquem algo e significar implica, por definio, que
pelo menos duas pessoas compartilhem uma linguagem comum,
valores comuns e memrias comuns. isto que distingue o social
do individual, o cultural do fsico e o histrico do esttico. Ao dizer
que as representaes so sociais ns estamos dizendo principal-
mente que elas so simblicas e possuem tantos elementos percep-
tuais quanto os assim chamados cognitivos. E por isso que ns
consideramos seu contedo to importante e nos recusamos a dis-
tingui-las dos mecanismos psicolgicos como tais.
Em outras palavras, ns verificamos, em vrias ocasies, que a
psicologia social tende a destacar um simples mecanismo, reti r-
lo do seu contexto e atribuir um valor geral a ele - assim como os
instintos foram uma vez segregados, com uma finalidade seme-
lhante. Alguns destes so pseudomecanismos, tais como estabi-
lidade ou coerncia, que parecem explicar o que eles realmente
definem. Uma vez que o pensamento tende naturalmente a substi-
tuir ordem pela desordem, simplicidade pela diversidade, etc.,
afirmar que o pensamento tende em direo coerncia, significa
pouco mais que dizer que o pensamento tende em direo ao pen-
samento.
Outros mecanismos como dissonncia, atribuio, rea-
o, etc. so vistos como universais e so aplicados a todos os
campos sociais, categorias ou contedos possveis. Supe-se que
106
eles processem determinadas informaes e produzam informa-
es diferentes, sejam quais forem. Ao avaliar a maioria dos estudos
realizados nestas bases, Simon concluiu: Quando os processos
subjacentes a esses fenmenos sociais so identificados; como
eles o so nos captulos deste livro, particularmente os da segunda
e terceira parte, eles acabam sendo os mesmos processos de in-
formao que ns encontramos em cognies no-sociais (Carroll
& Paine, 1976).
Esta uma coincidncia perturbadora, pois ou o social tem
uma existncia e significao que deve produzir certos efeitos, ou o
estudo desses processos de informao, como mecanismos isola-
dos, se constitui em um erro, que cria a iluso de um contato pos-
svel e fcil com a essncia da realidade.
Representaes sociais, como teorias cientificas, religies,
mitologias, so representaes de alguma coisa ou de algum.
Elas tm um contedo especfico - implicando, esse especifico a-
lm do mais, que ele difere de uma esfera ou de uma sociedade
para outra. No entanto, estes processos so significantes, somente
na medida em que eles revelam o nascimento de tal contedo suas
variaes. Afinal, como ns pensamos no distinto daquilo que
pensamos. Assim, ns no podemos fazer uma distino clara en-
tre as regularidades nas representaes e nas dos processos
que as criam. De fato, se ns seguimos os passos da psicanlise e da
antropologia, ns deveramos achar mais fcil entender o que as
representaes e os mecanismos tm em comum.
A segunda implicao - e uma que poderia ter sido prevista
pode ser expressa em poucas palavras: o estudo das representa-
es sociais requer que ns retornemos aos mtodos de observa-
o. No tenho a inteno de criticar os mtodos experimentais
como tais. O seu valor incontestvel, para o estudo de fenme-
nos simples, que possam ser recortados do seu contexto. Mas no
este o caso das representaes sociais que so armazenadas nossa
linguagem e que so criadas em um ambiente bem complexo. Es-
tou muito consciente que vrios dos meus colegas menosprezam
observaes, que eles consideram como uma abdicao covarde do
rigor cientifico, um signo de prolixidade, preguia e vagueza. Acho
que eles so extremamente pessimistas psicologia social no mais
o que ela era meio sculo atrs.
Desde ento, ns comeamos a valorizar as exigncias da teo-
ria, de uma anlise acurada do fenmeno; mas ns tambm pas-
107
samos a valorizar o inverso, a saber, as limitaes das teorias que
explicam somente o que pode ser experimentado e do experimen-
to como algo ao qual a realidade se ajusta. E o que ns exigimos da
observao, que ela preserve algumas das qualidades do expe-
rimento ao mesmo tempo em que nos liberte de suas limitaes.
Ela obteve sucesso, nesta tarefa, para a etnologia, antropologia e
psicologia infantil e ns no vemos razes por que ela no deva
ter os mesmos resultados na psicologia social.
Evidentemente, porm, algo mais do que os mritos compa-
rativos de um ou outro mtodo est em jogo. E isto deve ser dito
sem ambigidade; deixando de lado os mritos tcnicos, o expe-
rimento se prestou para associar exclusivamente a psicologia so-
cial psicologia geral e para afast-la da sociologia e das cincias
sociais. Indubitavelmente, esta no foi a inteno dos seus funda-
dores, mas este foi o caminho por onde ela se encaminhou. Ademais,
seus programas de pesquisa e ensino formaram excelentes espe-
cialistas em psicologia, que so, ao mesmo tempo, ignorantes em
sociologia. Um retomo observao necessitaria um retorno s
cincias humanas. Durante a ltima dcada, elas fizeram avanos
significativos e demonstraram que podem ser feitas descobertas
sem rituais obsessivos, a tal ponto que podem existir destinos pio-
res do que o fato de tornar a aderir a eles.
A terceira implicao, que uma conseqncia natural da se-
gunda, diz respeito descrio. Durante certo tempo, ns estva-
mos preocupados somente com os mecanismos explanatrios
para a mudana de atitude, influncia, atribuio, etc. sem pensar
muito em coletar dados. Tal coleta era vista como uma atividade
menor, uma prova de preguia intelectual e at mesmo como uma
inequvoca inutilidade. Delinear hipteses e verific-las no labora-
trio parecem ser a palavra de ordem. Mas, ao contrrio das apa-
rncias, esta palavra de ordem nada tem a ver com a cincia. A
maioria das cincias - da lingstica economia, da astronomia
qumica, da etnologia antropologia - descrevem fenmenos e
tentam descobrir regularidades, nas quais se possa fundamentar
uma teoria geral. A sua compreensividade consiste principalmente
no acmulo de dados sua disposio e o significado das regulari-
dades revelaram que teorias interpretar a seguir. No desejo ana-
lisar aqui as razes desta palavra de ordem, nem suas conse-
qncias negativas para a nossa disciplina. Quaisquer que sejam
as razes, permanece o fato de que somente uma descrio cuida-
dosa das representaes sociais, da sua estrutura e da sua evolu-
108
o nos vrios campos, nos possibilitar entend-las e que uma
explicao vlida s pode provir de um estudo comparativo de tais
descries. Isto no implica que ns devemos descartar a teoria,
substituindo-a por uma acumulao insensata de dados, mas que
o que ns queremos uma teoria baseada em observaes ade-
quadas e que seja a mais acurada possvel.
Por fim, a quarta implicao diz respeito ao fator tempo. As
representaes sociais so histricas na sua essncia e influenci-
am o desenvolvimento do indivduo desde a primeira infncia,
desde o dia em que a me, com todas as suas imagens e conceitos,
comea a ficar preocupada com o seu bebe. Estas imagens e con-
ceitos so derivadas dos seus prprios dias de escola, de progra-
mas de rdio, de conversas com outras mes e com o pai e de ex-
perincias pessoais e elas determinam seu relacionamento com a
criana, o significado que ela dar para os seus choros, seu com-
portamento e como ela organizar a atmosfera na qual ela crescer.
A compreenso que os pais tm da criana modela sua personali-
dade e pavimenta o caminho para sua socializao. por isso que
ns pressupomos: .. .que a transmisso do conhecimento
criana, muito mais do que o seu comportamento ou as suas habi-
lidades discriminatrias que deve ser o tema central de preocupa-
o dos psiclogos do desenvolvimento (Nelson, 1974. Veja tam-
bm Palmonari & Ricci Bitti, 1978).
Nossas representaes de nossos corpos, de nossas relaes
com outras pessoas, da justia, do mundo, etc. se desenvolvem da
infncia maturidade. Dever-se-ia enfrentar um estudo detalhado
do seu desenvolvimento, estudo que explorasse a forma como
uma sociedade concebida e experimentada simultaneamente
por diferentes grupos e geraes. No haveria razo por que ver o
jovem adulto civilizado como o prottipo da raa humana e desse
modo ignorar todos os fenmenos genticos. E isso nos conduz a
uma viso mais ampla de um elo entre a psicologia do desenvolvi-
mento e a psicologia social, a primeira sendo uma psicologia social
da criana e a segunda, a psicologia do desenvolvimento dos adul-
tos.
Em ambas, o fenmeno das representaes sociais tem um
papel central e isto o que elas tm em comum. Se somssemos a
estes certos aspectos da sociologia da vida quotidiana - que, de
mais a mais, ainda no foi adequadamente formulada -ns po-
deremos reconstruir uma cincia geral que incluiria toda uma
109
galxia de investigaes relacionadas. Percebo isto como uma
materializao concreta de uma observao de Vygotsky: O pro-
blema do pensamento e da linguagem extrapola os limites da cin-
cia natural e se toma o problema central da sociologia histrica
humana, i.e. da psicologia social (Vygotsky, 1977). Esta seria a
cincia dos universos consensuais em evoluo, uma cosmogonia
da existncia fsica humana. No ignoro as dificuldades de tal em-
preendimento, nem o fato de que ele pode ser impassvel, como
tambm no ignoro a lacuna entre tal projeto e as nossas modes-
tas realizaes at o dia de hoje. Mas no posso compreender que
isso seja razo suficiente para no empreend-lo e no desenvol-
ve-lo, o mais claramente possvel, na esperana que outros iro
compartilhar da minha f nesse projeto.
110
111
2-SOCIEDADE E TEORIA EM PSICOLOGIA SOCIAL
1.O dia do primeiro julgamento
Como psiclogos sociais europeus, estamos em um dilema.
Para muitos de ns, nossa cincia recm comeou; mas, ao mes-
mo tempo, pertencemos a sociedades e culturas que possuem um
longo passado atrs de si. por isso que revista familiar de psi-
clogos sociais europeus tem a tendncia de ser escrita como
uma autobiografia inserida em uma civilizao antiga, enquanto
nossos colegas americanos desfrutam de uma conjuntura de a-
contecimentos que exatamente o inverso de nossa prpria si-
tuao.
O que est em jogo quando so feitas perguntas sobre o que
a psicologia social ou deveria ser? Primeiramente, no h dvi-
da de que as respostas buscadas so um reflexo das circunstn-
cias em que estas perguntas so feitas. Por isso, prudente co-
mear tornando explicitas essas circunstncias, em vez de deix-
las atrs dos bastidores. Duas delas parecem ser de maior impor-
tncia.
A primeira a tentativa de criar, na Europa, uma psicologia
social e de reunir um grupo de pessoas que esto tentando - com
maior ou menor sucesso - alcanar este objetivo. Muitos de ns
tivemos de usar mtodos autodidticos: comeamos aprendendo
ou reinventando procedimentos, enquanto consultvamos a ni-
ca literatura disponvel, da qual no conhecamos nem a funo,
nem suas razes presentes em nossa prpria sociedade e em nos-
sa prpria tradio cultural. Em frente a ns, atrs de ns e ao
nosso redor, havia - e ainda h - a psicologia social americana.
desnecessrio discorrer sobre o papel desempenhado, neste de-
senvolvimento, por pessoas como Lewin, Festinger, Heider,
Deutsch, Asch, Schachter, Sherif, Kelley, Thibaut, Lazarsfeld, Ba-
velas, Berkowitz e muitos outros. Mas, apesar do respeito que
temos por seu trabalho - e, em alguns casos, apesar dos laos de
amizade pessoais - no segredo que a aceitao est se tornan-
do progressivamente mais difcil. Na medida em que ns os le-
113
112
mos e tentamos entend-los e assimilar os princpios que os gui-
am, devemos concluir, muitas vezes, que eles nos so estranhos,
que nossa experincia no condiz com a deles, que nossa viso
de homem, de realidade e de histria diferente. Antes de minha
primeira visita aos Estados Unidos, havia poucas publicaes,
com exceo de algumas de Lewin, Festinger e Sherif, que no
me deixassem uma impresso de estranheza.
Tomemos o exemplo do livro de Thibaut & Kelley (1959)
sobre pequenos grupos, ao qual retornarei mais tarde. Quando
tentei l-lo pela primeira vez, h alguns anos, no pude nem en-
tend-lo, nem me interessar por ele. Como bem sabido, o livro
analisa todas as relaes sociais como um negcio. A teoria se
baseia em um clculo racional do individuo, sobre a probabilida-
de de outras pessoas lhe trazerem uma maior satisfao, isto ,
um mximo de recompensas e um mnimo de punies. A medi-
da, porm, que lia o livro, eu pensava em inmeros exemplos de
interao social que no tinham nada a ver com uma equao de
oferta e procura, como, por exemplo, o papel da reciprocidade e
dos valores, ou a realidade do conflito social e da identidade so-
cial. Estas lacunas me perturbavam e nunca consegui terminar o
livro; e, apesar disso, sabia que era considerado um livro impor-
tante, apesar de no entender por que devesse s-lo. Encontrava
dificuldades semelhantes com algumas das mximas implcitas
em muitas das pesquisas correntes: Ns gostamos de quem nos
apia; o lder uma pessoa que entende as necessidades dos
membros do seu grupo; ns ajudamos aqueles que nos aju-
dam; entender o ponto de vista de outra pessoa estimula a co-
operao.
Esta psicologia social da ingenuidade era, para mim, como
ainda o , agressiva, de diferentes formas: ela tinha pouca rele-
vncia para o que eu conhecia, ou para o que eu havia vivencia-
do. Sua postura moral implcita me recordava outra mxima (que
talvez no seja to evidente como parece): melhor ser saud-
vel e rico do que ser doente e pobre. Eu sabia, por minha expe-
rincia social, que ns buscamos aqueles que diferem de ns e
com os quais podemos identificar-nos; que podemos amar al-
gum que nos despreza; que lideres podem impor-se pela violn-
cia ou procurando exclusivamente seus prprios ideais - e que,
ao fazer isso, eles no so apenas admirados, como tambm a-
mados; e, finalmente, no acontece, muitas vezes, que o nosso
adversrio o que melhor nos conhece?
113
Foi somente depois de ter estado nos EE.UU. e ter discutido
estes assuntos com psiclogos sociais americanos que eu come-
cei a entender seu ponto de vista e o que est por detrs dele.
Estava, assim, habilitado a ler o livro de Thibaut e Kelley e conse-
guir algum entendimento de suas formulaes e mximas. Mas
conclu, tambm, que precisvamos, na Europa, voltar-nos para
nossa prpria realidade, nossas prprias mximas, das quais
precisamos extrair nossas conseqncias cientficas. O fato de
que a psicologia social , hoje em dia, quase que exclusivamente
americana, constitui um duplo empecilho. Do ponto de vista dos
psiclogos sociais americanos, isso certamente coloca limites
relevncia de seus resultados e cria incertezas e dvidas sobre a
validade das idias e leis que eles propem. Para os psiclogos
sociais de outros lugares, lana dvidas sobre a validade de sua
postura cientifica: eles podem escolher entre uma psicologia
social apropriada sua cultura e sociedade ou contentar-se com
a aplicao a seus ensinamentos e pesquisa de um modelo bas-
tante restrito.
No pode ser esquecido que o avano real feito pelos psic-
logos sociais americanos no foi tanto no seu mtodo emprico
ou nas suas construes tericas, mas no fato de que estes estu-
diosos tomaram como temas de suas pesquisas e contedo de
suas teorias os problemas de sua prpria sociedade. Seu mrito
estava tanto nas tcnicas, quanto na transposio dos problemas
da sociedade americana em termos psicossociolgicos, fazendo
deles um objeto de investigao cientfica. Portanto, se tudo o
que fazemos assimilar a literatura que nos transmitida -
mesmo que isso seja apenas com preocupaes comparativas -
no fazemos mais do que assumir preocupaes e tradies de
outra sociedade; trabalhamos no abstrato para resolver proble-
mas da sociedade americana. E, portanto, temos de nos resignar
a sermos uma pequena parte de uma cincia feita em outro lugar
e isolarmo-nos em uma sociedade - a nossa prpria - pela qual
no mostramos nenhum interesse. Desta forma, podemos obter
reconhecimento cientifico como metodlogos ou experimenta-
dores - mas nunca como psiclogos sociais. verdade que temos
estmulo suficiente para imitao. Mas ns precisamos tentar
trabalhar com um esprito de contradio e tornarmo-nos scios
em um dilogo estimulador; as diferenas entre o grande irmo
e o pequeno irmo poderiam tornar-se menos marcantes com o
tempo; sua persistncia mostra apenas que, em ambos os lados,
114
no foi alcanada uma real maturidade.
Este ponto de vista compartilhado por outros, cujas expe-
rincias foram semelhantes minha; mas apesar de nossas ori-
gens comuns, no fomos bem-sucedidos na criao de uma lin-
guagem, de um modelo e de uma definio de problemas que
correspondessem genuinamente nossa realidade social. No
apenas esta realidade social que compartilhada; para muitos de
ns, as idias de Marx, Freud, Piaget, Durkheim, por exemplo,
esto em relevncia direta porque nos so familiares e porque as
questes a que eles estavam tentando responder eram tambm
nossas prprias questes. Portanto, a estrutura social de classe,
o fenmeno da linguagem, a influncia das idias sobre a socie-
dade, tudo isso nos parece muito importante e exige prioridade
na anlise da conduta coletiva, embora eles dificilmente mar-
quem uma presena significativa na psicologia social contempo-
rnea.
Confrontados com esta situao, alguns buscam refgio na
metodologia e na respeitabilidade que esta oferece, embora sai-
bam muito bem que isto no uma soluo. O fato de que somos
to poucos tambm importante: difcil simplesmente conti-
nuar escrevendo um para o outro, isolarmo-nos dentro de nossa
disciplina e sermos os nicos juzes do que fazemos, enquanto
negligenciamos o que acontece alhures. Antropologia, lingstica,
sociologia, psicanlise e filosofia exigem nossa ateno; seus u-
surios solicitam que nos comuniquemos com eles. impossvel
ignorar suas questes e tambm as dos est udantes, que insistem
em obter respostas. A psicologia social, tal como ela se apresenta
hoje, no nos ajuda muito diante dessas premncias. Ela possui
uma dimenso introspectiva e seu desenvolvimento se caracteri-
zou por uma negligncia das questes de onde essas premncias
se originaram; ou melhor: ela se desenvolveu como reao a ou-
tras premncias, dentre as quais a economia, o behaviorismo e a
indstria so as mais importantes.
O segundo maior problema refere-se ao que , muitas vezes,
chamado de revoluo estudantil. H opinies diferentes sobre
o carter revolucionrio do movimento estudantil e de como
deveramos agir a seu respeito, ou contra ele. Do meu ponto de
vista, o movimento teve um saldo positivo, porque nos ajudou a
confrontar problemas que procurvamos esquecer. No h nada
mais saudvel do que sermos colocados face a face com nossas
prprias contradies. Por muitos anos, ns afirmvamos que a
115
cincia buscava a verdade, que o seu papel era estimular valores
humanizantes, ampliar o reino da razo e criar seres humanos
capazes de julgamento objetivo, que pudessem ajudar a desen-
volver os ideais de democracia, igualdade e liberdade. Mas os
ideais dominaram nosso discurso, enquanto a realidade julgava
nossas aes. Max Weber nos ensinou que a violncia legitimada
o sustentculo do corpo poltico, mas ns estvamos preocu-
pados com legitimidade, enquanto esquecamos a violncia.
Os estudantes nos levaram a srio e deram mais valor do
que ns quilo que ns lhe ensinamos. Para eles, portanto, os
ideais existem para serem realizados, no simplesmente para
fazerem parte de nossos discursos. Os estudantes so, muitas
vezes, acusados pelo uso que fazem da violncia; mas ns no
podemos esquecer o fracasso de outra gerao, que aspirou ser
conselheira do prncipe e acabou, pelo contrrio, sendo sua ser-
va. E alm disso, quem deu primeiro o exemplo de violncia?
Ditaduras, torturas, campos de concentrao no foram criados
com a atual gerao de estudantes. O palavreado isolado acaba,
mais cedo ou mais tarde, vazio de significado, particularmente
quando distorce a realidade, tentando convencer o prisioneiro
de que ele livre, o pobre e o explorado de que vivem em uma
sociedade afluente, o homem que trabalha 5O horas semanais
sem nenhum descanso, de que ele membro de uma sociedade
de lazer. Ningum ignora isso, mas todos colaboram para varr-
lo para baixo do tapete. Qualquer visitante de museu sabe o que
est escondido por detrs das folhas de parreira e que, na rea-
lidade, sua funo em nada est relacionada com a arte. Por que
ento colocar um apndice dispensvel ao corpo humano? O p-
nis de Davi, na Piazza della Signoria, em Florena, incompara-
velmente mais bonito. Na sua busca por verdade e sinceridade,
os estudantes se voltaram contra as cincias, particularmente
contra as cincias sociais, as instituies que as protegem e os
homens que as praticam. Para a gerao mais jovem, nossas dis-
ciplinas no se apresentam to desinteressadas e objetivas como
pretendemos que sejam. Os estudantes se encarregaram de nos
lembrar as implicaes ideolgicas do que fazemos e seu papel
na preservao da ordem estabelecida, tanto quanto a ausncia
de critica social em nosso trabalho.
Eles nos acusam de nos refugiarmos na metodologia, sob o
pretexto de que usar mtodos adequados equivalentes na inves-
tigao cientifica. Ns afirmamos que nosso interesse est nos
116
problemas da sociedade. Eles nos respondem que ns, tranqui-
lamente, ignoramos as desigualdades sociais, a violncia poltica,
as guerras, o subdesenvolvimento e o conflito racial. Pelo quanto
eles conseguem perceber, ns estamos seguramente abrigados
dentro do establishment.
Por vezes, tudo isso nos leva ao ponto de nos convencer que
a cincia social intil. Mas um movimento poltico que perse-
gue objetivos em longo prazo no pode se dar ao luxo de retirar
apoio cincia ou desprezar as contribuies que a cincia tra-
zer. No h dvida de que muitos de ns preferiramos ver o
desenvolvimento de uma cincia do movimento, do que de uma
cincia da ordem - para usar uma expresso corrente na Fran-
a. Como Martin Deutsch (1969) escreveu, em seu trabalho sobre
barreiras organizacionais e conceituais mudana social. Na
verdade, muitos dos pressupostos implcitos das cincias susten-
tam barreiras a uma mudana ou se constituem, elas mesmas,
seu maior obstculo. Infelizmente, porm, nem o marxismo, nem
os pases socialistas contriburam para tal cincia do movimen-
to.
O fato de que a maioria das cincias sociais, tais como a lin-
gstica, a antropologia, a economia ou a psicologia social se te-
nham constitudo ou desenvolvido, no sculo XX, sem uma signi-
ficativa influncia ou contribuio do marxismo ou dos marxistas
, com certeza, um fenmeno importante, para o qual dever ser
encontrada, algum dia, uma explicao; naturalmente, isso aplica
ao prprio Marx, cujas idias tiveram um profundo impacto. Mas
o fato de que tal cincia do movimento no exista no momento
no significa que no possa desenvolver-se no futuro assim como
no h tabula rasa na histria, eu poderia supor que quando,
finalmente, isso acontecer, ela ter que pedir muita emprestada
a seus predecessores. Mas isso no poder acontecer se a crtica
permanecer improdutiva. No suficiente reinterpretar como
muitas vezes feito na Frana de hoje - todo um campo de pesqui-
sa, mostrando que as cincias sociais e a psicologia em particular
dependem de pressupostos implcitos sobre a sociedade, ou so-
bre uma ideologia que os psiclogos sociais no conseguiram
abandonar. Essa reinterpretao luz das idias dos marxistas e
freudianos, que pode ser entendida como uma hermenutica,
levou ao desenvolvimento de uma ontologia freudiano-marxista
no ps-guerra alemo, enquanto em outros lugares da Europa
(particularmente na Frana) isso resultou em uma epistemologia
117
freudiano-marxista.
O sonho positivista de uma cincia sem metafsica - que hoje
em dia seguidamente traduzido na exigncia de uma cincia
sem ideologia - provavelmente no se tomar realidade. A meu
ver, ningum ainda conseguiu mostrar que, sendo as cincias
nascidas (histricas), tenham elas conseguido libertar-se de suas
razes, fundamentadas em valores sociais e filosofias. Se alguma
mudana foi obtida, foi precisamente na transformao destes
valores e filosofias para construir elos de natureza distinta. A
noo de uma completa independncia da cincia social em rela-
o a conceitos pr-cientficos um conto de fadas que os cien-
tistas gostam de contar uns aos outros.
A conferncia sobre a qual The Context of Social Psychology
est baseada foi organizada em resposta a demandas especifi cas.
Ns assumimos a tarefa de discutir uma cincia que para al guns
absolutamente no existe e, para outros, no existe ainda. Como
j escrevi em outra oportunidade, a psicologia social que deve-
mos criar deve originar-se de nossa prpria realidade ou, pelo
menos, de seus aspectos relevantes. Mas isso no tem sido, at o
momento, o principal foco de ateno. Alm do mais - seja isso
bem-vindo ou no - o papel da ideologia na cincia e a relevncia
poltica da cincia tm-se tornado mais importante do que nun-
ca. Alguns problemas costumavam ser considerados por muitos
como extra cientficos e a prpria cincia tinha o privilgio da
extraterritorialidade. Chegou agora o tempo de revisar estas
noes. A cincia uma instituio social e, como tal, um objeto
de anlise como qualquer outro, da mesma forma que os experi-
mentos e seus sujeitos esto engajados na interao social, como
todos os demais. Mas, mesmo assim, a verdadeira questo to
simples quanto fundamental: precisamos perguntar qual a fina-
lidade da comunidade cientifica. ela a de apoiar ou de criticar a
ordem social? de consolid-la ou de transform-la? Exigem de
ns, por toda parte, que definamos nossa posi o a respeito des-
se assunto. No h dvidas de que a paz acadmica no ser res-
tabelecida em um futuro prximo e que torres de marfim conti-
nuaro a desmoronar, uma aps outra. melhor aceitar isso co-
mo um fato da vida do que lamentar um passado que, afinal, no
foi, de modo algum, to imaculado.
Nas pginas que se seguem, tentarei colocar algumas idias
sobre as mudanas e transformaes que me parecem necess-
rias. Posso prever algumas objees que sero levantadas. E meu
118
pensamento, contudo, que algumas das criticas que se originam
de vrios grupos polticos, filosficos ou mesmo cientficos, po-
dem seguramente ser ignoradas. Elas representam uma soluo
tanto fcil quanto simples, pelo fato de virem de uma falta de
familiaridade com os contedos das cincias sociais. Refiro-me
aqui a alguns textos publicados pela escola de Frankfurt, que so
tambm discutidos neste livro por Ragnar Rommetveit (1972).
Um movimento similar existe na Frana: Kant, Hegel e Marx so
discutidos ad naus comparados e confrontados; os autores, po-
rm, confrontam a prpria imagem adequada que eles fazem
das cincias sociais, como aquela encontrada nas concepes
dominantes. Sua vitria, nesses escritos, j est assegurada e
lhes d a impresso de ter col aborado no avano da cincia soci-
al. Seria uma experincia interessante v-los trabalhando e v-
los assim mostrar como podem concretizar o que sugerem. Na
cincia, como em outras atividades, no suficiente apontar uma
falha ou apedrejar o pecador. previsvel que se um trabalho
concomitante, para provar e validar o que se diz, no tambm
realizado, estes textos, escritos com tanto fervor, sero rapida-
mente esquecidos.
Em grande parte das publicaes europias existe uma ten-
dncia de atribuir aos americanos a maior parte da responsabil i-
dade de nossas falhas e de confundir a critica cincia social
com a crtica aos EE.UU. Isso , para ns, muito fcil: so as pu-
blicaes que correm todos os riscos. Se ns somos puros
porque ns; no produzimos quase nada e no exploramos, como
fizeram os europeus, a herana da psicologia, da psicologia social
e da sociologia do pr-guerra. Estou convencido de que se a psi-
cologia social subsistir como disciplina, a contribuio dada pela
psicologia social americana vai permanecer e durar. Nos captu-
los que se seguem, serei crtico de muitos escritores americanos;
a razo disso que foram os americanos que fizeram a maior
parte do trabalho. Na Amrica, como na Europa, muitos psicl o-
gos sociais - particularmente os das geraes mais jovens - com-
partilham de uma preocupao com esses mesmos problemas.
119
2. Quem coloca os problemas e quem d as respostas?
muito evidente que o desenvolvimento da psicologia soci-
al foi diretamente influenciado por eventos sociais concretos.
Por exemplo, o Fascismo e a Segunda Feira Mundial levaram
Kurt Lewin a seu trabalho de tomada de decises dentro dos
grupos e aos tipos de grupo democrtico, autoritrio e laissez
faire. No necessrio muita perspiccia para entender que as
necessidades do mercado e das indstrias de produo e servi-
os fornecem a base para muitas das pesquisas que hoje so fei-
tas. importante, contudo, analisar como a pesquisa reflete estas
necessidades. E aqui que percebemos um dos requisitos cruciais
para uma mudana radical. No momento atual, a sociedade (isto
, os grupos industriais e polticos, etc. ) coloca as perguntas e
tambm sugere que tipo de respostas deveriam ser dadas. Ilus-
trarei isto com exemplos retirados de algumas poucas reas de
pesquisa.
Vamos comear com a dinmica de grupo. Os temas centrais
de pesquisa, nesta rea, so a eficincia do trabalho e o funciona-
mento do grupo, em um dado ambiente social. O problema real
o aumento da produtividade e a consecuo de uma organizao
otimizada das unidades industriais e militares. Essa a razo por
que tudo o que pareceu no ser diretamente ligado produtivi-
dade, como a satisfao no trabalho, tem sido grandemente ne-
gligenciado. Como Coffins & Guetzkow (1964) escreveram:
Como os primeiros estudos no conseguiram mostrar uma cor-
relao positiva entre satisfao e produtividade, satisfao pa-
rece ter perdido seu espao, como uma das variveis centrais da
psicologia social (p. 11). O ideal que visado o de um bom
trabalhador, de um bom chefe de seo ou um bom funcionrio;
sua satisfao determi nada pela gerncia. Deste modo, as redes
de comunicao, bem como as estruturas de decises e motiva-
es, so concebidas dentro do referencial de um sistema plane-
jado para a reduo dos custos e o aumento dos lucros.
Os estudos de mudana obedecem aos mesmos imperativos,
como foi claramente mostrado na conhecida experincia de Coch
& French (1953) sobre a resistncia mudana. O objetivo foi
colocado antecipadamente: era a transformao de uma empresa
industrial. A direo tinha dificuldades com os trabalhadores e
120
para alcanar seus objetivos queria reduzir suas resistncias. No
estudo de Coch e French, tudo o que se referisse s atitudes dos
trabalhadores foi concebido como resistncia, enquanto que as
intenes da direo eram vistas como favorecendo mudana
e, conseqentemente, o progresso. Na realidade, absolutamente
no se questionava a mudana no funcionamento global do sis-
tema; o objetivo era conseguir o controle da transformao por
parte da direo, o que, ao mesmo tempo, exigia que os trabalha-
dores deveriam partilhar com ela seus objetivos e sua concepo
do processo social, no qual estavam envolvidos.
Qual o contexto, nos estudos de conflitos e teorias do j ogo
Os problemas so colocados antecipadamente, em uma perspec-
tiva que total e especificamente poltica: os antagonismos esto
baseados em um conflito de interesses. o conflito entre os
EE.UU. e URSS que aparece por trs. No um conflito no qual
representantes de duas classes sociais, ou dois sistemas sociais,
ou distintas ideologias estejam se confrontando. um conflito de
interesses entre dois estados nacionais. O mesmo tipo de racio-
cnio foi aplicado ao Vietn. Est baseado na idia de que o con-
flito seria resolvido to logo cada um dos oponentes percebesse
os interesses e estratgicos do outro. No h dvida de que h
muitas divergncias entre os psiclogos sociais sobre o modo de
resoluo a ser adotado. Em um excelente artigo, Michael Plon
(1970) analisou a discusso a esse respeito entre Morton
Deustsch e Harold Kelley. O primeiro tinha mostrado, experi-
mentalmente, que a reduo na ameaa e o aumento na comuni-
cao, durante o conflito, podem estimular a cooperao. O se-
gundo questionou esta tese em seus prprios experimentos e
acentuou que, de alguma forma, era preciso uma exibio de for-
a para facilitar a resoluo do conflito. Mas tanto as hiptese
psicossociais como as receitas ai implicadas so, na realidade,
um reflexo de duas opes polticas dominantes.
De um lado, a tendncia liberal, representada por Deutsch,
com nfase no dilogo e desenvolvimento da confiana; de outro,
a opo de Kelley por uma realpolitik (poltica baseada na fora),
que uma estratgia de negociao baseada na realidade do po-
der. Tanto para um como para o outro, as opes existiam antes
de eles iniciarem seus trabalhos de pesquisa nesta rea da psico-
logia social. Meu ltimo exemplo dado pela escola marginalista,
que dominante, hoje em dia, na economia poltica. Esta escola
produziu um modelo refinado de processos de mercado, no qual
121
os parceiros de uma negociao tm, cada um, suas ordenaes
de habilidades ou de preferncias e, atravs de uma srie de ne-
gociaes, tentam estabelecer um equilbrio de preos, na distri-
buio dos bens e nas satisfaes de suas necessidades. No es-
tou preocupado aqui com a anlise matemtica usada neste mo-
delo, ou com sua coerncia lgica. 0 problema concreto que
este modelo est baseado em uma srie de pressupostos psicol -
gicos responsveis por uma viso de realidade social que pro-
fundamente individualista. De fato, o livro de Thibaut & Kelley
(1959), que j mencionei, elabora a contrapartida psicolgica
desta teoria; aceita em gros suas premissas e as combina como
modelo behaviorista de conduta. Como muito bem sabido, Thi-
baut e Kelley assumem que cada indivduo tem, sua disposio,
uma espcie de 'relgio' interno, ou uma balana que determina
o nvel comparativo ("comparison level" - C.L.) que indicar o
ganho que o individuo poder obter caso se engaje em um rela-
cionamento alternativo ao comportamento no qual est empe-
nhado no momento atual. Se este ganho maior, este indivduo
abandona o relacionamento atual, se no, fica com o ganho. Des-
se modo, todas as relaes sociais so capazes de serem traduzi-
das em termos de oferta e procura. A possibilidade de que uma
demanda que reflete as necessi dades de um indivduo, ou que
este ache que tenha direito a esta necessidade, possa ser satisfei-
ta em outra parte de maneira melhor, define os limites do poder
que uma oferta possa ter. a partir deste ncleo de idias que
Thibaut e Kelley partem para a definio de normas de trabalho
em grupos, de poder, etc. 0 que me parece significativo a tenta-
tiva de construir uma teoria dos processos coletivos na base de
uma teoria individualista; e isto parece ter sido feito atravs da
assimilao destes processos dentro do funcionamento de uma
economia de mercado. 0 mercado uma instituio social espe-
cial, caracterstica de um perodo histrico especfico; todavia,
uma teoria sociopsicolgica geral est fundamentada sobre os
princpios de seu funcionamento.
Minha preocupao no , neste momento, com as bases l -
gicas desta linha de pesquisa ou com a validade terica e experi-
mental de seus resultados. , antes, com o que ela exclui, quando
se permite confinar-se ao contexto acima descrito. surpreen-
dente, ento, que, no campo da dinmica de grupo, nunca tenham
sido feitas perguntas a respeito do modo pelo qual o grupo um
produto de sua prpria atividade.Grupos no s se adaptam aos
122
seus ambientes circundantes, mas tambm criam, de algum mo-
do, estes ambientes e em alguns momentos os tratam como re-
cursos e no como algo que exista pr-determinadamente. Em
outras palavras, ns estamos defronte a um estudo de dinmica
de grupo, o qual, paradoxalmente, no mostra interesse na gne-
se do grupo (cf. G. de Montmollin, 1959; 196O). Se ns conside-
rarmos o que aconteceu a nossa volta historicamente, podemos
ver - e isto constantemente confirmado atravs de estudos etol-
gicos - os homens sempre criaram instituies coletivas e orga-
nizaes de que eles necessitam. A produtividade , na realidade,
apenas um produto secundrio. A primeira tarefa de um grupo
no funcionar melhor, mas funcionar. Os trabalhos de Bavelas -
por geniais que sejam - do um exempla desta falta de interesse
na atividade criativa humana, como ela expressa na sociedade e
nos grupos que se criam a si mesmos. Parte do trabalho feito
Claude Faucheux e por mim (196O) estava interessado com o
estudo da criao de um sistema de relaes sociais em um am-
biente. Claude Flament (1965) tambm tentou cobrir esta lacuna
entre perspectivas genticas e produtivistas. Mais recente-
mente Jean-Claude Abric (1984) pde mostrar que a maneira
como os indivduos concebem uma tarefa e os leva a criar uma
forma de organizao social que seja adaptada a esta concepo.
Comentrios semelhantes podem ser feitos sobre os estudo
de Coch e French (1953). A modificao social no pode apenas
ser vista em termos de tcnicas e controles ambientais. H sem-
pre dois fatores nela, que so os que iniciam as mudanas e os
que esto em situao de recepo destas mudanas. Juntos, eles
constituem um sistema de relaes inter-grupais, com suas ca-
ractersticas especiais. Este um sistema de interaes dinmi-
cas, em que cada uma das partes age sobre a outra. Alm disto, a
resistncia mudana ingrediente necessrio a toda mudana,
no um fator abstrato causal e deve ser considerado como uma
conseqncia da situao social. A medida que o processo de
mudana se desenvolve, a resistncia a ele afeta tanto seu re-
ceptor quanto seu iniciador de que a administrao consultou
psiclogos sociais, no caso tudo de Coch e French, uma prova,
em si mesma, de alguma mudana de perspectiva no iniciador,
que se deveu presso exercida pela outra parte do sistema so-
cial.
, contudo, surpreendente que os autores tenham negligen-
ciado, quase que por completo, os aspectos interacionais da ao.
123
Eles no se perguntaram sobre a conduta da gerncia, sua moti-
vao, ou suas intenes, nem investigaram a histria das re-
laes entre a gerncia e os trabalhadores. Desta forma, todos os
aspectos pertencentes anl ise do sistema social total, como tal,
so deixados de lado e uma situao intergrupal transformada
em uma situao de relaes intragrupais. Todas as questes so
reduzidas a problemas de motivao. A perspectiva geral conti-
nua sendo a dos administradores, uma vez que as etapas do pro-
cesso de mudana so definidas como resistncias, isto , como
obstculos s efetivas implementaes do que deveria acontecer.
O problema de quem deseja introduzir as mudanas e a cujos
interesses eles iro servir no e nem sequer mencionado; nada
dito sobre o fato de que a resistncia possa ser legitima, que suas
razes possam estar ligadas a uma si tuao objetiva e que talvez
sela realmente necessria para os que resistem. Deve-se enfati-
zar, mais uma vez, que o raciocnio dos autores implica fazer
mudanas sem que ningum resista a elas, ou melhor, que ape-
nas o grupo resistente quem est na origem das dificuldades, que
o grupo pode simplesmente optar por aceitar o que est sendo
proposto. Qualquer um que teve oportunidades de estudar situa-
es deste tipo sabe que os iniciadores da mudana, sejam ge-
rentes ou administradores, so, freqentemente, contrrios a
qualquer mudana que os afete; se exigem mudanas nos outros,
no sentido de manterem-se, eles mesmos, mais seguros em
suas prprias posies (Moscovici, 1961a).
Para resumir, Coch e French adotaram uma definio parci-
al de situao que lhes permitiu considerar as mudanas sociais
como um meio de assegurar controle social; isto lhes permitiu,
em troca, considerar resistncia como uma varivel negat iva e
acidental ao invs de reconhecer que um aspecto positivo e
necessrio da situao. Finalmente, os autores tomaram relaes
sociais intergrupais de um ponto de vista intragrupal. Estavam
dentes, contudo, da natureza intergrupal do problema, como se
v na passagem que se segue:
Neste conflito entre o campo de poder da gerncia e o campo
de poder do grupo, o grupo tentou reduzir a fora do campo
de poder hostil relativa fora do seu prprio campo de po-
der. Esta mudana foi conseguida de trs modos: a) O grupo
aumentou seu prprio poder, tomando-se um grupo mais co-
eso e mais disciplinado; b) O grupo conseguiu aliados, bus-
cando o apoio do sindicato, na confeco de uma reclamao
formal sobre a nova medida; c) O grupo atacou o poder do
124
campo hostil diretamente, na forma de agresso contra o su-
pervisor, o engenheiro de demarcao do tempo e a gerncia
superior. A agresso, pois, no provejo apenas das frustra-
es individuais, mas tambm do conflito entre os dois gru-
pos.
Mas os autores no se interessam por este conflito.
No se pode dizer que o estudo do conflito, em psicologia
social, tenha sido um exemplo de uma adequada anlise cientfi-
ca do problema. Este estudo se ressentiu de uma estreita depen-
dncia da teoria do jogo, a qual contribuiu, ela mesma, para a
idia de que as guerras so um meio normal para se resolverem
diferenas entre naes e que elas podem ser sustadas a partir
do uso de estratgias apropriadas - isto , uma estratgia racio-
nal. surpreendente que, em uma poca em que ideologias soci-
ais e polticas desempenham um papel to importante nos assun-
tos humanos, to pouco interesse tenha sido mostrado sobre
seus efeitos nas condutas sociais e na definio da natureza dos
conflitos. Indivduos e grupos freqentemente tm diferentes
concepes da realidade e to logo uma adequada anlise seja
feita da natureza destas diferenas, os conflitos de interesse ou
de motivaes tornam-se secundrios. Descobre-se, ento, que
os adversrios no partilham um referencial comum e no se
referem aos mesmos aspectos dos problemas e que sua avaliao
das perdas e ganhos no , de modo algum, idntica. Por causa
de tudo isto, os adversrios no tm uma linguagem comum, ou
desejo de se comunicarem; se e quando um dilogo comear, o
conflito j est quase resolvido. Qual , ento, o sentido de pro-
por uma soluo que consiste em sugerir que se faam tentativas
de compreender o outro, de tal modo que a cooperao possa
substituir a competio? A implicao a de que os oponentes
nunca foram estranhos um ao outro e que, quanto mais lutarem,
mais interesse tero em se tornarem estreitamente familiariza-
dos. tambm bastante sabido que a paz nunca foi obtida deste
modo.
As mesmas consideraes se aplicam s relaes entre indi-
vduos e pequenos grupos. Iria at mesmo mais longe: a alterna-
tiva competio versus cooperao irrealstica ou, no mnimo,
apenas uma entre vrias possveis alternativas. Diviso de traba-
lho, definio de limites e o exerccio de influncia e de poder,
tudo isso representa outras formas de soluo de conflitos, que
podem ser repetidamente observados na histria, como na vida
125
diria. Eles merecem ser levados em conta, analisados e avali a-
dos ao menos teoricamente, se no na forma de experimentos.
isto me traz de volta concepo econmica, que ns aceita-
mos to fcil e espontaneamente no desenvolvimento deste tipo
de psicologia social imaginada pela teoria da troca e nos nossos
modelos de pensar sobre conflitos e decises. Aqui tambm ns
estamos lidando com uma concepo individualstica, no sentido
de que considera tudo o que acontece em uma sociedade em
termos de escolhas e decises individuais. Esta concepo resu-
me o campo de comportamento econmico a processos de utili-
zao de meios que so considerados como dados antecipada-
mente, com o objetivo de atingir metas que so tambm preesta-
belecidas. Isto se aplica tanto aos meios que um indivduo tem
sua disposio e s suas previ ses, quanto aos procedimentos
tcnicos e sociais que podem ser empregados para alcanar, em
longo prazo, objetivos e metas sociais. A finalidade da teoria e-
conmica se transforma, ento, em um planejamento de distribu-
io, com a finalidade de conseguir uma satisfao otimizada de
metas e necessidades preestabelecidas, atravs do uso de meios
preestabelecidos. Pode-se dizer que, ao fi nal, o ser humano tor-
na-se desnecessrio. Seria suficiente, para Pareto, ter um retra-
to de seus gostos; depois disto, ele poderia desaparecer. No h
espao, neste sistema, para um agente de conduta econmica,
nem para processos socioeconmicos; h apenas recursos escas-
sos e necessidades financeiras excessivas, que tm de ser coor-
denadas. E mesmo quando o fato de que uma economia de mer-
cado possa ter suas incertezas chamar a ateno para a existn-
cia de pessoas agindo dentro dela, no so levadas em considera-
o as incertezas que as pessoas possam ter sobre os recursos
disponveis a eles e sobre seus objetivos recprocos.
desta forma que alguns economistas projetaram as nor-
mas e atitudes de uma sociedade capitalista, baseados nos pro-
cessos de troca. Suas reconstrues psicolgicas pertencem a
este contexto, a ao humana concebida como determinada
pelos imperativos de uma economia de dinheiro e de lucro. Mas
h ainda mais que isto. Tudo o que social simplesmente ex-
cludo deste tipo de economia. Investimentos coletivos, gastos
que no so canalizados atravs do mercado, ou da chamada
economia externa, no esto includos nos seus dispositi-
vos.Como conseqncia, decises que so verdadeiramente cole-
tivas, normas que determi nam o modo de utilizao dos recursos
126
e as interaes polticas - que so fenmenos bem diferentes das
simples deliberaes administrativas que levam a escolhas e
decises que so de interesse secundrio - tambm esto fora de
sua competncia; tambm no esto includos os processos pelos
quais os meios de ao se tornam possveis e os objetivos se tor-
nam definidos dentro de seu territrio porque, dentro de uma
perspectiva individualstica, so considerados como dados na
natureza do Homem. Como resul tado de tudo isto, esta verso da
economia concebe uma imensa rea da conduta humana como
irracional, uma vez que, dentro de sua prtica, tudo o que vai alm
do individualismo e tudo o que diverge um pouco de um modelo de
capitalismo entra, por definio, no domnio da irracionalidade.
Qual a fundamentao desta concepo? Primeiro, uma
racionalidade que puramente cartesiana e mecnica. A conduta
pois, racional na medida em que ela se conforma aos princpios
de conservao (os meios so dados uma vez por todas e so
imutveis) e de maximizao (a busca de satisfao otimizada).
Segundo, os clculos so puramente individuais, pois so limita-
dos s relaes entre dois indivduos. Mas, se os psiclogos ado-
tam tais hipteses, o que eles tm todo o direito de fazer, tm
tambm de se dar conta de que seu universo intelect ual termina
por confinar-se a um setor muito especifico da sociedade e que
estaro apenas interessados em uma pequena e especifica frao
da humanidade.
A leitura de alguns estudos antropolgicos, ou uma familia-
rizao com outras culturas, ser ilustrativa a esse respeito. O
dar, a reciprocidade, os laos de consanginidade e de religio
esto todos a para mostrar os limites da lei de oferta e de procu-
ra e tambm das teorias de psicologia social. De fato, a maneira
como os processos de escolha e sua evoluo so vistos na teoria
da dissonncia cognitiva no so compatveis com as premissas
de economia de mercado. Os importantes estudos experimentais
sobre necessidades desenvolvidos por Zi mbardo (1969) com-
provam que as necessidades no podem ser consideradas ante-
cipadamente como dadas. A pesquisa de Mauk Mulder sobre
poder (1955) tambm contradiz, em muitos pontos, uma con-
cepo desta matria com base em princpios utilitaristas.
Mas eu devo lembras ao leitor que no meu objetivo criti-
car estas teorias e as pesquisas delas advinda, Desejo, em vez
disso demonstrar o quanto as teorias esto presas s questes
feitas e s respostas dadas, em um contexto especifico. Nossas
127
chances de progresso e renovao dependem de nossa habilida-
de de permanecermos abertos a aos problemas de nossa realida-
de coletiva. Ns no fomos suficientemente receptivos a estes
problemas na Europa, na verdade, alguma coisa importante e
preciosa pode ser aprendida com a abertura e receptividade dos
nossos colegas americanos. A sociedade muda e cria e suas de-
mandas so importantes fontes de estimulao. Mas a ns cabe
dar as respostas, ao menos tentar encontr-las. Devido nossa
formao, nossas funes e nossas tradies, ns deveramos
estar em uma posio de analisar, examinar e colocar questes
dentro de um referencial mais amplo.
Se o estudo dos conflitos e das maneiras de resolv-los fos-
sem colocados na perspectiva de todas as situaes possveis -
isto , daquelas acontecidas na histria - e alm do horizonte
bem limitado das interaes polticas, elas nos conduziriam a
formulaes de respostas que seriam diferentes destas que tm
sido at agora vislumbradas. O mesmo se aplica s mudanas, s
dinmicas de grupo e mesmo prpria definio do que social
na conduta humana. De fato, provvel que, atravs de um pro-
cesso de representao continuada, at as prprias questes
poderiam ser transformadas. Por agora - e isto o que eu desejo
enfatizar de novo - os psiclogos sociais no tem feito nada mais
do que operacionalizar questes e respostas que eram imagina-
das em outras partes. E, ento, os trabalhos em que eles esto
engajados - em que ns todos estamos engajados - no um tra-
balho de anlise cientifica, mas de engenharia, com todo o peso
de metodologia que isto implica. A confuso entre cincia e en-
genharia muito marcante nas cincias sociais e particularmen-
te na psicologia social. Por isso, parece-me que, se ns devemos
permitir que a sociedade faa as perguntas - uma vez que isso
est implcito na natureza de nossas atividades - , em contrapo-
sio, nosso dever elaborar e redefinir ns mesmos estas per-
guntas. Esta uma condio necessria para estabelecer um di -
logo verdadeiro, em que ns podemos re-descobrir a liberdade
de analisar objetivamente todos os aspectos de um problema e
de considerar os vrios pontos de vista que emanam da socieda-
de em que vivemos.
128
3. O lugar da teoria em um mundo de fatos
3.1. O compromisso tcito
Devemos admitir que a psicologia social no realmente uma
cincia. Ns desejamos dar-lhe uma aparncia de cincia, usando
um raciocnio matemtico e os refinamentos do mtodo experi-
mental; mas o fato que a psicologia social no pode ser descrita
como uma disciplina, com um campo unitrio de interesse, um re-
ferencial sistemtico de critrios e exigncias, um corpo coerente
de conhecimentos, ou mesmo um conjunto de perspectivas comuns
compartilhado por todos os que a praticam. Estaramos prximos
verdade ao dizer que ela consiste em um movimento de pesquisa e
metodologia que periodicamente atrai um conjunto de interesses
diversos que, algumas vezes, conseguem enriquec-la de maneira
nova e inesperada; mas uma fundamentao slido futuro no foi
ainda construda.
Este movimento no tal que siga em frente firmemente, em
uma direo definida. De tempos a tempos, os interesses dos pes-
quisadores so mobilizados por temas ou reas, que parecem ser
novos e importantes naquele momento; mas, cedo ou tarde, eles se
mostram estreis e inteis, sendo ento abandonados. As pesquisas
se espalham, ento, aqui e ali, de uma forma puramente aleatria,
ao invs de ir acumulando e ascendendo a novos patamares. Esse
movimento oscila entre dois plos. O primeiro consiste em uma
coleo de tpicos separados e no relacionados; por causa disto,
por exemplo, qualquer um interessado em fazer pesquisa sobre
pequenos grupos, ou em redes de comunicao, ou sobre compara-
es entre desempenho individual ou grupal, ir se identificar como
psiclogo social. No plo oposto, h uma iluso de coerncia, uma
vez que as pesquisas so organizadas ao redor de temas gerais,
como os processos de influncia social ou de mudana de atitude,
mas estes temas permanecem eclticos e no estruturados. A a-
brangncia do assunto dividida em tpicos,cls, escolas e
estabelecimentos, onde cada um tem o seu modo prprio de fazer
perguntas, sua prpria linguagem e seus prprios interesses; ainda
mais, cada um se desenvolve, a partir de suas peculiaridades, seu
129
prprio critrio de verdade e excelncia. Deste modo, psicologia
social , ao mesmo tempo, um campo cercado ao redor e um mosai-
co; nossa aparncia de coeso devido a presses externas, mas
nossa dependncia de interesses, tcnicas e cincias diversas conti-
nua a nos separar uns dos outros.
Parece-me que a criao de um sistema de atividades tericas
essencial para o desenvolvimento coerente do tema. E a ausncia de
tal sistema que o principal obstculo para que se possa dar res-
postas que poderiam ser relevantes para as questes que nos so
feitas pela sociedade. unicamente um referencial compartilhado
de critrios e princpios, que pode permitir aos cientistas libertar-se
de presses externas, de levar em conta os aspectos relevantes da
realidade e serem crticos, tanto de sua prpria atividade como da
atividade dos que os patrocinam. As teorias determinam no ape-
nas o que interessante, mas tambm o que possvel. Mas elas
no surgem do nada; so o resultado de um empenho coletivo e
das inspiraes coletivas daqueles que so os usurios de tal disci-
plina. O ponto sobre o qual eu desejo insistir que toda nossa ideo-
logia cientfica - para tomar um termo usado por Henri Tajfel - se
constitui em um obstculo para este tipo de desenvolvimento em
psicologia social. Trs aspectos desta ideologia so, no meu ponto
de vista, particularmente importantes.
O primeiro a predominncia de uma epistemologia positivis-
ta. Seu dogma principal que os fatos so dados na realidade cir-
cundante e podem ser indutivamente isolados, atravs de uma des-
crio das regularidades e que a experimentao a marca regis-
trada da cincia. Nessa perspectiva, a teoria uma linguagem e uma
ferramenta, ambas subordinadas ao mtodo emprico e a ele su-
bordinadas cronologicamente. Ns no estamos muito claros sobre
nossa identidade, e como conseqncia, para nos tornarmos cien-
tistas, ns tentamos seguir, to prximo quanto possvel, as nor-
mas predominantes, das quais ns derivamos nossa nfase com
respeito s tcnicas estatsticas e experimentos e o ritualismo que
os acompanha. Muitos de ns trabalhamos pacificamente em nos-
sos cantos, guiados pela idia de que, no momento, essencial acu-
mular fatos, que lido nos ajudar, um dia, na construo de uma es-
trutura conceitual.
Em segundo lugar, a negligncia da atividade terica resulta
em uma espcie de compromisso tcito, pelo qual evitamos encarar
as questes sobre a natureza das leis, com as quais nossa disciplina
est relacionada e sobre seu modo de validao. Isso se reflete em
130
conflitos entre observao e experimentao e entre o papel do
psicolgico e o papel do social. A linha divisria entre ob-
servao e experimentao no devida, em nossa disciplina, a uma
distribuio de tarefas ou a uma especializao das tcnicas de pes-
quisa; antes, ela devida a diferenas nas estratgias de pesquisa
determinadas pela natureza dos problemas que esto sendo estu-
dados. Isto se constitui em uma verdadeira ruptura, que divide a
comunidade cientfica to profundamente que ns somos tentados
a perguntar se no estamos lidando com duas espcies diferentes
de cientistas, ou duas disciplinas distintas. Optar por uma ou por
outra dessas disciplinas como tornar-se membro de um clube, ao
qual algum s pode se filiar, se aceitar um credo, que no necessita
de justificativa, nem de explicao. O jogo todo realizado entre
estes dois clubes e as criticas mtuas eliminam toda a possibilidade
de uma reaproximao, apesar de que tentativas sejam ainda feitas,
aqui e ali, para criar esta possibilidade. As crticas que cada lado faz
ao outro so bem conhecidas. Psiclogos sociais experimentais so
acusados devido artificialidade das situaes que eles usam no
estudo dos fenmenos sociais e, conseqentemente, pelo fato de
que seu mtodo cientfico inadequado para a compreenso da
realidade social. No-experimentalistas, so acusados pelo fato de
que a complexidade dos processos sociais no pode ser apanhada
no contexto natural e que sua simples coleta de dados no um
procedimento capaz de provar uma verificao rigorosa das hipte-
ses que podem ser seguidas pela observao. O argumento contra
eles gira ao redor do fato da incompatibilidade de sua viso da rea-
lidade social, com um modo de proceder propriamente cientfico.
A verdadeira questo que est aqui em jogo a definio da
teoria sociopsicolgica e sua validao. Para os experimentalistas,
as interpretaes post hoc dos fatos observados - por mais coe-
rentes que sejam - no podem resultar em conceitualizaes ver-
dadeiramente cientficas e no podem, por isso, servir de funda-
mentao para uma cincia. Os no-experimentalistas encontram
pouco interesse nas hipteses que formam a infra-estrutura dos
experimentos; predio eficiente obtida, de acordo com eles, s
custas do menosprezo da maioria dos parmetros e ao mesmo
tempo da perda da especificidade do que esta sendo estudado. Uma
articulao comum das duas abordagens toma-se mais difcil, pois
as teorias que levam experimentao tm uma estrutura que dife-
131
re daquelas que se originam de uma observao sistemtica. E as-
sim, muito mais confortvel no levantar estes problemas muito
freqentemente, no encarar possibilidades diversas ou estimular
paixes e deixar a escolha das direes futuras a passagem do tem-
po e a sele~o natural.
Mas se uma escolha deve realmente ser feita, nossas generali-
zaes conceituais penderiam em uma direo psicolgica ou
social? A aceitao de uma perspectiva psicolgica significa, fun-
damentalmente, que a psicologia social tornar-se-ia um ramo da
psicologia geral cuja funo seria aprofundar nosso conhecimento
de problemas muito gerais, tais como percepo, julgamento ou
memria que permanecem imutveis atravs de seus modos e con-
dies de operao e produo.Os dados da psicologia social nos
habilitariam a nada mais do que especificar mais detalhadamente
algumas variveis no comportamento humano ou animal que, em
ltima anlise, so redutveis a leis da psicologia animal ou indi-
vidual, da psicofsica ou psicofisiologia.Assim, por exemplo, a per-
cepo social poderia ser estudada da mesma maneira que a per-
cepo auditiva ou visual; fenmenos sociopsicolgicos, tais como
processos de influencia, de mudanas de atitude ou de soluo de
problemas em grupo no seriam nada mais do que casos especiais
de princpios condicionantes ou motivacionais, aos quais se pode-
riam aplicar as leis gerais da aprendizagem.O trabalho de Zajonc
(1966) um excelente exemplo desta tendncia.
Este tipo de extenso pressupe uma aceitao implcita de
trs postulados. O primeiro que a diferena entre processos so-
ciais e processos no-sociais elementares somente de grau e que
uma hierarquia entre os fenmenos pode ser estabelecida, na qual
eles podem ser ordenados, dos mais simples aos mais complexos e
dos individuais aos coletivos. O segundo postulado que os pro-
cessos sociais no implicam na existncia de fenmenos sociais,
governados por suas prprias leis, mas que eles podem ser expli-
cados por leis psicolgicas, que podem, ao mesmo tempo, se basear
em hipotticas leis da fisiologia. O postulado final que no h dife-
rena de gnero entre comportamento social e no-social. As outras
pessoas intervm somente como parte do ambiente geral. A doutri-
na inicial de F.H. Allport (1924) continua sendo o credo de muitos
psiclogos sociais: O significado do comportamento social o
mesmo do no-social, isto , a conexo de um desajuste biolgico do
indivduo ao seu ambiente. Nos outros e atravs dos outros, muitos
de nossos mais urgentes desejos so preenchidos; e nosso compor-
132
tamento para com eles est baseado nas mesmas necessidades fun-
damentais, assim como nossas reaes para com os objetos, sociais
ou no-sociais (p.3-4).
Opondo-se a esta tendncia, embora ainda timidamente, h
uma outra linha de pensamento que tende a conceituar processos
sociopsicolgicos de um ponto de vista sociolgico. Exemplos disto
so as pesquisas sobre estruturas de pequenos grupos, sobre hie-
rarquia de papis e status atravs dos quais definida uma identi-
dade individual e sua posio social, sobre comunicao de massa,
sobre quadros referenciais e sobre relaes intergrupais. Psicologia
social, aqui, vem a ser um meio de estudo - se possvel no laborat-
rio e com mtodos que provarem sua utilidade - dos processos so-
ciais, que existem, em larga escala, na sociedade global.O estudo -
da cultura um outro exemplo - embora ainda mais marginal para a
psicologia social - de uma aproximao similar; este estudo subor-
dina mecanismos psicossociais ao contexto social cultural do com-
portamento, ao referencial social dos aspectos fundamentais do
funcionamento psicolgico, ou aos aspectos culturais dos processos
de aprendizagem e socializao.Em contraposio - como Claude-
Faucheux (197O) claramente mostrou - o estudo transcultural, na
psicologia social, esqueceu completamente as dimenses compa-
rativas propriamente culturais ou sociais.
Entre psiclogos sociais foi, incontestavelmente, Sherif quem
perseguiu, de forma mais constante, a tentativa de generalizar, do
laboratrio para a sociedade como um todo. O mnimo que se pode
dizer que, como resultado, ele no conseguiu muita popularidade.
A prova disso est evidente no livro de Deutsch & Krauss (1965),
sobre a teoria em psicologia social, no qual nenhuma referncia
feita, tanto sua pesquisa, quanto a sua posio terica. Este lapso
, obviamente, o resultado de um consenso tcito. Se o problema de
generalizao tivesse sido tomado mais seriamente, teria sido im-
possvel negligenciar este tipo de orientao e evitar uma tentativa
de esclarecer os problemas que resultam da. Neste livro estes pro-
blemas so enfrentados diretamente por Israel, Rommetveit e Taj-
fel, que os discutem dentro de seus prprios pontos de vista; assim,
fazendo, eles nos foram a enfrentar dificuldades que muitos prefe-
ririam esquecer e outros poderiam consider-las fora de moda.
Contudo, os problemas esto a e eles continuam, permanentemen-
te, como pano de fundo de nosso trabalho. Eles no necessitam,
talvez, serem resolvidos antes de fazermos nosso prximo experi-
mento; mas ns precisamos buscar uma soluo para eles, se ns
133
queremos nos engajar na construo de uma teoria.
Por ltimo, mas no menos importante, a fuga da teoria, ou do
debate terico, tem tambm seus aspectos emocionais. A cincia
social, incluindo a psicologia social, se desenvolveu em confronta-
o com a filosofia. Como resultado, existe um tipo de medo reativo
de sermos indulgentes especulao filosfica. A manipulao de
idias , portanto, aceitvel em condies que leve, mais ou menos
diretamente, experimentao ou, alternativamente, se ela for ca-
paz de uma formalizao matemtica, que oferea ao menos uma
aparncia de respeitabilidade, ainda que fraca ou duvidosa. Por
causa da insegurana generalizada, o campo das cincias sociais se
tornou to repressivo que acabou por tomar a cincia completa-
mente sem interesse; os problemas fundamentais do homem e da
sociedade se perdem em uma nuvem de campos fragmentados e
tcnicos que conseguem desviar talentos genunos e em esfriar
todo o entusiasmo. Os experimentos jogam um papel negativo, co-
mo um obstculo ou um aviso, possibilitando-nos apenas provar ao
mundo que estamos fazendo cincia e no filosofia. Se ns perder-
mos a marca desta identidade, ns perderemos tambm toda nossa
segurana e no saberemos se nossas construes tericas podem
ser reconhecidas como cientficas. Mas tudo isso no mais que
uma armadilha; nem os mtodos, nem as linguagens formais, garan-
tiram jamais o carter cientfico de coisa alguma. De qualquer
modo, por que deveramos nos desesperar, se nem comeamos.
Nem tudo, em cincia, cientfico. Teorias biolgicas sobre a ori-
gem da vida ou teorias csmicas sobre a estrutura do universo ain-
da no chegaram a este nvel.
3.2. Algumas conseqncias para a pesquisa e a teoria
O peso do positivismo, as tenses entre mtodos observacio-
nais e experimentais e o medo da especulao so as causas do len-
to desenvolvimento da teoria em psicologia social. Uma das conse-
qncias o respeito do genuno senso comum, da psicologia dos
aforismos tidos como seguros. No insistirei neste tema delicado;
como bem conhecido, o tema contribui enormemente para acusa-
es de trivialidade, que so, muitas vezes, jogadas sobre ns. Gos-
taria, contudo, de fazer alguns comentrios sobre o assunto.
Tem-se como aceito por todos que o senso comum algo que
compartilhado de uma maneira mais igualitria que qualquer outra
coisa no mundo.
134
Isto no reflete, entretanto, um conjunto de dados estvel ou
imutvel, correspondente existncia de uma verso validada fir-
memente pela realidade. Pelo contrrio, um produto da cultura,
que, em nossa sociedade, mesclado com teorias cientficas. Em um
estudo sobre a imagem pblica da psicanlise (Moscovici,
1961/1976) descrevi a extenso da penetrao da teoria psicanal-
tica no senso comum do pensamento quotidiano, nas discusses e
interpretaes das aes das pessoas. Claudine Herzlich (1969)
analisou fenmenos similares na nossa concepo de sade e do-
ena. Da mesma forma, o vocabulrio marxista parte e parcela de
nossa herana e de filosofias espontneas de milhes de pessoas. O
mesmo verdadeiro sobre o behaviorismo, a sociologia funcionalis-
ta, os modelos econmicos e sobre a avaliao da ao - em termos
histricos ou probabilsticos- Respeitar, pois, o senso comum,
respeitar teorias que aceitamos implicitamente. Mas ns devemos
tambm aprender a desconfiar da sabedoria popular. O fato de
que o senso comum esteja de acordo com nossas intuies no pro-
va nada mais que a existncia de um consenso. O socialista alemo
Babel costumava dizer que sempre se preocupava quando estava
de acordo com seus adversrios ou quando estes concordavam com
ele. Eu penso que o psiclogo social deve ter a mesma atitude,
quando observa ou descobre que seus resultados apenas confir-
mam algo que conhecido por todos.
Isto no quer dizer que devamos nos esforar para sermos ori-
ginais a todo custo. E mais, em cincia s descoberta verdadeira
aquilo que surpreendente e original. por isso que ns precisa-
mos tentar aceitar as coisas pelo que elas so em nossa disciplina.
No seu inicio, a psicologia social tinha a tarefa de verificar certas
hipteses e interrogaes, mesmo que elas no fossem muito dife-
rentes daquilo que todos aceitavam tranqilamente. Chegou agora
o tempo de reconhecer que precisamos deixar esse primeiro es-
tgio para trs e seguir adiante. Multiplicar experimentos para re-
descobrir o que bvio pode conduzir unicamente a uma situao
paradoxal. De fato, a principal razo de ser do mtodo experimental
inventar e validar novos resultados de uma teoria ou produzir
efeitos inesperados. Se ns fazemos experimentos que no tenham
estas caractersticas e que no faam mais que confinar em um l a-
boratrio o que j se encontra difundido na cultura, ns pro-
cedemos de uma maneira no-experimental. Nossos experimentos
se tornam, ento, um tipo de observao sistemtica, dirigida a co-
locar em nmeros e descrever em livros as crenas que foram
135
transmitidas pela tradio oral. Desta forma, muitos experimentos
sobre influncia social, sobre os efeitos da maioria, sobre liderana
ou sobre ameaa, nada mais so do que uma longa entrevista que
fazemos junto sociedade, sobre sua teoria social.
Entretanto, o domnio do senso comum apenas uma conse-
qncia da ausncia de esforo terico; a mortalidade e a esterili-
dade dos achados em algumas reas de pesquisa so outra. Estudos
sobre dinmica de grupo e sobre as redes de comunicao de Bave-
las so um exemplo claro disso. No estarei muito errado em afir-
mar que devem existir cerca de cinco mil artigos sobre estes t-
picos; este nmero provavelmente subestimada Muitos destes
estudos no so mais que validaes do folclore industrial e minia-
turizaes de situaes reais; eles praticamente no contm valor
de informao cientifica. Os livros que foram escritos sobre estes
estudos e as autpsias que foram feitas sobre eles tm revelado
que, na maioria dos casos, estavam completamente vazios de pre-
ocupao com problemas conceituais. Como McGrath & Altman
(1966) escreveram: "A produo da pesquisa continuou crescendo
a um ritmo intenso. A teoria era mnima durante a maioria dos anos
50 e tem continuado assim at o presente momento" (p. 9). Por
estas razes, os autores das vrias revises deste campo se re-
duziram compilao de bibliografias ou, no mximo, a apresen-
tao de listas classificadas de resultados; no se pode, realmente,
dizer que o que sobrou um conjunto de proposies confirmadas
ou de variveis adequadamente definidas. Suspeito que o mesmo
verdadeiro para o estudo sobre conflito.
A terceira conseqncia da ausncia de interesse na teoria o
isolamento de vrias reas de pesquisa, ou melhor, o fato de no
terem sido feitos esforos consistentes para chegar a generaliza-
es tericas. Com respeito, por exemplo, ao trabalho sobre con-
flito, algum poderia perguntar se sua principal preocupao era
com os processos do conflito que so centrais a todos os fenmenos
psicolgicos ou sociais - ou com aes particulares ditas "conceitu-
ais". Como sabido, o ltimo caso verdadeiro; no foi feito ne-
nhum esforo para analisar as relaes entre esta rea particular do
comportamento e os processos centrais do conflito ou para ver
como eles se manifestam em vrios tipos de situaes reais. Como
eu no estou muito familiarizado com este campo de trabalho, no
irei discuti-lo mais a fundo; em lugar disso, tomarei, como exemplo
um problema que est mais prximo dos meus prprios interesses
e no qual tem sido despendido grande quantidade de trabalho, nos
136
ltimos anos: este o fenmeno da mudana de risco ("risky shift").
Em primeiro lugar, vamos descrever brevemente o bem co-
nhecido paradigma usado nestes estudos. Os sujeitos so geral-
mente confrontados com escolhas entre vrias alternativas, envol-
vendo uma mudana na situao, nas relaes com iguais, etc. de
uma pessoa. Cada uma das escolhas representa vrios graus de
risco, para a pessoa que os escolhe. Trabalhando sozinho, cada su-
jeito faz dez ou doze escolhas. Os sujeitos so, ento, colocados jun-
tos em grupos de vrios tamanhos e solicitados a selecionar, para
cada problema, um nvel de risco unanimemente aceito por todos
os membros do grupo. Uma vez completada a discusso do grupo,
os sujeitos so novamente separados e novamente lhes solicitado
que indiquem sua preferncia pessoal para a soluo de cada pro-
blema. Chega-se concluso que os grupos geralmente se inclinam
para solues de mais risco do que os indivduos.
Descobriu-se isso por acaso. Na cincia e na tecnologia, acha-
dos ocasionais desse tipo foram sempre muito explorados. Uma boa
dose de ateno tem sido dada mudana de risco porque, desde os
experimentos iniciais de F.H. Allport e de Sherif, afirmou-se que, em
situaes sociais, as opinies individuais e os juzos tendem a con-
vergir em direo mdia e afastar-se das posies extremas. All-
port atribui esta tendncia natureza racional das decises coleti-
vas, que se colocam em oposio ao comportamento espontneo da
multido, caracterizado por juzos extremos e aes irracionais.
Assim, os resultados sobre os experimentos de risco, que foram
replicados muitas vezes, constituem uma exceo a um tipo de con-
duta que era considerado como universal. Isto fez surgir duas ques-
tes: a primeira dizia respeito s condies em que era possvel
produzir uma "mudana conservadora" e a segunda questo era
por que os grupos assumem mais riscos que os indivduos.
Mudanas conservadoras raramente foram conseguidas em
experimentos; quando isso aconteceu, foi atravs do fato de se dar
mais nfase s dimenses ticas do risco. No todo, foi de uma difi-
culdade frustrante produzir tal fenmeno.
Diversas explicaes da mudana de risco tm sido propostas.
Wallach, Kogan & Bem (1964) trazem a hiptese da difuso de
responsabilidade no grupo: sendo que cada indivduo no grupo
sente menor responsabilidade do que quando toma decises indi-
viduais, ele ousa correr mais riscos. Brown (1965) parte da idia
que, em situaes individuais, as pessoas esto em um estgio de
137
"ignorncia pluralstica", o que os fora a serem cautelosos. Quando
eles se encontram em uma situao social, eles abandonam a caute-
la e tomam posies extremadas, particularmente porque o risco
tem uma conotao de valor positiva em nossa sociedade. Final-
mente, Kelley & Thibaut (1969) afirmam que existe uma "retrica
do risco", isto , a argumentao em favor tomada de um risco
tem sido mais convincente e elaborada do que a pregao do con-
servadorismo. Alm disso, alguns autores tentaram demonstrar
que correr um risco depende de caractersticas pessoais e, con-
seqentemente, est relacionado influncia exercida em um gru-
po por seus membros mais extremados.
Minha opinio de que, se todas as teorias tm alguma verda-
de, uma coisa , ento, certa: mudana de risco no apresenta inte-
resse como objeto de estudo e no merece os esforos da anlise
experimental e terica despendidos nela. Realmente, se tudo se
resume na combinao de questes sobre influncia, de retrica, de
personalidade e de conformidade s normas, ento mudana de ris-
co no nada mais que um fenmeno secundrio e seria mais til
estudar influncia ou conformismo, diretamente. Juzos sobre risco
podem ser vistos, ento, como no diferindo, de maneira alguma, de
juzos que so feitos sobre o amor, agresso ou drogas. E se estes
demonstram o tipo de mudana achado, no caso, de risco, a lgica
implcita s teorias supramencionadas nos poderia levar a propor
uma teoria sobre mudana amorosa, mudana agressiva, ou mu-
dana aditiva. Poder-se-ia, pois, multiplicar indefinidamente os
exemplos e chegar, finalmente, uma "teoria' especfica para cada
um destes aspectos da conduta social. Para completar o quadro, al-
gum poderia progredir em direo a alguma destas snteses ou
comparaes, concluindo, talvez, que a mudana de risco dos a-
lemes maior que a dos franceses, de que no existe distino
entre mudana amorosa e mudana culinria e, finalmente, que,
no conjunto, mais riscos so assumidos quando em grupo. De uma
maneira, ento, puramente indutiva e post hoc, ns podemos repro-
duzir ad infinitum um fenmeno que foi primeiramente descoberto
por acaso. Todas as pesquisas poderiam concentrar-se, ento, sobre
o risco, sem lanar nenhuma nova luz sobre os fenmenos cogniti-
vos ou sociais.
Mas um problema bem diverso surge se um fenmeno estra-
139
138
nho - estranho no sentido de que contradiz princpios geralmente
aceitos - nos leva a perguntar sobre as implicaes gerais que ele
possa ter. Por exemplo, quando os fsicos souberam das descober-
tas de Roentzen, no gastaram muito tempo questionando sua va-
lidade ou investigando suas diversas manifestaes; eles indagaram
imediatamente sobre sua influncia na teoria da matria. Quando
Kogan trabalhou um tempo em meu laboratrio, ns discutimos
seus experimentos; eu adotei uma atitude que me pareceu guiada
pelo mesmo interesse pela generalizao e tentei ir alm das expli-
caes especificas do fenmeno da mudana de risco, permanecen-
do no nvel de sua significncia bsica, que ser uma exceo lei
aparentemente universal da influencia do grupo sobre o indiv-
duo. Isto conduz primeira questo: esta mudana devida ao
contedo semntico, ou a outra propriedade deste contedo? Uma
breve anlise levou formulao de uma hiptese bastante segura:
a maioria dos estudos que tm demonstrado a convergncia de
opinies em um grupo usaram estmulos que no apresentam im-
portncia significativa para os sujeitos e no provocaram qualquer
compromisso mais srio.
Tornou-se importante, ento, verificar se o mesmo efeito podia
ser obtido usando escalas de avaliao de atitude que contivessem
esta caracterstica de significncia e de compromisso que faltava
escala anterior. O ponto seguinte dizia respeito diferena entre
mudana de risco e mudanas conservadoras: o nico interesse
que isto pode ter, tem sua origem no aspecto de contedo semnti-
co; somente devido a isso que o direcionamento do juzo se torna
importante e onde ns encontramos dois fenmenos distintos. Em
contraposio ao ponto de vista psicolgico, ou mesmo social, a
questo mais importante se estamos frente a um e o mesmo fe-
nmeno ao qual, erradamente, se tem dado duas diferentes explica-
es. Isto significaria proceder de acordo com um tipo de epistemo-
logia aristotlica que distingue entre movimentos para cima e para
baixo, entre movimentos circulares e movimentos em linha reta e
que oferece uma teoria diversa para explicar cada um. 0 tratamento
de Galileu para os mesmos problemas abandona a descrio da
diversidade e tenta separar a unidade e a natureza comum das for-
as envolvidas, Se um corpo sobe ou desce est sempre sujeito
gravidade e a gravidade que precisa ser estudada.
Da mesma forma, se o julgamento de um grupo mais conser-
vador, ou mais de risco, do que o de seus membros individuais, isso
139
reflete o mesmo fenmeno; especificamente, o afastamento da m-
dia ou a polarizao de atitudes. Experimentos sobre familiarizao
tm dado a impresso, a certo ponto do trabalho, que os indivduos
podem demonstrar extremismo em seus julgamentos, sem nenhu-
ma interveno da interao social. Este fenmeno foi confirmado
em experimentos subseqentes. Mas no experimento de Kogan &
Wallach (1964), cuja validade no foi questionada por ningum, foi
demonstrado que os indivduos correm riscos maiores depois de
discutirem o questionrio dos dilemas de escolha e sem terem che-
gado a consenso algum. Por isso, tudo o que se pode dizer que
indivduos chegam a opinies mais extremadas depois da interao
social; no se pode afirmar que grupos correm maiores riscos que
os indivduos. As vrias teorias mencionadas acima foram, pois,
muitas tentativas de resposta a urna questo que no existe. Mas
outra questo, que no foi ainda levantada, existe e deveria ter sido
respondida, pois ela motivou o interesse inicial sobre mudana de
risco. Porque, por exemplo, a deciso do grupo tende ou para uma
conciliao (para a mdia) ou para a polarizao? Em outras pala-
vras, por que se observa ou uma mdia ou uma polarizao?
Em relao a esta questo, dois pontos deveriam ser discuti-
dos, que so importantes para os modos gerais de procedimento
em psicologia social. Primeiro, a questo que h pouco formulei em
um nvel terico foi sempre feita puramente em termos tcnicos.
Por exemplo, a anlise estatstica da mudana de risco geralmente
conduzida da seguinte forma: primeiro, a mdia calculada, isto , o
valor numrico que expressar consenso se os indivduos se com-
portarem de acordo com a lei da convergncia; ento, a diferena
entre este consenso terico e o consenso que realmente aconte-
ceu usada como uma medida de mudana. Conseqentemente, a
relao entre a convergncia ou polarizao dos grupos conside-
rada simplesmente em termas estatsticos.
O segundo ponto refere-se aos obstculos generalizao. O
pouco interesse dado ao contedo semntico impede todo avano
em direo a fenmenos mais fundamentais. Assim, se ns enfo-
carmos exclusivamente o risco, ns estaremos lidando com uma
exceo lei geral, que pode ser distorcida e mudada, antes mesmo
de chegar ao ponto de analisar o que excepcional a respeito dela e
por qu. A possibilidade de sua contribuio para questionar um
modelo ou um conceito terico no pode ser explorada, at que
140
cessemos de nos concentrar sob este aspecto particular. Deste mo-
do, o concreto aprisiona o abstrato. O experimento de Moscovici e
Zavalloni (1969), de Doise (1969) e de Fraser et al.
(1971)demonstraram que o efeito de polarizao deve ser conside-
rado dentro de um referencial mais geral que o de mudana de ris-
co, que apenas um caso especial de outro fenmeno. Outros expe-
rimentos nos possibilitaram estudar as condies em que tanto a
convergncia para a mdia como a polarizao de grupo poderiam
ser obtidas com os mesmos itens inicialmente usados para de-
monstrar a mudana de risco. Mas isto apenas foi possvel porque
os problemas levantados no incio foram modificados, com o fim de
integrar a descoberta inicial dentro de um contexto mais amplo.
Tornou-se ento bvio que o fenmeno modificado de relevncia
imediata para a deciso social. tambm importante para os pro-
cessos de avaliao e de mudana de atitude, para generalizao e a
soma de categorias sociais e para relaes intragrupais - e mesmo
intergrupais-na formao do preconceito. Os estudos de Anderson
(1968), Sherif et al. (1965), Tajfel & Wilkes (1964) e Fishbein
&Raven (1962) confirmam estes pontos de vista. Logo, a tarefa hoje
achar uma explicao para a totalidade destes resultados e o es-
tudo da mudana de risco feito de forma isolada perde totalmente
seu interesse.
3.3 Para uma teoria flogstica
O respeito ao senso comum, a proliferao de estudos experi-
mentais carentes de preocupaes tericas e o isolamento de vrias
reas da pesquisa em psicologia social combinam-se para explicar o
acmulo de fatos e noes que no resultam em um progresso real,
pois que eles no esto conceitualmente integrados e nenhuma
teoria, concretamente, foi desconfirmada ou substituda por outra.
Os conceitos empregados tiveram sua origem em outros campos;
modelos tericos coexistem, lado a lado, em uma relao que no se
constitui nem em um verdadeiro dilogo, nem em uma contradio
fecunda. E por isso no surpresa que os fatos estabelecidos empi-
ricamente nada mais sejam que uma coleo heterognea, do mes-
mo modo que as teorias, das quais eles supostamente dependem.
Os experimentos e estudos empricos no so realmente capazes de
confrontao, dentro de um referencial comum; os resultados con-
traditrios publicados sobre o mesmo fenmeno raramente condu-
zem a uma anlise conceitual que poderia levar a uma deciso e
transformar nosso conhecimento.
141
Esta situao refletida nos livros de texto. Os mais teis den-
tre eles adotam um vago esquema referencial que os possibilita,
quando muito, a classificar uns poucos resultados empricos, que
so geralmente apresentados fora de seu contexto terico - su-
pondo que tal contexto exista. Exemplos contraditrios raramente
so levados em considerao e, quando o so, de maneira abstrata
e longnqua. Como resultado, os estudantes ficam com a impresso
de uma disciplina bem ordenada e fecunda - pela simples razo de
que os pontos difceis ou contraditrios foram ignorados.
O que acontece quando uma teoria aparece? Como ela apre-
sentada, criticada ou entendida? A teoria da dissonncia cognitiva
um caso em questo (Festinger, 1957; 1964). verdade que esta
no uma verdadeira teoria psicossocial, mas no h dvida de sua
importncia como uma descoberta intelectual, sua habilidade para
estimular a pesquisa, ou sua originalidade de perspectiva. Em uma
cincia adequadamente construda, uma teoria deste tipo tornar-se-
ia imediatamente um ponto de partida para novos conceitos, que a
integrariam em um contexto sociopsicolgico e a traduziriam em
termos verdadeiramente sociais. Sua sorte foi radicalmente diversa.
Com exceo de Bem (1965), o interesse se centrou inteiramente
nos detalhes de metodologia. Em um artigo famoso, Chapanis e
Chapanis (1962) dedicaram sua ateno ao modo de seleo dos
sujeitos e a pontos referentes estatstica. Outros criticaram Fes-
tinger porque ele foi incapaz de prover uma medida da dissonncia
e estava, portanto, impossibilitado de fazer predies. E tudo parou
ai. Muitos psiclogos sociais continuaram a trabalhar na teoria do
reforo social ou na teoria da troca, como se a teoria da dissonncia
cognitiva no existisse e no contradissesse os prprios princpios
comportamentais que eles tinham como certos. Se eles tivessem
realmente assumido estes princpios com seriedade, uma contro-
vrsia criada pela teoria da dissonncia ter-se-ia tornado um centro
de atividade intelectual. Poder-se-ia imaginar os qumicos continu-
ando calmamente a pesquisar, cada um em seu pequeno canto, en-
quanto alguns acreditavam em flogstica e outros em oxignio?
bvio para qualquer pessoa familiarizada com a histria das idias
que o progresso real emerge da confrontao terica e os fatos e
mtodos tm um papel relativamente menos importante. Mesmo
que Festinger e seus discpulos no se enquadrem completamente
ao ritual experimental, os fatos que eles demonstraram retm seu
interesse e importncia. Os fatos estabelecidos por Piaget, na base
de uma teoria slida e coerente, tambm no conseguiram se en-
143
142
quadrar em todas as regras do jogo - e ainda assim eles sobrevive-
ram passagem do tempo e aos ataques dos crticos.
Festinger e seus discpulos foram freqentemente criticados
por sua tendncia a buscar resultados que no eram bvios e que
discordavam do senso comum. Esta uma objeo que surpreen-
dente, mas que significativa. Isto mostra quo distante est nossa
concepo de experimentao do verdadeiro pensamento cientfico.
Escrevi anteriormente que a experimentao deve sempre ter como
finalidade a inveno e a criao de novos efeitos. As cincias natu-
rais so cincias de efeitos; diferentemente destas, as cincias soci-
ais - e particularmente a psicologia social - permanecem cincias
dos fenmenos e das aparncias. A crena de que tudo, ou quase
tudo, sobre a conduta humana j conhecido a partir da observao
direta impede nossa disciplina de gerar descobertas verdadeiras e
de contribuir com dados que modificariam o conhecimento pr-
cientfico. E assim nosso conhecimento toma forma de um refina-
mento do pr-conhecimento e a banalidade de nossos resultados
fica oculta sob o refinamento das tcnicas e mtodos.
No minha inteno defender aqui a teoria da dissonncia
cognitiva, porque no precisa de defesa. Mas importante ressaltar
que, quando uma teoria desta qualidade aparece na psicologia soci-
al, nenhuma tentativa feita, tanto para desenvolver sua relevncia
ao processo coletivo, quanto para invalid-la. Mesmo quando tenta-
tivas de invalidao so feitas, elas dificilmente podem ser descritas
como cientficas. Ao invs, dado tratamento uniforme As teorias
de consistncia cognitiva, como se todas tivessem o mesmo impacto
cientfico potencial; a frmula para esta ecltica cozinha pode ser
encontrada, por exemplo, no recente livro editado por Abelson et al.
(1968).
No seria muito til discutir esta situao em psicologia social,
sem tentar delinear uma maneira como poderamos remediar as
deficincias. Praticamente todas as cincias tem seus tericos, seus
experimentalistas, seus jornais tericos e experimentais. Por que
no poderamos ns aceitar o mesmo tipo de diviso e es-
pecializao? Poderamos, ento, deixar os tericos definir seu ob-
jetivo, sua cultura e a estrutura de seus problemas. De qualquer
modo, tericos e experimentalistas nunca se enquadraram muito;
avano do conhecimento o resultado de contradies entre eles e
das tentativas de comunicao feitas pelos dois lados. Em um estu-
do sobre a histria da mecnica (Moscovici, 1968a) fui capaz de
mostrar que a caracterstica principal de sua evoluo no foi a
143
predominncia da teoria ou da experimentao, mas a tenso de-
senvolvida entre as duas. No h razo por que se deva tentar eli-
minar estas tenses e as contradies fecundas que dai se seguem.
Experimentao e teoria no se colocam em uma relao transpa-
rente uma em relao outra; o papel da teoria tornar a experi-
mentao desnecessria e o papel da experimentao tornar a teo-
ria impossvel. A relao dialtica existente entre as duas proposi-
es deve ser convenientemente empregada, a fim de que o conhe-
cimento avance.
Mas, para se conseguir isso, decises devem ser tomadas sobre
o tipo de teorias que deveria apresentar o referencial e sobre a tra-
dio intelectual que deveria constituir seu pano de fundo. minha
opinio que maior independncia necessria funo preditiva da
teoria. Da forma como as coisas esto hoje, sempre que um concei-
to, ou um modelo, proposto, ele avaliado exclusivamente em
termos de sua utilidade, quanto aos fenmenos que ele pode predi-
zer e sobre os experimentos que ele sugere.
Isto resulta na criao de modelos restritivos que mais se pa-
recem a reflexes sobre certos aspectos do fenmeno, do que a uma
autntica teoria sobre ele. Modelos deste tipo so teis para estimu-
lar alguns experimentos interessantes, mas sua explicao limita-
da, pois logo se atinge um ponto onde nada de novo trazido para
experimentos posteriores. Alm disso, muitas vezes difcil decidir
experimentalmente sobre a validade de diferentes modelos, porque
eles se concentram em categorias diferentes de variveis, per-
tencentes ao mesmo fenmeno. este, por exemplo, o caso dos
modelos de dinmica de grupo. A situao se reflete em uma jus-
taposio de experimentos to numerosos, quanto ineficientes; e
isto ilustra que uma cincia aterica no tem memria e incapaz
de realizar uma integrao de seus modelos restritos. A progresso
normal dos eventos pode ser descrita da seguinte forma: algum
obtm dados ou prope uma hiptese sobre, por exemplo, mudan-
a de risco, ou categorizao social. Uma vez que os achados este-
jam firmemente estabelecidos e a hiptese confirmada, tentativas
so imediatamente feitas para reproduo posterior atravs da
variao de fatores, tais como idade, personalidade ou estilo cogni-
tivo. O fenmeno assim reduzido ao contexto da psicologia indivi-
dual ou inter-individual. Deste modo, o referencial da psicologia
social progressivamente abandonado. Em vez de se progredir em
profundidade, progride-se em extenso; ao invs de estabelecer
laos entre fenmenos psicossociais, faz-se com que estes desapa-
144
ream, atravs de sua absoro em processos que no so psicosso-
ciais. Parece, por isso, mais til voltar-se para teorias que so ex-
planatrias ou que oferecem uma sistematizao de um conjunto de
proposies. Devem estas teorias partir de fatos ou de experimen-
tos? A resposta pode ser sim ou no, ao mesmo tempo. Seria
uma resposta negativa, se fossem teorias de tipo baconiano, con-
sistindo em uma reviso crtica, uma sntese, ou um esclareci-
mento ou definio de conceitos. Isto assim por duas razes:
primeiro, porque no existe coerncia suficiente no que ns consi-
deramos como conhecimento adquirido, em psicologia social; se-
gundo, utpico esperar que uma teoria possa surgir de uma sim-
ples integrao das partes que no tenham elas mesmas a marca de
uma teoria. O livro de Collins & Guetzkow (1969), que resume os
experimentos com pequenos grupos, mostrou a impossibilidade de
tal tentativa de integrao.
Mas a resposta pode ser positiva se a teoria oferece uma pers-
pectiva nova, em que experimentos ou levantamentos no so con-
siderados mais que expedientes temporrios, no esboo de uma
nova imagem da realidade. Apesar das crticas que fiz inicialmente
ao livro de Thibaut & Kelley (1959), parece-me que ele oferece um
exemplo de uma tradio terica que merece ser preservada. A
exigncia essencial ter novas idias, que possam ser es-
quematizadas ou desenvolvidas. No h necessidade de se procurar
imediatamente e a todo custo uma validao emprica ou esperar
at que algum seja guiado por dados experimentais. Como Novalis
escreveu: Se a teoria precisa esperar pelo experimento, ela nunca
ver a luz do dia.
Para esclarecer meu ponto de vista, deveria talvez simples-
mente declarar minha preferncia por qualquer teoria, na ausncia
de toda teoria. Como as coisas esto hoje na psicologia social, ns
no temos - com raras excees - nada seno conceitualizaes pro-
tocientficas. Seria melhor se tivssemos a nossa disposio algo
como uma teoria flogstica do que continuar com a falta de comuni-
cao, disperso e anomia, que evidente na situao atual. A teoria
flogstica foi til na qumica, porque definiu os processos centrais
do empreendimento cientfico, serviu como guia para pesquisa,
forando os cientistas a se confrontarem, fornecendo-lhes uma lin-
guagem comum. A psicologia social poderia muito bem empregar
145
uma disciplina intelectual similar e poderamos at aventurar dar a
sugesto de que tempo de parar com a coleta de informaes.
Henri Poincar escreveu: Um acmulo de fatos no constitui uma
cincia, assim como um monte de pedras no se torna uma casa.
Ns temos as pedras, mas no construmos a casa. Se ns decids-
semos abandonar, por um tempo, a coleta de novos dados, ns po-
deramos v-los em perspectiva e refletir no que foi conseguido;
poderamos, ento, definir melhor a natureza das questes que ns
nos formulamos, o objetivo de nossa busca e o sentido de nossos
achados. Ao exortar nossos estudantes a produzir novos dados, ns
reproduzimos as presses das instituies acadmicas e econmi-
cas, ao passo que nossos esforos deveriam, ao invs disso, ser diri-
gidos para ajud-los a se educarem a si mesmos. A base para esta
educao poderia ser encontrada em um retorno a Lewin e aos es-
critores clssicos da antropologia e da sociologia levando-se em
conta os desenvolvimentos recentes da etnologia, lingstica e epis-
temologia gentica; e no reexame dos enfoques representados pelas
teorias da troca e da dissonncia, com a finalidade de transcender
seu contexto individual e interindividual, a fim de coloc-los decidi-
damente dentro de um referencial social mais amplo.
A sugesto de que ns deveramos procurar, ou ao menos no
rejeitar, teorias que so protocientficas, pode ser considerada o-
fensiva em determinados redutos. Mas a idia no to escandalosa
como pode parecer. Quer gostemos ou no, as idias de Heider, o
postulado do equilbrio e a noo de atribuio, so todos. pr-
cientficos. Se ns temos de pagar por nossa cientificidade, atravs
da ausncia de teoria, ento prefervel no ser cientfico ao de-
senvolvermos novas idias tericas.
4. A procura de uma psicologia social
A causa determinante de um fato social
deve ser buscada em fatos sociais e no nos e-
feitos da conscincia individual (Durkheim).
41. Existem uma, duas ou trs psicologias sociais?
Nenhum estudo terico pode ser frutuoso se seus objetivos
no forem claramente definidos. A qumica ou a lingstica, a fsica
ou a economia, tornam-se cincias somente quando seus usurios
147
146
comeam a perguntar pelas razes da ocorrncia do fenmeno que
eles observaram. Certamente os fins da cincia no so imutveis e
o avano terico depende da conscincia de seu contexto, continu-
amente em mudana; mas no pode existir progresso ulterior sem
uma definio comum desses fins.
Existem muitos que pensam que um acordo geral sobre tal de-
finio no mais problema na psicologia social. De acordo com seu
ponto de vista, a psicologia social uma cincia do comportamento
- a cincia do comportamento social; dessa maneira, eles acham que
o objeto da disciplina idntico ao da psicologia em geral, mesmo
que seja enfocado em um contexto especial. esta concepo da
disciplina que necessita ser cuidadosa e criticamente examinado.
Muitas vezes se esquece que, inicialmente, foi dado um forte
impulso ao desenvolvimento da psicologia social com a esperana
de que isso viria contribuir nossa compreenso das condies que
subjazem ao funcionamento de uma sociedade e constituio de
uma cultura. O propsito da teoria era explicar os fenmenos so-
ciais e culturais; o objetivo prtico era usar os princpios que, es-
perava-se, seriam descobertos, a fim de nos engajarmos na critica
da organizao social. A abrangncia da psicologia social, pois, era
tida como incluindo o estudo da vida cotidiana e as relaes entre
os indivduos e entre os grupos, bem como o estudo das ideologias
e da criatividade intelectual, tanto em suas formas individuais, co-
mo coletivas.
Vista dessa perspectiva, a psicologia social oferecia a promessa
de se tornar uma cincia verdadeiramente social e poltica. Tais
idias foram logo esquecidas, contudo, quando nossa cincia se
tornou uma cincia do comportamento. Essa nova orientao
mudou a base da investigao e estudo, passando do argumento da
sociedade para os fenmenos individuais e interindividuais, que
eram encarados de um ponto de vista quase fsico, em lugar de se-
rem vistos de um ponto de vista simblico. O campo de pesquisa foi
drasticamente reduzido, tanto em seus horizontes, como no seu
impacto potencial. certamente importante lembrar que, como
James Miller confessou certa ocasio, essa mudana de nfase para
uma cincia comportamental tambm significou a chegada de
certa garantia nos quartis responsveis pelo desembolso dos fun-
dos de pesquisa, porque a idia de cincias sociais tendia a criar
desconfiana e confuso. O rtulo de uma cincia comportamental
parecia mais aceitvel.
147
Mas essa mudana de terminologia refletiu uma mudana cor-
respondente nos valores e interesses. De fato, os trabalhadores das
novas cincias sociais restringiram suas ambies, procurando por
paliativos para as disfunes da sociedade, sem questionar nem
suas instituies, nem sua adequao psicolgica em face das ne-
cessidades humanas. O encurtamento dos horizontes est estreita-
mente ligado restrio do sujeito ao estudo do comportamento.
A associao estreita com a psicologia geral, que tal restrio repre-
senta, esconde suas implicaes sociais e polticas; impede-nos de
ver, em suas verdadeiras perspectivas, os fenmenos que, suposta-
mente, deveramos estudar e apresenta, at mesmo, certa justifica-
o para a acusao de que ns contribumos para a alienao e a
burocratizao de nossa vida social.
Independentemente de tudo isso, a noo de comportamento
social, embora seja til para ajudar a definir ndices empricos,
permanece extremamente vago. Longe de nos ajudar a unificar o
sujeito, ela resultou no fato de ns termos, hoje, no uma, mas duas,
ou mesmo trs psicologias sociais.
A primeira delas taxonmica; sua finalidade determinar a
natureza das variveis que podem explicar o comportamento de um
individuo em frente a um estimulo. Esta psicologia ignora a nature-
za do sujeito e define social como uma propriedade dos objeto que
so divididos em sociais e no-sociais. O esquema geral da relao
entre sujeito-objeto pode, pois, ser representada assim:
Sujeito
Indiferenciado - Indefinido
Objeto
Diferenciado em social e no-
social
Nesse esquema, a finalidade do estudo a descoberta de como
os estmulos sociais afetam os processos de julgamento, percepo
e formao das atitudes; o fato de que mudanas socialmente de-
terminadas so elas mesmas um dos aspectos bsicos desses pro-
cessos no levado em considerao. Por exemplo, a pesquisa da
percepo social se preocupou, principalmente, com a classificao
das variveis independentes - como objetos percebidos que fossem
tanto pessoas (seres humanos - como nos experimentos sobre
percepo da pessoa), como elementos de uma classe de objetos
149
148
fsicos possuidores de valor social (como nos estudos sobre o jul-
gamento do tamanho das moedas como uma funo de seu valor).
Os estudos de Sherif sobre o efeito autoquintico tambm perten-
cem a essa perspectiva taxonmica: os modos de resposta esto
neles relacionados estrutura dos estmulos. O mesmo verdade
sobre o trabalho do grupo de Yale (por exemplo, Hovland et a).,
1953), que tentou explicar as comunicaes persuasivas em termos
das caractersticas sociais da fonte (tais como prestgio, credibilida-
de, etc.). Esse tipo de psicologia social taxonmica no sentido em
que ela se limita descrio psicolgica dos vrios tipos de estmu-
los e classificao das diferenas entre eles. Ela usa uma definio
de social e no-social em que os fenmenos, que so inerente-
mente produtos da atividade social, so concebidos como sendo, a
partir de seu inicio, uma parte da natureza. Sendo que seu inte-
resse exclusivo com a enumerao dos vrios tipos de reao ao
ambiente, ela est destinada a excluir de seu raio de interesse a
natureza da relao entre o ser humano e seu ambiente.
A segunda psicologia social diferencial. Seu princpio re-
verter os termos da relao entre o Sujeito e o Objeto e procurar,
nas caractersticas do individuo, a origem do comportamento que
observado. Nesta base, a natureza da estimulao de pouca im-
portncia; a preocupao mais importante classificar os indiv-
duos por critrios de diferenciao, que muitas vezes variam de
acordo com a escola de pensamento qual o pesquisador pertence
ou natureza do problema que ele est estudando. Desta maneira,
os sujeitos podem ser classificados em termos de seus estilos cogni-
tivos (por exemplo, abstratos-concretos, dependentes ou indepen-
dentes do campo - field dependent and independent), suas carac-
tersticas afetivas (por exemplo, ansiosos ou no, com alta ou baixa
auto-estima), suas motivaes (motivo de realizao ou necessida-
des de aprovao), ou suas atitudes (por exemplo, etnocntrico ou
dogmtico), etc. A relao entre o sujeito e seu ambiente pode ser
representada da seguinte maneira:
Sujeito
Diferenciado pelas caractersticas de sua perso-
nalidade
Objeto
Indiferenciado
Para qualquer tipo de tipologia que for adotada nessa perspec-
tiva, a finalidade sempre a mesma: descobrir como diferentes
categorias de indivduos se comportam quando eles so confron-
149
tados com um problema ou com outra pessoa. Em ltima instncia,
isso tende ao estabelecimento de uma psicologia diferencial de res-
postas e - no limite - para a descrio da composio psicolgica
dos grupos sociais, dos quais podem ser inferidas suas pro-
priedades. Um exemplo desse enfoque a analise sintomatolgica
dos sujeitos que so facilmente influenciados, seguida pela de-
monstrao de que os mesmos indivduos so fortemente sugestio-
nveis, quando confrontados com qualquer tipo de mensagem. Da
mesma maneira, os fenmenos sociais da liderana, mudanas com
risco ou competio so percebidas no nvel dos traos psicolgicos
dos indivduos envolvidos; o que completamente ignorado que
alguns desses traos podem ser nada mais do que reflexo, no nvel
individual, de um fenmeno que inerente a uma rede de relaes
sociais ou a uma cultura especifica. , pois, evidente que o motivo
de realizao (McClelland et al., 1953) est relacionado: com os
imperativos do protestantismo e do racionalismo econmico, como
foi mostrado por Max Weber. Mas transformar esse tipo ideal we-
beriano em caractersticas individuais transplant-lo como um
critrio para a diferenciao de uma estrutura psicolgica particu-
lar, que , ento, imediatamente aceita, sem justificao alguma,
como possuindo certo tipo de universalidade. Muitas vezes essas
descries pessoais so redundantes e tautolgicas.
Do mesmo modo que a psicologia diferencial, que mede dife-
renas individuais na inteligncia ou na destreza manual, esse tipo
de psicologia social procura medir as dimenses da personalidade
ou os aspectos da afetividade que possuem somente uma tnue
relao com os fenmenos sociais. devido a suas tentativas para
explicar o que acontece na sociedade em termos das caractersticas
dos indivduos, que o interesse dessa psicologia social no social
mais aparente que real.
Existe, finalmente, um terceiro tipo de psicologia social que
pode ser descrito como sistemtico. Seu interesse se concentra
nos fenmenos globais, que resultam da interdependncia de di-
versos sujeitos em sua relao com um ambiente comum, fsico ou
social. Aqui, a relao entre Sujeito e Objeto mediada pela inter-
veno de outro sujeito; essa relao se toma uma relao trian-
gular complexa, em que cada um dos termos totalmente deter
minado pelos outros dois. Esta situao pode ser representada pelo
esquema seguinte:
150
Sujeito
Objeto
Sujeito
E, contudo, importante sublinhar que essa relao entre objeto
e sujeito, em um ambiente comum, foi concebida de duas maneiras
diferentes: uma esttica, outra dinmica. Na primeira, os principais
objetos de estudo foram as modificaes de comportamento de
indivduos participando em interao; no segundo, o interesse foi
centrado mais diretamente nos efeitos especficos que essas rela-
es produzem, pelo fato de engajarem o indivduo total, as intera-
es entre indivduos e tambm sua orientao no ambiente. Desta
distino, duas tendncias distintas de trabalho terico e experi-
mental podem ser identificadas. Uma se interessa com o processo
de facilitao, ou de troca e com uma anlise, no nvel do desempe-
nho observvel do progresso seqencial da relao. Ela analisa as
modificaes que ocorrem nas respostas, em termos da mera pre-
sena de outra pessoa, ou das relaes de dependncia e interde-
pendncia entre duas pessoas; e ela v essas modificaes como
uma funo da estimulao, ou da recompensa, trazida para a situa-
o pela presena, pela interveno ou pela resposta de outra pes-
soa, ou pelo controle que duas pessoas possam exercer uma sobre a
outra. O trabalho de Zajonc sobre facilitao social fornece um bom
exemplo dessa tendncia. O segundo enfoque considera a relao
social como apresentando a base para a emergncia de processos
que criam um campo sociopsicolgico, em que os fenmenos psico-
lgicos observados encontram seu lugar e sua origem. Exemplos
disso pode ser o trabalho a respeito de pequenos grupos da escola
de Lewin, o trabalho de Festinger sobre presso para a uniformida-
de e sobre comparao social e o trabalho de Sherif sobre o desen-
volvimento das relaes intergrupais.
As trs psicologias sociais - taxonmica, diferencial e siste-
mtica - coexistem hoje pacificamente nos livros de texto. Esse e-
quilbrio precrio , talvez, compreensvel quando se pensa nos
requisitos necessrios pelo ensino e na ausncia de presses fortes
que possam dificultar o equilbrio, em uma direo ou noutra. A
mistura contnua, contudo, arbitrria e seus ingredientes so in-
compatveis. Na verdade, como ser possvel realar e articular os
achados de diferentes psicologias sociais, juntamente com os da
151
psicologia social sistemtica, quando, por definio, a primeira est
em contradio com a segunda? Por exemplo, se se considera que
as diferenas individuais na facilidade de ser influenciado fornece
uma base suficiente para a compreenso dos efeitos de uma men-
sagem nada mais necessrio alm de estudar a distribuio dessas
diferenas na populao; no existem mais requisitos ulteriores
para uma anlise terica dos mecanismos da comunicao social.Do
mesmo modo, se algum afirma que a presena de pessoas com-
petitivas que faz com que uma situao de conflito torne competiti-
va, ento o estudo do conflito deve ser substitudo pelo estudo do
funcionamento de determinado tipo de personalidade. Se, de outra
parte, algum est realmente interessado natureza do conflito ou da
comunicao to intil estudar os fatores de personalidade, como
o seria basear o estudo das leis do pndulo em dados sobre sua
umidade ou sobre a qualidade suas fibras. No existem dvidas de
que esses fatores intervm como parmetros; mas consider-los
como variveis negar aos fenmenos sociopsicolgicos a autono-
mia de funcionamento dentro de seu prprio sistema especifico.
Alguns podem pensar que eu esteja falando de coisas sabidas e que
esses problemas j nos eram familiares desde h muito tempo; esse
tipo de argumento trazido sempre que algum questiona a legiti-
midade de um consenso que, com a passagem do tempo, se tornou
uma segunda natureza. Meu ponto de vista pessoal de esses pro-
blemas so cruciais e que, at que eles tenham sido resolvidos, de
uma maneira ou outra, ns no seremos capazes de nossa pesquisa
em direes que a possibilitem tornar-se o fundamento de uma
cincia sociopsicolgica.
4.2. O que social em psicologia social?
Seria difcil levantar aqui, em detalhes, as razes de meu ponto
de vista, de que somente a psicologia social sistemtica que mere-
ce ser desenvolvida e que os outros enfoques, que interpretam os
fenmenos sociais em termos de propriedades de estmulos ou de
personalidade, no tm muito a contribuir. De qualquer modo, esse
ponto de vista foi j brilhantemente desenvolvido por autores agora
clssicos em psicologia social e no h necessidade de repetir seus
argumentos. Gostaria, contudo, de levar um pouco adiante a anlise
da maneira como nossa disciplina tenta, em dia, definir o social
como uma interao entre dois sujeitos e um objeto; um exame
desse ponto nos ajudar a esclarecer nosso pontos de vista sobre o
152
que sempre foi, implicitamente e ainda o hoje, o verdadeiro objeto
de nossa disciplina.
O tringulo Sujeito-Outro-Objeto crucial para essa discusso,
pois o nico esquema capaz de explicar e sistematizar processos
de interao.
A maneira, contudo, como foi usado, nem sempre contribuiu
para a definio da conduta social ou do sistema em que essa con-
duta est inserida. Dois ndices foram, muitas vezes implicitamente,
aceitos como refletindo a influncia do contexto social, em um
comportamento do indivduo: a presena de outro em seu campo
social e a numerosidade. Para muitos pesquisadores, pois, o com-
portamento de um organismo se torna social somente quando ele
afetado pelo comportamento de outros organismos. Tal definio
igualmente vlida para o ser humano e para outras espcies e
possibilita a uma pessoa usar uma srie de analogias, a fim de ex-
trapolar para outras espcies.
A aceitao desses pontos de vista conduz ao abandono de al-
guns aspectos fundamentais dos fenmenos sociais. A sociedade
possui sua prpria estrutura, que no definvel em termos das
caractersticas dos indivduos; esta estrutura determinada pelos
processos de produo e de consumo, pelos rituais, smbolos, ins-
tituies, normas e valores. Ela uma organizao que possui uma
histria e suas prprias leis e dinmicas que no podem ser deriva-
das das leis de outros sistemas. Quando o social estudado em
termos da presena de outros indivduos ou de numerosidade no
so realmente as caractersticas fundamentais do sistema que esto
sendo exploradas, mas sim um de seus subsistemas - o subsistema
das relaes interindividuais. O tipo de psicologia social que emerge
desse enfoque uma psicologia social privada, que no inclui,
dentro de seu escopo, a distintividade da maioria dos fenmenos
sociais genunos. Pode-se, pois, argumentar que, por razes que so
parte culturais e parte metodolgicas, a perspectiva sistemtica em
psicologia social no se interessou, verdadeiramente, nem com o
comportamento social como um produto da sociedade, nem com o
comportamento na sociedade. Isso no quer dizer que no existi-
ram tentativas para analisar fenmenos tais como poder, autorida-
de ou conflito; a perspectiva dessa anlise foi, contudo, sempre in-
terindividual e, conseqentemente, esses fenmenos foram retira-
dos do contexto ao qual eles necessariamente pertencem.
153
Devido a essas razes, ambguo sustentar que o comporta-
mento social , presentemente, o verdadeiro objeto de nossa cin-
cia. Vista de um certo ponto de vista, essa afirmativa justificada,
pois nos preocupamos com uma categoria de aes sociais e com
um segmento da vida social; de outro lado, nunca foi conveniente-
mente reconhecido que o social existe, primariamente, nas pro-
priedades intrnsecas da sociedade humana.
por isso que a psicologia social sistemtica deve ser renova-
da e re-desenvolvida, de tal modo que se torne uma verdadeira
cincia dos fenmenos sociais, que so a base do funcionamento de
uma sociedade e dos processos essenciais que operam dentro dela.
Mas - como bvio que nem todos os citados fenmenos esto den-
tro da perspectiva da psicologia social - importante selecionar os
que devem ser seu foco principal. O objeto central e exclusivo da
psicologia social deve ser o estudo de tudo o que se refira ideolo-
gia e comunicao, do ponto de vista de sua estrutura, sua gnese
e sua funo. O campo especifico de nossa disciplina o estudo dos
processos culturais que so responsveis pela organizao do co-
nhecimento em uma sociedade, pelo estabelecimento das relaes
interindividuais no contexto do ambiente social e fsico, pela forma-
o dos movimentos sociais (grupos, partidos, instituies), atravs
dos quais os homens agem e interagem, pela codificao da conduta
interindividual e intergrupal que cria uma realidade social comum
com suas normas e valores, cuja origem deve ser novamente busca-
da no contexto social. Paralelamente, mais ateno deveria ser dada
linguagem, que at agora no foi pensada como uma rea de estu-
do estreitamente relacionada psicologia social. Textos atuais de
psicolingstica devotam sua ateno inteiramente a exposies
claras e acadmicas de fenmenos lingsticos, enquanto eles se
relacionam aprendizagem e memria, ou a estruturas fonticas
ou lxicas. Eles contm muito pouco sobre as funes de troca da
linguagem e sobre a origem social de suas caractersticas. Assume-
se como pacifico que a linguagem uma caracterstica essencial da
comunicao; mas isso no usado como base para estudos teri-
cos. Dessa maneira, a natureza social da linguagem permanece na
periferia: dos enfoques dos problemas psicolingsticos; a implica-
o que; questes sociopsicolgicas sobre linguagem no diferem
das questes discutidas na psicolingstica. Rommetveit discute,
nesse livro, algumas das conseqncias gerais dessa perspectiva
reducionista para a psicolingistica.
154
A noo de ideologia deve ter seu lugar na psicologia social
contempornea. Muitos fenmenos que so atualmente estudados
so ou partes inerentes da ideologia ou substitutos tericos dela.
Isso vale para conceitos, como hbitos, preconceitos, esteretipos,
sistemas de crenas, psicolgica, etc. Mas essa acumulao no co-
bre a cadeia inteira do tema terico central que permanece ainda
segmentado. Existem, contudo, alguns sinais de que o estudo do
fenmeno da ideologia poder muito bem ser mais desenvolvido; a
promessa disso est contida na anlise sistemtica do pensamento
social e em algum trabalho da dissonncia cognitiva, na unidade dos
processos cognitivos e no-cognitivos e na motivao social.
A pesquisa na psicologia social da comunicao no andou
muito frente, apesar de, como uma disciplina, a psicologia social
se ajustar perfeitamente a essa tarefa; ela deveria ser capaz de o-
lhar para os aspectos bsicos da comunicao, do ponto de vista da
gnese das relaes sociais e dos produtos sociais e tambm deve-
ria ser capaz de considerar o ser humano como um produto de pr-
pria atividade - como, por exemplo, na educao e na socializao.
Para conseguir tal finalidade, porm, ns deveremos ir alm das
exploraes superficiais. Levantar questes sobre os efeitos dos
meios de comunicao de massa, sobre a influncia exercida por
uma fonte autoritria ou no, sobre a eficcia da mensagem anunci-
ada no inicio ou no fim de uma fala, confinar nossa disciplina den-
tro de limites puramente pragmticos, colocados pelas exigncias
dos donos, ou dos manipuladores, dos meios de comunicao de
massa. Os problemas reais so muito mais amplos. Eles residem nas
questes sobre por que e de acordo com que retrica ns nos co-
municamos e sobre a maneira como nossa motivao para a comu-
nicao se reflete em nossos modos de comunicao. Os meios de
comunicao de massa, cujo objetivo persuadir, so uma parte
secundria da rede total de comunicaes. No existem razes que
fundamentem o fato de se lhes destinar um status privilegiado em
comparao com os processos de troca de informao, que se do
em comunidades sociais, polticas ou religiosas, nos mundos do
teatro, cinema, literatura ou lazer. A cultura criada pela e atravs
da comunicao; e os princpios organizacionais da comunicao
refletem as relaes sociais que esto implcitas neles. por isso
que ns devemos enfrentar a comunicao dentro de uma perspec-
tiva nova e mais ampla. At agora, ela foi considerada principalmen-
te como uma tcnica, como um meio para a realizao de fins que
so externos a ela. O estudo da comunicao pode-se tornar um
155
objeto adequado da cincia se ns mudarmos essa perspectiva e
passarmos a entender a comunicao como um processo autno-
mo, que existe em todos os nveis da vida social.
A vida social a base comum da comunicao e da ideologia. A
tarefa da psicologia social, no estudo desses fenmenos, uma ta-
refa para a qual a disciplina est muito bem equipada; ela se inte-
ressa pelas relaes entre o indivduo e a sociedade. Essas relaes
so um foco de tenses e contradies e elas representam o ponto
de encontro das necessidades de liberdade do ser humano e de suas
tendncias para a alienao; elas so, tambm, o campo de batalha
preferido de muitos movimentos polticos. Embora seja verdade
que os psiclogos sociais esto conscientes dos problemas implci-
tos aqui, eles, ao reluzi-los a processos de socializao, nada mais
fazem do que eliminar seus interesses reais e sua relevncia.
Os pontos de vista que enfatizam a importncia hegemnica da
socializao podem ser assim resumidos: a criana aprende e inter-
naliza um conjunto de valores, a linguagem e as atitudes sociais; ela
modela seu comportamento pelo comportamento dos adultos e
pelo de seus colegas. Finalmente, quando ela mesma se torna um
adulto, se integra ao grupo que a preparou adequadamente para
sua pertena a ele. Quando este estgio alcanado, dificuldades de
ajustamento podem surgir somente se a pessoa no teve sucesso
nessa assimilao apropriada, ou na aplicao adequada dos prin-
cpios que lhe foram ensinados.
O desenvolvimento dessa concepo depende, na realidade, da
aceitao de diversos pressupostos. O primeiro que a pessoa
uma unidade biolgica, que deve ser transformada em uma unidade
social; o segundo, que a sociedade um dado imutvel, encontra-
do pelo individuo como um ambiente j pronto, em uma estrutura
de crculos concntricos, constitudos pela famlia, grupos de com-
panheiros e os grupos mais amplos e instituies, para as quais ele
se dirige e aos quais ele deve se adaptar. O terceiro pressuposto
que o individuo inexoravelmente absorvido pelo seu ambiente
social. Ele deixa de ser um individuo desde o momento em que ele
se filia, se submete s presses sociais e se torna um executor de
papis. Finalmente, assume-se que a sociedade desempenha um
papel de equilbrio na vida do individuo, pois ela reduz suas tenses
e incertezas. Na realidade, esses pressupostos implicam a concep-
o de um individuo que totalmente orgnico, junto com a con-
156
cepo de uma sociedade que restringe seu papel ao de mediadora
das necessidades dos organismos individuais. Dentro dessa concep-
o, a sociedade no vista como um produto dos indivduos, nem
os indivduos vistos como produtos da sociedade. As leis sociopsi-
colgicas que da surgem no esto interessadas com as transfor-
maes que se do dentro do mbito do social, mas com trans-
formaes do biolgico para o social. Os interesses fundamentais de
uma psicologia social que se concentra principalmente nos proces-
sos de aprendizagem, de socializao e de conformidade podem ser
ligados diretamente a esses pressupostos e sua aplicao.
E mais: o problema das relaes entre ser humano e sociedade
se relaciona intrinsecamente com ambos os termos do rapport: eles
intervm, conjuntamente, nos processos econmicos, sociais e pol-
ticos. No se pode esquecer que o indivduo no um dado, mas
um produto da sociedade, pois a sociedade que o fora a se tornar
um individuo e a acentuar sua individualidade em seu com-
portamento. Por exemplo, nossa economia de mercado nos fora a
todos a tornarmo-nos compradores e vendedores de bens e servi-
os; nossa democracia eleitoral est baseada no princpio de que
cada pessoa representa um voto. Mas esses no so princpios uni-
versais, seus limites so culturais. Os antagonismos que as so-
ciedades capitalistas criaram ao levarem o individualismo ao seu
pico mximo so, na realidade, uma conseqncia da estreita in-
terdependncia de todos os setores da vida cotidiana, que a marca
dessas sociedades. O sistema que emergiu combina o anonimato da
vida urbana com a interdependncia fsica, psicolgica e social; ele
tambm introduz uma diviso aguda entre vida pblica e privada. O
individuo criado por essa sociedade tem muito pouco em comum
com um organismo puramente biolgico. Os juristas tiveram mais
sucesso que os psiclogos no estabelecimento da distino entre a
pessoa moral e a pessoa fsica. Est implcito em nossa sociedade
que os indivduos so primariamente pessoas morais e, como tais,
se comportam como participantes em relao aos encontros sociais
e como atores em seus diversos meios. Por todas essas razes, a
noo de indivduo inteiramente relativa: sindicatos ou partidos
polticos podem ser considerados coletivamente como indivduos,
que se comportam como tais uns com os outros e em suas relaes
com a sociedade como um todo. A sociedade produz indivduos de
acordo com seus prprios princpios; dessa maneira pode ser com-
parada com uma mquina, que socializa e individualiza ao mesmo
tempo. Sua maneira de agir consiste no apenas - como se acredita
157
muitas vezes - em estabelecer uniformidades, mas tambm em
manter e acentuar diferenas. Conseqentemente, na medida em
que o indivduo se torna social, . assim tambm a sociedade adqui-
re individualidade; por isso que no existe apenas uma, mas mui-
tas sociedades, que diferem umas das outras tanto por suas origens,
como pelas caractersticas dos atores sociais que as compem e as
produzem.
Esta perspectiva nos possibilita compreender o contraste en-
tre o individualismo e a tendncia do ator social em minimizar suas
diferenas para poder conseguir seus objetivos e interesses e na
conformao de sua noo de o que bom e o que verdadeiro.
A pergunta principal que os psiclogos sociais faziam era: Quem
socializa o individuo? Os psiclogos negligenciaram o segundo as-
pecto do problema contido na sua pergunta: Quem socializa a soci-
edade? Um novo enfoque com respeito relao entre indivduo e
sociedade deveria tomar em considerao dois fenmenos bsicos.
O primeiro onde que o individuo no apenas um produto biol-
gico, mas um produto social; e o segundo o de que a sociedade no
um ambiente destinado a treinar o indivduo e a reduzir suas in-
certezas, mas um sistema de relaes entre indivduos coletivos.
Esta viso da dinmica social possui implicaes cientficas imedia-
tas, assim como importncia psicolgica e poltica; ela nos obriga a
encarar o controle social e a mudana social em uma perspectiva
comum e a no trat-los separadamente, como aconteceu no passa-
do. No existe razo nenhuma para conceder prioridade aos aspec-
tos da socializao que tendem para a transmisso das tradies
existentes e da estabilidade do status quo; as tendncias opostas,
que possibilitam reformas e revolues, so igualmente importan-
tes.
Nosso nico interesse foi na formao dos objetos sociais; e
isso se reflete na concepo que temos do organismo individual
como uma parte passiva, em uma relao que tem como finalidade
a conformao do individuo a um modelo imutvel e preestabele-
cido. Chegou, agora, o tempo de insistir na formao dos objetos
sociais (Moscovici & Plon, 1968) - sejam eles grupos ou indivduos
- que adquirem sua identidade atravs de seu relacionamento com
outros.Essa mudana de perspectiva pode j ser vista no trabalho
de Brehm (1966) sobre reao psicolgica, de Rotter (1966) so-
bre controle interno e externo e de Zimbardo (1969) sobre controle
cognitivo. Devemos, tambm, reconhecer o papel essencial desem-
158
penhado na formao dos sujeitos sociais pela solidariedade
social (isto , comparao social e reconhecimento social), proces-
sos de deciso (tanto individuais como sociais), organizao social e
influncia social. Temos j um fundo de noes tericas e de estu-
dos experimentais importantes para cada um desses fenmenos. A
fim de conseguir um novo nvel de compreenso das relaes entre
ser humano e sociedade, ns devemos relacionar esse conhecimen-
to a processos de comunicao e influncia exercida pelas ideolo-
gias. Neste sentido, controle e mudana constituem duas linhas de
desenvolvimento que devem ser analisadas simultaneamente a fim
de nos possibilitar tanto compreender, como criticar, os aspectos
importantes da vida social. Se adotarmos esse enfoque como um
guia para pesquisa, deixaremos de considerar nosso meio ambiente
como um meio externo imutvel e passaremos a consider-lo, ao
contrrio, como o pano de fundo humanizado das relaes em que
os seres humanos vivem e como um instrumento para essas rel a-
es (Moscovici, 1968/1977). Esse meio ambiente no inerente-
mente ambguo ou estruturado, nem ele puramente fsico ou soci-
al; ele determinado por nosso conhecimento e pelos mtodos de
investigao. O ambiente no explica nada; pelo contrrio, ele se
apresenta como necessitando de explicao, pois tanto constru-
do, como limitado por nossas tcnicas, nossa cincia, nossos mitos,
nossos sistemas de classificao e nossas categorias. Na maioria das
teorias que tratam de intercmbio ou de influncia, esses processos
so concebidos como respostas determinadas pelos recursos pre-
sentes no meio ambiente, ou por sua organizao. Como conse-
qncia, questes relacionadas com a gnese dos objetos sociais
nem sequer podem surgir. Mas o progresso na etologia, alguns es-
tudos recentes sobre influncia social (Moscovici & Faucheux,
1969; Moscovici et al., 1969; Alexander et al., 197O) e a evidncia
histrica sobre a transformao do meio ambiente apresentam
indcios de que esta nfase est mudando: de uma concepo que
enfatizava a inrcia do mundo material, estamos nos voltando para
o estudo de sua significncia.
Resumindo, o campo da psicologia social consiste de objetos
sociais, isto , de grupos e indivduos que criam sua realidade soci-
ais (que , na realidade, sua nica realidade), controlam-se mutua-
mente e criam tanto seus laos de solidariedade, como suas dife-
renas. Ideologias so seus produtos, a comunicao seu meio de
intercmbio e consumo e a linguagem sua moeda. Esse paralelo
com as atividades econmicas , fica claro, nada mais que uma ana-
159
logia; mas esta analogia nos possibilita definir melhor aqueles el e-
mentos da vida social que so de maior importncia para o estudo
terico e emprico; e ela tambm reala a necessidade de introduzir
mais direcionamento e coerncia na definio de nosso campo po-
tencial de investigao.
Onde fica o comportamento em relao a tudo isso? Ele tam-
bm deve ser enfocado em uma nova perspectiva: em vez de locali-
zar o social no comportamento ns devemos localizar o compor-
tamento no social. Em livros de texto e em outras publicaes, o
comportamento social , geralmente, considerado como qualquer
outro tipo de comportamento; a nica diferena que o comporta-
mento social, presumivelmente, inclui caractersticas sociais sobre-
impostas. considerado como determinado pelas mesmas causas
psicolgicas dos outros tipos de comportamento e pelos mesmos
sistemas de estimulao fsica. Do ponto de vista da presente dis-
cusso, o comportamento social deve ser visto como um problema
prprio e especfico. Sua caracterstica essencial que ele simb-
lico. Os estmulos que deslancham o comportamento social e as
respostas que dai resultam so elos em uma cadeia de smbolos; o
comportamento expressa, pois, um cdigo e um sistema de valores
que so uma forma de linguagem; ou, poder-se-ia at, talvez, dizer
que o comportamento como tal que constitui a linguagem. Ele
essencialmente social e criado por relaes sociais; na realidade,
no poderia existir simbolismo confinado apenas a um indivduo ou
a um indivduo confrontado com objetos materiais.
O comportamento simblico foi, muitas vezes, confundido com
os processos psicolgicos gerais chamados de cognitivos. Teorias,
pois, que introduziram o conceito de consistncia no estudo da in-
fluncia social ou da motivao foram classificadas como teorias
cognitivas. A razo disso foi que essas teorias estavam interessa-
das com um modo simblico de organizao de aes e simblico
foi considerado como cognitivo. A dificuldade dessa perspectiva
no se deve unicamente ilegitimidade de se igualar simblico com
cognitivo; est no fato de que, ao proceder assim, mascara-se a dis-
tino entre os dois termos. Quando os termos afetivo, motor ou
motivacional so substitudos pelo termo cognitivo, o pressu-
posto subjacente que no se fez mais do que passar de um nvel a
outro. O foco de anlise permanece ainda no indivduo, como uma
unidade dentro do esquema clssico do estmulo-resposta. Mas os
aspectos fundamentais do comportamento simblico consistem de
160
suas manifestaes verbais e no-verbais, que so compreendidas e
se tornam visveis somente em relao aos significados comuns
que eles adquirem para os que recebem as mensagens e para aque-
les que as emitem. Comportamento simblico fundamentado e
torna-se possvel pelas normas sociais e regras e por uma histria
comum que reflete o sistema de conotaes implcitas e pontos de
referencia que, invariavelmente, se desenvolvem em todo ambiente
social.
A psicologia social uma cincia do comportamento somente
se isso for entendido como significando que seu interesse em um
modo muito especfico deste comportamento - o modo simblico.
isso que distingue nitidamente seu campo de interesse do da psico-
logia geral. Tudo o que foi dito na presente seco refere-se unica-
mente ao desenvolvimento dessa proposio fundamental.
5. Um problema sociopsicolgico: a ausncia de verdades
perigosas
Se o estudo dos processos simblicos se tornou nosso objeto
principal, ns seremos forados a explorar o campo e limites da
realidade social em que ns vivemos. De fato, se quisermos com-
preender fatos sociais reais em vez de fatos individuais em um con-
texto social; e se quisermos abandonar a viso de sociedade em que
os indivduos, fechados nas clulas de seus grupos primrios, se
movimentam como que aleatoriamente, se quisermos destruir a
iluso de que ns poderemos um dia conseguir uma universalidade
vazia de leis, atravs da descoberta de mecanismos gerais e abstra-
tos, sem referncia a seus contedos, ento devemos admitir cla-
ramente que ns, ate o presente momento, tendemos a ignorar os
processos sociais concretos e suas formas coletivas.
Apesar de seus sucessos tcnicos, a psicologia social se tornou
uma cincia isolada e secundria (cf. Jaspars & Ackermann,
1966/1967). Este juzo , certamente, correto para a Europa, mas
eu penso que o seja tambm para outros lugares. Esse , provavel-
mente, o resultado de um desejo intenso de alcanar reconheci-
mento profissional e respeitabilidade acadmica. verdade, com
tudo, que ns conseguimos realizar experimentos cientficos, tendo
nossos programas de pesquisa aceitos pelas universidades, prepa-
rando - embora para um mercado muito limitado - estudantes que
161
conhecem sua literatura, empregando mtodos estatsticos, mani-
pulando aparatos e produzindo boas dissertaes. De outro lado, a
defasagem que se criou entre nossa disciplina e outras cincias so-
ciais (tais como a antropologia, a sociologia, a lingstica ou econo-
mia) nos conduziu situao de uma habilitao ignorante. As
questes que investigamos so, na maioria das vezes, muito restri-
tas; e se acontecer que problemas importantes so enfrentados, ns
conseguimos transform-los, novamente, em questes secundrias.
Isso, porm, parece no preocupar a ningum, pois parece que
temos conseguido nossos fins mais importantes, que seriam aplicar
corretamente as regras da arte da experimentao e em receber,
por esse sucesso, a aprovao de nosso prprio grupo. E ainda mais,
existe ampla evidncia de que nosso controle e minutiae (mesqui-
nharias) tm pouca significncia para os aspectos verdadeiramente
importantes dos problemas que estamos dando. Por exemplo, em
seus estudos dos primatas, os etologistas nunca conseguiram usar
mtodos to refinados como os que ns usamos em nossos estudos
de interao. Apesar disso, eles atacaram corajosamente problemas
cruciais que so de interesse imediato tanto para o estudo da orga-
nizao social das espcies animais como para o ser humano; eles
conseguiram uma produo de conhecimento que parece mais rica
e prxima s nossas preocupaes presentes, que a psicologia soci-
al jamais foi capaz de acumular. Em contraste, a psicologia social se
tornou a cincia da vida privada e, ao mesmo tempo, conseguiu
transformar seus usurios em membros de um clube privado. At
mesmo no campo da metodologia, em que, at recentemente, ns
estvamos bastante frente, fomos agora ultrapassados por outras
disciplinas. Certamente no se pode dizer que existe uma escassez
de problemas importantes: guerras, profundas mudanas sociais,
relaes raciais e internacionais, alienao individual, luta para
libertao poltica e violncia. Poder-se-iam acrescer os problemas
criados pela cincia, pela tecnologia e pela mudana de influncia
na evoluo de nosso mundo - e apesar disso no existem vestgios
de nada disso em nossas revistas e em nossos livros de texto; pare-
ce at que a prpria existncia de todos esses problemas est sendo
negada.
No suficiente, contudo, reconhecer que esses tpicos so
relevantes, para faz-los objetos adequados de investigao. Eles
devem tambm ser enfocados de uma maneira que seja relevante;
isto , de uma maneira que nos possibilite compreender, simultane-
amente, como eles se relacionam com o ser humano e a sociedade e
162
como seu estudo poderia contribuir para um avano autntico do
conhecimento. Uma maior lucidez e um compromisso intelectual
mais corajoso so indispensveis para esta tarefa. Por exemplo, no
seria suficiente discernir, no campo social, somente as foras que o
mantm, porque as foras que empurram em uma direo de mu-
dana gradual e de revoluo so, pelo menos, igualmente impor-
tantes. A histria no feita somente por sociedades que sobrevi-
vem; tambm feita por sociedades que morrem. Devemos apren-
der a enfrentar essas realidades; uma procura exclusiva por uma
cincia que no fosse seno uma arte de contemporizao iria, con-
seqentemente, comprometer a prpria cincia. Tornou-se eviden-
te que o equilbrio social e a pacfica satisfao individual no so os
supremos objetivos buscados pelos seres humanos. Os valores no
so somente utopias ou apndices inteis; os ideais de justia, ver-
dade, liberdade e dignidade fizeram viver e morrer pessoas que
viram neles a razo de no aceitar, indistintamente, qualquer tipo
de vida ou morte. difcil entender por que ns deveriamos esque-
cer, junto com os psiclogos sociais de hoje, que os processos de
revoluo, de inovao, de irredutibilidade do conflito, constituem
uma parte inerente da evoluo dos grupos humanos.
O segundo ponto que eu gostaria de acentuar que a psicolo-
gia social deveria, agora, deixar o gueto acadmico ou, talvez se po-
deria dizer, deixar o gueto americano, em que se fecharam os des-
ce
ndentes europeus dessa disciplina (Back, 1964). A reflexo dentro
de um crculo vicioso nunca expandiu horizonte nenhum. Devera-
mos ser sobre-humanos para fugirmos completamente influncia
das nossas circunstancias imediatas e no sermos afetados pelas
perspectivas em que as questes, em determinadas situaes con-
cretas, so formuladas. bastante notrio que os habitantes de um
gueto partilham pontos de vista comuns e no resistem grande-
mente ao que lhes e familiar. Atualmente, muitos dos argumentos,
juzos e tpicos de pesquisa em psicologia social, refletem os valo-
res da classe mdia, de que a maioria dos psiclogos sociais ainda
no se desvencilhou. Eles permanecem, ento, prisioneiros de uma
cultura pragmtica , que tem como preocupao central evitar o
que se chamou de metafsica ou, em outras palavras, toda sombra
de possveis realidades que no sejam imediatas.
A maioria dos experimentos feitos na Inglaterra, na Frana ou
nos Estados Unidos sobre influncia social, polarizao de grupo
(riskyshift) ou conflito usaram estudantes como sujeitos. Nenhum
trabalho foi feito sobre as vrias regies do pas, sobre as diferentes
163
classes sociais, sobre grupos ideolgicos, nacionais, religiosos ou
raciais. Ao mesmo tempo, poucos de ns se interessaram por um
estudo cuidadoso e uma formulao adequada dos problemas e
preocupaes desses grupos. Conseqentemente, os psiclogos
sociais tm dificuldade em ver, dentro de uma perspectiva ade-
quada, seu prprio ambiente e valores e por isso eles no podem
enriquecer e diversificar sua disciplina. E necessrio e imprescind-
vel que uma cincia, cedo ou tarde, se torne uma tarefa acadmica,
mas isso no significa que ela deva comear por isolar-se, ou dentro
da universidade, ou dentro dos limites de uma nao, de uma classe,
de um grupo de idade, ou de um movimento poltico.
Nossa disciplina deve, agora, voltar-se para realidades das
quais, no passado, ela no estava consciente e ela deve participar
dos experimentos sociais e do estabelecimento de novas relaes
sociais. A psicologia social no pode permitir-se continuar uma
cincia da aparncia; ela no deve somente comear a descobrir
os aspectos mais profundos da realidade social, mas tambm par-
ticipar na dinmica geral do conhecimento, atravs do qual certos
conceitos so destrudos e novos so criados. O objetivo deve ser
no apenas sistematizar o conhecimento existente, mas propor
conceitos inteiramente novos. hoje plenamente aceito que as ci-
ncias exatas criaram novos aspectos da natureza; as cincias soci-
ais devem criar novos aspectos da sociedade. Ser somente a explo-
rao de novas realidades que possibilitar psicologia social pro-
gredir e ser retirada dos esquemas referenciais das atividades co-
merciais e industriais a que ela est hoje confinada. At agora seus
usurios preferiram interessar-se pela viso do mundo presente em
determinados crculos acadmicos e descuidar o que poderiam ter
aprendido de artistas e escritores sobre psicologia humana e mec-
nica de uma sociedade. No tomaram como guia os princpios epis-
temolgicos que levam a uma anlise do que raro e sobre o qual
pouco se sabe; esse tipo de anlise que aludir a lanar nova luz
sobre os fenmenos j estabelecidos e familiares. Como Durkheim
escreveu certa vez: Se uma cincia das sociedades deve existir,
devemos esperar que ela no consista de uma simples parfrase
dos preconceitos tradicionais, mas, ao contrrio, que nos conduza a
ver coisas de maneiras diferentes das vises comumente aceitas.
A histria da cincia mostra que esse princpio est no corao
de toda descoberta. As grandes inovaes intelectuais atribudas a
Descartes ou a Galileu foram possveis devido a seu srio interesse
nos instrumentos ticos que eram familiares somente a um peque-
164
no grupo de pessoas daquele tempo; a maioria dos filsofos conti-
nuou a praticar uma cincia baseada nas observaes cotidianas
que tinham sido tambm a base do universo de Aristteles. Esse
apenas um exemplo entre muitos; sua importncia, talvez, seja
mostrar que novas e inesperadas idias em uma cincia no so
somente devidas inspirao e ao gnio de um indivduo, mas tam-
bm sua coragem em abandonar as concepes que so correntes
em seu tempo. Mas essa criao de novos pontos de partida depen-
de, tambm, da susceptibilidade de uma cincia a novas idias e da
sua capacidade de permanecer aberta a concepes, que tenham
sido, antes, consideradas como existindo fora do seu campo de inte-
resse. Os escritores clssicos em psicologia social foram admirveis
em sua habilidade e presteza em aceitar uma vasta gama de idias.
Se voltarmos a eles, talvez sejamos capazes de conseguir uma me-
lhor compreenso de perspectivas mais amplas e dedicarmo-nos
busca de idias significativas, em lugar da busca de dados. Presen-
temente, ns respeitamos a idia de que a metodologia faz uma
cincia, em vez de lembrarmos que a cincia deve escolher seus
mtodos.
Ser somente se nos apoiarmos na crena de que existe um
caminho real e tentarmos descobri-lo que ns seremos capazes de
ultrapassar as limitaes presentes da psicologia social e transfor-
m-la em algo mais do que uma cincia secundria. o destino de
toda verdade ser critica e por isso ns devemos ser crticos. A pre-
sente conjuntura de eventos favorvel a tal mudana. Para que
nossa disciplina se torne verdadeiramente cientfica, seu campo de
interesse deve permanecer livre e suas portas devem estar am-
plamente abertas s outras cincias e s exigncias da sociedade. Os
objetivos de uma cincia so o conhecimento atravs da ao, jun-
tamente com uma ao atravs do conhecimento- No importa se
esses objetivos so conseguidos atravs da matemtica, expe-
rimentao, observao ou reflexo filosfica e cientifica. Mas, por
enquanto, os termos cincia e cientfico esto ainda imbudos de
um fetichismo e seu abandono a condio sine qua non do co-
nhecimento. A psicologia social ser incapaz de formular verdades
perigosas, enquanto ela aderir a esse fetichismo. Essa sua princi-
pal limitao e isso o que a fora a preocupar-se com problemas
menores e a permanecer em segundo plano. Todas as cincias ver-
dadeiramente bem-sucedidas conseguiram produzir verdades peri-
gosas, pelas quais elas lutaram e cujas conseqncias elas previram.
por isso que a psicologia social no poder alcanar a verdadeira
165
idia de uma cincia, a no ser que ela tambm se torne perigosa.
166
3 - HISTRIA E A ATUALIDADE DAS REPRESENTAES
SOCIAIS
1. O escndalo do pensamento social
Ouve-se muitas vezes falar que a boa cincia deveria comear
propondo conceitos definidos clara e meticulosamente. Na verda-
de, nenhuma cincia, mesmo a mais exata, procede dessa manei ra.
Ela comea juntando, ordenando e diferenciando fenmenos que
surpreendem a todos, porque so perturbadores e exticos, ou
constituem um escndalo. Mas, para pessoas que vivem em uma
cultura como a nossa, que apregoa a cincia e a razo, h poucas
coisas to escandalosas como as crenas, supersties ou precon-
ceitos que so partilhados por milhes de pessoas; ou ento o es-
cndalo das ideologias, aqueles conjuntos, como diz Marx, de qui-
meras, dogmas, seres imaginrios que obscurecem os verdadei-
ros determinantes da situao humana e as autnticas motivaes
da ao humana. Com certeza ns nos tornamos mais tolerantes,
hoje, em relao s crenas religiosas que assumem a imortalida-
de da alma, a reencarnao das pessoas, a eficcia da orao, ou
muitas outras coisas que nosso conhecimento da humanidade e da
natureza no abarca. Basta olhar para publicaes populares para
ser surpreendido pela quantidade de pessoas em nossa sociedade
que l seus horscopos, consulta pessoas que curam pela f, ou
consome remdios miraculosos. Do mesmo modo, podemos ob-
servar a intensidade com que a magia prati cada em nosso meio,
em nossas cidades e mesmo em nossas universidades. Os que re-
correram a essas coisas no so os socialmente desajustados das
camadas pouco instrudas da sociedade, como poderamos crer,
mas as pessoas instrudas, os engenheiros e at mesmo os douto-
res. Pensemos naquelas empresas de alta tecnologia que recru-
tam seu pessoal empregando testes grafolgicos ou astrolgicos.
Longe de querer ocultar tais atividades, muitos dos praticantes
dessa magia apresentam-se na televiso e publicam livros que
conseguem um nmero de leitores bem maior que qualquer texto
escolar.
169
167
Tais coisas, que nos parecem estranhas e perturbadoras, tm
tambm algo a nos ensinar sobre a maneira como as pessoas pen-
sam e o que as pessoas pensam. Tomemos, por exemplo, essa es-
tranha e desconhecida doena, Aids. As conversaes e a mdia
foram rpidas em se apoderar dela e, imediatamente, a cataloga-
ram como a doena vingadora de uma sociedade permissiva. A
imprensa a representou como uma condenao de comporta-
mentos degenerados, a punio de uma sexualidade irrespon-
svel. A Conferncia dos Bispos do Brasil se colocou contra a
campanha para o uso de preservativos, descrevendo a Aids como
uma conseqncia da decadncia moral, a punio de Deus e a
resposta da natureza. Houve tambm uma srie de publica-
es afirmando que o vrus tinha sido produzido pela CIA para ex-
terminar populaes indesejveis e assim por diante. Esse exem-
plo mostra (como outros poderiam mostrar do mesmo modo) a fre-
qncia com que circulam idias ou imagens incrveis e alarman-
tes que no podem ser detidas nem pelo bom senso nem pela lgi-
ca. E evidente que um tipo de funcionamento mental que confirme
claramente essa irracionalidade fez nascer muita pesquisa. E isso
nos conduz ao cerne da questo.
Podemos sintetizar os resultados de tal pesquisa dizendo que,
no para nossa grande surpresa, eles mostram que a maior parte
das pessoas prefere explicaes populares a explicaes cientifi -
cas, fazendo correlaes enganadoras que fatos objetivos so in-
capazes de corrigir. Em geral as correlaes no levam em consi-
derao as estatsticas que desempenham papel to amplo em
nossas decises e discusses cotidianas. Distorcem a informao
que lhes acessvel. Alm disso, como j foi dito repetidamente
sem que ningum contestasse, as pessoas aceitam acima de tudo
aqueles fatos ou percebem aqueles comportamentos que confir-
mam suas crenas habituais. E as pessoas procedem assim mes mo
quando sua experincia lhes diz est errado e a razo lhe diz
um absurdo. Deveramos tomar tudo isso com moderao, ar-
gumentando que as pessoas so vitimas de preconceito, so en-
ganadas por alguma ideologia ou foradas por algum poder? No,
os fatos so por demais generalizados para que nos contentemos
com tais explicaes e finjamos que no sentimos algum descon-
forto ao ver at que ponto o Homo sapiens, o nico animal dotado
de razo, mostrou ser irracional.
possvel compreender esses fatos, repito, mas sem deixar de
pensar que eles tm conseqncias para as relaes entre as pes-
168
soas, para as opes polticas, para as atitudes com respeito a ou-
tros grupos e para a experincia do dia-a-dia. Poderia continuar
trazendo considerao o racismo, as guerras tnicas, a comuni-
cao de massa e assim por diante. Mas a questo mais chocante
a seguinte: Por que as pessoas pensam de maneiras no-lgicas e
no-racionais? Uma questo preocupante, muito preocupante.
Sem dvida alguma, uma questo que compete psicologia so-
cial e necessito explicar brevemente por que assim .
A partir do ponto de vista do individuo, houve uma concor-
dncia, penso que desde Descartes, em que as pessoas tm a ca-
pacidade de pensar corretamente sobre a evidncia a elas apre-
sentada pelo mundo externo. Por um lado, esto em uma posio
de distinguir a informao acessvel e, por outro lado, a partir do
conjunto de premissas referentes informao, as pessoas sabem
como chegar a determinada concluso
.
Seria, supe-se, uma ques-
to de seguir regras lgicas, das quais a mais importante a da
no-contradio. Desde que tal raciocnio e concluso sejam cor-
retos, pode-se tambm considerar que o modo como as regras e
procedimentos lgicos foram aplicados fornece a melhor explica-
o das crenas persistentes e do conhecimento. Mas a partir do
momento que se percebe que o raciocnio falso e a concluso
errada, deve-se procurar outras causas para a m aplicao das re-
gras, causas no-lgicas que podem explicar por que os indivduos
cometem erros. Entre essas causas esto, em primeiro lugar, os
problemas afetivos, mas, sobretudo, as influncias sociais que iro
submeter o aparato psquico a presses externas. As influncias
sociais iro encorajar as pessoas a ceder diante dos hbitos, ou
afastar-se do mundo externo, de tal modo que sucumbam aos en-
ganos ou satisfao de uma necessidade imaginada.
Descobrimos, por conseguinte, uma dualidade que est na
raiz da maioria das explicaes nesse campo pode ser descrita em
poucas palavras: nossas faculdades individuais de percepo e
observao do mundo externo so capazes de produzir conheci-
mento verdadeiro, enquanto fatores sociais provocam distores
e desvios em nossas crenas e em nosso conhecimento do mundo.
Detenhamo-nos por um instante sobre a natureza vaga dessa
dualidade e examinemos as trs maneiras em que expressa.
Primeiro, pela idia de que algum atinge os verdadeiros proces-
sos do conhecimento quando esses processos so pensados den-
tro do individuo, independentemente de sua cultura e, concre-
tamente, de qualquer cultura. Nesse sentido, como escreve Geli-
169
ner, cultura, um conjunto partilhado de idias, vlido simples-
mente porque elas constituem os bancos conceituais conjuntos de
costumes de uma comunidade em ao, rejeitada. rejeitada
porque uma cultura. Sua origem social e comum sua mcula
fatal (1992: 18).
Em segundo lugar, h a convico, expressa principalmente
na psicologia da massa, que as pessoas reunidas em um grupo po-
dem ser consideradas como sofrendo mudanas em suas qualida-
des psquicas, perdendo algumas e adquirindo outras. Ou, mais
precisamente, assume-se que as pessoas se comportam de ma-
neira correta e racional quando sozinhas, mas tornam-se imorais e
irracionais quando agem em grupo (Moscovici, 1985). Finalmen-
te e mais recentemente, luz da pesquisa que mencionei antes, a
pessoa comum, o novio, tem a tendncia de desprezar a infor-
mao dada, de pensar de maneira estereotipada, no conseguin-
do levar em conta os erros a que isso induz. Em outras palavras, a
pessoa comum , como dizem, um miservel, cognitivamente fa-
lando (cognitive miser).
Aqui est uma imagem pouco lisonjeira da maneira como as
pessoas pensam e agem quando colocadas juntas na sociedade a
que pertencem. No creio em um tipo de debilidade mental que
invocada e reconhecida atravs do que se parece a um conjunto
de crenas habituais, de desvios ou distores de nosso conheci -
mento do mundo que surpreende ou escandaliza. Mas o fato que
isso se apresenta como os sintomas de uma psicopatologia de ori-
gem social. Devo acrescentar que isso no uma metfora, lem-
brando que a psicologia social foi, por muito tempo, igualada, por
esse motivo, a psicologia patolgica. Isto expresso no prprio ti -
tulo de uma famosa revista dos Estados Unidos: o Journal of Ab-
normal and Social Psychology.
Essa associao provm tambm, e talvez principalmente, do
fato de que psiclogos como Freud, Jung e Janet, que tanto contri-
buram para a psicopatologia, dedicaram tambm importantes li-
vros e artigos psicologia coletiva. Era evidente para eles, como
para muitos outros, que o pensamento normal dos grupos tem sua
contrapartida nas anomalias mentais dos indivduos. E isso vale
para as massas civilizadas, as assim chamadas sociedades primiti-
vas ou religies exticas. Embora falemos sobre isso de maneira
menos clara, ou sejamos menos conscientes disso, essa relao en-
tre pensamento coletivo e pensamento patolgico est tambm ins-
crita em nossas teorias e mtodos de observao. Isso significa que
170
finalmente razo e sociedade ou cultura so antitticas. Como uma
conseqncia, a auto-suficincia total do individuo acaba sendo re-
presentada como a situao de referncia e a norma, enquanto a as-
sociao de indivduos na unidade social se toma uma situao de-
rivada, uma situao de dependncia em relao a um ambiente
que modifica essa norma em um sentido positivo ou negativo.
Ao curso dessa discusso, contudo, h algo que seguramente
nos ajudar a surpreender-nos, o que me obriga a fazer um comen-
trio adicional. Ns no apenas aceitamos que absolutamente
normal que exista uma dualidade entre as formas de pensamento
no-social e as formas de pensamento e de crena compartilhadas.
Ns tambm assumimos que os conceitos e leis das primeiras ser-
vem como a referncia para as Ultimas. Como observam Wyer
&Stull (1984), Esse raciocnio significa que os processos impli-
cados em lidar cognitivamente com acontecimentos no-sociais
so mais simples e conceitualmente mais fundamentais que os
processos implicados nos acontecimentos sociais. O estudo do pro-
cessamento cognitivo no contexto dos estmulos no-sociais fornece
um fundamento sobre o qual os princpios sociais cognitivos mais
complexos podem ser construdos (p. 25). E desse pressuposto,
o mais limitador e tambm o mais desprovido de fundamento, que
ns necessitamos tentar nos libertar. De qualquer modo, somen-
te no contexto de uma psicologia diferente que ns podemos eluci-
dar os sentidos dessas formas de pensamento e crena comuns.
tambm acertado mostrar que as coisas esto mudando. A
supremacia do social mais e mais reconhecida nos campos da
epistemologia, linguagem e psicologia social. Pessoalmente, estou
convencido de que essa uma tendncia que ir se aprofundar.
Entretanto, no teria escrito esse capitulo se no estivesse con-
vencido que no suficiente reconhecer a supremacia do social
como se isso fosse uma esmola, mesmo no sentido de um consenso
geral. Acima de tudo, ns precisamos recuperar a perspectiva te-
rica que pode iluminar esses fenmenos surpreendentes como
uma parte normal de nossa cultura e de nossa vida em sociedade.
Tomando tudo em considerao, uma questo de reformular a
polaridade do individuo e da sociedade em termos mais claros e
definidos com mais preciso.
2 . Uma noo anti-cartesiana: representaes coletivas
Parece-me que nada do que disse at agora me distancia do
171
que hoje conhecido como a psicologia do social. O problema no
escolher entre a supremacia do individuo ou da sociedade, algo
mais concreto. Est relacionado com a explicao dos fenmenos
da crena, da religio ou magia, do conhecimento comum e popu-
lar, das formas ideolgicas de pensamento e ao coletiva. Para
comear, por que a sociedade cria tais crenas e idias, sejam elas
contas ou no? Depois, por que so elas aceitas e transmitidas de
uma gerao a outra? Mesmo que a natureza social de nosso pen-
samento, linguagem e assim por diante seja reconhecida na psico-
logia, o que no o caso nos dias de hoje, o problema seria coloca-
do nos mesmos termos e os que o discutem e continuaro a discu-
ti-lo teriam, de algum modo, de resolv-la No possvel buscar
refgio nas trivialidades da intersubjetividade ou das construes
lingsticas. E eu penso que a cognio social continuar a ser tudo,
menos convincente, porque no se confrontou com esse problema.
Sou, portanto, levado, hoje, a reconhecer esse fato simples e
evidente, embora no sem sentido. Deixando a psicanlise parte,
que relacionou a psicologia coletiva e a psicologia individual atra-
vs do inconsciente, apenas a linha de pensamento que se de-
senvolveu na direo da teoria das representaes dedicou-se se-
riamente soluo do problema. E isso acontece quase um sculo
depois que o aparecimento de suas primeiras noes exigissem a
autonomia de nossa psicologia para a prpria soluo. Note-se
que, em uma era em que os rtulos mudam to rapidamente e
onde cada um pode romper to radicalmente quanto possvel com
o passado, eu hesito em apelar para uma linha de pensamento que
comeou com as prprias cincias humanas e que forma, por as-
sim dizer, parte de seu cdigo gentico. Mas pode-se tambm pen-
sar que o fato de ela persistir, o fato de ser necessrio retomar a
essa linha de pensamento sem ser limitado por nenhuma tradio
de escola alguma, significa que ela atinge algo fundamental e pre-
cioso na maneira como as pessoas vivem.
A teoria das representaes sociais singular, parece-me, de-
vido ao fato de esta teoria tender mais e mais na direo de se tor-
nar uma teoria geral dos fenmenos sociais e uma teoria especifica
dos fenmenos psquicos
.
Esse paradoxo, como veremos, no se d
por acaso; pelo contrrio, provm da natureza profunda das coisas.
uma teoria geral medida que, dentro do que lhe compete, uma
sociedade no poderia ser definida pela simples presena de um
coletivo que reuniu indivduos atravs de uma hierarquia de po-
der, por exemplo, ou atravs de intercmbios baseados em inte-
172
resses mtuos. Certamente existem poder e interesses, mas para
serem reconhecidos como tais na sociedade devem existir repre-
sentaes ou valores que lhes dem sentido e, sobretudo, que se
esforcem para que os indivduos convirjam e se unam atravs de
crenas que garantam sua existncia em comum. Isso tudo gui-
ado por opinies, smbolos e rituais, isto , por crenas e no sim-
plesmente pelo conhecimento ou tcnica. As opinies pertencem a
uma ordem diferente: crenas sobre a vida em comum, sobre co-
mo as coisas devem ser, sobre o que se deve fazer; crenas sobre o
que justo, o que verdadeiro e o que belo; e ainda outras coisas,
todas produzindo um impacto nos modos de se comportar, de sentir
ou de transmitir e permutar bens.
no momento em que o conhecimento e a tcnica so trans-
formados em crenas que congregam as pessoas e se tornam
uma fora que pode transformar os indivduos de membros pas-
sivos em membros ativos que participam nas aes coletivas e em
tudo o que traz vida a uma existncia em comum. As sociedades se
despedaam se houver apenas poder e interesses diversos que
unam as pessoas, se no houver uma soma de idias e valores em
que elas acreditam, que possa uni-las atravs de uma paixo co-
mum que transmitida de uma gerao a outra (Moscovici,
1993a). Em outras palavras, o que as sociedades pensam de seus
modos de vida, os sentidos que conferem a suas institui es e as
imagens que partilham, constituem uma parte essenci al de sua
realidade e no simplesmente um reflexo seu. Como observou o
filsofo polons Leaek Kilakowski, a realidade de uma sociedade
depende em parte do que existe em sua representao de si mes-
ma (1978: 94).
Antes de continuar, devemos levar em considerao um fato
importante, mas embaraoso: existem fenmenos psquicos que,
embora variem em complexidade, possuem em comum uma ori-
gem social e so indispensveis para a vida em comum. Mas logo
que se examine a sociedade desse ponto de vista, um enigma vem
tona. Na verdade, no se compreende mais como as sociedades
so capazes de sobreviver embora conservando crenas religiosas
ou mgicas e deixando-se guiar por iluses, ideologias e os pre-
conceitos a elas atribudos. Alm disso, espantamo-nos por que as
pessoas criam essa confuso de irracionalidade atravs da qual
elas se iludem a si mesmas. Falando das crenas religiosas, que
lhes interessavam acima de tudo, Durkheim escreveu:
impensvel que sistemas de idias como as religies, que ocu-
173
param um lugar to importante na histria - de cuja f onte
os povos de todas as pocas retiraram a energia de que ne-
cessitavam para viver - possam ser apenas fbricas de iluso. H um
consenso em admitir hoje que a lei, a moral, o prprio pensamento cien-
tfico nasceram da religio, foram por muito tempo confun-
didos com ela e permaneceram imbudos com seu esprito. Poderia
uma fantasmagoria oca ser capaz de moldar a conscincia humana de
maneira to poderosa e duradoura? Mas se as prprias pes-
soas criam esses sistemas de idias falsas e ao mesmo tempo so iludi-
das por elas, como poderia essa espantosa iluso se perpetuar atra-
vs do inteiro curso da histria? (1912/1995: 66).
Suspeito que, com razo, esse rebaixamento das crenas
compartilhadas, esse desprezo pelas idias e pelo conhecimento
popular, pelas outras culturas em geral, que ofendia Durkheim.
Como conceber uma sociedade onde a confiana e a solidariedade
sejam apenas uma iluso? Deveramos admitir que a cultura tem a
funo secular de fornecer humanidade fantasmagorias e enga-
nos? Qual o contedo da conscincia coletiva de uma sociedade
que procura zombar de suas idias e valores? Devemos conservar
o sentido profundo dessas interrogaes sobre coisas pelas quais
ns conseguimos deslizar to facilmente, ainda hoje, na psicologia e
at mesmo na sociologia. Seja o que forem, devemos prestar menos
ateno a seu carter anormal, do ponto de vista do indivduo e de
suas crenas e conhecimento e mais ateno a seu carter social,
vida mental e psquica que elas expressam. A fim de primeiramente
descrev-las e depois explic-las como a existncia ser comum de
um grupo de indivduos, devemos levar em considerao trs coi-
sas:
Supomos que as pessoas conheam essencialmente tanto o
mundo natural, como o mundo social (Heider, 1958) atravs de
percepes sensoriais da informao, que esperam ser observa-
dos e explicados atravs de conceitos adequados. As percepes
so como Ado, no dia de sua criao, abrindo seus olhos e vendo
animais e outras coisas, desprovidas de tradio, desprovidas de
conceitos compartilhados com os quais elas coordenam suas im-
presses sensoriais. Essa imagem no pode, na verdade, ser apli-
cada s pessoas que vivem em sociedade, que possuem um modo
comum de vida que mostra como os seres ou objetos devem ser
classificados, como julg-los de acordo com seu valor, que infor-
mao digna de crena e assim por diante. Podemos dizer a cada
um de ns o que o filsofo ingls Cornford disse a respeito dos fil-
sofos e das pessoas acadmicas:
174
Em qualquer situao e sempre que um profissional da cincia de-
fende tal opinio, podemos estar seguros que ele no est
apresentando uma descrio dos f atos observados, mas di-
recionando seu conhecimento defesa de uma crena que ele apren-
deu, no diretamente da Natureza, mas nos joelhos de sua me; em ou-
tras palavras, uma representao coletiva. E essa represen-
tao especifica no fruto de longos resultados acumulados da cin-
cia e da filosofia. Ao contrrio, quanta mais a examinamos em sua hist-
ria anterior, tanto mais ela se mostra firmemente estabelecida e as
contradies cotidianas de toda a experincia ainda no o
desenraizaram da mente popular (1912: 43).
Isso significa que a tentativa de compreender o conhecimento
e as crenas complexas de uma sociedade base de leis elemen-
tares de conhecimento individual, que esto, em ltima anlise,
fundamentadas em dados sensoriais ou experincia sensorial,
sempre impossvel, no porque qualquer concluso que possa ser
tirada dela no tenha valor, mas porque as premissas de onde ela
parte so artificiais e no tm profundidade.
2) No temos razo para excluir totalmente a experincia e as
percepes individuais. Mas, com toda a justia, devemos recordar
que quase tudo o que uma pessoa sabe, ela o aprendeu de outra,
seja atravs de suas narrativas, ou atravs da linguagem que ad-
quirida, ou dos objetos que so empregados. Tais coisas constitu-
em, em geral, o conhecimento ligado ao tipo mais antigo, cujas
razes esto submersas no modo de vida e nas prticas coletivas
das quais todos participam e que necessitam ser renovadas a cada
instante. As pessoas sempre aprenderam umas das outras e sem-
pre souberam que isso assim. Tal fato no exatamente uma
descoberta. A importncia dessa proposio para a nossa teoria
que conhecimento e crenas significativas tem sua origem de uma
interao mtua e no so formadas de outro modo.
3) As idias e crenas que possibilitam s pessoas viver esto
encarnadas em estruturas especificas (cls, igrejas, movimentos
sociais, famlias, clubes, etc.) e so adotadas pelos indivduos que
so parte delas. O sentido que comunicam e as obrigaes que re-
cebem esto profundamente incorporados em suas aes e exer-
cem uma coao que se estende a todos os membros de uma co-
munidade. provavelmente essa coao que nos obriga, conforme
175
Weber, a no ignorar o papel causal das formas coletivas de pen-
samento no desempenho de nossas atividades comuns e das ativi-
dades que esperamos de outros. Escreve ento:
Esses conceitos de entidades coletivas que so encontrados
tanto no senso comum, como em outras formas de pensa-
mento, possuem um sentido nas mentes das pessoas individuais,
parte como algo realmente existente, parte como algo com autori-
dade normativa. Isso verdadeiro no apenas para juzes, mas
tambm para indivduos particulares normais. Os atores,
portanto, orientam, em parte, sua ao em conformidade com eles e
nessa atividade as idias possuem uma influncia causal poderosa,
muitas vezes decisiva, no curso da ao de indivduos concretos (We-
ber, 1968/1972: 14).
Se Weber est correto, ento formas de pensamento coletivo
esto fortemente incorporadas nas motivaes e expectativas dos
indivduos, que dependem, para sua eficcia, em geral, de sua
ao. exatamente isso que ele tentou mostrar em seu estudo do
esprito do capitalismo: prticas econmicas racionais nasceram
das crenas das seitas puritanas e dos ensinamentos da Bblia,
como na esperana premeditada de sua prpria salvao.
Essas trs coisas - a primazia das representaes ou crenas,
a origem social das percepes e das crenas e o papel, algumas
vezes de coao, dessas representaes e crenas - so o pano de
fundo sobre o qual a teoria das representaes sociais se desen-
volveu. Penso que tracei seu perfil de maneira suficientemente
clara para justificar uma observao, a de que esse pano de fundo
contribui para a soluo do problema mencionado anteriormente.
Podemos encontrar um delineamento dele na obra em que Dur-
kheim discute esse problema, The Elementary Forms of the Religi-
ous Life (1912/1995). As partes descritivas do livro reservam um
amplo espao s crenas religiosas dos indgenas australianos,
enquanto as partes explicativas, no meio e no fim da obra, so
dedicadas criao e ao sentido dessas crenas como o cimento da
sociedade em geral. O livro apresenta, com muitos detalhes, as
peculiaridades do pensamento humano, as estranhas iluses e
prticas compartilhadas por uma comunidade, ou suas idias, que
podem ser muito curiosas, mas apenas fracamente cientficas.
Durkheim apresenta, ento, um exame detalhado do que pa-
rece ser o aspecto geral da adorao de animais e plantas, juntas
sseasou madeira, bem como esquemas pouco claros de idias,
tais como o famoso man e as frmulas que acompanham cada
176
ritual. Nada mais permanece a ns oculto, seja o delrio exaltado da
dana coletiva ao redor do totem durante a qual toda psique indivi-
dual se torna sugestionvel, ou o carter licencioso do xtase ritu-
al que suspende a relao consciente com a realidade. nesse
estado de efervescncia que as crenas so criadas e ganham vida
comum, inculcadas em cada um dos participantes. Na manh que
segue cerimnia ritual, os selvagens acordam cheios de triste-
za, mas - eles so parte um do outro pelo fato de terem tornado pr-
prias essas percepes e valores compartilhados. Pode-se ver tam-
bm em outros momentos, nas oraes e manipulaes mgicas
para a propiciao dos espritos, como as crenas trazem sucesso
na caa e na pesca, ou fornecem remdio para algumas doenas.
O que interessante aqui o fato de que atravs desses fan-
tsticos e at mesmo bizarros elementos, um universo de coisas
sagradas e por isso impessoais constitudo nessas sociedades
australianas, um universo que apresenta animais como totens,
depois os objetos assobiados a esses totens e finalmente at
mesmos os prprios indivduos. Nada se da mais fcil do que tra-
ar a analogia com os universos religiosos ou polticos de nossas
sociedades e mostrar uma oportunidade que no foi perdida at
onde nossas crenas so fundamentadas em pensamento simbli-
co, no deslocamento de observaes, rituais extremados e emo-
es intensas.
Durkheim reconhece que tais coisas podem parecer qui-
mricas ou irracionais queles que as julgam na base de sua rela-
o com a realidade fsica. Mas se o leitor me perdoar por retornar
a coisas que j discuti em outro lugar (Moscovici, 1988/1993), na
verdade, chega-se concluso oposta logo que se assume que
atrs dessas iluses, rituais ou emoes existem representaes
coletivas que so partilhadas e transmitidas de uma gerao a
outra sem que mudem. A impresso confirmada e fortificada
quando nos damos conta de que, atravs de totens e rituais, a
sociedade celebra o culto de si mesma, atravs de divindades in-
terpostas. Sua autoridade difusa e impessoal sobre os indivduos
a da prpria sociedade qual pertencem.
verdade que toda pessoa, ao adorar uma planta ou um ani-
mal, parece ser a vitima de uma iluso. Mas se todas juntas reco-
nhecem seu grupo dessa maneira, ento estamos lidando com uma
realidade social. Elas representam, ento, no apenas seres ou
coisas, mas os smbolos dos seres e das coisas. sobre estes smbo-
los que as pessoas pensam, face a face com os smbolos que as
177
pessoas se orientam, como ns fazemos quando diante da ban-
deira ou da chama no Arco do Triunfo. Do mesmo modo, condutas
rituais tm, como sua finalidade concreta, no tanto fazer chover ou
prantear uma morte, mas manter a comunidade, revigorar o sen-
tido de pertencer a um grupo, inflamar crena e f. Estou longe de
sugeri que essa explicao da vida religiosa a melhor, ou que ela
resistiu critica do tempo. Mas para mim suficiente ilustrar o
sentido em que representaes latentes so expressas atravs de
contedos mentais e comportamentos simblicos. Seria legitimo
perguntar se esse enfoque teria dado conta do que dele se esperava
e, com isso, tenha ajudado a resolver nosso problema concreto, se
foi permitido hiptese alcanar consecuo, isto , a hiptese de
que representaes coletivas so racionais, no apesar de serem
coletivas, mas porque elas so coletivas e at mesmo que essa a
nica maneira pela qual nos tornamos racionais. De fato, de acor-
do com Durkheim, com base em suas diferentes sensaes, os in-
divduos no poderiam chegar nem a noes gerais, nem a estabe-
lecer qualquer regularidade. No podemos mais ver o que que
nos faa agir assim. Criticando David Hume, o socilogo afirma
que no possvel compreender como ou por que, em nossa soli-
do, poderamos descobrir uma ordem atravs de nossa associao
de idias ou sensaes fugazes. E mesmo supondo que um indiv-
duo fosse capaz de agir assim, impossvel compreender como
essa ordem poderia permanecer estvel e impor-se sobre todos.
Por outro lado, podemos compreender que uma representao,
que coletiva porque o trabalho de cada um, pode tornar-se
estvel atravs da reproduo e transmisso de uma gerao a
outra. Ela tambm se torna impessoal medida que se desliga de
cada um e partilhada atravs dos recursos dos conceitos de uma
linguagem comum. "Pensar conceitualmente no meramente
isolar e agrupar as caractersticas comuns a determinado nmero
de objetos. tambm incluir o varivel dentro do permanente e o
indivduo dentro do social" (Durkheim, 1912/1995: 440).
Alm do mais, as principais categorias da representao so
de origem social e so trazidas cena exatamente em situaes
em que todos parecem se opor a elas. Desse modo, um rito mmi-
co, onde gritos e movimentos imitamos do animal que se quer ver
reproduzido, torna presente um processo causal ao p da letra. Ou
de novo, a frmula mgica, o semelhante atrai o semelhante,
liga diferentes coisas e faz com que algumas paream uma funo
das outras. Mas nesse caso, um poder causal implcito atribudo a
178
algo para produzir seu semelhante e isso que essencial. desse
modo que uma categoria concreta de uma causalidade ativa for-
mada, tanto na prtica da cultura, como na prtica da magia. Ou
repetindo, medida que cada sociedade, por mais primitiva que
seja, divide e classifica seus membros, ela tende tambm, ne-
cessariamente, a classificar seres animados ou inanimados de a-
cordo com os mesmos critrios. Uma lgica de classificaes com
isso criada, que pode ser grosseira, mas no menos rigorosa por
isso. Alm do mais, religies elementares esboaram os princpios
bsicos dos conceitos que, conforme Durkheim, tornaram poss-
veis a cincia e a filosofia.
A religio os tomou possveis. devido ao fato de a religio
ser uma coisa social que ela pde desempenhar esse papel. Para que
os homens possam conseguir o controle das impresses sensoriais
e substitudas com uma nova maneira de imaginar
4
o real, um novo tipo
de pensamento teve de ser criado: pensamento coletivo. Se
apenas o pensamento coletivo tem o poder de conseguir tal coisa. aqui
esta a razo: Criando todo um mundo de ideais, atravs dos
quais o mundo das realidades sensveis pareceria transf i-
gurado, exigiria uma hiper-excitao das foras intelectuais
que possvel somente na e atravs da sociedade (Durkheim.
1912/1995: 239).
Sejam quis forem as circunstncias, claro que a energia ps-
quica criada atravs da participao dos indivduos na vida do
grupo e as categorias mentais que eles cristalizam permite que re-
presentaes coletivas se descolem, formando um complexo de
idias e inferncias que deve ser chamado racional. claro que eu
no paro no conceito sem discutir sua justificao. Parece-me que
Durkheim queria designar com esse termo um contedo intelectu-
al, assemelhando-se, sob alguns aspectos, aos paradigmas de
Thomas Kuhn e, sob outros, s formas simblicas de Cassirer, que
subjazem s crenas religiosas, s opinies de uma sociedade,
cincia. Representao possui um carter intelectual claramente
marcado, mesmo que os aspectos cognitivos no sejam especifi-
cados pelo socilogo (Ansart, 1988).
Afirma Durkheim: Um homem que no pensa com conceitos
no seria um homem, pois ele no seria um ser social. Restrito
apenas a percepes individuais, ele no seria diferente de um
4
Em sua nova traduo, Karen Fields Vaduz reprsenter de Durkheim por imaginao (em
mules. imagining) (N. do T)
179
animal (1912/1995: 44O). Essas so expresses fortes. No pode-
mos nos queixar de que no sejam claras. Traam uma fronteira
clara entre a psicologia individual e a psicologia social, ligando
cada uma delas a sua prpria realidade e a suas formas distintas de
pensamento. Nessas circunstncias e sem cair no banal, pode-se
concluir que, de acordo com o socilogo, obrigao da ltima,
isto , da nossa cincia, conseguir uma compreenso mais pro-
funda das representaes pblicas e culturais. De acordo com
Durkheim, nossa cincia necessita estudar, atravs de compara-
es de temas mticos, lendas, tradies populares e linguagens.
como as representaes sociais esto ligadas ou se excluem,
como elas convergem ou se diferenciam umas das outras e assim
por diante (cf. Durkheim, 1895/1982).
As argumentaes de Durkheim sobre esse ponto, a viso que
ele expressa da gnese coletiva de nossas crenas, de nosso co-
nhecimento e do que nos torna seres racionais de maneira mais
geral podem ser consideradas como discutveis, ou mesmo desa-
tualizadas. O mesmo pode ser dito da influncia das representa-
es coletivas latentes sobre nossas representaes individuais.
Mas permanece o fato de que elas so o nico esboo de uma viso
coerente que continua a existir. Tal tambm a opinio apresentada
recentemente pelo antroplogo Ernest Gellner sobre a soluo do
problema com o qual ns estamos preocupados: No existe teoria
melhor disponvel para responder a essa questo. Nenhuma outra
teoria reala o problema to bem (1991: 37). Alm disso, a linha
geral do argumento interessa mais que os argumentos invocados
pelos crticos de Durkheim. E seguindo a linha que nos demarca-
da, ao menos sabemos para onde estamos caminhando.
3.Representaes coletivas e desenvolvimento cultural
Por todos os lados nos negado o direito de pensar uma psico-
logia das representaes comuns e de trabalhar cientificamente
com base nessa hiptese. E contudo isso necessrio, pois os da-
dos da psicologia individual so elementares e se referem apenas a
fenmenos extremamente limitados. Tanto na criana como no
adulto vem-se muitas vezes atos psquicos cuja explicao implica
outros atos que no dependem de representaes individuais. Esses
atos no so apenas as percepes de outros, ou atitudes com res-
peito a grupos tnicos. Nas nossas conversaes cotidianas menos
reprimidas encontramo-nos confrontados com imagens lingilsti-
180
cas ou influncias que vm mente sem que sejamos ns sua ori-
gem e com dedues cuja formao no pode ser atribuda a ne-
nhum de nossos interlocutores, como o caso dos boatos. Todos
esses atos permanecem sem coerncia se ns afirmamos que eles
so deduzidos de raciocnio ou expresses individuais, mas eles
podem ser combinados em um todo cuja coerncia pode ser des-
coberta quando se leva em conta as representaes sociais pressu-
postas. Encontramos nessa melhor compreenso um motivo sufi-
ciente para ir alm da experincia imediata de cada pessoa. E se,
por outro caminho, ns podemos mostrar que a psicologia das re-
presentaes coletivas, contrariamente ao que alguns acreditam,
esclarece as operaes mentais e lingsticas dos indivduos, ento
nossa hiptese ir receber uma justificao suplementar.
Na verdade, as coisas so assim: acima de tudo, Durkheim
traou os contornos de um programa de pesquisa ao definir uma
posio de principio e o fundamento coletivo de nossa vida mental.
Ele formulou, como veremos, a idia de representaes coletivas
como a matriz subjacente, poderamos mesmo dizer inconsciente,
de nossas crenas, de nosso conhecimento e de nossa linguagem.
Portanto, mesmo que algum possa desaprovar essa maneira de
falar, no existe tal coisa, estritamente falando, como racionalida-
de individual, que a armadilha de uma das crenas mais genera-
lizadas. Como escreveu Plocart: Os homens de todas as raas e
geraes esto igualmente convencidos de que eles extraem seu
conhecimento da realidade (1987: 42). Ao argumentar que eles
extraem suas categorias do pensamento da sociedade, Durkheim
iniciou uma mudana radical na sociologia e antropologia. Mas
essa tambm a razo por que essa idia ainda contestada hoje,
ou ignorada ao ponto de, mesmo nas biografias mais perspicazes
do socilogo francs, ser feita a ela apenas uma rpida aluso
(Giddens, 1985).
Contudo, necessitamos reconhecer tambm que, preocupado
com a oposio entre o coletivo e o individual e em mostrar a con-
tinuidade entre religio e cincia, Durkheim deu a essa idia um
sentido que bastante intelectual e abstrata Para nos aproximar-
mos dessa questo da maneira mais concreta, necessitamos pres-
tar maior ateno as diferenas que s semelhanas entre repre-
sentaes coletivas, lig-las a diferentes sociedades a fim de ser-
mos capazes de compar-las de maneira segura. Nesse sentido,
parece que foi Lvy-Bruhl quem transformou essa idia geral em
um conceito preciso e conseguiu, mesmo que de maneira frag-
181
mentada, fazer a comparao. Isso incontestvel do ponto de
vista que nos interessa, pois, ao mesmo tempo, ele esboou sua
psicologia social autnoma, a cuja importncia retornarei mais
tarde. Sabemos que as premissas de seu trabalho e de sua psicolo-
gia foram, e continuam a ser, escandalosas (Lloyd, 199O). Mas no
estou interessado aqui nesse escndalo, ou nas razes confusas
que levaram rejeio de Lvy-Bruhl, pois existem muitos livros e
escritos sobre a famosa mentalidade pr-lgica. Pode-se encon-
trar uma discusso sucinta e imparcial dessas questes disputa-
das em um excelente livro de Gustav Jahoda (1982).
Podemos tentar compreender o conceito de maneira rpida
dizendo que, pressupondo o fundamento coletivo, Lvy-Bruhl in-
sistiu em quatro aspectos dessas representaes.
Elas possuem um carter que nos dias de hoje descreveramos
como holistico, que significa dizer que no podemos atribuir uma
crena ou categoria isolada a um individuo ou a um grupo. Desse
modo, toda idia, ou crena, pressupe grande nmero de outros
com os quais forma uma representao total. Por exemplo, a idia
Esse homem alemo pressupe que a idia de homem
seja acessvel, bem como a idia de alemo e, conse-
qentemente, a de tipo, francs e assim por diante. Por conse-
guinte, a crena Esse homem alemo pressupe crenas sobre
naes e implica uma crena que Esse homem no um turco,
etc. O holismo de uma representao significa que o contedo se-
mntico de cada idia e cada crena depende de suas conexes
com outras crenas e idias. Portanto, ao contrrio do que aceito
na cognio social, o erro ou verdade de uma das idias ou crenas
no implica que a representao partilhada pelo coletivo tenha um
carter errneo ou verdadeiro, ou que sua maneira de pensar seja
errnea ou verdadeira. Evans-Pritchard compreendeu a importn-
cia desse aspecto quando escreveu que Lvy-Bruhl foi um dos
primeiros, se no o primeiro, a enfatizar que as idias primitivas,
que nos parecem to estranhas e s vezes iditicas, quando con-
sideradas como fatos isolados, criam sentido quando vistas como
partes de conjuntos de idias e comportamentos, possuindo cada
parte uma relao compreensvel com outras (1965: 86). , pois, a
representao que une as idias e o comportamento de um coleti-
vo, representaes que so formadas no decurso do tempo e as
quais as pessoas aderem de maneira pblica.
182
Podemos pr fim a todos os equvocos que cercam a natureza
das representaes no momento em que, daqui para frente, ao des-
crevermos os diferentes tipos de crenas, deixarmos de lado a ques-
to de se necessitamos, para classific-las, saber se elas so intelec-
tuais ou cognitivas e as juntarmos apenas de acordo com sua cone-
xo e sua aderncia a uma sociedade ou cultura especficas. Devido a
vrias razes, isso at mesmo mais verdadeiro, conforme Lvy-
Bruhl, para as assim chamadas culturas primitivas, pois o que
concretamente representao para ns, encontra-se combinado
com outros elementos de carter emocional ou motor, colorido e
manchado por eles e, por isso, implicando uma atitude diferente
com respeito aos objetos representados (1925/1926: 36). Todos os
smbolos presentes e ativos em uma sociedade obedecem tanto
lgica do intelecto quanto lgica das emoes, mesmo que estes
smbolos possam estar fundamentados em um principio diferente.
Afirmo que isso vale para qualquer cultura e no apenas para as as-
sim chamadas primitivas. No devemos hesitar, portanto, em tratar
representaes como construes intelectuais de pensamento,
embora relacionando-as s emoes coletivas que as acompanham,
ou que elas despertam. Quando fazemos discriminao contra um
grupo, expressamos no apenas nossos preconceitos sobre essa
categoria, mas tambm a averso ou desprezo a que eles esto
indissoluvelmente ligados.
3) Um provrbio alemo diz que o demnio est no detalhe
e isso tambm verdade com respeito as representaes coleti-
vas. Evidentemente, elas compreendem idias e crenas que so
gerais e as relacionam a prticas ou realidades que no o so.
Alm disso, talvez seja legitimo conceb-las e apresent-las como
uma cincia ou uma religio. Apesar disso, porm, aconselh-
vel procurar por essas representaes entre os aspectos mais tri-
viais da linguagem ou comportamento, demorar-se sobre as in-
terpretaes mais obscuras ou as metforas mais fugidias, a fim
de descobrir sua eficcia e seu sentido. Se algum, pois, as exa-
mina como um todo, as representaes devem se mostrar como
continuas e internas tanto sociedade como realidade e no
como sua cpia ou seu reflexo. Nesse sentido, uma representa-
o ao mesmo tempo uma imagem e uma textura da coisa ima-
ginada que manifesta no apenas o sentido das coisas que coe-
xistem, mas tambm preenche as lacunas - o que invisvel ou
est ausente dessas coisas.
183
Lendo os livros de Lvy-Bruhl, ficamos surpresos com o talen-
to com que ele investigou contedos religiosos ou com que des-
creveu rituais e, alm disso, pelo exame minucioso de suas ramifi-
caes nas expresses lingsticas, o uso de nmeros, o compor-
tamento para com os doentes ou as atitudes com respeito morte.
Desse modo, uma compreenso das assim chamadas representa-
es primitivas aumenta progressivamente medida que as ve-
mos fincando razes na vida concreta do povo. Entre os pesquisa-
dores contemporneos dentro desse campo somente Denise Jode-
let (1989/1991, 1991a) demonstra um cuidado semelhante.
Isso, contudo, no se relaciona com o mtodo, mas como pr-
prio conceito, que assume um sentido diferente. isso que Husserl
viu com clareza ao escrever em uma carta a Lvy-Bruhl a 11 de mar-
o de 1935 (a data aqui importante):
Na verdade ns sabemos h muito tempo que todo ser humano
possui sua representao do mundo, que cada nao, cada
esf era cultural supranacional vive, por assim dizer, em outro mundo di-
ferente daquele que as circunda e ns tambm sabemos que isso assim
para cada poca histrica. Mas confrontados com essa generalidade va-
zia, seu trabalho e o excelente tema por ele tratado nos faz ver algo
to surpreendente devido a sua novidade; , com efei to, pos-
svel e absolutamente crucial tomar como tarefa sentir a partir de
dentro uma humanidade fechada vivendo em uma sociedade ativa e
generativa, para compreend-la, pois ela contm um mundo
em sua vida social uniforme e, com base nisso, ela assume esse mundo
no simplesmente como uma representao do mundo, mas como o
prprio mundo existente. Chegamos, desse modo, a apreender,
identificar e pensar seus costumes e, conseqentemente, sua lgica
bem como sua ontologia e, atravs de suas correspondentes ca-
tegorias, as do mundo circundante.
Esse um texto difcil, pois vai alm da psicologia ou antropo-
logia existentes no momento lastimoso em que o grande filsofo
alemo o escreveu. Mas seu autor reconheceu perfeitamente que
uma representao social que fosse apenas uma representao de
algo, de um ambiente ou objeto comuns, seria uma generalidade
vazia. Ela foi muitas vezes pensada desse modo, apesar da preci-
so que tentei dar a ela. Isso acontece quando algum no leva su-
ficientemente em conta sua especificidade e sua novidade, que
ser ao mesmo tempo a representao de algum, de uma coleti-
vidade que desse modo cria um mundo para si mesma.
4) Finalmente, devemos ter em mente que todas as represen-
184
taes coletivas possuem a mesma coerncia e valor. Cada uma pos-
sui sua originalidade e sua prpria relevncia, de tal modo que ne-
nhuma delas possui uma relao privilegiada com respeito s outras
e no pode ser critrio de verdade ou racionalidade para as demais.
Caso contrrio, logo que tal reconhecimento concedido, por exem-
plo, a uma representao cientfica ou moderna, ento, como con-
seqncia, as outras aparecem como inferiores, incompletas ou ir-
racionais. Se insisto nesse ponto, porque ele no totalmente es-
tranho psicologia social e cognitiva contempornea. Qualquer um
pode compreender a pertinncia dessa crtica lendo o excelente li-
vro de Stephen Stich, The Fragmentation of Reason (199O), que faz
um balano da pesquisa realizada nessa psicologia e mostra como
ela se prejudicou devido a esse reconhecimento errneo.
Poder-se-ia pensar a respeito desses quatro aspectos como
especificando o conceito de conhecimento com o qual estamos
interessados e que retm seu valor mesmo hoje. Mas sobretudo o
quarto aspecto que foi a fonte da afirmao escandalosa de Lvy-
Bruhl, isto , que impossvel propor um critrio absoluto de ra-
cionalidade que possa ser independente do contedo das repre-
sentaes coletivas e de sua insero em uma sociedade especifica.
Ele contestou, portanto, a proposio fundamental que defende
que pensamento primitivo est interessado com os mesmos
problemas ou o mesmo tipo de problemas do pensamento avana-
do. Tal ponto de vista tornaria o primeiro uma forma rudimentar,
at mesmo infantil, do segundo. Para Lvi-Bruhl existe uma des-
continuidade, portanto uma profunda diferena, entre mentalida-
de primitiva e mentalidade moderna ou cientifica. No que as pes-
soas nas culturas tradicionais tenham uma mentalidade mais sim-
ples ou mais arcaica que a nossa. Pelo contrrio, cada uma delas
igualmente complexa e desenvolvida e no temos razo para
desprezar uma e glorificar a outra. Cada uma possui suas prprias
categorias e regras de raciocnio que correspondem a diferentes
representaes coletivas.
No podemos, ento, como queria Durkheim, dar conta da psi-
cologia tanto dos povos primitivos, como dos civilizados em
termos dos mesmos processos de pensamento. Se no reduzirmos a
psicologia do grupo psicologia do indivduo, do mesmo modo no
devemos reduzir a psicologia dos diferentes grupos a uma entidade
singular uniforme e indiferenciada. Como escreve Levy-Bruhl: ns
185
devemos, ento, rejeitar de antemo toda idia de reduzir as opera-
es mentais a um nico tipo, sejam quais forem os povos que esto
sendo considerados, e dar conta de todas as representaes coleti-
vas atravs de um funcionamento psicolgico e mental que sem-
pre o mesmo (1925/1926: 28). Esse um sbio conselho que nos
autoriza, na frase de Husserl, a sentir a partir de dentro como a
mentalidade moldada e como, por sua vez, ela molda, no a socie-
dade em geral, mas essa sociedade da Melanesia, ou essa sociedade
indgena, ou europia. Isso poderia ser mostrado em detalhe, mas
essa no a ocasio de se fazer isso. No entanto, podemos com-
preender o sentido pleno da distino entre dois modos de pensar e
representar, prestando ateno psicologia social que deles e-
merge, em particular a das assim chamadas culturas primitivas,
que est fundamentada em trs idias principais.
Primeiro, a idia que as representaes no-cientficas dessas
culturas esto embebidas em uma ambiance que sensibiliza as
pessoas existncia de entidades invisveis, sobrenaturais, em
uma palavra, msticas. Essas entidades msticas do um colori-
do a todos seus modos de pensar, sugerindo ligaes precoces en-
tre as coisas representadas. Elas tambm tornam os indivduos
impermeveis aos dados da experincia imediata. Em segundo
lugar, h a idia que a memria desempenha um papel mais impor-
tante nessas culturas do que nas nossas. Isso significa que o mun-
do das percepes mediadas e interiores domina o mundo das
percepes diretas e exteriores. Finalmente, a terceira idia que
as pessoas que criam essas representaes e as colocam em prti-
ca no so constrangidas, como ns, a evitar a contradio (Lvy-
Bruhl, 1925/1926: 78). Pelo contrrio, so foradas a seguir a lgi-
ca regulada pela lei da participao, que lhes permite pensar o que
a ns proibido, isto , que uma pessoa ou uma coisa pode, ao mes-
mo tempo, ser tanto ela mesma, ou algum ou alguma coisa dife-
rente.
Por exemplo, um animal pode compartilhar de uma pessoa;
ou, freqentemente, os indivduos compartilham seus nomes,
dessa maneira eles no necessitam revel-los, pois um inimigo
pode surpreend-los e se aproveitar do dono do nome. Ainda
mais, um homem participa da vida de seu filho, de tal modo que se
o filho est doente, o homem que toma o remdio em vez do
filho. Chegamos ns, alguma vez, a aplicar a lei da participao?
Pensamos ns que o homem o que ele come, sugerindo que as
186
qualidades do animal ou planta dos quais ele se alimenta acabam
dando um aspecto especfico a suas caractersticas? Podemos
ver a razo por que Lvy-Bruhl qualificou os primitivos como
pr-lgicos, no porque eles fossem ilgicos ou incapazes de
pensar como os mais civilizados, mas porque seguiam outras leis
de pensamento governadas pelo que chamado de representa-
es coletivas msticas.
A pessoa que estiver lendo isso ficar, provavelmente, choca-
da, como eu fiquei, com a semelhana entre a psicologia dessas
representaes e as do inconsciente formuladas por Freud mes-
ma poca. Mas enquanto para Lvy-Bruhl essa psicologia expressa
uma racionalidade alternativa, para Freud ela expressa a prpria
irracionalidade. Para ilustrar concretamente como o pensador
francs concebeu a diferena, devido qual ele foi tantas vezes
criticado, devemos sonhar duas culturas fictcias. A primeira iria
estabelecer, por decreto ou por voto, a psicanlise como sua re-
presentao pblica, a segunda a psicologia cognitiva. Na primei-
ra, podemos supor que os indivduos iro pensar em termos de en-
tidades invisveis: Complexo de dipo, catexias, superego e
que eles seriam capazes de associar livremente idias sem se pre-
ocupar com as contradies entre elas. No entanto, na segunda,
eles no levaro nada em conta, com exceo de informao men-
survel sobre a freqncia dos acontecimentos ou comportamen-
tos percebidos e eles seriam forados a obedecer ao principio da
no-contradio, ou qualquer outro princpio que regula os clcu-
los de um computador.
No queremos dizer, contudo, que os i ndivduos na primeira
cultura seriam incapazes de um pensamento que respeitasse a
no-contradio, nem que os da segunda cultura no pudessem li-
dar com associao livre, mas simplesmente que as representaes
coletivas de nossas duas culturas imaginrias diferem e impem um
ou outro principio sobre seus membros. Alm do mais, os habitan-
tes da cultura cognitiva iro dizer e em algum lugar, podemos estar
seguros, eles o disseram (Moscovici, 1993a), que os habitantes da
cultura psicanaltica so pr-lgicos. Mas eles estariam errados
em pensar, como fazem, que isso significa ilgicos, pois apenas
uma questo de lgica diferente. Esse exemplo imaginrio nos faz
ver que o contedo de uma representao e a natureza do grupo
correspondente que estabelece o principio da racionalidade e no o
inverso. Para empregar termos contemporneos: o critrio de ra-
cionalidade aparece como uma norma inscrita na linguagem, nas
187
instituies e representaes de uma cultura especifica.
Gastou-se grande quantidade de tinta na discusso sobre
essa diferena entre uma mentalidade primitiva e uma mentali-
dade civilizada, ou cientfica. Na verdade, parece-me que a
questo se refere diferena entre crena e conhecimento, to im-
portante, mas to pouco compreendida, como pode ser estabele-
cida pela leitura das ltimas reflexes de Wittgenstein sobre a
crena. Na minha opinio, muitos equvocos poderiam ser dissi-
pados se fosse aceita a sugesto que segue. A diferena com que
estamos interessados toma um novo sentido quando prestamos
ateno distino entre:
A. representaes comuns cujo ncleo consiste em crenas,
que so, em geral, mais homogneas, afetivas, imperme-
veis experincia ou contradio e deixam pouco es-
pao para variaes individuais;
B. representaes comuns fundamentadas no conhecimen-
to, que so mais fluidas, pragmticas, passiveis de teste
de acerto ou erro e deixam certa liberdade para a lingua-
gem, a experincia e at mesmo para as faculdades criti-
cas dos indivduos.
Vamos sintetizar. Indiferena contradio, mobilidade nas
fronteiras entre realidade interna e realidade externa, homogenei-
dade do contedo seriam as caractersticas da psicologia associa-
da primeira cultura; absteno de contradio, distino entre
realidade interna e realidade externa, permeabilidade experin-
cia seriam as caractersticas da psicologia associada segunda
cultura. E evidente, contudo, que cada cultura as combina de
acordo com seus prprios objetivos e histria, impondo regras nas
relaes entre elas. Seja qual for a sorte dessa sugesto, eu a apre-
sentei a fim de generalizar e realar o sentido psquico da distino
estabelecida pelo escritor francs. Em troca, espero expor, ao me-
nos brevemente, qual foi sua influncia e como o conceito de re-
presentaes coletivas de Lvy-Bruhl se tornou um modelo que foi -
absorvido na psicologia contempornea. Na verdade, a quase to-
talidade da psicologia do desenvolvimento individual ou cultural
um produto seu.
4.Piaget, Vygotsky e representaes sociais
188
Na dcada de 1920, era ainda possvel pensar em termos de
evoluo e, mais especificamente, de uma evoluo de represen-
taes primitivas sendo modificadas e transformadas em repre-
sentaes civilizadas. At Lucien Lvy-Bruhl, acreditava-se que tal
evoluo poderia ser conseguida em virtude da famosa unidade
psquica da humanidade. Mas, depois dele, tornou-se possvel
pensar que essa evoluo pode consistir em uma mudana des-
contnua que ocorre com a passagem de uma cultura a outra. Essa
questo pode parecer abstrusa, mas necessitamos lembrar que se
quisermos ter uma idia precisa das duas maiores influncias que
ela exerceu, uma sobre Jean Piaget, a outra sobre Lev Vygostsky.
Piaget foi, se no o discpulo, ao menos esteve muito ntimo do
pensamento de Lvy-Bruhl, tanto em seu mtodo, como a sua
psicologia. Sem exagero, pode-se dizer que a psicologia das repre-
sentaes primitivas estabelecida pelo pensador francs foi refle-
tida na psicologia das representaes das crianas (por no ani-
mismo infantil, no realismo intelectual, etc.) que devemos ao psi-
clogo suo. Em outras palavras, o que um descobriu nas repre-
sentaes pblicas das sociedades exticas, o outro descobriu, de
maneira transposta, nas representaes supostamente privadas
das crianas suas. Piaget, contudo, distanciou-se de Lvy-Bruhl (e
se aproximou de Durkheim e Freud) quando imaginou uma evolu-
o contnua estendendo-se dessas representaes pr-lgicas
da criana, para as representaes mais lgicas e individuais do
adolescente.
O que sabemos que Vygotsky, Alexander Luria e sua equipe
voltaram-se para a mesma fonte intelectual. Evidentemente com
inclinao poltica prpria e, sobretudo, a revoluo socialista os
forou a conceber uma psicologia que reconhecia o lugar legtimo
da sociedade e da cultura, isto , uma psicologia profundamente
marxista que no se contenta em fazer pouco caso da primazia da
sociedade, como acontece tanto no Oriente como no Ocidente com
o acmulo de declaraes e citaes, enquanto se procura ir ao
encalo de uma psicologia individual. Como muitos russos do seu
tempo, Vygotsky acreditou na verdade do marxismo materialista
de uma sociedade nova e melhor, cujo sucesso era necessrio ga-
rantir. Ele e seus colegas no trataram essas questes com algum
distanciamento irnico; eram pensadores comprometidos.
Foi precisamente porque eles tomaram esses problemas a
189
srio, que chegaram a uma discusso mais aprofundada delas.
Concluram que, parte o referencial geral, havia pouca esperana
de encontrar um conceito fundamental no marxismo, ou uma vi-
so frutfera para a psicologia. Eles no devem ser censurados por
isso; na verdade, aos olhos de seus fundadores e dos pensadores
contemporneos da revoluo, o marxismo no era a cincia de
tudo o que at ento existira. Atravs de uma febricitante anlise
da psicologia no decurso desses anos de criatividade e revoluo,
Vygostky e Luria abriram o caminho que lhes permitia introduzir
os fenmenos sociais na psicologia e fundament-la sobre eles,
Mas acima de tudo a introduo da dimenso histrica e cultural
na psicologia foi feita revelia. Como se pode adivinhar, pois esti-
ve falando sobre isso, esse o caminho das representaes coleti-
vas e a afirmao que os processos mentais superiores tem sua
origem na vida coletiva do povo. De modo especial, o caminho que
levou ao conceito dessas representaes foi a psicologia de Lvy-
Bruhl, cujo valor Piaget e Werner tinham comeado a demonstrar.
Vocs no tero como objetar se, para confirmar essa afirma-
o, eu faa apelo a um erudito especialista em psicologia sovitica
que escreve:
Levando em considerao uma orientao social geral do
marxismo, deve-se pressupor que foi a teoria marxista que
forneceu uma orientao intelectual para Vygostsky. Esse pressu-
posto, contudo, no prova de ref utao; como Vygotsky
mostrou em seu livro Crisis, a teoria marxista, na dcada de
1920, no conseguiu desenvolver nenhum dos conceitos exigidos
para o estudo psicolgico do comportamento e da cognio
humanos. A nica teoria suf icientemente desenvolvida da
cognio humana como determinada socialmente foi oferecida
pela escola sociolgica francesa de Emile Durkheim e foi discutida
nos trabalhos ligados a ela de Lucien Levy-Bruhl, Charles Blondel e
Maurice Halbwachs (Kozulin, 199O: 122).
Mesmo que esse autor sobreestime a convergncia entre
esses diferentes pensadores, ele sintetiza em termos precisos a
maneira como essa conexo foi estabelecida e por que ela foi im-
posta com tal nufora. verdade que podem ser encontradas em
Vygotsky numerosas passagens que fazem eco a essa conexo e
que podem ser mal interpretadas se for ignorada a inspirao que
190
lhes est por detrs
.
De qualquer modo, logo no inicio desses anos
cruciais, a noo de representaes coletivas comeou a moldar sua
viso de vida mental, sua mediao lingstica e seu contedo soci-
al. O encontro de Vygotsky com as categorias de Lvy-Bruhl deu a
Luria um sentido concreto e permitiu a Vygotsky formular uma
teoria do desenvolvimento cultural humano. Essa teoria original
leva a marca de Vygostky mesmo que eu, pessoalmente, no
esteja inclinado a lhe dar tanto valor cientifico como outros lhe
do. Alm do mais, essa teoria prope, ao contrrio da de Piaget,
uma evoluo descontnua das representaes coletivas.
Seja como for, uma vez feita a conexo, Vygotsky e Luria fo-
ram os primeiros a tentar uma prova experimental em uma pro-
poro verdadeira, o que ningum havia tentado anteriormente.
Como conta Luria em suas memrias: Os dados em que Levy-
Bruhl se apoiava, bem como seus crticos antropolgicos e socio-
lgicos - na verdade os nicos dados disponveis a algum na-
quela poca - eram anedotas coletadas por exploradores e missio-
nrios que tinham entrado em contato com esse povo extico du-
rante as suas viagens (1979: 59). Portanto, eles tiveram a idia de
planejar o primeiro estudo de campo em uma escala relativamen-
te ampla sobre as representaes dos Uzbeks na Asia Central no
incio da dcada de 1930: Embora pudssemos fazer nossos es-
tudos nas aldeias russas remotas, escolhemos para nossos campos
de pesquisa as vilas e regies nmades do Ezbekisto e sia Cen-
tral, onde grandes discrepncias entre formas culturais prometi-
am maximizar a possibilidade de descobrir mudanas nas for-
mas bsicas, bem como no contexto do pensar das pessoas (Luria,
1979: 60).
Podemos ver que esse vasto projeto procurou explorar em ni-
vel coletivo entre os nmades o que Piaget explorou em nvel indi-
vidual entre as crianas. Eles tinham inteno de compreender as
transformaes psicolgicas que ocorriam em uma populao liga-
das a sua religio e vivendo de um modo tradicional, mas que pas-
savam por uma profunda metamorfose a um nvel social e cultural
como conseqncia da revoluo. Os antigos referenciais de vida
se desintegraram, a hierarquia havia desaparecido, escolas haviam
sido abertas em numerosas aldeias, enquanto vrios produtos
tecnolgicos apareceram, descontrolando a economia tradicional.
Esse estudo, publicado somente muitos anos depois(Luria
1976), confirmou, do meu ponto de vista, a conjetura de Levi-
Bruhl e por isso deu teoria de Vygotsky do desenvolvimento cul-
191
tural e histrico uma slida fundamentao. Mas, a um nvel mais
profundo, Vygotsky e Luria permaneceram mais fiis que Piaget
aos cnones da psicologia individual face ao conceito de represen-
taes coletivas e fizeram um uso menos criativo da anlise psico-
lgica do pensador francs. Existe aqui uma inverso: o conceito
de Piaget de desenvolvimento est mais distante de Levi-Bruhl,
enquanto o contedo de sua psicologia est mais prximo dele,
quanto com Vygotsky exatamente o oposto. Como irmos rivais,
eles compartilham o mesmo fundamento cientfico, embora sendo
totalmente opostos entre si. Espero que algum dia epistemlogos
com mais tempo que eu se interessem por essa relao peculiar.
O que parece importante aqui que durante os anos em que
sua prpria sade piorou, bem como a sade da revoluo socia-
lista, Vygotsky foi atacado porque sua teoria do desenvolvimento
histrico e cultural, portanto, sua psicologia, devia muito s repre-
sentaes coletivas e aos escritos de Durkheim e Lvy-Bruhl refe-
rentes a elas. Em um recente artigo, o psiclogo russo Brushlinky
(1989) reviu novamente essas crticas relativamente corretas e
defendeu Rubinstein, que estivera entre aqueles que fizeram tais
crticas, pois ele, por sua vez, se tornou vitima delas. Mas algo mais
surpreendente o silncio, se no a leviandade, com que os melho-
res especialistas que estudam o grande psiclogo russo (Wertsch,
1985) passam por cima de suas obras como se fosse uma questo
de anedota e no um momento essencial na histria da psicologia
contempornea, a tal ponto que as idias e a pesquisa de Vygotsky
sobre desenvolvimento histrico e cultural, mesmo sobre lingua-
gem, paream ter surgido em sua cabea do mesmo modo que a
deusa Atenas surgiu do crebro de Zeus, atravs de uma filiao
miraculosa. Algumas poucas aluses a Mead ou Marx no tornam
essa apario menos miraculosa; ao contrrio, servem para obscu-
recer sua gnese concreta. Suspeito que essa cegueira para com a
conexo histrica efetiva seja devida a algo bem mais profundo
que uma simples negligncia pela verdade.
Tal cegueira o resultado - mesmo naqueles que esto con-
vencidos que os fenmenos psicolgicos no devem ser reduzidos a
fenmenos orgnicos ou individuais e naqueles que demonstram
uma simpatia pelo social - de todavia verem tal desenvolvi mento
em relao ao individuo, ou quando muito como uma forma de inter-
subjetividade
.
Desse modo, eles no conseguem ver com clareza
nem os limites do marxismo nas questes psicolgicas, nem em
que sentido a abertura para um Durkheim ou para um Lvy-Bruhl
192
foi uma oportunidade nica para os pensadores russos confronta-
dos com uma situao histrica extraordinria, em que eles esta-
vam plenamente conscientes dos riscos que estavam assumindo e
pelos quais eles pagaram as conseqncias, Esse ainda um aspec-
to parcial da representao (Darstellung) que nos interessa. O que
realmente interessa que medida que se tornaram um conceito
preciso, as representaes sociais inspiraram uma psicologia dos
primitivos que era nova e no-individualista (Davy, 1931). E isso,
por sua vez, abriu caminho para a psicologia da criana de Piaget e
para a psicologia das funes psicolgicas superiores de Vygotsky.
No se pode, pois, aceitar que no houvesse aqui uma noo ver-
dadeiramente especifica do social capaz de dar psicologia da
representao seu contedo legtimo No esse, fundamental-
mente, o esprito que deveria predominar nas cincias humanas e
na psicologia social de maneira particular? Talvez no seja correto
continuar insistindo sobre posturas que j foram ultrapassadas h
tempo, a fim de se poder avanar. Por razes bvias, no trouxe
considerao o desenvolvimento de algo cujos traos so percebi-
dos na moderna epistemologia. Mas, lendo o livro de Fleck
(1935/1979), podem ser entendidos tais traos, mencionados pelo
prprio autor. Uma vez mais, eles levam a Lvy-Bruhl, de modo
marcante, se no exclusivo. De modo particular, o conceito de re-
presentao coletiva expresso atravs da noo do estilo de pen-
samento de um coletivo usado por Fleck. E ns sabemos que o
livro de Fleck encontrou eco na teoria de Thomas Kuhn e na sua
epistemologia da cincia.
5. De representaes coletivas para representa sociais
O tema geral desse captulo a gnese e fecundidade da idia
de representao social. Este tema ofereceu a oportunidade de
caracterizar o que reconhecido como decisivo nos processos de
pen sarnento, ou o conjunto de crenas partilhadas por grupos ou
sociedades inteiras. Serviu tambm para explicar as mudanas ou
meta morfoses que esses processos e esses conjuntos de crenas
aparentemente sofreram. Se nos voltarmos para a poca atual, fica
claro que o problema subjacente o da racionalidade moderna.
193
Como sabemos, ela implica que as formas de vida mental e social
conserva das pela tradio devem ser substitudas pelas da cincia
e da tecnologia. Nosso pensamento cientfico elevado categoria de
norma e de todo pensamento, nossa lgica tomada como nica
lgica vivel, estigatizam, sem examin-los, todos os pensamentos
e crenas diferentes, relegando-os a uma categoria inferior. Desse
modo, a difuso do pensamento moderno pressupe ipso facto o
retrocesso, sem exceo, de todos os outros. Evidentemente, deve-
mos pagar o preo: como conseqncia, se o pensamento cientfi-
co impe suas regras e operaes sobre a mente, ele questiona
outras formas de pensamento e as condena ao desaparecimento.
Essa a direo na qual nossos processos de pensamento ou
conjuntos de crenas so mudados e transformados. No h, por-
tanto, nada de surpreendente se grande parte do trabalho devota-
do ao desenvolvimento cultural e individual se esforce para eluci-
dar os estgios atravs dos quais as sociedades, ou indivduos, al-
canam esse estgio em um trajeto obrigatrio. Hoje, devido a
tudo isso, nossa conscincia crtica est menos segura dessa evo-
luo. Mas apesar disso, o postulado de redutibilidade de todas as
formas de pensamento e crena a uma unidade mantm a posio
mais elevada em qualquer situao, tanto na psicologia, economia
ou sociologia, como no discurso pblico.
Tudo isso pode chamar a ateno do leitor como a repetio e
descrio de coisas j h muito conhecidas e, conseqentemente,
sem grande interesse. Esse seria o caso se no estivessem presen-
tes, contudo, duas conseqncias que merecem ateno:
1) A primeira conseqncia expressa no fato de que uma
distino tcita feita entre sociedades sem cincia e sociedades
com cincia. E, conseqentemente, as representaes coletivas so
estudadas apenas nas primeiras, como se no se relacionassem s
ltimas, de tal modo que as caractersticas, comeando com as
crenas institudas nessas sociedades tradicionais, ou exticas,
so distinguidas como se tal fato fosse uma questo de alguma
forma mental peculiar apenas delas. Alm disso, a um nvel mais
profundo, essas representaes so tomadas como modelos de
sociedades totais ou fechadas, em que os constituintes simb-
licos e prticos das relaes sociais esto perfeitamente integra-
dos. Em tais sociedades, todo tipo de comportamento e cognio
parece ser conformado pelo ncleo mtico e ritual da tradio de
um povo. Desse modo, a maior parte do conhecimento exercido
nas atividades de subsistncia, as artes e tudo o que negociado
194
nos intercmbios da vida cotidiana so deixados de lado. Isso
explica, ao menos em parte, por que toda representao parece
coincidir com a coletividade em sua totalidade e assumir um car-
ter tanto uniforme, como esttico.
Com esse referencial em mente, chama a ateno ver uma re-
presentao assim chamada primitiva, comparada e contrastada
com a cincia, no apenas como os cientistas a praticam, ou como
ela difundida nas sociedades modernas, mas como ela descrita
pela lgica da cincia apresentada nas obras dos filsofos. Por
exemplo, o causador de chuva da Melanesia, cujos ritos so obser-
vados e cujas crenas mgicas so registradas, comparado com
nem mais nem menos uma personalidade como Einstein. Mas essa
discusso nos levaria muito longe. Por ora, prefiro simplesmente
apresentar minha discordncia com a idia que representaes
coletivas devem ter um sentido em sociedades longnquas ou em
tempos antigos, mas no nas nossas, com seu endeusamento das
crenas cientficas. H uma boa razo para isso.
2) A segunda conseqncia do postulado da redutibilidade
o que Laudan (1977) chamou de pressuposto de a-
racionalidade, que significa que as explicaes sociais de nossos
estudos intelectuais entram no domnio da sociologia apenas
quando esses estudos no conseguem adequar-se aos critrios de
racionalidade geralmente aceitos. At mesmo Mannheim, que nes-
se ponto era fiel ao marxismo, invocou essa hiptese quando ele
isentou a matemtica e as cincias naturais do domnio da socio-
logia do conhecimento. Mas isso pode tambm ser aplicado ideo-
logia, porque ela se desvia desses critrios, tanto por ser confun-
dida com religio, como porque ela uma simulao da cincia.
Deve-se, contudo, notar que tanto Durkheim, como Levy-Bruhl,
aderiram implicitamente a essa hiptese. Sem dvida, eles vem
as caractersticas universais da cognio - causa, tempo, classe ou
nmero - como estando fundamentadas nas caractersticas parti-
lhadas por todas as sociedades. Isso no os impede de explicar a
passagem de crenas religiosas ou mgicas para a cincia moderna
como um efeito da passagem da pr-eminncia da coletividade
para a pr-eminncia do individuo que se torna consciente de si
mesmo e diferencia explicitamente a si mesmo do grupo do qual
ele se sente um membro (Levy-Bruhl, 1925/1926: 365).
Ao estabelecermos uma conexo entre esses diferentes as-
pectos entenderemos melhor por que, aps um perodo de extra-
195
ordinrio interesse nas representaes coletivas, houve um pero-
do de reserva, at mesmo de abandono. Elas se mostram como no-
es explicativas apenas com respeito a sociedades cujas cren-
as, materializadas em instituies, linguagem e moral, tm car-
ter de obrigatoriedade e so centradas no universo humano, ou,
para emprestar um termo de Piaget, so sociocntricas. Elas no
poderiam, portanto, como viu claramente Bergson, ter validade
para alm das sociedades fechadas ou totais, tais como uma
nao ou uma tribo. Ainda mais, dentro da concepo positivis-
ta que ento predominava, a cincia e as tcnicas racionais das so-
ciedades modernas, embora derivadas de um pensamento religio-
so, tinham um carter objetivo e individual.
Foi aqui que Fleck viu corretamente uma incongruncia, ou,
quanto a isso, uma contradio, pelo fato de propriedades objeti-
vas dependerem das condies particulares de uma sociedade,
tanto quanto dos seus modelos de pensar. E ele no foi o nico,
pois Piaget escreveu, com relao a Durkheim, que sustentava ao
mesmo tempo tanto o carter sociocntrico das representaes
coletivas, como o carter individual da cincia:
Se ele foi capaz de manter duas posies to incompatveis,
obviamente porque, em vez de proceder anlise de diferentes ti-
pos de interaes sociais, ele retrocedia constantemente a
linguagem global da totalidade. Portanto, a fim de demonstrar a
natureza coletiva da razo, ele alternava entre dois tipos de
argumento, na verdade muito diversos, mas usados simultaneamen-
te sob a capa dessa noo indiferenciada de totalidade social exer-
cendo presso sobre o individuo (Piaget, 1965/1995: 72).
No se pode, ento, negar que psiclogos e socilogos tive-
ram algumas razes para se distanciarem de um conceito que pa-
recia talhado medida de uma sociedade tradicional ou extica e
marcado por suas origens positivistas, ou quando muito referir-se
a ele em uma dimenso histrica (Farr, 1993). Mas isso inaceit-
vel quando no se quer renunciar a uma psicologia social ao mes-
mo tempo individualistica e despojada de qualquer referencial co-
mum a outras cincias humanas e, conseqentemente, destinada
a tornar-se fragmentada em uma multido de campos de pesqui-
sa, sem qualquer elo entre si e sem qualquer continuidade histri-
ca. Talvez isso nos ajude a compreender por que, quando nos vol-
tamos para o fundamento coletivo da vida e da ao mental, no
haja outra alternativa sria que tentar dar uma nova chance a essa
196
linha de pensamento. Afinal, muitas vezes na histria das idias ou
da cincia, uma noo muito debatida mostrou-se til dentro de
um novo contexto, como foi o caso, por exemplo, como tomo no
sculo vinte.
Seja como for, devido a uma escolha cujos motivos tm aqui
pouca importncia, parece-me legtimo supor que todas as formas
de crena, ideologias, conhecimento, incluindo at mesmo a cin-
cia, so, de um modo ou outro, representaes sociais
5
. Parecia
ento (Moscovici, 1961/1976), e parece igualmente assim hoje,
que nem a oposio do social ao individual, nem a evoluo do tra-
dicional ao moderno, tiveram, com respeito a isso, a importncia
que lhes dada.
Mas parecia correto distinguir aquelas formas de acordo com
a maneira como elas ordenam seu contedo e representam os ho-
mens, os acontecimentos, as coisas, dentro de um universo parti-
cular que a sociedade reconhece tanto como um universo consen-
sual, ou como um universo reificado. As representaes sociais
esto mais e mais marcadas pela diviso entre esses dois univer-
sos, o primeiro caracterizado por uma relao de apropriao con-
fiante, at mesmo uma implicao, e o ltimo pelo distanciamento,
pela autoridade, at mesmo por uma separao - ou o que em a-
lemo se chama Zugehorigkeit (afiliao) e Enttremdung (aliena-
o). Eles tambm correspondem s relaes institudas pelos in-
divduos na sociedade e aos modos de interao especficos a
cada um deles. Sem repetir as razes e descries que apresen-
tei em outro lugar (Moscovici, 1984a), quero apenas recordar que
essa distino coloca o conhecimento popular, as maneiras de
pensar e agir na vida cotidiana, o senso comum se quiserem, de
um lado, e a cincia e ideologia, do outro. Ideologia entendida
aqui, como Ricoeur a descreveu, simplificadora e esquemtica.
Ela uma grade ou cdigo para dar uma viso geral, no apenas
de um grupo, mas tambm da histria e, em ntima anlise, do
mundo (1981: 226).
Poderiamos, talvez, tentar classificar as formas de crena e
conhecimento de acordo com o lugar atribudo a elas em uma hie-
rarquia, sendo as formas reificadas de imediato consideradas
5
Ao falar de representaes sociais em lugar de representaes coletivas, quis romper com
as associaes que o termo coletivo tinha herdado do passado e tambm com as In-
terpretaes sociolgicas e psicolgicas que determi naram sua natureza no procedimento
clssico.
197
como de mais valor e poder que as formas consensuais. Nada aqui
justificaria coloc-las onde elas deveriam estar, livres da depen-
dncia do social. Para me repetir, claro que elas incluem alguma
representao social. Conseqentemente, o postulado da reduti-
bilidade, isto , o postulado de uma eliminao de crenas e co-
nhecimento comum pela cincia como um telos do desenvolvi-
mento individual e social, deve ser abandonado. Nesse sentido,
dentro de urna dimenso social, a cincia e o senso comum - cren-
as em geral - so irredutveis um ao outro, pelo fato de serem mo-
dos de compreender o mundo e de se relacionar a ele Embora o
senso comum mude seu contedo e as maneiras de raciocinar, ele
no substitudo pelas teorias cientficas e pela lgica. Ele conti-
nua a descrever as relaes comuns entre os indivduos, explica
suas atividades e comportamento normal, molda seus intercm-
bios no dia-a-dia. E ele resiste a qualquer tentativa de reificao
que transformaria os conceitos e imagens enraizados na lingua-
gem em regras e procedimentos explcitos (Farr, 1993).
Creio que fui um dos primeiros a defender a irredutibilidade do
senso comum cincia, o que se tornou hoje uma posio filosfi-
ca, caracterizando uma parte da cincia cognitiva. Mas enquanto
as razes invocadas por Fodor, Dennett, Putnam e outros so de
uma ordem lgica, eu continuo a pensar que a razo verdadeira
uma razo psicolgica. De qualquer modo, devemos dizer que
renunciando ao mito da racionalizao total, isto , da assimilao
de todas as representaes sociais por representaes cientificas,
do universo consensual pelo universo reificado, implica abando-
nar outra idia partilhada por muitas cincias humanas e em parti-
cular pela psicologia. Quero dizer, a idia de que se v uma ascen-
so de pensamento, da percepo razo, do concreto ao abstrato,
do primitivo ao civilizado, da criana ao adulto, etc., medida
que nosso conhecimento e nossa linguagem se tornam pro-
gressivamente mais descontextualizados. Ao contrrio, o que ve-
mos uma descida de pensamento, isto , um movimento na dire-
o oposta, medida que nosso conhecimento e linguagem circu-
lam e se tornam contextualizados na sociedade. Isso totalmente
normal, pois, como disse Maxwell, o abstrato de um sculo se torna
o concreto de outro. As mudanas e transformaes tm lugar
constantemente em ambas as direes, as representaes se co-
municam entre si, elas se combinam e se separam, introduzem
uma quantidade de novos termos e novas prticas no uso cotidia-
no e espontneo. Na verdade, as representaes sociais diaria-
198
mente e espontaneamente se tornam senso comum, enquanto
representaes do senso comum se transformam em representa-
es cientficas e autnomas. Um exemplo desse primeiro tipo de
transformao a difuso de idias e explicaes biolgicas em
relao ecologia ou Aids (Herzlich, 1973; Markov & Wilkie,
1987) e do segundo tipo, em teorias da personalidade, ou do caos e
assim por diante.
Deixemos de lado essa distino entre ascenso e descida de
representaes sociais e reconheamos como o conhecimento po-
pular do senso comum fornece sempre o conhecimento que as
pessoas tm a seu dispor; a prpria cincia e tecnologia no hesi-
tam em emprestar dele quando necessitam uma idia, uma ima-
gem, uma construo. No h nada de surpreendente, pois se o
conhecimento comum permanece na base de todos os processos
cognitivos, o que coloca um problema terico e emprico do ponto
de vista do conhecimento. Se um psiclogo fala de uma personali-
dade extrovertida ou de um prottipo, se um bilogo lembra infor-
mao e seleo, ou ainda se um economista raciocina em termos
de mercado e competio, cada um deles, dentro de sua prpria
especialidade, apela para conceitos tirados de sua herana, das
fontes do conhecimento comum das quais ele nunca se separou.
Vemos como at mesmo a maneira de nomear e comunicar esses
elementos da cincia pressupe e conserva um elo como conheci-
mento do senso comum (Moscovici, 1961/1976; Herzlich, 1973;
Fleck, 1935/1979; Flick, 1998).
Poderamos deixar de comentar o profundo interesse que es-
se fenmeno possui para a psicologia social? E no essa, precisa-
mente, a dificuldade com respeito s representaes coletivas, o
fato de elas serem compreendidas, na prtica, de maneira indireta
atravs de sistemas de crena e conhecimento codificados pelas
instituies, pela moral e pelas linguagens especializadas? Isso
acaba, de certo modo, por isol-las do fluxo dos intercmbios so-
ciais e por cortar operaes psquicas sem ser possvel observar
como elas so articuladas na vida concreta. Em tais condies,
no de se surpreender que essas representaes devam apare-
cer to fechadas, to totais e que seja to difcil aplic-las nos-
sa sociedade. Mas o argumento que estou apresentando me levou
a uma deciso clara. O senso comum, o conhecimento popular - o
que em ingls se chama de folk science - oferece-nos acesso di-
reto a representaes sociais. So, at certo ponto, as represe n-
taes sociais que combinam nossa capacidade de perceber, infe-
199
rir, compreender, que vm nossa mente para dar um sentido s
coisas, ou para explicar a situao de algum. Elas so to natu-
rais e exigem to pouco esforo que quase impossvel suprimi-
las. Imaginemos assistir a uma competio esportiva sem ter ao
menos uma idia do que os atletas esto fazendo, ou ver duas pes-
soas se beijando na rua sem ter a menor idia de que eles esto
enamorados. Essas interpretaes so to evidentes que ns
normalmente esperamos que todos concordem com a verdade do
que se passa diante de seus olhos.
Aprendemos a olhar as representaes da fsica popular, bio-
logia popular ou economia popular com certo ceticismo. Mas
quem no tem uma representao que lhe permita compreender
por que os lquidos sobem em um recipiente, por que o acar se
dissolve, por que as plantas necessitam de gua ou por que o go-
verno aumenta os impostos? Graas a essa fsica popular ns evi-
tamos colises nas estradas, graas a essa biologia popular ns
cultivamos nossos jardins e essa economia popular nos ajuda a
procurar um modo de pagar menos imposto. As categorias da ci-
ncia popular so to espalhadas e irresistveis que elas parecem
ser inatas. Fazemos uso de tal conhecimento e tecnologia todo o
tempo. Intercambiamo-los entre ns, os renovamos atravs do es-
tudo ou da experincia a fim de explicar as condutas com segurana
- e sem estarmos conscientes deles - e passamos boa parte do
tempo em que estamos despertos falando sobre o mundo, fazendo
planos sobre nosso futuro e sobre o futuro de nossos filhos como
uma funo dessas representaes.
Qual o valor da cincia popular? Essa uma questo filosfi-
ca que no me proponho discutir aqui, mas, como aponta o filso-
fo Daniel Dennet com respeito a ela, todo o que se aventurar em
uma via expressa, deve julgar essa cincia confivel. O vasto campo
do senso comum, das cincias populares, nos permite agarrar es-
sas representaes ao vivo, compreender como elas so geradas,
comunicadas e colocadas em ao na vida cotidiana. Para fazer
uma comparao, podemos dizer que esses campos oferecem um
material prototpico para explorar a natureza dessas representa-
es, do mesmo modo que os sonhos oferecem um campo exem-
plar para todo o que quiser compreender o inconsciente. As repre-
sentaes sociais perdem, ento, o carter derivado e abstrato as-
sociado com representaes coletivas para se tornarem, de certo
modo, um fenmeno concreto e observvel. Apesar de vrias crti-
cas (Fraser & Gaskell, 199O), era e continua sendo minha convic-
200
o que a psicologia social mais que nunca a cincia das repre-
sentaes sociais e ela pode descobrir nelas um tema unificador.
De qualquer modo, podemos ver como o senso comum e o co-
nhecimento popular nos oferecem esse campo privilegiado de ex-
plorao.
1) O que eu denominei de senso comum ps-cientfico , como
todo conhecimento partilhado pela sociedade como um todo, en-
trelaado com nossa linguagem, constitutivo de nossas relaes e
de nossas habilidades. um conjunto estruturado de descries e
explicaes, mais ou menos interligadas umas s outras, da perso-
nalidade, da doena, dos sentimentos ou dos fenmenos nat u-
rais, que todas pessoas possuem, mesmo que no es tejam
cientes disso e que elas usam para organizar sua experincia,
para participar de uma conversao, ou para negociar como utras
pessoas. Ele Umgangsdenken (pensamento cotidiano) associado
com Umgangssprache (linguagem coloquial), sem os quais a vida do
dia-a-dia inconcebvel. At mesmo as crianas pequenas se apro-
priam facilmente - como Freud mostrou com respeito s teorias
sexuais das crianas - do conhecimento popular em uma idade em
que elas tm uma experincia limitada das atividades humanas,
permitindo-lhes deduzir tal conhecimento (Jodelet, 1989b).
No podemos deixar de nos chocar com o seguinte contraste.
De um lado, estamos familiarizados com um bom nmero de cin-
cias populares, as compreendemos, as usamos, renovamo-las fa-
cilmente atravs da conversao, lendo os jornais ou olhando tele-
viso. De outro lado, ns dominamos a muito custo uma pequena
parte do conhecimento cientfico ou tecnolgico que empregamos
em nossa profisso, em nossa sobrevivncia e na prtica de toda
nossa vida. Em poucas palavras, como escreveu Chomsky:
A gramtica e o senso comum so adquiridos virtualmente
por todos, sem esforo, rapidamente, de maneira uniforme, pelo
simples fato de viver em uma comunidade sob as mnimas condies
de interao, de exposio e de ateno. No h necessida-
de de ensino ou treinamento explicito e, quando o Ultimo acontece,
tem apenas ef eitos marginais no estgio final alcanado
(1975: 144). Variaes individuais so muito limitadas e,
em dada comunidade, cada pessoa adquire um estoque vas-
to e rico de conhecimento, comparvel ao dos outros. Bergson es-
tava certo ao afirmar que o senso comum senso social (1932/1935:
110).
201
2) Em contraposio s representaes cientificas e ideolgi-
cas, construdas de acordo com as demandas da lgica formal com
base em termos fundamentais, todos perfeitamente definidos, at
mesmo distintos, as representaes do senso comum so, de um
modo ou de outro, hbridas. Isso quer dizer que idias, expres-
ses lingsticas, explicaes de diferentes origens so agrega-
das, combinadas e regulamentadas mais ou menos como cincias
diferentes, em uma nica cincia hbrida, como diversos idiomas
em uma linguagem crioula. As pessoas que partilham de um co-
nhecimento comum no decorrer de sua vida cotidiana no racio-
cinam sobre ele e no conseguem coloc-lo diante de si como um
objeto, ou analisar seus contedos colocando-o a certa distncia
para observ-lo, sem que eles mesmos estejam implicados nisso.
Para apropri-lo, eles devem fazer exatamente o oposto, devem
mergulhar no fluxo dos diferentes contedos, participar em sua
implementao concreta e esforar-se para tom-los acessveis a
outros. Desse modo, seu conhecimento transformado assim em
conhecimento hbrido e seus vocabulrios disparatados tm um
potencial semntico que no se exaure por nenhum uso especifico,
mas deve constantemente ser refinado e determinado com a ajuda
do contexto.
Deve ficar claro para ns que esses arranjos levam a dois re-
sultados que no coincidem de modo algum. O conhecimento co-
mum no apenas compreende crenas cientficas ou religiosas.
Ele tambm as transpe para imagens familiares, como se a possi-
bilidade de representar noes abstratas dominasse o processo.
Alm disso, as representaes sociais de diferentes origens so
condensadas em conhecimento comum, de tal modo que, confor-
me as necessidades, algumas podem ser substitudas por outras.
Se voltarmos ao exemplo da Aids, mencionado acima, pode-se di-
zer que as representaes religiosas referentes liberdade sexual
se combinam com representaes mdicas sobre as causas da do-
ena, ou com as representaes polticas sobre a fabricao do
vrus pela CIA a fim de eliminar determinadas populaes. Isso d
uma impresso de uma colcha de retalhos cognitiva e social. Mas
uma impresso falsa, pois do mesmo modo que nossa linguagem
habitual se fundamenta sobre o valor polissmico de palavras e a
linguagem crioula to rigorosa como qualquer outra, assim tam-
bm as representaes populares tm sua prpria coerncia e ri-
202
gor. Parece-me que o trabalho de Billig (1987) elaborou recente-
mente esses aspectos e esclareceu o que achei ter observado e
que era para mim apenas uma conjetura.
3) O senso comum continua a ser concebido predominante-
mente como um estgio arcaico de compreenso, incluindo uma
magnitude de conhecimento que no mudou durante milnios e
que nasceu de nossa percepo direta das pessoas e das coisas.
Ele, pois, se ajusta aos objetivos de nossa vida diria, com extraor-
dinrio sucesso. Cerca da poca em que sugeri que os psiclogos
sociais se interessaram pelo senso comum, o psiclogo Fritz Hei-
der (1958) comeou a argumentar que as relaes entre os seres
humanos so uma funo de sua psicologia ingnua. Seria me-
lhor estudar a origem dessa psicologia ingnua que d sentido a
nossa experincia Mas, como sabemos, isso foi feito comeando
pela percepo que os indivduos tm um do outro, sem levar em
considerao suas crenas, linguagem ou os sentidos implcitos
nessa linguagem. curioso que Fritz Heider foi considerado como
sendo algum que apoiasse essa concepo, pois suas anlises
comeam a partir de textos literrios e filosficos e no de anlises
em laboratrio. Seja como for, essa concepo dominante acul -
tural e a-histrica. Seria incompatvel com meu pressuposto. No
entanto, considerando-a como uma forma de representao so-
cial, pode-se reconhecer no apenas que ela possui traos cultu-
rais, mas tambm um carter histrico. No primeiro estudo que fiz
nesse campo (Moscovici, 1961/1976), tentei mostrar que a cincia
popular no a mesma para qualquer pessoa e para sempre. Ela
modificada ao mesmo tempo em que as estruturas ou problemas
da sociedade com os quais as pessoas se confrontam tambm mu-
dam. Alm do mais, idias de escopo revolucionrio nas cincias,
tais como as de Freud ou Marx, ou movimentos artsticos que ar-
rastam tudo consigo, so assimilados por muitas pessoas, deixan-
do uma impresso estvel em sua maneira de pensar, de falar, de
compreender a si prprios ou de compreender o mundo em que
vivem. Eles podem ser impunemente venerados, pois, usados por
todos e incorporados s prprias estruturas da linguagem, as cate-
gorias e raciocnio da cincia popular so afetados por aqueles
que descobriram a psicanlise, a fsica, etc. Eles se comunicam
pouco a pouco e finalmente todos os consideram como sendo in-
dependentes e formando parte da "realidade".
Ns mesmos vemos as representaes sociais se construindo
por assim dizer diante de nossos olhos, na mdia, nos lugares p-
203
blicos, atravs desse processo de comunicao que nunca aconte-
ce sem alguma transformao. Mesmo quando a mudana afeta o
sentido, os conceitos, as imagens, ou a intensidade e associao
das crenas, no seio de uma comunidade, ela sempre expressa
em representaes (De Rosa, 1987). Todo o que menosprezar esse
fato, nunca ir construir uma teoria psicossocial do pensamento e
da ao. O antroplogo francs Dan Sperber (199O) formulou uma
interessante teoria da comunicao de representaes. Ele as v
como sendo geradas atravs de um processo de difuso epidemio-
lgica de representaes individuais. Essa conjetura difcil de
admitir, devido ao carter intrinsecamente regulamentado e orga-
nizado de tal difuso. Em diferentes oportunidades, fomos capazes
de experimentar a vantagem para nossa cincia de escolher o co-
nhecimento comum coma um campo de pesquisa e empreender
uma comparao sria de uma forma com outra. Isso supe que
ns consideremos tal conhecimento comum como o ncleo de
nosso universo consensual e reconheamos nele um carter hist-
rico, cultural e retrico, no permitindo que tal conhecimento seja
reduzido a traos empobrecidos, a esquemas e esteretipos sem
sentido. Parece-me importante enfatizar a linha entre cincia po-
pular, senso comum e representaes sociais (ver tambm Flick,
1998), pois ela justifica, ao mesmo tempo, tanto o que eu restitu
tradio desse conceito, como a maneira pela qual ele adquire
a importncia que possui em nossa sociedade. E devido ao fato
de as representaes serem uma criao continua que ns pode-
mos compar-las in statu nascenti e compreende-las diretamen-
te e podemos propor oferecer uma teoria sua, isto , no apenas
articular um conceito seu, mas descrever ou explicar essas repre-
sentaes, enquanto um fenmeno social.
6. Representao, comunicao e o compartilhamento
da realidade
Devo admitir que minha primeira inteno no era introduzir
na psicologia social um conceito derivado de Durkheim e Lvy-
Bruhl, nem tentar depois distingui-lo a fim de adapt-lo ao Zeitgeist.
Ao contrrio, foi o problema da transformao da cincia no curso
de sua difuso e o nascimento de um sentido comum ps-cientfico,
portanto o de nossa psicologia social, que me levou ao conceito.
Para colocar isso de maneira clara, se a psicologia do desenvolvi-
204
mento est interessada, no curso das vidas das crianas, com a
transformao de suas representaes espontneas em represen-
taes cientficas e racionais, parece-me que a psicologia social de-
ve enfrentar o processo inverso, isto , estudar como representa-
es cientficas so transformadas em representaes comuns. E do
mesmo modo que outros antes de mim, descobri que a nica linha
de pensamento que soube como articular crenas e conhecimento
com a realidade social a desses pensadores. Quanto ao mais, eles
devem avanar com seus prprios meios, pois o problema desses
pensadores franceses no igual ao nosso e o mesmo vale para o
futuro. Podemos acrescentar, estabelecendo um novo elo, que o
fato muito sabido de que desde a II Grande Guerra no foi mais pos-
svel, como tinha sido antes, fundamentar a sociedade no trabalho
ou na crena, mas ao contrrio na comunicao ou na produo de
conhecimento (Moscovici, 1982). Mas isso precisamente um as-
pecto que na maioria das vezes escapa aos psiclogos sociais, pelo
fato de limitarem seus interesses s relaes interpessoais.
Seja como for, a aspirao da teoria das representaes sociais
clara. Pelo fato de assumir como seu centro a comunicao e as
representaes, a teoria espera elucidar os elos que unem a psico-
logia humana com as questes sociais e culturais contemporneas.
A esta altura podemos nos perguntar qual a funo das re-
presentaes partilhadas e o que so, a partir do momento em que
elas no so mais consideradas indiretamente atravs da religio,
mitos e assim por diante. Como resposta a essa pergunta, sugeri
que a razo para se criarem essas representaes o desejo de nos
familiarizarmos com o no-familiar. Toda violao das regras exis-
tentes, um fenmeno ou uma idia extraordinrios, tais como os
produzidos pela cincia ou tecnologia, eventos anormais que per-
turbem o que parea ser o curso normal e estvel das coisas, tudo
isso nos fascina, ao mesmo tempo em que nos alarma. Todo desvio
do familiar, toda ruptura da experincia ordinria, qualquer coisa
para a qual a explicao no bvia, cria um sentido suplementar e
coloca em ao uma procura pelo sentido e explicao do que nos
afeta como estranho e perturbador.
A motivao para a elaborao de representaes sociais no
, pois, uma procura por um acordo entre nossas idias e a realida-
de de uma ordem introduzida no caos do fenmeno ou, para sim-
plificar, um mundo complexo, mas a tentativa de construir uma
ponte entre o estranho e o familiar; e isso medida que o estranho
pressuponha uma falta de comunicao dentro do grupo, em rela-
205
co ao mundo, que produz um curto-circuito na corrente de inter-
cmbios e tira do lugar as referncias da linguagem. Temos a sen-
sao de que ele no se ajusta mais matriz da vida em comum, que
no mais concorda com nossas relaes com os outros. Para contro-
lar uma idia ou percepo estranhas, comeamos por ancor-lo
(Doise, 1992) em representaes sociais existentes e no curso
dessa ancoragem que ele se modifica (Moscovici, 1988a). Essa ob-
servao corroborada por Barlett, que escreve: Como foi mos-
trado, sempre que um material apresentado visualmente pretenda
ser representativo de algum objeto comum, mas contm certas ca-
ractersticas que so no-familiares na comunidade em que o mate-
rial introduzido, essas caractersticas invariavelmente sofrem
transformaes em direo ao familiar (1932: 178). O familiar no
pode deixar de se transformar no curso desse processo e encontra
certa satisfao social e afetiva ao redescobrir tal familiaridade, al-
gumas vezes de maneira efetiva, outras de maneira ilusria.
Para levar mais adiante a explicao da formao dessas re-
presentaes, necessitamos esclarecer algumas dificuldades. A pro-
cura pelo familiar em uma situao estranha significa que essas
representaes tendem para o conservadorismo, para a confir-
mao de seu contedo significativo. Bem, isso seria, ento, a pura e
simples conseqncia de seu sociocentrismo, do carter sociomr-
fico de suas operaes cognitivas e lingsticas. Isso significa que
existe certa distncia em relao realidade no representada pelo
grupo. Mas seria essa uma questo de uma caracterstica peculiar a
representaes no-cientficas e no-racionais, como afirmam al-
guns? A observao nos mostrou que as representaes cientificas
so tambm centradas, embora de maneira diferente, na comuni-
dade cientfica e na sociedade da qual ela uma parte. Poderia a-
crescentar que os paradigmas de uma cincia normal demonstram
igualmente uma tendncia ao conservadorismo em face de anoma-
lias, at ao ponto em que sua resistncia se torna impossvel (Kuhn,
1962). Por conseguinte, concluo que todas as representaes so
sociocntricas e que na familiarizao ao estranho, a sociedade
representada de maneira mais implcita (Mugny & Carugati,
1985/1989).
Escrevi sobre essas coisas com mais detalhes em outro lugar.
Aqui, quero simplesmente especificar que se ns formamos repre-
sentaes a fim de nos familiarizarmos com o estranho, ento as
formamos tambm para reduzir a margem de no-comunicao.
Essa margem reconhecida atravs das ambigidades das idias,
206
da fluidez dos sentidos, da incompreenso das imagens e crenas
do outro, em sntese, atravs daquilo que o filsofo dos EE.UU. C.S.
Peirce denominou de o vago. O que torna problemticas as rela-
es e tambm os intercmbios entre as pessoas e grupos a circu-
lao de representaes que apesar de tudo coexistem no mesmo
espao pblico. A existncia em comum se mostra impossvel se
essa margem de incerteza persiste e se torna importante. Nesse
caso, os membros de um grupo correm o risco de permanecer to
estranhos nas conversaes familiares como se pertencessem a
grupos diferentes.
Sustento, pois, que as representaes sociais tm como finali-
dade primeira e fundamental tornar a comunicao, dentro de um
grupo, relativamente no-problemtica e reduzir o vago atravs
de certo grau de consenso entre seus membros. Sendo que essa a
questo, as representaes no podem ser conseguidas atravs do
estudo de alguma crena ou conhecimento explicites, nem ser cria-
das atravs de alguma deliberao especfica. Ao contrrio, elas so
formadas atravs de influncias recprocas, atravs de negociaes
implcitas no curso das conversaes, onde as pessoas se orientam
para modelos simblicos, imagens e valores compartilhados espec-
ficos. Nesse processo, as pessoas adquirem um repertrio comum
de interpretaes e explicaes, regras e procedimentos que podem
ser aplicadas vida cotidiana, do mesmo modo que as expresses
lingsticas so acessveis a todos (Moscovici, 1984a).
Muitas vezes me perguntam o que quero dizer com partilhar
uma representao ou por representaes compartilhadas. 0 que
lhes d esse carter no o fato de elas serem autnomas, ou que
elas sejam comuns, mas sim o fato de seus elementos terem sido
construdos atravs da comunicao e estarem relacionados pela
comunicao. As coaes que tal fato exerce, suas regras de inte-
rao e influncia determinam a estrutura especifica de conheci-
mento e linguagem da resultante. Para simplificar, podemos dizer
que todo indivduo isolado no pode representar para si mesmo o
resultado da comunicao do pensamento (Freyd, 1983), das men-
sagens verbais e icnicas. isso que d a essas estruturas cogniti-
vas e lingsticas a forma que elas tm, pois elas devem ser com-
partilhadas com outros a fim de serem comunicadas. Falo, por isso,
de representaes compartilhadas para indicar que as formas de
nosso pensamento e de nossa linguagem compatibilizam-se com as
formas de comunicao e as coaes que isso impe. Mostrei ante-
riormente que existem trs formas de comunicao pblica que
207
moldam trs formas correspondentes de pensamento e linguagem
pblica (Moscovici, 1961/1976).
Parece-me que a noo de compartilhar expressa o processo
atravs do qual representaes sociais ou pblicas se apropriam de
representaes individuais ou privadas. Isso parece mais adequado
que a idia de coao introduzida por Durkheim e Levy-Bruhl para
descrever o processo pelo qual representaes coletivas confor-
mam a vida mental dos indivduos. Para esses pensadores, contudo,
as representaes so formadas em relao realidade e no em
relao comunicao com outros, algo que eles julgam ser secun-
drio, mas que essencial para ns.
Uma definio de representaes sociais
Agora que esse ponto foi realado, podemos nos perguntar o
que define uma representao social. Se estiver presente ali algum
sentido, isso se deve ao fato de ele corresponder a certo modelo
recorrente e compreensivo de imagens, crenas e comportamen-
tos simblicos. Vistas desse modo, estaticamente, as representa-
es se mostram semelhantes a teorias que ordenam ao redor de
um tema (as doenas mentais so contagiosas, as pessoas so o
que elas comem, etc.) uma srie de proposies que possibilita
que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus caracteres
sejam descritos, seus sentimentos e aes sejam explicados e as-
sim por diante. Alm disso, a teoria contm uma srie de exem-
plos que ilustram concretamente os valores que introduzem
uma hierarquia e seus correspondentes modelos de ao. Aqui
como em qualquer lugar, frmulas e clichs so associados a fim
de evocar essa teoria, de distingui-la a partir de sua origem e de
distingui-la de outras (Duveen & Lloyd, 1990; Palmonari, 1980).
Por exemplo, os consultrios mdicos esto lotados de pes-
soas falando sobre seu nvel de colesterol, sua dieta, sua presso
sangunea, explicando que sua doena inata ou adquirida e assim
por diante, referindo-se a alguma teoria mdica. Ou ento jornalis-
tas devotam artigos a vrus de computador, ou vrus tnicos e assim
por diante, fazendo aluso ao modelo gentico. Nada mais difcil
que erradicar a falsa idia que as dedues ou explicaes que ns
extramos do senso comum so arcaicas, esquemticas e estereoti-
padas. No se pode negar, certamente, que existem muitas teori-
as que foram tornadas rgidas. Mas, ao contrrio do que se supe,
isso no se relaciona a sua natureza coletiva ou ao fato de que elas
211
208
so partilhadas por uma grande multido de pessoas. Ao contrrio,
isso provm da flexibilidade do grupo e da rapidez da comunica-
o do conhecimento e das crenas no corao da sociedade.
Na verdade, do ponto de vista dinmico, as representaes
sociais se apresentam como uma rede de idias, metforas e
imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por isso, mais
mveis e fluidas que teorias. Parece que no conseguimos nos desfa-
zer da impresso de que temos uma enciclopdia de tais idias,
metforas e imagens que so interligadas entre si de acordo com a
necessidade dos ncleos, das crenas centrais (Abric, 1988; Fla-
ment, 1989; Emler & Dickinson, 1985) armazenadas separadamen-
te em nossa memria coletiva e ao redor das quais essas redes se
formam. Imagino que as representaes sociais em movimento se
assemelham mais estreitamente ao dinheiro que linguagem. Co-
mo o dinheiro, elas tm uma existncia medida que so teis, que
circulam, ao tomar diferentes formas na memria, na percepo,
nas obras de arte e assim por diante, embora sendo, contudo,
sempre reconhecidas como idnticas, do mesmo modo que 100
francos podem ser representados por uma nota, um cheque de via-
gem, ou um nmero no extrato da conta bancria. E seu valor distin-
tivo varia de acordo com relaes de contigidade, como notou Da-
vid Hume. Se encontro um colega durante uma viagem Alema-
nha, eu o represento como um compatriota e digo a mim mesmo
"Vejam, um francs." Se dou de cara com ele em uma rua em T-
quio, fao dele a imagem de um europeu. E se, supostamente, nos
encontrssemos em Marte, eu pensaria "Eis aqui um humano."
Do mesmo modo que o dinheiro, sob outros aspectos, as re-
presentaes so sociais, pelo fato de serem um fato psicolgico,
de trs maneiras: elas possuem um aspecto impessoal, no sentido
de pertencer a todos; elas so a representao de outros, perten-
centes a outras pessoas ou a outro grupo; e elas so uma represen-
tao pessoal, percebida afetivamente como pertencente ao ego.
Alm do mais, no nos devemos esquecer que as representaes,
como o dinheiro, so construdas com o duplo fim de agir e avaliar.
Elas no pertencero, pois, a um domnio separado de conheci-
mento e por essa razo so sujeitas s mesmas regras como outros
tipos de aes e avaliaes sociais. Contrariamente aos especia-
listas, as pessoas comuns no se vem de maneira discreta como
um cidado, como algum que vai igreja e assim por diante. Por-
tanto, as regras sociais so ao mesmo tempo regras de inferncia
209
que possuem um sentido lgico. Para os protestantes de Max We-
ber, a honestidade a melhor poltica no apenas uma mxima
religiosa. uma regra que eles aplicam quando raciocinam, fazem
juzos sobre as pessoas e assim por diante. Em contraposio, cer-
tas regras lgicas funcionam como regras sociais. Por exemplo,
no se contradiga, calcule as probabilidades e muitas outras. por
essa razo que os contedos mentais so imperativos mais fortes
que formas cognitivas. Resumidamente, podemos dizer que o que
as pessoas pensam determina como elas pensam.
Vamos adiante. Consideradas todas as coisas, medida que a
comunicao se acelera em nossa sociedade, a extenso da mdia
(visual, escrita e udio) no espao social vai crescendo ininterrup-
tamente. Duas coisas que merecem ateno podem, ento, ser
observadas. De um lado, as diferenas entre representaes so-
ciais so obscurecidas, os limites entre o aspecto icnico e seu as-
pecto conceptual so eliminados. O desaparecimento das diferen-
as e limites as transforma mais e mais em representaes de re-
presentaes, faz com que se tomem mais e mais simblicas. E
isso s custas da referncia direta a cada uma delas. Desse modo, a
questo de saber como ligar representaes a realidades no
mais uma questo filosfica, mas uma questo psicolgica.
Por outro lado, as categorias e sentidos atravs dos quais ns
escolhemos conferir uma caracterstica s pessoas, ou proprie-
dades aos objetos, se modificam. Como exemplos, ns escolhe-
mos descrever um alimento pelo seu gosto ou pelo seu valor pro-
tico, de acordo com a cultura qual pertencemos ou pelo uso que
ns queremos fazer dele. Torna-se impossvel exigir que todas es-
sas qualidades sejam reduzidas a uma nica qualidade verdadei-
ra. Isso implicaria que exista uma realidade dada, totalmente
acabada, para esse alimento, que imposta a ns independente-
mente da representao que ns compartilhamos.
Como argumentei no primeiro esboo de nossa teoria, em re-
lao psicanlise (1961/1976), no mais adequado considerar
as representaes como uma rplica do mundo ou como um refle-
xo dele, no apenas porque essa concepo positivista uma fonte
de numerosas dificuldades, mas tambm porque as representa-
es evocam igualmente o que est ausente desse mundo, elas o
constituem mais do que o simulam. Quando somos perguntados
com que objetos construdo nosso mundo? deveramos, por
213
210
nossa vez, perguntar dentro de que representao?, antes de
responder. Isso significa que representaes compartilhadas, sua
linguagem, penetram to profundamente em todos os interstcios
do que ns chamamos realidade que podemos dizer que elas o
constituem. Elas constituem, pois, a identidade, o self (Markus &
Nurius, 1986; Oyserman & Markus, 1998), o mercado, as caracte-
rsticas de uma pessoa ou de um grupo, etc. (Mugny & Carugati,
1985/1989). E incontestvel que elas possuem um efeito social-
mente criativo ou construtivo, que h no muito tempo poderia
causar surpresa, mas que normalmente aceito hoje. Penso que a
maioria da pesquisa sobre discurso realizada por Billig (1987), Potter
& Litton (1985) no contradiz a teoria das representaes sociais.
Pelo contrrio, ela a complementa e aprofunda esse seu aspecto.
Perguntar, pois, se a linguagem ou a representao o melhor
modelo, no pode ter maior sentido psicolgico que fazer a per-
gunta: O homem caminha com a ajuda de sua perna esquerda ou
de sua perna direita? Mas para se fazer idia de quo verdadeira e
profunda essa contribuio e para aceit-la, seria necessrio co-
mear com uma coerncia bem maior na prpria psicologia. En-
quanto esperamos por isso, no hesito, portanto, em tratar o que
aprendemos sobre retrica, sobre narrativas lingsticas, como
sendo muito estreitamente relacionado s representaes sociais.
Concluso
Para concluir, h uma conseqncia dessa perspectiva sobre
representaes sociais que merece ser melhor elaborada, mas que
devo, contudo, tentar formular. Todos ns aceitamos, sem duvi-
dar, a idia de que os contedos e sentidos representados variam
dentro da mesma sociedade, da mesma cultura, como acontece
tambm com seus meios de expresso lingstica. Mas somos o-
brigados a pressupor que essas diferenas no sentido e contedo
devem ser julgadas de acordo com as diferenas na maneira de
pensar e compreender, em sntese, de acordo com os princpios
de racionalidades distintas. Como vimos, as especificidades do
universo consensual e do universo reificado, os contextos da co-
municao em que essas representaes so elaboradas, so res-
ponsveis por essas diferenas. Os contrastes entre eles so so-
cialmente demarcados e reforados, de tal modo que se pode dis-
tinguir cada forma de racionalidade.
Se esse o caso, devemos ento levar em considerao que
211
em cada sociedade, em cada cultura, existem ao menos dois tipos
de racionalidade, dois estilos de pensar, equivalentes s duas for-
mas extremas de representar e comunicar. Seria impossvel redu-
zi-las a uma racionalidade super-ordenada que seria, nesse caso,
supra-social, ou, de qualquer modo, normativa, que no poderia
deixar de levar a crculos viciosos. Mutatis mutandis, devemos
pressupor que os indivduos compartilham a mesma capacidade
de possuir muitos modos de pensar e representar. Existe aqui o
que chamei anteriormente de polifasia cognitiva, que to ineren-
te vida mental como o a polissemia vida da linguagem. Alm
disso, no devemos esquecer que ela de grande importncia pr-
tica para a comunicao e para a adaptao s necessidades so-
ciais em mudana. O conjunto de nossas relaes intersubjetivas
referentes realidade social depende dessa capacidade.
A histria que leva a uma teoria , ela mesma, uma parte des-
sa teoria. A teoria das representaes sociais se desenvolveu den-
tro desse pano de fundo (Doise & Palmonari, 1990) e dentro de um
nmero ainda maior de pesquisas que trouxeram contribuies
para ela e a aprofundaram. So elas que, com razo, nos permitem
apreciar melhor, retrospectivamente, a escolha de precursores e o
significado de seu trabalho. Essa ao menos a experincia que eu
tive ao escrever essa historische Darstellung (representao hist-
rica), que espero ser til a outros. Uma grande narrativa, escreve
Frank Kermode, a fuso do escandaloso com o miraculoso. Mi-
nha representao comeou com escndalo. Se ela contm algum
milagre, eu o verei na longevidade e vitalidade da teoria das repre-
sentaes sociais.
212
O estudo das representaes sociais: uma nova
epistme
6
Nos ltimos trinta anos, toda uma srie de enfoques foi desen-
volvida no campo da psicologia social para tentar esclarecer o
fenmeno das representaes sociais. Trata-se claramente de um
tipo de fenmenos cujos aspectos salientes conhecemos e cuja
elaborao podemos perceber atravs de sua circulao atravs
do discurso, que constitui seu vetor principal. Tomemos o exem-
plo do desenvolvimento de representaes relacionadas Aids
(Jodelet, 1991b). As teorias elaboradas pelas discusses h dez
anos, antes da interveno da pesquisa cientfica, no so as mes-
mas de hoje. No incio, ela foi considerada como uma doena pu-
nitiva, castigando uma liberdade sexual que se tinha tornado exa-
gerada dentro do contexto de uma sociedade abertamente per-
missiva (Markov & Wilkie, 1987) e essa representao moral do
fenmeno, que se tornou um estigma social, foi repetida pelas au-
toridades religiosas. Mais tarde, emergiu entre algumas pessoas a.
idia de uma conspirao, de modo especial entre minorias dos
EE.UU., apresentando a imagem de um genocidio perpetrado
pela classe dirigente dominante, branca e protestante. A questo
dos meios de propagao dessa conspirao foi, ento, desenvol -
vida; proveio dai a emergncia de teorias populares sobre sua
transmisso: se isso tinha acontecido atravs do sangue e esper-
ma, ento por que no tambm atravs de outros lquidos corp-
reos, tais como a saliva e o suor? Retorna-se, desse modo, a anti-
gas crenas sobre os humores (Corbin, 1977). O que interes-
sante nesse caso a conjuno entre discursos de medo e discur-
sos racistas, dando assim origem permanncia, se no invari-
ncia, de um tipo particular de representao social face adver-
6
Escrito com Georges Vignaux.
213
sidade, que engloba simultaneamente tanto a dimenso moral
como a biolgica (Delacampagne, 1983; Jodelet, 1989/1991).
Isso significa que representaes sociais so sempre comple-
xas e necessariamente inscritas dentro de um referencial de um
pensamento preexistente; sempre dependentes, por conse-
guinte, de sistemas de crena ancorados em valores, tradies e
imagens do mundo e da existncia. Elas so, sobretudo, o objeto
de um permanente trabalho social, no e atravs do discurso, de tal
modo que cada novo fenmeno pode sempre ser reincorporado
dentro de modelos explicativos e justificativos que so familiares
e, conseqentemente, aceitveis. Esse processo de troca e com-
posio de idias sobretudo necessrio, pois ele responde s du-
plas exigncias dos indivduos e das coletividades. Por um lado,
para construir sistemas de pensamento e compreenso e, por ou-
tro lado, para adotar vises consensuais de ao que lhes permi -
tem manter um vinculo social, at mesmo a continuidade da co-
municao da idia.
Representar significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer
presentes as coisas ausentes e apresentar coisas de tal modo que
satisfaam as condies de uma coerncia argumentativa, de uma
racionalidade e da integridade normativa do grupo. , portanto,
muito importante que isso se d de forma comunicativa e difusiva,
pois no h outros meios, com exceo do discurso e dos sentidos
que ele contm, pelos quais as pessoas e os grupos sejam capazes
de se orientar e se adaptar a tais coisas. Conseqentemente, o sta-
tus dos fenmenos da representao social o de um status sim-
blico: estabelecendo um vnculo, construindo uma imagem, evo-
cando, dizendo e fazendo com que se fale, partilhando um signifi-
cado atravs de algumas proposies transmissveis e, no melhor
dos casos, sintetizando em um clich que se torna um emblema.
No seu limite, o caso de fenmenos que afetam todas aquelas re-
laes simblicas que uma sociedade cria e mantm e que se rela-
cionam com tudo o que produz efeitos em matrias de economia
ou poder. No ideologia, da qual pouco existe na forma como ela
foi concebida, mas todas aquelas interaes que, das profundezas
s alturas, das matrias brutas at s efemeridades das estruturas
sociais, so transmitidas atravs do filtro das linguagens, imagens e
lgicas naturais (Grize, 1993; Vignaux, 1991). E atravs destas
interaes pode-se ao menos ter certeza, graas ao trabalho no
apenas de historiadores e antroplogos, mas tambm de psiclo-
gos sociais, que as interaes tm como objetivo a constituio de
214
mentalidades ou crenas que influenciam os comportamentos.
Constatamos a banalidade do fenmeno quando ele visto e
observado como um efeito descritvel e constatamos sua comple-
xidade quando ele uma questo de uma corrente ascendente
que flui em direo ao que constitui o ncleo semntico de algu-
ma concepo generalizada no corpo social e o estrutura em al-
gum momento ao ponto de motivar histrias, aes, acontecimen-
tos. Isto porque, uma vez mais, o conceito apenas evocativo. De-
vemos extrair da massa considervel de ndices de uma si tuao
social e de sua temporalidade e esses ndices tomam a forma de
traos lingsticos, arquivos e, sobretudo, pacotes de discurso;
examin-los atentamente permitir que alguma luz seja lanada
sobre o que repetem - de um lado, sobre o que eles repetem per-
manentemente - o problema da reduo semntica - e, por outro
lado, sobre o que os motiva e os fundamenta - o problema daque-
las idias que de algum modo possuem o status de axiomas, ou
princpios organizativos, em determinado momento histrico para
certo tipo de objeto ou situao.
Contudo, se o conceito de representao atravessa tantos do-
mnios de conhecimento, da histria antropologia atravs da lin-
gstica, ele sempre e em todo lugar uma questo de compreen-
so das formas das prticas de conhecimento e de conhecimento
prtico que cimentam nossas vidas sociais como existncias co-
muns. E sobretudo, esse conceito permite-nos um acesso queles
fenmenos sociais totais de que falou Marcel Mauss, fenmenos
em que as prticas de conhecimento e do conhecimento prtico
desempenham um papel essencial, pois esse conhecimento est
inscrito nas experincias ou acontecimentos sustentados por indi-
vduos e partilhados na sociedade. Conhecimento prtico, uma
vez mais, porque ele sempre constitui, de algum modo, uma com-
preenso popular (folk knowledge, folk psychology) que reformula
constantemente o discurso da elite, dos especialistas, daqueles
que possuem um conhecimento descrito como sabedoria ou cin-
cia (Moscovici & Hewstone, 1983; 1984).
Em primeiro lugar, seria isso uma questo de contedos de
pensamento que poderiam ser fornecidos pelo social, sendo ape-
nas necessrio colet-los? Certamente no. Toda representao
social constituda como um processo em que se pode localizar
uma origem, mas uma origem que sempre inacabada, a tal ponto
que outros fatos e discursos viro nutri -la ou corromp-la. E ao
mesmo tempo importante especificar como esses processos se
215
desenvolvem socialmente e como so organizados cognitivamente
em termos de arranjos de significaes e de uma ao sobre
suas referncias. Uma reflexo sobre as maneiras de enfocar os fa-
tos da linguagem e da imagem aqui fundamental.
Em segundo lugar, esses processos so a ao de sujeitos que
agem atravs de suas representaes da realidade e que constan-
temente reformulam suas prprias representaes. Estamos sem-
pre em uma situao de analisar representaes de represe n-
taes! Isso implica, metodologicamente falando, compreender co-
mo os sujeitos, na maneira como cada um de ns age, chegam a
operar ao mesmo tempo para se definir a si mesmos e para agir no
social: O que representaes coletivas expressam a maneira
como o grupo pensa a si mesmo em suas relaes com os objetos
que o afetam (Durkheim 1895/1982: 4O). Desse modo, toda re-
presentao social desempenha diferentes tipos de funes, algu-
mas cognitivas - ancorando significados, estabilizando ou deses-
tabilizando as situaes evocadas - outras propriamente sociais,
isto , mantendo ou criando identidades e equilbrios coletivos. Isso
conseguido atravs de um trabalho constante, que toma a for-
ma de juzos ou raciocnio partilhados. Isso significa que esse
tempo retrico, metodologicamente e em conjunto com os ins-
trumentos lingsticos previamente mencionados - modos de
expresso - e as aproximaes lgicas - formas naturais de racio-
cnio - se impem evidncia.
Para sintetizar, do ponto de vista epistemolgico, o que est em
questo aqui a anlise de todos aqueles modos de pensamento
que a vida cotidiana sustenta e que so historicamente mantidos
por mais ou menos longos perodos (longues dures); modos de
pensamento aplicados a objetos diretamente socializados, mas
que, de maneira cognitiva e discursiva, as coletividades so conti-
nuamente orientadas a reconstruir nas relaes de sentido aplica-
das realidade e a si mesmas. Daqui provm o imperativo de forne-
cer os meios criticas de tratar esses fenmenos de coeso sociodis-
cursiva e de analisar os princpios de coerncia que os estruturam
dentro de uma relao interna-externa (esquemas cognitivos, atitu-
des e posicionamentos, modelos culturais e normas). Desse ponto
de vista, evidente que a cognio organiza o social desde que
este a governe e que o simblico module constantemente nossas
aventuras humanas, sob essa forma mais elevada que a lingua-
gem. No h representaes sociais sem linguagem, do mesmo
modo que sem elas no h sociedade. O lugar do lingstico na
216
anlise das representaes sociais no pode, por conseguinte, ser
evitado: as palavras no so a traduo direta das idias, do mes-
mo modo que os discursos no so nunca as reflexes imediatas
das posies sociais.
2. Representaes sociais, cognio e discurso
No decurso dos ltimos dez anos, constatamos a elaborao
de uma anlise de estruturas cognitivas que nos permite aprofun-
dar a teoria das representaes sociais. Se ns sintetizarmos o tra-
balho que contribuiu para esse desenvolvimento, podemos distin-
guir duas hipteses que estimularam, de maneira frutfera, os pro-
gramas de pesquisa que justificaram uma ateno mais prxima
da que eles tinham at ento. Primeiramente, h a hiptese do n-
cleo central (Abric, Flament, Guimelli), de acordo com a qual cada
representao social composta de elementos cognitivos, ou es-
quemas estveis, ao redor dos quais esto ordenados outros ele-
mentos cognitivos, ou esquemas perifricos. A hiptese que os
elementos estveis exercem uma pr-eminncia sobre o sentido
dos elementos perifricos e que os primeiros possuem uma resis-
tncia mais forte s presses da comunicao e da mudana do
que os ltimos. Somos tentados a dizer que os primeiros expres-
sam a permanncia e uniformidade do social, enquanto os ltimos
expressam sua variabilidade e diversidade. Alm do interesse ex-
perimental dessa hiptese, no devemos deixar de mencionar sua
relao com a concepo corrente na filosofia da mente com res-
peito diferena entre idias centrais e idias marginais. Em se-
gundo lugar, h a noo do princpio organizador, sugerido pelos
pesquisadores de Genebra (Doise, Mugny), que procuraram dar
conta da generatividade das representaes sociais. Sem ir a deta-
lhes, podemos dizer que ns estamos interessados em idias, m-
ximas ou imagens que, de maneira ou outra, so virtuais ou impl-
citas. Ambas so expressas atravs de idias explicitas ou imagens
e as ordenam dando-lhes um sentido que no tinham anteri-
ormente; elas introduzem uma coerncia entre si, garantindo-lhes
o sentido que lhes comum atravs do trabalho de seleo. Em
outras palavras, o principio organizador, ao mesmo tempo reduz a
ambigidade ou polissemia inerente s idias ou imagens e as tor-
na relevantes em qualquer contexto social determinado. De mui-
tos pontos de vista, h uma profunda analogia entre essas duas hi-
pteses, que tocam nos problemas de como as representaes
mudam e de sua generatividade, respectivamente, ao ponto que a
217
mudana e a generatividade chegam a interessar ao mesmo fen-
meno fundamental, isto , questo da formao e evoluo das
representaes sociais no curso da histria, seja ela uma histria
longa ou curta, para empregar uma expresso de Fernand Braudel.
Mas ns temos obrigao de dar conta disso. Por vrias razes,
que esto relacionadas com as orientaes dominantes na psico-
logia social, houve uma tendncia de deixar na sombra uma das
referncias essenciais da teoria das representaes sociais. Que-
remos dizer, sua referncia comunicao, linguagem, em snte-
se, ao aspecto discursivo do conhecimento elaborado em comum.
verdade que a psicologia social teve somente um interes se mar-
ginal nesse aspecto e que praticamente toda a pesquisa sobre cog-
nio social no o levou em considerao. Mas, desde seu inicio, a
teoria das representaes sociais insistiu, com razo, no lao pro-
fundo entre cognio e comunicao, entre operaes mentais e
operaes lingsticas, entre informao e significao. Somente
sob essa condio foi capaz de explicar, de maneira correta e si-
multnea, de modo no redutivo, tanto a formao como a evoluo
do conhecimento prtico e do que chamado conheci mento popu-
lar, bem como sua funo social. Para esse fim, pareceu necessrio
propor um conceito que levou em considerao a importncia
das hipteses que ns vnhamos discutindo, bem como pudesse
dar forma concreta ao lao entre cognio e comunicao, entre
operaes mentais e lingsticas. Ao menos foi a partir dessa
perspectiva que o conceito de themata foi proposto (Moscovici,
1993), com a finalidade de responder s exigncias da anlise estru-
tural, sobre a qual foi perfeitamente correto ter insistido. Na ver-
dade, no apenas uma questo de responder a essas exigncias,
mas tambm de enriquecer as possibilidades de anli se atravs
das aberturas que esse conceito permite com respeito histria
do conhecimento, antropologia e semntica. Essas possibilida-
des, devemos enfatizar, so, na verdade, de ordem terica, mas
tambm metodolgica. A fim de introduzir o conceito da maneira
mais clara e torn-lo familiar, devemos comear com certas ques-
tes com as quais ns j estamos familiarizados no estudo das
representaes sociais.
Se aceitarmos, ento, que as representaes sociais, pelo fato
de serem formas particulares (sistemas de prescries, inibies,
tolerncias ou preconceitos), participam sempre da viso global
que uma sociedade estabelece para si prpria, devemos, conse-
qentemente, saber como lidar com o modo dessas relaes entre
218
vises gerais e representaes particulares, sendo as ltimas ins-
critas nas primeiras, ou supostamente esclarec-las. E esse o pa-
radoxo no estudo das representaes sociais: como passar do mi-
crossociolgico ao macrossociolgico? Que teoria pode garantir
alguma concordncia entre esses dois nveis? Que instrumentos
conceituais iro garantir uma generalizao legtima dos fatos ob-
servados em uma situao especfica? Que propriedade localmen-
te identificada pode ser um exemplo do coletivo? Que fatos regis-
trados quantitativamente sero suficientes para definir uma pro-
priedade qualitativa atribuvel a uma coletividade?
O problema , em primeiro lugar, de ordem cognitiva e funda-
menta-se na seguinte questo: toda propriedade psicolgica
identificvel dependente da interao social, ou de algum meca-
nismo humano supostamente comum espcie e anterior a toda
interao? Em resposta a esse ponto preciso, a histria da cincia
mostra claramente que toda reestruturao de nossas representa-
es e conhecimento depende das interaes do momento - no
acontecimento como ele ocorre - embora ns necessitemos pro-
gredir no nosso conhecimento do nosso mecanismo comum - o
que nossa inteligncia e que formas ela pode assumir, a fim de
tornar mais explicitas aquelas que intervm cognitivamente em
nossos processos de interao social.
E aqui onde o problema da congruncia das representaes
ocorre, no sentido de quais so traduzidas ou no e de como elas
so interpretadas: nossas idias, nossas representaes so sem-
pre filtradas atravs do discurso de outros, das experincias que
vivemos, das coletividades s quais pertencemos. tambm o
problema daqueles referenciais, ou scripts que determinado
tipo de literatura cognitivista nos apresenta. H alguns poucos
(Schank & Abelson, 1977), onde isso se daria como se a mente hu-
mana e a memria funcionassem em termos de casos particula-
res e seria suficiente reunir esses contedos a fim de poder l-los.
Todos sabemos que uma descrio no d informao sobre os
processos constitutivos dos fatos, sem que ela d deles uma expli -
cao. Um simples martelo descritvel no apenas em termos de
sua estruturao, ou de sua finalidade; por isso que h diferentes
tipos de martelos - para marceneiros ou decoradores, etc. -e cada
um deles carrega uma longa histria de significao e funo que
lhes deu forma.
A questo se toma, ento, a seguinte: de onde vm essas
idias ao redor das quais as representaes so formadas ou mes-
219
mo so geradas? O que existe, na sociedade, que ir ter sentido
e manter a emergncia e produo de discurso? E, como conse-
qncia, como que certas representaes - entre todas aquelas
produzidas por um discurso qualquer - podem chegar a ser qualifi-
cadas como sociais e exatamente sob que fundamento?
Se retornarmos ao exemplo anterior do martelo, claro que
juntamente com certa representao cientfica (deve haver certa
massa movida por uma fora orientada na direo de empurrar um
objeto como um prego ou um pino), existe - e isso tambm im-
portante - um conhecimento popular que preciso, funcional e
analgico (por exemplo, um martelo de garra com dois dentes que
tambm permite que se arranquem pregos), e que opera na apro-
priao do instrumento, sua difuso e transformaes. Podemos ir
alm: para ilustrar essa teoria dos referenciais da experincia e do
mental, Schank usou o exemplo do restaurante Burger King, onde o
produto, as ordens, os pagamentos e as gesticulaes podem ser
exaustivamente descritos e definidos em termos de esquemas de
ao organizada (referendais). Mas pode-se tambm mostrar como
o Burger King pode ser um lugar de improvisao com base nessa
figura restrita e se tornar no apenas um restaurante, mas tambm
um lugar de encontro, um espao para as crianas brincarem, para
encontros ocasionais e para imaginao (como no caso do cowboy
associado aos cigarros Marlboro, em que o fumo se torna emblem-
tico de uma virilidade associada a amplos espaos descampados).
Esteretipos (no sentido comum de imagens congeladas ou opi-
nies), por isso, nunca so como ns pensamos que sejam. E as
representaes no esto nunca limitadas a uma simples descri-
o de seus contedos, sem falar da estranha idia que nos faz con-
ceber a memria como um enorme armrio com escaninhos para
situaes pr-conhecidas e pr-ordenadas do qual seria possivel
retirar as coisas conforme as circunstncias o exigissem.
Na verdade, se a cognio humana supe aprendizagem e
memria, no se poderia entender a extraordinria adaptabilida-
de de nossa espcie (como testemunhado pela filognese), se tam-
bm no admitssemos que o exercido e desenvolvimento dessa
cognio est concretamente fundamentado em processos per-
manentes de adaptabilidade, na forma de elaboraes de conheci-
mento e organizado em termos de processos orientados na dire-
o de temas comuns, tomados como a origem daquilo ao qual
nos referimos cada vez, como conhecimento aceito ou mesmo
como idias primrias. So essas idias primrias que vm instruir
220
e motivar regimes sociais de discurso, o que significa que cada vez
ns devemos adotar idias comuns, ou ao menos dar conta delas.
3. Temas e variaes
De qualquer modo, estamos no incio de nossa investigao e,
conforme o preceito de Bacon, seria perigoso tentar e apresentar
como um resultado comprovado algo que, para o momento, ape-
nas um horizonte. O que ns apresentamos aqui, instantaneamen-
te, ainda um assunto para debate e ajustamentos para pontos de
vista e para conceitos que existem entre ns. Obviamente, o concei-
to que estamos propondo possui um passado recente do qual, como
muitas vezes o caso, ns no suspeitamos nem de sua amplitude,
nem de suas ramificaes. Uma investigao desse passado no
deixa de ser interessante, pois ela no apenas nos permite situar o
conceito com mais clareza mas, sobretudo, apreender os papis
tericos que ele desempenha nos muitos domnios que nos interes-
sam diretamente. No h necessidade de percorrer a historia para
justificar convergncias insuspeitas, nem fazer isso exaustivamente
para estabelecer uma rvore genealgica do acontecimento. E sufi-
ciente realar certas reflexes e intuies, olhar para sua interao
do ponto de vista que nos interessa a fim de esclarecer uma regio
conceitual que, podemos dizer, permanece banhada por meia luz.
Um fsico notou, certa vez, que tais noes so extremamente frut-
feras. Na verdade isso assim, mas sob a condio que as zonas de
claridade e obscuridade sejam tomadas explicitas. Se isso no acon-
tecer, podemos esperar dificuldades na compreenso e uma incer-
teza revigorante como seu valor.
Seja como for, devemos concordar que reflexes sobre temas
ou themata no encontraram ainda um nicho cientifico, nem pe-
netraram os discursos cientficos. certamente aceito que eles se
relacionam com algo real e importante. No fora assim, eles no
teriam sido evocados por to longo tempo. Por enquanto, eles per-
manecem empregados episodicamente e situados na interseco de
muitos campos intelectuais. Talvez o contexto das representaes
sociais possa produzir a cristalizao que permitiria a expresso
cientifica do que eles designam intensivamente.
Primeiramente, com relao sociologia e antropologia, os
221
temas, ou anlises temticas, expressam uma regularidade de estilo,
uma repetio seletiva de contedos que foram criados pela socie-
dade e permanecem preservados pela sociedade. Eles se referem a
possibilidades de ao e experincia em comum que podem se tor-
nar conscientes e integradas em aes e experincias passadas. Em
sntese, a noo de tema indica que a possibilidade efetiva de senti-
do vai sempre alm daquilo que foi concretizado pelos indivduos,
ou realizado pelas instituies. Quando tudo dito e feito, os temas
que atravessam os discursos, ou as prticas sociais, no podem ser
simplesmente deletados, como se diz no jargo dos computado-
res, mas somente colocados entre parnteses, deslocados de um
momento a outro de diferentes maneiras, mas eles so sempre pre-
servados como fontes constantes de novos sentidos, ou combina-
es de sentidos, se houver necessidade.
Devemos realar aqui que a noo de necessidade aparece nas
reflexes que Schtz devotou ao senso comum. Essas reflexes so
de considervel interesse para ns, pois a teoria das representaes
sociais foi elaborada em relao a formas comuns e populares de
conhecimento. Em suas notas para seus ltimos cursos na New S-
chool for Social Research, ele estava interessado na questo da re-
levncia. O que que toma uma parte de nosso cabedal de conheci-
mento relevante e chama nossa ateno? O que que nossa cons-
cincia experincia como sendo familiar e que nos interessa em de-
terminado momento quando somos assaltados por tantas experin-
cias simultaneamente? O tema em sua concepo aparece como
aforma, ou ncleo, o centro do campo de conscincia cujo funda-
mento a experincia e o conhecimento no-temtico:
Dentre todos esses campos virtuais de realidade, ou pro-
vncias f initas de sentido, queremos nos concentrar naquele dos
atos em ao no mundo externo. .. A ateno , pois, restrita
ao problema geral do tema e horizonte pertencente ao es-
tado de plena conscincia caracterstico desse campo. Mas
essa concentrao e restrio so elas prprias uma ilustrao de
nosso tpico
:
esse campo particular de realidade, essa provncia en-
tre todas as outras provncias, declarado como sendo suprema reali-
dade e tomada, por assim dizer, temtica na investigao des-
ses f ilsof os (isto , Bergson e James) - um movimento que torna
todas as outras provncias que circundam essa temtica cen-
tral apenas horizontais (e tambm pouco esclarecidas). Mas a
estruturao em tema e horizonte bsica mente. E explicar
esse tipo de estrutura confundindo o que est fundamentado com
seu principio fundante , na verdade, uma verdadeira petitio
222
principia (Schtz, 1970: 7-8).
difcil comentar um texto no terminado, mas pode-se perce-
ber que a estruturao temtica coincide, de algum modo, com o
trabalho de objetivao. E isso assim porque, ao tornar algo tem-
tico, relevante a sua conscincia, os indivduos o transformam ao
mesmo tempo em um objeto para eles prprios ou, mais precisa-
mente, em um objeto pertencente a uma realidade escolhida entre
todas as outras realidades possveis ou anteriores. ao menos des-
sa maneira que devemos entender a referncia a James e Bergson.
Vejamos o seguinte exemplo: quando andamos na rua, agimos
em relao a um grande nmero de objetos, carros, rudo, nomes
de bares, a multido, etc. medida que nossa ateno, ou percep-
o, se move de uma coisa a outra, cada uma delas objetivada por
ns vez por vez. Mas no podemos dizer que todo objeto que chama
nossa ateno, ou que percebido por ns, , com isso, objetivado.
Apenas aqueles que so o centro, por assim dizer, de nosso campo
de conscincia se tomam o tema de nossa representao e so obje-
tivados no estrito senso do termo. Em sntese, ns experienciamos
muitas regies da realidade ligadas a uma representao comum.
Mas apenas uma entre elas adquire o status de uma realidade soci-
almente dominante, enquanto as outras parecem possuir uma rea-
lidade derivada em relao realidade dominante.
Tudo isso pressupe que a relao entre o tema corresponden-
te e os outros pode ser relevante e partilhada simultaneamente. Ou,
para concluir, o que queremos dizer, pode haver um referencial
familiar segundo o qual tudo o que existe ou acontece possuir um
carter no-problemtico. Logo que o referencial for questionado
por um elemento inesperado, um acontecimento ou algum conhe-
cimento que no comporte a marca do familiar, do no-
problemtico, uma mudana temtica indispensvel. Como obser-
vou Schtz:
Algo que supostamente era familiar e, conseqentemente,
no-problemtico, mostra-se como no-f amiliar. Ele tem,
por isso, de ser investigado e determinado com respeito a
sua natureza; ele se torna problemtico e, por conseguinte,
tem de ser constitudo como tema e no deixado na indif e-
rena do pano de fundo horizontal concomitante. Ele suf i-
cientemente importante para ser imposto como um novo
problema, como um novo tema e mesmo substituir o tema
anterior de seu pensar; de acordo, ento, com as circuns-
tncias, algo poder perder inteiramente seu interesse, ou
223
ao menos ser colocado temporariamente de lado (Schutz,
1970: 25-26).
No necessrio insistir mais. Com essas observaes quise-
mos sublinhar, por um lado, exatamente quanto a discusso da
conscincia cotidiana e da compreenso natural sugere a noo
de tema, que designa o movimento de estruturao de um campo
de conhecimento e possveis sentidos comuns, ordinrios (vere-
mos, em breve, como isto se relaciona com o conhecimento cienti-
fico!). E, por outro lado, procuramos enfatizar a afinidade com al-
gumas hipteses fundamentais no estudo das representaes so-
ciais e das implicaes sociolgicas e antropolgicas dessa idia.
Num passo adiante, atravs de uma espcie de movimento in-
verso, o estudo dos fenmenos lingsticos exige mais e mais o es-
tudo do conhecimento comum e, conseqentemente, de suas re-
presentaes. Evidentemente, a anlise das representaes so-
ciais retoma conjuntamente, isto , tratamos com os mesmos fe-
nmenos, pois so fenmenos de intercmbio entre discursos, ou
de convergncia entre discursos. Sabemos pelo menos, graas ao
trabalho de lingistas, que existe na linguagem um processo fun-
damental que o da tematizao. Em cada fala, por exemplo, Os
Verdes so um movimento social, h uma focalizao lxica na
forma da orientao da fala com respeito a uma palavra especifica -
substantivo ou verbo - que toma o ncleo de sentido, em ltima
instncia, uma referncia (os Verdes) ao sentido da fala E com a
atividade da reiterao ou reescrita no discurso, h tambm,
progressivamente, a construo de chaves para a leitura se-
mntica que so impostas ao leitor ou ouvinte. Em um trabalho de
fundamental importncia Chomsky (1982), de certo modo, abriu
espao para a pressuposio de um nvel de estrutura temtica
que orienta os campos semnticos e controla, ou conecta, as fun-
es gramaticais das palavras. Ao abandonar um sistema de re-
gras de transformao, ele prope um sistema de princpios que
reconhece a existncia de papis temticos que determinam a
associao entre verbo e substantivos na formao de uma sen-
tena. Por exemplo, o verbo convencer tem a propriedade de de-
terminar um papel temtico ao seu objeto e complemento na fra-
se: Os Verdes foram convencidos a abandonar sua posio ante-
rior. H aqui uma idia importante para a elaborao de uma re-
presentao, pois a funo principal dos papis temticos asso-
ciar o argumento de um verbo a um sentido do verbo dentro de um
campo semntico. Isso implica sempre o contedo do verbo e uma
224
interpretao do prprio verbo dentro de um contexto especfico.
Alm disso, a idia de relaes temticas entre palavras expressa a
possibilidade de um vocabulrio primrio que compreende as
partes semnticas do discurso (acontecimentos, lugar, agente, etc.)
que permanecem constantes e determinam combinaes sintti-
cas: As relaes temticas esto fundamentadas nos elementos
que constituem nossas representaes mentais dos acontecimen-
tos. Assumo como algo indiscutvel que h uma correspondncia
entre nossa representao mental dos acontecimentos e o sentido
de frases empregadas para express-los (Culicover, 1988).
Sem dvida, h uma controvrsia sobre a questo de se as re-
laes temticas so mais semnticas ou sintticas em seu carter,
mas ningum contesta que elas possuem um aspecto conceitual
estruturante no discurso. Embora isso possa ser assim, parece,
contudo, possvel esclarecer a natureza das representaes sociais
atravs dessas idias, pois as representaes sociais possuem uma
estrutura temtica cujos efeitos lxicos e sintticos so incontest-
veis. A esse respeito, Talmy (1985) demonstrou a existncia de um
tema que ele chama de dinmica de fora e que expressa a manei-
ra pela qual entidades sociais ou fsicas interagem com relao
fora. Ele analisa sua maneira de causar algo expressa pelos ver-
bos prevenir, ajudar, levar, que afetam a interpretao semntica
de falas semelhantes. Mas ele tambm mostra, ao mesmo tempo,
que o tema afeta o emprego de categorias mentais gramaticais
(dever, obrigao, etc.). Podemos imaginar que, partindo dessas
propriedades sintticas e semnticas e seguindo o caminho de
Talmy, poder-se-ia descrever um tema subjacente e as representa-
es sociais e mentais cujo ncleo seria ele prprio.
Evidentemente essas idias so ainda provisrias e discut -
veis (Carrier Duncan, 1985; Jackendorf, 1991). Por enquanto, de-
vemos levar em considerao que os processos de tematizao
objetivam, em todo discurso, a estabilizao dos sentidos na forma
de relaes caractersticas do tema (adjetivos), induzindo imagens
de situaes ou maneiras de ser das coisas e do mundo. So pro-
cessos, em sntese, que associam constantemente nosso co-
nhecimento comum com nosso conhecimento discursivo e o cons-
tato de nossas maneiras de ancoragem cognitiva e cultural. Por
conseguinte, de uma maneira concreta nossas representaes,
nossas crenas, nossos preconceitos so sustentados por uma re-
presentao social especfica. Isso se d atravs do estabeleci-
mento de relaes internas ao discurso, conseqentemente rela-
229
225
es lingsticas, mas agindo necessariamente atravs do jogo de
referncias entre, por um lado, aquelas que esto orientadas para
uma nova leitura semntica das coisas (aquelas que so tematiza-
das, ou no, e aquelas que so faladas) e, por outro lado, atravs da
escolha feita a cada vez de uma origem particular dada a essas ro-
tas de se dizer e se significar. Alguns lingistas parecem estar per-
suadidos que existe apenas um nmero limitado de temas que
possuem um valor universal e que regulam construes lings-
ticas que, primeira vista, parecem muito distantes umas das ou-
tras (Jackendorf, 1991).
4.O papel dos temas nas representaes cientficas do
mundo
Finalmente, devemos prestar ateno especial idia que es-
tamos discutindo dentro do campo do conhecimento cientfico. A
importncia dessa idia foi entendida a partir do momento em que
as pessoas pela primeira vez se preocuparam com a origem do
curso da fala e do significado, ou da compreenso ou explicao.
No caso do discurso do conhecimento comum, do mesmo modo
que do conhecimento cientfico, uma questo de perguntar o que
desempenha o papel de primeira idia na formao de families de
representaes no campo especifico que propicia uma forma tpi-
ca aos objetos e situaes relacionados com essa idia dentro
desses campos. Ela vem tona toda vez que elas repassam os des-
dobramentos discursivos com o objetivo de ilustr-los e de lem-
br-los e, sobretudo, de reorganiz-los como uma funo de um
grupo, de uma histria, de um projeto de ao.
Sem dvida, o que se nos apresenta como sendo, e aquilo que
ns cremos, constitutivo dessa essncia das coisas, como Aris-
tteles j expressou claramente:
Todo ensinar e todo aprender de um tipo intelectual proc e-
de de um conhecimento preexistente. Isso se torna evidente
se ns estudarmos todos os casos: as cincias matemticas so adqui-
ridas dessa maneira e assim com todas as artes. Do mesmo modo com
argumentos, tanto dedutivos como indutivos: eles comuni-
cam seu ensino atravs do que ns j sabemos, os primeiros assumin-
do pontos que ns j presumivelmente entendemos, os l-
timos provando algo universal, pois os casos especficos
so evidentes.
H dois modos segundo os quais ns j devemos ter algum co-
226
nhecimento: de algumas coisas ns j devemos acreditar
que elas existem, de outras, ns devemos compreender
quais so os pontos sobre os quais se fala (e de algumas
coisas, devemos saber ambos os casos). Por exemplo, do f a-
to de que tudo ou verdadei ramente afirmado ou negado,
ns devemos acreditar que assim do tringulo, que ele
signif ica isso; e da unidade, ambos (tanto o que ele signifi-
ca, como o que ela ) (Aristteles, traduzido para o ingls
por Jonathan Barres, 1994: 1).
Uma vez mais, sem dvida e de igual modo, ns necessaria-
mente temos intuies sobre as leis gerais que organizam nossas
construes mentais. Como notou Albert Einstein, uma questo
da relao entre a intuio dessas leis gerais que formam a base
para construes mentais e para a fsica: Para essas leis elemen-
tares no h um caminho lgico que leve at l, apenas a intuio
sustentada por estar empaticamente em contato com a experin-
cia (Einfhlung in die Erfahrung) [...] no h ponte lgica que parta
das percepes para os princpios bsicos da teoria (Einstein,
spud Holton, 1988: 395).
De maneira semelhante Peter Medawar assinala:
O raciocnio cientifico um dilogo exploratrio que pode
ser sempre explicado atravs de duas vozes ou dois epis-
dios de pensamento, imaginativo e crtico, que se alternam e inte-
ragem. (...) O processo pelo qual chegamos a formular uma hiptese no
Ilgico, mas no-lgico, isto , fora da lgica. Mas uma vez
tendo formado uma opinio, podemos exp-la critica, co-
mumente atravs do experimento (1982: 101-102).
Mas, de novo sem dvida alguma, esse o caso de todos os
processos cientficos, at mesmo do raciocnio comum: E (expe-
rincias: Erebnisse) so dadas a ns. A so os axiomas dos quais
ns tiramos conseqncias. Psicologicamente, A se apia em E.
No existe, contudo, caminho lgico de E a A, mas apenas uma
conexo intuitiva (psicolgica) que est sempre sujeita revoga-
o (auf Widerruf) (A. Einstein, carta a M. Solovine, 7 de maio de
1952, apud Holton, 1978: 96; uma discusso mais ampla desse
ponto pode ser encontrada em Holton, 1998).
Temos necessariamente, portanto, uma intuio dessas idias
primrias - ao menos, porque elas governam efetivamente certo
nmero de desenvolvimentos discursivos - e ns podemos adivi-
227
nhar que elas certamente subjazem maioria de nossas represen-
taes coletivas, sintetizando neles arqutipos, idias comuns,
cultura, histrias, sociedades. Podemos seguir Holton e cham-las
de temas? Holton demonstra na verdade que elas desempenham
um papel tanto atravs de seus bloqueios, como de suas abertu-
ras, que pontuam os desenvolvimentos da cincia moderna, atra-
vs de revolues nas representaes.
Conforme Holton, temas corresponderiam tambm ao tipo
de primeiras concepes profundamente arraigadas, que infor-
mam a cincia, como a percepo que ns temos dela: idias
primitivas possuem tanto as caractersticas dos estratos originais
da cognio, como das imagens arquetpicas do mundo, de sua
estrutura e gnese.
Um primeiro exemplo Coprnico, que conseguiu um avano
significativo na astronomia matemtica. Olhando de perto a obra
que o tornou famoso (De Revolutionibus) podemos perceber uma
profunda razo, que sua viso da natureza como o templo de Deus e
que, devido a isso, seria estudando a natureza que os homens se-
riam capazes de distinguir o desgnio do criador.
O livro foi posto no Index do Vaticano precisamente devido a
essa proposio, que foi entendida como um tipo de desafio a
Deus. Mas a idia permaneceu como o fundamento da cincia mo-
derna, no sentido que dai em diante ela teve a vocao de sistema-
tizar o real.
Nessa poca, dois temas principais viram a luz do dia, como en-
fatiza Holton, o da simplicidade e o da necessidade. A correo de
todo sistema cientifico seria assegurada no momento que houvesse
um ajustamento mtuo, de uma maneira quase esttica, entre os
dados e a teoria, mas tambm quando houvesse a necessidade de
ajustar cada detalhe dentro de um plano mais geral. Por isso, Copr-
nico explicou que o esquema heliocntrico que ele havia descoberto
para o sistema planetrio tinha a peculiaridade que:
no apenas devem todos os seus (dos planetas) fenmenos derivar
disso, mas essa correlao tambm interliga to estreit a-
mente a ordem e magnitudes de todos os planetas e de suas
esf eras, ou crculos orbitais e os prprios cus, que nada pode ser mu-
dado em qualquer parte deles sem desorganizar as demais partes e o
universo como um todo (Coprnico, DeRevolutionibus, apud Hol-
ton, 1988: 322).
228
Com respeito a isso no podemos deixar de pensar, como o faz
Holton, em Einstein, que escreveu a seu assistente Ernst Strauss:
No que eu estou mesmo interessado se Deus poderia fazer o
mundo de maneira diferente; isto , se a necessidade da simplici-
dade lgica deixa, afinal, alguma liberdade (Einstein, spud Holton,
1978: xii).
Mas para entender os temas no ser suficiente relatar al-
guns tipos de comentrios feitos por cientistas sobre as motiva-
es de seu trabalho. Devemos:
1. Saber como compreender o contedo cientifico de um
acontecimento (E), tanto nos termos de sua prpria po-
ca, como nos termos que sero, de agora em diante, os
nossos.
2. Mas estabelecer a trajetria atravs do tempo de determi-
nado estado de conhecimento cientfico comum (cincia
pblica), o que significa traar a Linha de Mundo do Uni-
verso de uma idia, uma linha em que o elemento anteri-
ormente citado (E) apenas um ponto (Holton, 1988:
21).
3. Conseqentemente, importante identificar o momento
de nascimento em algum contexto de descoberta.
4. O acontecimento (E) agora comea a ser entendido em
termos da interseco de duas trajetrias, duas Linhas de
Mundo, uma para a cincia pblica e uma para a cincia
privada (Holton, 1988: 223)
Haveria tambm, atravs dos textos e representaes aos
quais eles subjazem e ajustam, trs nveis na emergncia e imple-
mentao dos temas:
O do conceito, ou do componente temtico de um conceito,
por exemplo, na cincia, o aparecimento dos concei-
tos de simetria ou continuidade.
O de tema metodolgico: esse seria, novamente na cin-
cia, a formulao de termos de invarincia, extre-
mos, ou de impossibilidades, aplicados a leis.
Finalmente o de proposio temtica, ou hiptese temtica,
isto , de falas universalizantes, tais como a hiptese
de Newton sobre a imobilidade do centro do univer-
so.
229
A pesquisa sobre temas pressupe portanto:
1. No nvel da anlise semntica e cultural dos discursos e textos,
uma explorao temtica (que que torna um tema comum,
em determinado momento de consenso, ou de ruptura, em um
consenso cientfico?).
2. No nvel da anlise cognitiva e lgica, uma especificao de ti-
pos de relaes dialticas, que seriam estabelecidas entre
proposies e entre conceitos nessa relao de confronto entre
cincia pblica (oficial) e conhecimento comum, ou senso co-
mum.
Um caso exemplar o do tema do tomo, no apenas um con-
ceito, mas tambm uma imagem cuja idade sabemos remontar
Antiguidade. Demcrito ou Epicuro queria significar com esse ter-
mo um elemento constitutivo do fundamento de toda matria, um
elemento indivisvel e homogneo. E embora a busca por uma par-
tcula singular que iria constituir todos os corpos atravs de sua
combinao tenha, hoje, cada vez mais alcanado seus limites a
idia permanece to fecunda hoje como o era h dois mil anos.
Isso porque ela est fortemente associada a um nmero de temas
metodolgicos, que tomam sentido no nvel anteriormente men-
cionado da "harmonia" entre dados e teoria e, sobretudo, entre
imagens e modalidades da "apresentao" cientfica das coisas.
O tema do tomo no se refere necessariamente a um objeto
no sentido literal ou fsico, tais como as entidades elementares
discretas (descontinuidades): partculas gama, msons ou pr-
tons. Poderia, do mesmo modo, ser uma questo de um tipo abs-
trato de elemento, mas um tipo que seria derivado de entidades
com um carter formal: entidades tericas tais como foras (in-
teraes eletromagnticas), ou compostas de diferentes termos,
por exemplo, um termo central e determinado nmero de termos
corretivos. Metodologicamente, ento, os temas do atomismo,
isto , da decomposibildade, confronta-se com o tema da conti-
nuidade e vemos a emergncia recorrente na cincia de duplas
antitticas, tais como as de evoluo e involuo, invarincia e va-
rincia, reducionismo e holismo, pois o que aqui ocorre, no nvel
de representaes, realmente persistente, desde uma dimenso
mais fraca, at uma mais forte, desse esquema antigo, com suas
interaes recprocas e, por isso, a necessidade de uma identida-
de subjacente que fundamente as classificaes hierrquicas.
Colocar uma ordem a partir desse caos na fsica moderna pressu-
230
pe essas quatro categorias de temas metodolgicos: gravitao,
interao eletromagntica e interaes fortes e fracas. Poder-se-ia
pensar novamente aqui na ressurreio, na metade do sculo vin-
te, da antiga anttese entre o cheio e o vazio em relao aos deba-
tes sobre realidade molecular.
Desse modo, um artigo do fsico S. Weinberg (1974) toma a
forma de uma carta patente, tanto filosfica como programtica,
para essa era quando, segundo ele, trata-se de descobrir um fun-
damento comum aos quatro tipos de interaes (foras) que,
juntas, forneam uma explicao completa dos fenmenos fsicos:
1. Interao gravitacional que sustenta todas as partculas.
2. Fora eletromagntica que explique aqueles fenmenos em
que ocorrem partculas carregadas, bem como a interao en-
tre luz e matria.
3. A fora nuclear forte que ocorre entre membros da famlia de
partculas elementares chamadas hdrons (msons e brions).
4. A interao fraca com a tarefa de descrever as interaes, de
mbito extremamente breve, de certas partculas elementares
(tais como a difuso de um neutrino por um neutron e a desin-
tegrao radioativa de um neutron permi tindo um prton, um
eltron e um antineutrino). Eis que Weinberg escreve no inicio
de seu artigo:
Uma das permanentes esperanas do ser humano foi en-
contrar algumas poucas leis gerais simples que explicassem
por que a natureza, com toda sua aparente complexidade e
variedade, da maneira que . No momento atual, o mais prximo
que podemos chegar de uma viso unificada da natureza uma des-
crio em termos de partculas elementares e suas interaes rec-
procas. Toda matria comum composta de apenas aquelas partcu-
las elementares que acontece possurem tanto massa como (relativa)
estabilidade: o eltron, o prton e o nutron. A essas devem ser a-
crescidas as partculas de massa zero: o fton ou quantum
da radiao eletromagntica, o neutrino, que desempenha um pa-
pel essencial em certos tipos de radioatividade e o grviton, ou quan-
tum da radiao gravitacional (Weinberg, 1974: 56).
interessante notar aqui tais expresses como leis gerais de
uma forma simples e viso unitria da natureza
brotando de
231
partculas elementares e suas interaes recprocas. H aqui um
eco da afirmao de Demcrito: tudo tomos e vazio. E essa
propriedade da elementaridade ajuda a orientar a inteira cadeia de
explicao, que vai desde partculas chamadas elementares e che-
ga a entidades compostas, antitticas (ncleos, tomos ou ma-
tria familiar, tudo composto de partculas elementares). Atra-
vs do artigo de Weinberg pode-se ver essa concepo dominante
de grupos, famlias e famlias de ordem superior organizando as
partculas entre elas de uma maneira quase zoolgica. Esse o
tema metodolgico do continuum, mas tambm com um eco desse
outro tema, o ciclo vital, importado pelas cincias do mundo dos
encontros humanos (Holton, 1978: 17):
O relatrio tcnico da, digamos, anlise de fotografia de
cmara de bolha apresentado, de modo geral, em termos de uma
histria de ciclo vital. uma histria de evoluo e devol u-
o, de nascimento, aventuras e morte. Partculas entram
em cena, encontram outras e produzem uma primeira gerao de
partculas que, subseqentemente, se deterioram, dando origem a
uma segunda gerao e talvez a uma terceira gerao. Elas so ca-
racterizadas por vidas relativamente curtas ou longas, por perten-
cer a famlias ou espcies (Holton, 1978: 17)
O que isso significa que certo nmero de temas se estende
de una extremo a outro das pocas de revolues do conhecimen-
to, com as oposies temticas que eles geram, ou que esto asso-
ciadas a eles, tudo dentro daquela interpretao que menciona-
mos anteriormente entre cincia pblica e representaes co-
muns de conhecimento e do mundo. Uma vez mais, no esta
uma questo de arqutipos no sentido de Jung, antes de idias
primrias ajudando a reformular a representao de domnios de
conhecimento e a ao desses domnios. A noo de trabalho, ao
mesmo tempo cognitiva e discursiva, importante aqui porque
realmente nas incessantes reformulaes e reescritas implicadas
nesse trabalho histrico de representaes, que esses temas e-
mergem, os quais se tomam pontos de referncia, no sentido de
pontos semnticos focais, para compreender a estabilizao ou
desestabilizao de idias ou conceitos.
O exemplo do trabalho de Kepler, novamente analisado por
Holton, particularmente ilustrativo da progresso de tais proces-
sos. Kepler permaneceu ancorado em uma poca em que animis-
mo, alquimia, astrologia, numerologia e feitiaria continuavam a
ser problemas discutidos com seriedade. Ele narra os estgios de
232
sua progresso com detalhes e assim nos ajuda a compreender as
mltiplas confrontaes que acompanham o inicio do sculo de-
zessete, a aurora da cincia moderna.
Seu primeiro passo unificar a representao do mundo her-
dado da Antiguidade apelando para o conceito de uma fora fsica
universal fundamentada em uma figura unitria - o sol governan-
do a terra a partir de seu centro - e um principio unitrio: a ima-
nente onipresena de harmonias matemticas. Ele no pode ofe-
recer uma explicao mecnica do movimento dos planetas, mas
conseguiu unir duas concepes do mundo: o antigo - o de um
cosmos imutvel - e o moderno, devotado ao jogo de leis dinmi-
cas e matemticas. E quase por acaso que ele juntou as indica-
es que Newton depois empregou para estabelecer definitiva-
mente nossas concepes modernas.
Kepler , na verdade, o primeiro a procurar uma lei fsica ba-
seada na mecnica terrestre para compreender o universo como
um todo. Embora Coprnico ainda insistisse em manter uma distin-
o entre fenmenos celestes e os que pertenciam apenas Terra,
Kepler a rejeitou. Desde a obra de sua juventude, Mysterium cos-
mographicum (1596), um e o mesmo procedimento geomtrico
serve para estabelecer a natureza necessria da organizao ob-
servada de todos os planetas. A Terra dado o mesmo valor que aos
outros planetas!
Pouco mais tarde, trabalhando em 1605 em sua Astronomia
nova, ele traou seu programa:
Meu objetivo aqui mostrar que a mquina celestial deve ser
comparada no a um organismo divino, mas a um relgio,
pois quase todos os movimentos aparentes so realizados
por meio de uma fora magntica singular, bastante simples,
como no caso de um relgio onde todos os movimentos (so
causados) por um simples peso. Ainda mais, mostro como
essa concepo fisica deve ser apresentada atravs do clculo e
da geometria (apud Holton, 1988: 56).
Aqui, ento, a mquina celeste pensada como transformada
por uma nica fora terrestre, imagem de um relgio, uma prof-
tica inteno traduzida pelo ttulo Physica Coelestis. Para isso, Kepler
primeiramente discerniu que a causa das foras que so sentidas
entre dois corpos no est em sua relativa posio, nem nas confi-
guraes geomtricas em que elas entram (como fez Aristteles,
233
Ptolomeu e Coprnico), mas nas interaes mecnicas esta-
belecidas entre esses objetos materiais. Ainda mais, ele j tinha
um pressentimento de uma gravidade universal: Gravitao con-
siste na luta corporal reciproca entre corpos em relao, na dire-
o de uma unio ou conexo; dessa ordem tambm a fora
magntica (apud Holton, 1988: 57).
Do mesmo modo ele afirmou o que poderia ser um precursor
do princpio da conservao da quantidade do movimento: Se a
terra no fosse redonda, um corpo pesado seria dirigido no em
qualquer direo, diretamente ao centro da terra, mas para dife-
rentes pontos a partir de diferentes lugares (apud Holton, 1988:
57).
Mas ele permaneceu prisioneiro da concepo aristotlica do
principio da inrcia, identificando inrcia como uma tendncia de
retomo ao repouso: Fora do campo de fora de outro corpo rela-
cionado, toda substncia corprea, pelo fato de ser corprea, por
natureza tende a permanecer no mesmo local em que se encontra"
(apud Holton, 1988: 58). E esse axioma o impediu de formular
concretamente os conceitos de massa e fora; devido a esses con-
ceitos, a mquina celestial do mundo imaginada por Kepler est
destinada ao insucesso. Ele deveria ter previsto foras distintas
para garantir o deslocamento de planetas ao longo da tangente
para a trajetria e levar em considerao o componente radial do
movimento. Alm disso, ele pressups a hiptese que a fora pro-
veniente do sol, que mantm o movimento tangencial dos plane-
tas, decresce na razo inversa da distncia. A imagem sugestiva,
mas ela no conduz Kepler lei das foras da razo quadrada in-
versa da distncia, simplesmente porque ele considera a expanso
da luz em um nico planeta, composta pelo plano da rbita plane-
tria. Dessa maneira, ele faz a reduo em intensidade lumi nosa
depender do aumento linear da circunferncia, medida que algo
se move para rbitas mais distantes!
A fsica de Kepler , ento, uma fisica pr-newtoniana: a fora
proporcional no acelerao, mas velocidade. Isso lhe era su-
ficiente a fim de explicar sua observao que a velocidade de um
planeta ao longo de sua rbita elptica decrescia em uma razo li-
near, medida que sua distncia do sol aumentasse; disso se ori-
ginou sua segunda lei, que fundamentou um inicio da interpreta-
o fsica na base de muitos postulados errneos.
Movido, com efeito, pela convico da existncia de uma for-
234
a original proveniente do magnetismo, ele representou o sol
como um m esfrico, sendo que um de seus plos estaria no seu
centro e o outro em sua superfcie, de tal modo que um planeta, ele
tambm magnetizado como uma barra magntica de orientao
constante, encontrar-se-ia algumas vezes atrado, outras repelido
pelo sol ao longo de sua rbita elptica. Isso explicava o compo-
nente radial no movimento dos planetas: o movimento que seguia
a tangente resultaria em uma fora, ou momento angular, que ele
pde provar por hiptese: o planeta sendo arrastado ao longo de
sua rota pelas linhas da fora magntica que emanavam do sol
medida que ele girasse sobre seu prprio eixo. Essa representao
j notvel, mas permaneceu incompleta: Kepler no conseguiu
mostrar: como essa concepo fsica deve estar presente atravs
do clculo e da geometria (apud Holton, 1988: 59-60).
Na verdade, o bloco apenas aparente devido tentativa de
Kepler de estabelecer um modelo mecnico do universo e uma
nova interpretao filosfica da realidade. Ele quis oferecer
uma filosofia ou fsica dos fenmenos celestes em lugar da teolo-
gia ou metafsica de Aristteles (carta de Johann Brengger, 4 de
outubro de 1607; apud Holton, 1988: 60). Seus contemporneas vi-
ram apenas o absurdo disso. Eles foram tentados a ver em Kepler o
campeo de um tipo mecnico de filosofia natural; o termo mec-
nico implica aqui que o mundo real seria o mundo de objetos e de
suas interaes mecnicas no sentido aristotlico.
Contudo, a partir do insucesso do programa anunciado em
Astronomia nova, outro aspecto de Kepler pode ser afirmado, que
pode ser entendido se, com Holton, ns admitirmos que os termos
realidade e fsico possuem aqui sentidos que concordam:
Chamo minhas hipteses f sicas por duas razes. Meu obje-
tivo supor apenas aquelas coisas das quais eu no tenho
dvida que sejam reais e conseqentemente fsicas, onde deve-
mos fazer referncia natureza dos cus, no dos elementos. Quando
eu descarto o excntrico perfeito e o epiciclo, eu no fao isso pelo fa-
to de serem puramente pressupostos geomtricos para os
quais no existe um corpo correspondente nos cus. A segunda ra-
zo para chamar minha hiptese de f sica isso ... eu provo
que a irregularidade do movimento (dos planetas) corres-
ponde natureza da esfera planetria; isto , fsica (Notas de
Kepler em uma carta de Mastlin, 21 de setembro de 1616; a-
pud Holton, 1988: 62).
235
Tudo, para Kepler, fundamenta-se na natureza dos cus e na
natureza dos corpos. E para ele isso segue do fato de ele se apoiar
em dois critrios de realidade:
1. O mundo real, no sentido fisico, determina a natureza das coisas
e o mundo dos fenmenos comuns dos princpios mecnicos;
essa a possibilidade para formular uma dinmica generali-
zada e coerente, que Newton concretizou mais tarde.
2. O mundo real, no sentido fsico, o mundo das harmonias da
expresso matemtica, que o homem capaz de detectar a
partir do caos do contingente. Devemos, portanto, fazer o pos-
svel para descobrir essas harmonias matemticas da natu-
reza.
Portanto, quando Kepler observou, seguindo as primeiras ob-
servaes do movimento das manchas solares, que o perodo da
rotao solar era na verdade completamente diferente do que ele
tinha postulado em seu sistema fsico, ele absolutamente no se
perturbou. Ele no estava totalmente comprometido com uma in-
terpretao mecnica dos fenmenos celestiais, como Newton es-
teve mais tarde. Seu critrio era o da regularidade harmoniosa das
leis descritivas da cincia. A Lei das reas Iguais um bom e-
xemplo. Para Tycho e Coprnico, a regularidade harmnica do
movimento dos planetas era reconhecvel na uniformidade dos
movimentos circulares dos quais eles eram compostos. Mas Ke-
pler acabou identificando as rbitas dos planetas como elipses,
uma forma no-uniforme de movimento. A figura irregular e a
velocidade diferente para cada ponto. E o levar em considerao
essa dupla complicao nutre uma regulari dade harmnica: o
fato de que uma rea constante removida em intervalos iguais
por uma linha do foco da elipse, onde est o sol, para o planeta na
elipse (Holton, 1988: 63).
Para Kepler essa lei harmoniosa por trs razes:
1. A lei est de acordo com a experincia (ele teve de supor-
tar o sacrifcio de suas primeiras idias a fim de respon-
der aos imperativos da experincia quantitativa).
2. A lei apela a uma invarincia, apesar de no ser mais uma
questo de velocidade angular, mas de velocidade de -
rea.
Lembremos que o sistema de mundo de Coprnico e o primei-
ro sistema de Kepler (Mysterium cosmographicum) postulavam
236
conjuntos de esferas concntricas estacionrias. Galileu nunca
chegou a aceitar as elipses de Kepler e permaneceu at o fim um
discpulo de Coprnico, que tinha declarado que a mente se arre-
pie suposio de movimento celestial no-circular e no-unifor-
me. O postulado de Kepler de rbitas elpticas marcou, ento, o
fim de uma simplicidade antiga. A segunda e a terceira lei criaram a
lei da invarincia fsica como um princpio de ordem em uma si-
tuao de fluxo.
3. Essa lei tambm harmnica no sentido que o ponto fixo
de referncia da Lei das reas Iguais, o centro de mo-
vimento dos planetas, o centro do prprio sol, mesmo
que o esquema copernicano situasse o sol levemente re-
baixado do centro das rbitas planetrias. Atravs des-
sa descoberta, Kepler criou um sistema planetrio ver-
dadeiramente heliocntrico, de acordo com sua exign-
cia instintiva de um objeto material em seu centro, do
qual deveriam provir os fatores fsicos que governassem
o movimento do sistema. Esse sistema heliocntrico
tambm teocntrico.
Para Kepler, a imagem empolgante. O sistema planetrio se
torna uma figura em um universo centripeto, controlado atravs e
pelo sol com seus mltiplos papis: como o centro matemtico na
descrio dos movimentos celestes; como a ao fsica central
para garantir movimento continuo; e, sobretudo, como centro me-
tafsico, o templo da Divindade (Holton, 1988: 65). Trs insepar-
veis papis correspondem igualmente aos argumentos que possu-
em um status de arqutipos:
1 O sistema heliocntrico permite uma representao ad-
miravel. mente simples dos movimentos planetrios.
2 Cada planeta est necessariamente sujeito a uma fora
diretiva invarivel e eterna em sua prpria rbita.
3 Ali dever haver fundamentao para o que comum a
todas as rbitas, isto , seu centro comum e essa fonte
eterna deve ela prpria ser invarivel e eterna
4 Esses so os atributos exclusivos da nica Divindade
(Holton, 1988: 65).
Kepler acumulou, ento, dedues e analogias para apoiar sua
tese. Mas o argumento mais retumbante foi a comparao da esfe-
ra do mundo Trindade: o sol, estando no centro da esfera e, con-
237
seqentemente, anterior a seus dois outros atributos - superficie e
volume - relacionado a Deus Pai, uma permanente analogia para
Kepler e uma imagem que o obcecou do inicio ao fim. Nessa as-
cendncia observada na figura solar podemos, na verdade, encon-
trar um tema muito antigo: o da identificao da luz com a fonte
de toda existncia e a afirmao que espao e luz so apenas um
tema da influncia neoplatnica, como as referncias a Proclus
(quinto sculo antes de Cristo) testemunham. Na Idade Mdia, o
lugar atribudo a Deus era, ou o inteiro universo ou o espao
alm da ltima esfera celeste. Kepler apresenta uma nova alterna-
tiva. No referencial de um sistema heliocntrico Deus poderia ser
reintegrado ao sistema solar, entronizado no objeto que serve
como uma referncia estacionria comum e que coincide com a
fonte da luz e a origem das foras fsicas que garantem a coeso do
sistema. Como sabiamente diz Holton: a fsica dos cus de Kepler
heliocntrica na cincia dos movimentos mecnicos (cinemtica),
mas teocntrica em sua dinmica (1988: 66) - dinmica porque
as harmonias, originadas nas propriedades da Divindade, substi-
tuem as leis fsicas originadas no conceito de foras quanti tativas
especificas. As harmonias de Kepler, portanto, so quantitativas,
mesmo que para os Antigos essas leis fossem qualitativas, ou de
um formato simples; e isso que se torna o ponto de ruptura que
resulta na concepo matemtica moderna de cincia. Embora
para os Antigos os resultados quantitativos servissem apenas para
esclarecer um modelo especifico, para Kepler nos prprios re-
sultados empricos que a construo celestial se revela. Esse pos-
tulado, que as harmonias so imanentes nas propriedades quanti-
tativas da natureza, remonta, na verdade, s prprias ori gens da
filosofia natural, a assimilao da quantidade, na medida em que
ela atributo da Divindade; e essa capacidade do ser humano de
perceber as harmonias se torna a prova da ligao entre seu esp-
rito e Deus (cf. Harmonica mundi, P7,1).
A sensao da harmonia se tomou presente, pois existe uma
equivalncia entre a ordem das percepes e os arqutipos inatos
correspondentes (archetypus). O arqutipo se torna at mes-
mo parte do esprito de Deus, sendo que ele uma marca na alma
do ser humano, pois Deus o criou, pois a alma apresenta: No
uma imagem do verdadeiro modelo (paradigma), mas o prprio
modelo autntico... Ento finalmente a prpria harmonia se torna
inteiramente alma, at mesmo Deus (apud Holton, 1988: 69).
O estudo da natureza transformado ento no estudo do en-
238
tendimento divino, que , portanto, acessvel a ns atravs do in-
termedirio da linguagem matemtica: Deus fala atravs de leis
matemticas!
Encontramos aqui a imagem do Deus de Pitgoras, encarnado
diretamente em uma natureza observvel nas harmonias matem-
ticas do sistema solar: um Deus, escreve Kepler: a quem, na con-
templao do universo eu posso tocar, por assim dizer, com mi -
nhas prprias mos (carta ao Baro Strahlendorf, 23 de outubro
de 1613; apud Holton, 1988: 7o).
Existe aqui uma harmonia conceitual absoluta que opera a-
travs de trs temas fundamentais, na origem, portanto, de trs
modelos cosmolgicos: o universo como uma mquina fisica, o uni-
verso como uma harmonia matemtica e o universo como uma or-
dem teolgica, governada a partir de seu centro.
5.Temas e representaes sociais
Para sintetizar, no corao das representaes sociais, no co-
rao das revolues cientificas, existem temas que perduram
como imagens-conceito ou que so o objeto de controvrsias
antes de serem questionadas. Quais so elas? Que formas to-
mam? Imagens-conceito? Concepes primrias profunda-
mente ancoradas na memria coletiva? Noes primitivas? Cer-
tamente algo de tudo isso. Todos nossos discursos, nossas crenas,
nossas representaes provm de muitos outros discursos e mui-
tas outras representaes elaboradas antes de ns e derivadas
delas. uma questo de palavras, mas tambm de imagens men-
tais, crenas, ou pr-concepes. Faltando-nos a capacidade de
dominar completamente a origem das concepes no longo espa-
o de tempo (longue dure), a anlise das representaes sociais
no pode fazer mais que tentar, por um lado, identificar o que, em
determinado nvel axiomtico em textos e opinies, chega a
operar como primeiros princpios, idias propulsoras ou ima-
gens e, por outro lado, esforar-se para mostrar a consistncia
emprica e metodolgica desses conceitos, ou noes primri-
as, na sua aplicao regular ao nvel de argumentao cotidiana
ou acadmica. Isso quer dizer que a lingstica, como uma imagem
mental, intervm nesses processos de pensamento social; ou,
novamente, que desse ponto de vista os limites entre discurso
acadmico e comum no so nunca fixos e que h uma passa-
gem continua entre um e outro. Como isso acontece? Devemos
239
aqui ao menos tentar especificar, de cima para baixo, uma confi-
gurao tanto cognitiva como aplicada.
Temas conceituais podem, ento, ser considerados como i-
dias-fonte (o universo uma mquina fsica; ele obedece, pois, a
leis matemticas; o sol est no centro como Deus e luz) que
geram uma nova axiomtica na evoluo de nossas representa-
es do mundo. Eles tomam a forma de noes, isto , de locais
potenciais de significado como geradores de concepes, eles so
virtuais porque esses locais somente podem ser caracterizados
atravs do discurso, atravs de justificaes e argumentos que os
alimentam na forma de produes de sentido.
Exemplo 1: O tomo a menor partcula de todas as coisas,
isto , ele o mais simples, o mais concentrado e o mais universal;
pois deve existir um ncleo ltimo .
Isso implica que essas noes-tema possuem como com-
plementos certo nmero de temas metodolgicos que tomam a
forma de leis aplicveis a certos campos na forma de chaves in-
terpretativas para esses campos: chaves interpretativas no senti-
do de estatutos das propriedades e modos de combinao e inter-
relao atribudos aos objetos desses campos, definindo, portanto
os internos (os contedos desses campos em relao aos externos -
o que eles no so, ou no incluem).
Exemplo 2: O tomo o elemento que entra na composio
de todas as coisas complexas (matria ou seres vivos). Dessa ma-
neira tanto a natureza como a amplitude das representaes
sociais so fundamentadas. Concretamente, essa tarefa cognitiva
comea a operar atravs de uma dupla articulao simblica:
1. Na definio de limites estabelecendo essas relaes in-
ternas/externas atravs da indexao (ancoragem referencial)
em relao a campos j existentes ou conhecidos (dos-quais
eles so responsveis/dos quais eles no so responsveis; o
que lhes pertence/o que no lhes pertence).
2. Pela legitimao recproca dessas reconstrues ou re-
presentaes atravs da apresentao argumentativa de ob-
jetos que autenticam esses campos (objetivao de con-
tedos), objetos eles prprios legitimados proporcional mente
s propriedades atribudas a eles a cada vez, como tpicas, se
no exclusivas.
Exemplo 3: Todo ser vivo, toda matria, so sempre constitu-
240
dos de tomos. H tomos para as coisas vivas e tomos para os
minerais.
O jogo sociocognitivo total de representao repousa ento
nos tipos dessas propriedades atribudas sempre aos objetos de
um campo com o objetivo de ilustr-los. E considerando as rela-
es entre interiores e exteriores, isto , contrastando entre
campos sociais e, portanto, entre os contedos que os caracteri-
zam, estamos evidentemente na presena de sistemas locais de
oposio construdos atravs do discurso; as propriedades atribu-
das aos objetos de certo modo desempenham o papel de funes
aplicveis ao conjunto de relaes entre elementos de campos.
Essas funes aplicadas a objetos (qualidades, especificaes e
determinaes de existncia atribudas a elementos de um cam-
po) so, podemos dizer, funes topocognitivas: elas tm como
objetivo especificar o carter exemplar dos objetos, posicionando-
os totalmente em relao a outros objetos e, com isso, estabe-
lecendo a legitimao dos campos de contextos que fundamen-
tam toda representao.
Exemplo 4: Todo ser vivo feito de tomos. Devemos, portanto,
encontrar tomos (clulas) que diferenciam os (corpsculos) vi-
vos dos no-vivos.
Neste nvel, todas as relaes metodolgicas entre objetos ou
propriedades de objetos funcionam na forma de regras tributrias,
tanto da memria ordinria das coisas (o que as coisas so em
relao a outras coisas), como de mximas de crenas (o que
essas coisas trazem com elas e para onde conduzem, ou o que
produzem), que traduzem a resistncia de uma semiosis comum a
toda coletividade humana. Essas regras tomam, ento, a forma de
proposies, retematizando a relao da lei em questo.
Exemplo 5: O tomo diferente em uma pedra e em um ser vivo,
mas algumas leis de construo da pedra so tambm encontradas
em seres vivos (tijolos de vida).
A Figura 4.1 sintetiza esses desenvolvimentos em um esque-
ma configuracional. Isso significa, para retomai questo das re-
presentaes sociais, que elas so sempre derivadas de elementos
nucleares pseudoconceptuais: arqutipos de raciocnio comum
ou pr-concepes estabelecidas ao longo de um largo espao de
tempo (long dure), isto , tributrias de histrias retricas e
crenas sociais que possuem o status de imagens genricas
241
Figura 4.1 -A funo geradora dos temas
TEMAS: Idias-fonte: "conceitos-imagem"
NOOES: Tpicos que geram sentido 'primitivo" e
representao na relao cultura-cognio
ANCORAGEM
Classes de discurso: representaes sociais
Construo de campos semnticos e suas chaves
interpretativas
OBJETIVAO
Marcas cognitivas e trabalho lingstico de referen-
da: modos de composio entre objetos e o esta-
belecimento de limites nas relaes de campos
internos/ externos
leis Marcas cognitivas e trabalho lingstico de referen-
cia: modos de composio entre 'objetos' e o esta-
belecimento de "limites" nas relaes de campos
internos/ externos
regras mxi-
mas
especificao de objetos "exemplares" atravs da
atribuio de propriedades apresentadas como "t-
picas' com o objetivo de estabilizar a marca
princpios aplicveis legitimando as argumenta-
es inscritas nas semiosis social
- retrica comum,
- senso comum,
- representaes legitimadoras,
- modos comuns de jujstificao,
- crenas confirmadoras.
Na verdade, uma questo de topoi, isto , de locais de sen-
so comum onde elas encontram a fonte de desenvolvimentos e os
meios de se legitimar, pois esses locais est~o ancorados no per-
1
TEMAS: Idias-fonte': "conceitos-imagem"
1
NOOES: Tpicos que geram sentido 'primiti-
vo" e representao na relao cultura-cognio
1
242
ceptvel (cognio partilhada e popular) e na experincia rituali-
zada (cultura e seus ritos, isto , suas partes operativas na repre-
sentao). Elas tomam, geralmente, a forma de noes ancoradas
em sistemas de oposies (isto , termos que so contrastados a
fim de ser relacionados) relativas ao corpo, ao ser, ao na soci-
edade e ao mundo de maneira geral; toda linguagem testemunha
isso.
Conseqentemente, no francs, como em muitas lnguas, h a
oposio entre homem/mulher, que permite temas conceituais
sejam derivados (homem=fora; mulher=graa) que, atravs de um
longo perodo (long duree), iro conformar nosso comportamento,
nossa conduta e, sobretudo, nossas imagens, mas que tambm
chegam a operar como ncleos sem}nticos gerando e organi-
zando regimes discursivos, posicionamentos cognitivos e cultu-
rais, em outras palavras, classe de argumentao (feminismo
versus chauvinismo machista a mulher no lar versus o homem
no trabalho etc.) Desse modo comparando discursos que carre-
gam conflitos sociotico podemos encontrar novamente aqueles
tpicos comparveis s propriedades atribudas ao outro e legi-
timando oposio.
Toda representao social retorna, pois, expresso reitera-
da em discursos desses intercmbios de teses ou temas negocia-
dos localmente, ou mais universalmente. A revoluo das idias,
at mesmo na cincia, como vimos, exige argumentos que possu-
em o poder de subverter uma idia, ou uma imagem dominante.
Do mesmo modo, dever existir o bom das histrias para cons-
truir uma histria. Conseqentemente, o que importante nas
anlises desses discursos que, intuitivamente, sempre retomamos
como representativos de movimentos de opinio ou de movimen-
tos sociais, e realmente trazer luz a negociao ali presente, lin-
guisticamente, na fronteira entre o negocivel e o no negoci-
vel entre o que funciona como crena estvel ou como desenvol-
vendo cognio social. Concretamente, trata-se de identificar, por
um lado, o que se apresenta literalmente e, por outro lado; e por
outro lado o que surge do debate construtivo e apresenta proces-
sos adaptativos, ndices de transformaes sociais e culturais.
Desse modo, na abertura de um filme americano sobre dinossau-
ros podemos ver a repentina reapario de uma oposio ntida
entre crentes darwiniano e aqueles (fundamentalistas religio-
sos) que no aceitam nenhuma vida na terra antes daquilo que a
Bblia fala sobre a criao do homem. Essa oposio apia-se no-
247
243
vamente entre dois tipos de tematizao:
1) O ser humano receptculo de Deus e ter sido precedido
por um mundo visto como bestial.
2) Deus existe apenas no projeto progressivo e evolutivo de
um mundo que construdo e no em Criao. Esse um tipo de
demarcao regularmente encontrada nessa fronteira entre
discurso srio (cientfico) e no-srio (isto , desprezvel), mas
que ainda assim fora todo discurso social a tomar seu lugar em
certa relao com respeito a uma policia sobre o conflito de idi-
as.
Conseqentemente, devemos admitir que juntamente com
esses invariantes perceptuais ou neuro-sensores que organizam
nossos mecanismos cognitivos bsicos, h tambm nossas cogni-
es ordinrias e que no decurso de um longo tempo (longue du-
re) so gravadas com postulados ancorados em crenas e essa
gravao
que vemos emergir em nossos discursos na forma de
aberturas ou fechamentos recorrentes - aberturas e fechamen-
tos que integram opostos em um relance. E essa sntese de
opostos que, como na linguagem, fundamenta a integrao de
cada tema perceptvel em uma ou mais noes.
Assim, por exemplo, a crena na noo de liberdade as-
sume a representao de um par especifico de reciprocidades,
integrado em um esquema nocional: a capacidade de agir sem
presso versus presses forando algum. Essa reciprocidade ine-
rente a cada noo permite, por sua vez, as comutaes de propri-
edades e determinaes derivadas da noo: liberdade = bem-
estar Versus mal-estar: liberdade = licenciosidade versus li-
berdade responsabilidade, etc.
So essas comutaes que, com o fluxo do discurso, facilitam
permutaes nas representaes e nas normas associadas a elas, a
forma de:
1. Bloqueios ou desbloqueios no status axiomtico (te-
mas) de noes e suas expresses normativas (na lei de
emprego francesa o direito de greve central, na lei ale-
m o de interesse coletivo que central e, conse-
qentemente, a necessidade de negociao preliminar).
2. As mudanas semnticas e operacionais que esto inse-
ridas nos valores ou nos traos, que comportam a anco-
ragem de valores (por exemplo, no alimento, o peixe que
244
usado para ser parte da prtica religiosa da abstinn-
cia da sexta-feira tornou-se agora emblema de uma die-
ta saudvel e de uma cuisine lgre).
A conseqncia de tais processos operativos torna-se eviden-
te no jogo de negociaes sobre o status de objetos e seus contex-
tos de existncia, que so inerentes a toda representao dis-
cursiva. Ser importante distinguir aqui, na anlise, entre aqueles
que operam cognitivamente atravs de expresso na prpria lin-
guagem e aqueles que identificam artefatos de comunicao (ti pos
de situaes, a presena ou ausncia do outro, etc.).
No primeiro caso, isso ser evidente, tanto atravs da temati-
zao lxica como atravs da orientao semntica da organizao
sinttica da expresso:
Exemplo: A mulher feminina usa meias da mama X, isto :
a. No centro da classe de mulheres h o tipo do mais femi-
nino!.
b. Ela reconhecida pelo que veste; se voc quiser identifi-
c-la voc deve olhar primeiro para a marca de suas mei-
as.
No segundo caso, no nvel comunicacional (isto , relaes
Eu-Outro), ser uma questo de diferenciar claramente os tipos de
processos discursivos e argumentativos que levam, por um lado, a
enfocar os objetos pretextos, ou exemplos (exemplo ou lugares
comuns) e, por outro lado, ao posicionamento da representao
discursiva em um contexto referencial que vai do proximal (dilo-
go, conversaes, intercmbios face a face) ao distal (o discurso
escrito ou registrado da mdia ou instituies). Estaremos, conse-
qentemente, muitas vezes na presena de pacotes de co-
municaes expressando tanto as reiteraes sociais de repre-
sentaes, como a evoluo de imagens, ou noes, na sociedade.
Necessitamos saber, ento, como levar em considerao esse as-
pecto epidemiolgico de representaes, embora sem com isso
prejulgar se todas elas irradiam de uma fonte central, saber
como distinguir o contedo de um e outro campo, retomando as
convergncias, de certo modo, de maneira ascendente, possuindo
mais o status de um esquema de oposies nocionais, do que uma
idia-fonte estvel.
Temas nunca se revelam com clareza; nem mesmo parte
245
deles definitivamente atingvel, tanto porque eles esto comple-
xamente interligados com certa memria coletiva inscrita na lin-
guagem, como tambm porque so combinaes, iguais s repre-
sentaes que eles sustentam, ao mesmo tempo cognitivas (inva-
riantes ancorados em nosso aparato neurossensor e em nossos es-
quemas de ao), como culturais (universais consensuais de te-
mas objetivados pelas temporalidades e histrias do longo espao
de tempo [longue dure]).
Tomemos o exemplo do alimento e as representaes que ele
implica, ou que esto associadas a ele. Os sistemas de oposies
que podem ser discernidos ali so normalmente acordos entre o
biolgico e o social, entre preocupaes sobre sade ou sobrevi-
vncia (imagens do corpo e do self em relao a outros) e mem-
rias ou culinrias culturais que fundamentam e posicionam os gru-
pos uns em relao aos outros. E nesse trio alimento/corpo, sa-
de/ cozinha, gosto constata-se regularmente o reaparecimento
de tais temas como o tradicional, o natural e o sofisticado
ancorados nas noes-imagem correspondentes - terra, sade
ou beleza, distino - onde se pode facilmente ver os campos
semnticos que eles geram to abundantemente entre nossos con-
temporneos. E diferentes tipos de leis (mdicas, patrimoniais,
etc.) sero aplicveis de acordo com cada um desses temas, desde
as regras de consumo que so deles derivadas, at a mul-
tiplicidade de imagens e sentidos que isso produz. Desse ponto de
vista, o interessante medir como representaes alimentares,
ndices de novas categorizaes do social, so constantemente re-
compostas; como limites nas apresentaes scio-histricas so
subvertidos; e, finalmente, como algumas representaes possu-
em um impacto direto nas mudanas em prtica; esquematiza-
es ativas do sentido comum, mas tambm chaves para compre-
ender o que na anlise de cada uma de nossas representaes
apresentado como as condies para o estabelecimento de uma
verdade comum. Toda representao social somente pode ser
analisada em termos de uma trajetria icnica e lingstica, ascen-
dendo a uma fonte (as idias-fonte) e ao mesmo tempo procuran-
do normatizar na direo descendente na forma de campos se-
mnticos e esquemas demonstrados, facilmente transmitidos. Ten-
tamos recapitular essa arquitetura operativa na figura 4.2.
Figura 4.2 dos temas de representaes sociais
TEMAS: arqutipos (memria coletiva ou residual)
246
Propriedades essenciais e genricas atribudas a classes de objetos no mun-
do determinaes e disposies de intenes
Expresses em NOES
Na forma de TEMATIZAES cognitivas (noemas falados e topoi
argumentativos, lugares comuns, exemplos)
ESQUEMAS cognitivo-culturais que organizam ANCORAGENS situacionais na
forma da LEIS (senso comum)
CAMPOS SEMNTICOS comportando REPRESENTAES OBJETIVAS atravs
da aplicao de REGRAS derivadas de LEIS (senso comum aplicado)
Chaves interpretativas que organizam nossas CATEGORIZAES cognitivas e
culturais
princpios
projetivos
ESQUEMATIZAES DISCURSIVAS
JOGOS ARGUMENTATIVOS
REPRESENTAES SOCIAIS
NEGOCIAES NAS RELAES EU-OUTRO
PRINCPIOS
APLICATIVOS
regras
mximas
cognies crenas
culturas
247
5 Caso Dreyfus, Proust e a Psicologia Social
Sem dvida, alguns vo achar o titulo desse trabalho ridculo,
outros o iro considerar arriscado, mas todos o acharo esquisito.
Se voc estiver curioso por saber por que ele esquisito, vai logo
se dar conta de que porque as palavras familiares psicologia so-
cial so empregadas ligadas a algo que est longe de ser familiar.
Seria suficiente substitu-las ou por histria, ou psicanlise
para se livrar do esquisito e tornar a associao normal. Contudo,
isso pode parecer desconcertante, fui tolerante, durante algum
tempo, em no apresentar nenhuma anlise, nem nenhuma crti-
ca, mas Gedanken experiments
7
(experimentos de pensamento)
sobre personagens e grupos fictcios presentes no mundo da lite-
ratura. Por que isso? verdade que alguns novelistas franceses,
como Michel Butor (196o), ou historiadores, especificamente Ge-
orges Duby (1961) e Jacques Le Goff (1974), defenderam que a psi-
cologia social absolutamente necessria, caso queira algum
compreender a fico e a histria em sua profundidade. E eles no
hesitam em utilizar-se disso em seu trabalho. Um historiador dos
EE.UU., James Redfield, declarou h pouco que, a fim de interpretar
a Ilada, seria bom conhecer a psicologia social de Homero. Isso seri-
a, sem dvida, uma tarefa difcil. E o historiador ingls M.I. Finley,
discutindo a mudana de atitudes com relao ao mundo antigo,
acusa a maioria de seus colegas de negligenciar o papel desempe-
nhado pela psicologia social: A maioria dos historiadores, es-
creve ele, tem vergonha das explicaes psicolgicas para tal
mudana, em parte por um medo compreensvel da retri ca mora-
lizante que decorre como conseqncia e em parte por ignorncia
e desconfiana da psicologia social, mas na maioria das vezes de-
vido a tradies profissionais enrijecidas (Finley, 1983: 120).
Eles no so os nicos e, acrescentaria, nem sua culpa.
A razo disso, e esse outro fato, que os psiclogos sociais
7
As idias desse artigo foram primeiramente apresentadas em uma conferncia no semi-
nrio geral da New School for social Research, Nova lorque.
251
248
no compartilham desses interesses. Dito com mais preciso, eles
relutam em devotar seu tempo e habilidades a tais empreendi-
mentos. Mas no necessitamos espantar-nos. No pretendo criti-
car meus colegas, cujas motivaes entendo perfeitamente bem,
principalmente porque a maioria deles, vivendo nos EE.UU., tema
sorte de possuir uma ampla comunidade cientifica e uma vasta
audincia, correndo, desse modo, menos riscos de ser atrados ou
contaminados pelas preocupaes das disciplinas afins. Na Euro-
pa, como todos sabemos, os limites so menos ntidos e a presso
para responder As mesmas perguntas gerais so muito mais for-
tes. De qualquer modo, fica-se intrigado pela possibilidade de ex-
pandir nossas indagaes para as reas, digamos, da literatura ou
arte, histria ou cultura, do mesmo modo como isso intriga socilo-
gos, an- troplogos e, certamente, psicanalistas. De qualquer mo-
do, uma coisa certa. Existem menos chances de que os achados
de uma cincia possam criar um grande alvoroo ou ter muitas con-
seqncias, se ela volta as costas ao que acontece nessas reas. Por
no to- mar parte em sua vida mental, ela no se comunica com
outras cincias e permanece uma disciplina de menor importn-
cia.
Voltemos aos nossos Gedankenexperiments. Eles podem ter
trs diferentes finalidades. A primeira, trazer cena teorias psi-
cossociais existentes em lugar das teorias ad hoc excogitadat
por crticos literrios, historiadores, ou socilogos, para explicar
as relaes humanas, os sentimentos ou o comportamento mos-
trado em novelas ou em peas teatrais. Pode-se estudar a dinmi-
ca dos grupos imaginrios exatamente como se fossem grupos
concretos. Em segundo lugar, toda pequena histria, novela ou
pea teatral contm um protocolo de observaes feitas pelo au-
tor sobre uma classe de pessoas, eventos sociais importantes o
referencial mental de um perodo. E cada um desses protocolos
inclui, eu percebo, uma teoria psicolgica e social que no foi expli-
citada. Conseqentemente, ela nos fornece um ponto de partida
que nos ajuda a explicit-la - como pude me convencer recente-
mente com respeito psicologia da liderana e das massas Coun-
try Doctor de Balzac.
Ns somos ajudados, nessa tarefa, pelo prprio autor quando
apresenta alguns fragmentos de sua teoria. Por exemplo, em War
and Peace, Tolstoi inclui um ensaio concreto sobre o papel das
massas e dos grandes homens comprometidos com uma ao co-
249
mum
8
. E ele ope sua teoria s teorias dos pensadores de seu tem-
po. Por favor, notemos que no estou dizendo que devemos consi-
derar a teoria de um artista do mesmo modo que a teoria de um ci-
entista. Elas no so, obviamente, do mesmo tipo. A teoria do cien-
tista uma forma que organiza os fatos em uma ordem to geral
quanto possvel. A teoria do artista um contedo com o qual ele
constri seus personagens e situaes dispondo-os de tal forma
em uma ordem peculiar que nos faz dizer: Esse um mundo de
Stendhal, ou de Balzac, de Dickens ou de Hemingway. Podemos,
contudo, reconstruir, por assim dizer, a teoria do artista e, ao assim
proceder, descobrir um prospecto, problemas e solues que
no foram antes pensados por cientistas. Eles ainda no foram pen-
sados, na verdade, porque o escritor permite-se levar suas idias
s ltimas conseqncias e incluir em sua fico o que ns exclu-
mos de nossas teorias, isto , a morte. As pessoas morrem nas
novelas e nas peas teatrais, mas no morrem nas teorias cien-
tificas e isso produz uma diferena.
Em terceiro lugar, d-se o caso que eu chamo de misto, de
uma teoria que tem sua origem na cincia e subseqentemente
transformada pela ao da arte, por exemplo, a psicologia da massa.
Em um primeiro perodo, podemos descobrir descries e ex-
plicaes do comportamento e da vida mental das multides antes
que a cincia fosse constituda. H, nas obras de Balzac, Flaubert,
Maupassant ou Tolstoi, para mencionar apenas as que conheo,
reflexes extraordinariamente elaboradas desses fenmenos (cf. Mos-
covici, 1983). Depois, uma vez que a cincia tenha sido estabele-
cida, percebemos que a teoria da psicologia da massa foi filtrada
nas novelas escritas pelos maiores escritores alemes de Mann a
Musil (cf. Moscovici, 1985). Alguns deles e no os menos impor-
tantes escreveram tanto ensaios sobre sua teoria, como a toma-
ram como contedo de suas novelas. suficiente mencionar os
nomes de Canetti e Broch (Moscovici, 1984). O ltimo engendrou
uma concepo original completa da psicologia da massa, pois ele
estava convencido da necessidade poltica e histrica de tal psico-
logia:
8
Em War and Peace. Tolstoi ope Napoleo e Dutuzov, os dois tipos de lideres que defini
em The Age of Crowd (Moscovici, 1935) como totmicos e mosaicos.
250
Para realar esses momentos irracionais, escreve ele, da
esf era do mero instinto, a fim de torn-los racionalmente
perceptveis e com isso coloc-los a servio do progresso humano,
tal ser a nova tarefa poltica da Cincia. As novas verdades polticas
tero seus f undamentos no psicolgico. A humanidade est
prestes a deixar o perodo econmico de seu desenvolvimento e
entrar no seu perodo psicolgico (Broch, 1979: 42).
No dever haver dvida quanto a isso: essas palavras no
perderam nada de sua fora e atualidade. Mas a concepo de psi-
cologia de massa construda por Broch no permaneceu confinada
a seus ensaios. Ns ainda a encontraremos, por assim dizer, trans-
figurada em suas novelas, especificamente em The Death of Virgil,
que contada entre as obras de arte da literatura alem contem-
pornea. De tal modo que Hannah Arendt tinha razo quando es-
creveu sobre ela: Por detrs da novela em que ele estava traba-
lhando e que ele considerava como totalmente suprflua [...] esta-
va o busto da psicologia da massa (Arendt, 197o: 115-116). Estou
completamente convencido de que os psiclogos sociais iro en-
contrar, em tais ensaios e nas novelas que tomam delas sua inspi-
rao, muitas idias seminais que podem ser testadas. Mas, alm
dessa possibilidade, uma anlise absolutamente necessria para
nos fazer compreender um dos fenmenos capitais da histria
contempornea. Eu estou aludindo ao que Thomas Mann chamou
de popularizao do irracional (Mann, 1977). Na primeira metade
desse sculo ns testemunhamos, comeando pela cincia e de-
pois penetrando na literatura, a difuso de uma psicologia das
massas e dos lideres. Essa viso da psique humana teve conse-
qncias na poltica e na cultura que so muito tangveis (Berlin,
1981; Cassirer, 1946).
bem verdade, esses trs propsitos no so to disti n-
tos como os apresentei para fim de anlise e no podemos com-
preend-los separadamente. Tudo depende da pergunta que al-
gum se coloca sobre a obra literria e o quanto se considere que
ela corresponda a uma realidade especifica social ou histrica.
Espero, contudo, que tenha justificado a introduo das palavras
psicologia social em meu titulo e tenha feito com que vocs te-
nham esquecido o carter incongruente que elas podero ter mos-
trado primeira vista.
1. Por que o caso Dreyfus e por que Proust?
251
Vejamos agora por que o caso Dreyfus e por que Proust. Gran-
des tempestades, grandes descargas de energia humana, grandes
rupturas de tenso na sociedade permanecem opacas aos con-
temporneos e so vistas sob sua verdadeira luz somente depois de
algum tempo. Mas seu enigma nunca parece ter uma soluo inques-
tionvel. isso que os torna fascinantes, que pode durar por um lon-
go tempo. O caso Dreyfus foi uma dessas grandes tempestades, uma
que rompe a tenso cujo enigma continua a nos fascinar quase um
sculo depois de acontecido. Vou sintetizar o caso Dreyfus breve-
mente. Devido semelhana entre dois manuscritos, o capito Drey-
fus, um oficial de carreira, foi acusado de vender informao militar
confidencial aos alemes. Depois de um julgamento sumrio, foi con-
denado ao degredo e transportado Guiana Francesa em 1894. Em
1896, outro oficial francs foi acusado de ser o verdadeiro culpado,
mas foi perdoado. Esse foi o inicio do caso Dreyfus. Em seu Souvenirs,
Leon Blum nos d uma idia disso quando escreve: O caso foi uma
crise humana, no de to amplas conseqncias, nem to prolongada,
mas to violenta como a Revoluo Francesa ou a Grande Guerra
(Blum, 1982: 35). Ele convulsionou o cenrio poltico da Frana, con-
sagrou as novas relaes sociais na Terceira Repblica e trouxe
tona a nova figura do nacionalismo moderno e do anti-semitismo. A
coisa to bvia e to bem conhecida que no vejo o que poderia
acrescentar ao que de conhecimento comum.
Muitos livros foram escritos para discernir a verdade da falsi-
dade e para reconstruir o julgamento Dreyfus. Outros tentaram des-
crever e analisar a condio da sociedade francesa no tempo do acon-
tecimento, uma sociedade em que se travou uma das batalhas ideo-
lgicas e polticas mais ferozes do sculo dezenove. Mas que eu saiba,
nenhum deles se dedicou a analisar o movimento Dreyfus, iniciado
por uma minoria, um pequeno grupo de homens corajosos e hones-
tos. Gramsci foi uma das poucas pessoas que percebeu que esse um
tipo ideal de movimento da sociedade contempornea: H outros
movimentos histrico-polticos do tipo Dreyfus que podem ser en-
contrados, que so certamente no revolues, mas que tambm no
so inteiramente reacionrios Limas que indicam que havia foras
latentes efetivas na antiga sociedade que os antigos lideres no sou-
beram explorar (Gramsci, 1971: 223). No se faz muito para com-
preender a natureza de tais movimentos. E possumos poucos estu-
dos histricos e sociolgicos sobre as minorias que os promovem.
Mas, para algum que est interessado, como eu, sobre sua psicologia
social (Moscovici, 1976), difcil imaginar um caso mais iluminador
252
que o caso Dreyfus e uma minoria ativa mais exemplar que a que pri-
meiramente levantou o problema, depois o levou vitria. Outra
coisa que no deve ser esquecida, muito ao contrrio, que muitos
documentos sobre o caso so acessveis.
Isso no tudo. Os escritos sobre o caso Dreyfus em que esses
documentos so recolhidos e analisados esto interessados com as
grandes batalhas polticas e ideolgicas e com os acontecimentos
mais importantes do julgamento. Mantendo determinada tradio,
eles no mencionam a reao dessas batalhas e acontecimentos so-
bre a vida coletiva, sobre as vrias relaes tangveis que foram esta-
belecidas ou enfraquecidas entre os grupos e as pessoas nessa ocasi-
o. Refiro-me especialmente s relaes estabelecidas ou enfraque-
cidas entre a minoria pr-Dreyfus
9
e a maioria anti-Dreyfus. Uma
ilustrao desse tipo de estudo foi oferecida pelo historiador francs
Le Roy Ladurie (198o) em seu livro sobre a caa s heresias no sudo-
este da Frana, onde ele mostrou quo importantes so essas rela-
es tangveis para uma correta compreenso dos fenmenos hist-
ricos e sociais. Com os documentos acessveis, poder-se-ia, com o
mesmo mtodo, reconstruir a vida coletiva durante o caso Dreyfus.
Poder-se-ia, digo, se isso no tivesse sido feito em grande parte por
alguns poucos escritores. Entre os melhores desses escritores temos
de colocar Marcel Proust, que o fez com suprema arte e inigualvel
profundidade. Na verdade, ele o fez duas vezes, primeiro em Jean
Santeuil, no qual diversos captulos constituem um protocolo de ob-
servaes similares quelas a que aludi, tanto sobre o julgamento,
como sobre as reaes que ele acarretou; depois, mais visivelmente,
em Remembrance of Things Past, em que esse protocolo recriado
por uma reflexo mais ampla e, se pudesse dizer, mais terica. No h
dvida que uma fico, mas uma fico cum fundamento in re (com
fundamento na realidade). Ela se mantm prxima realidade his-
trica pois, como foi notado, Proust aparece como o maior histori-
ador dos costumes da Terceira Repblica que tivemos at hoje (De-
lhorbe, 1932: 87).
Como pr-Dreyfus e como judeu, por isso duplamente um
membro da minoria em questo, Proust quis recapturar a vida ps-
9
No francs foi cunhado o termo Dreyfusard para i ndi car os si mpati zantes e defensores de
Dreyfus. Traduzi mos o termo Dreyfusard por pr-Dreyfus contrapondo-o assi m a anti-Dreyfus j
empregado no texto (N. do trad.).
253
quica e social das pessoas que, com ele, acompanharam o evento -
um evento em que ele foi, desde o inicio, tanto testemunha como
ator. Sabemos que Proust esteve entre os primeiros escritores (Char-
le, 1977) - escritores marginais, na verdade (Reberioux, 1976; 1980)
- que defenderam a reconsiderao do julgamento do Capito Drey-
fus e tentaram convencer outros a se juntar a eles. Sua correspon-
dncia mostra quo profundamente o escritor estava interessado no
caso e nas suas conseqncias e tambm com os aspectos grosseiros
e intolerveis de homens e da sociedade em geral que ele revelou.
Seja como for, sua novela tanto um protocolo preciso e uma riqueza
de teorias que nos fazem compreender as relaes e aes de seus
personagens sob aquelas dramticas circunstncias. Embora nunca
se coloque como o narrador em sua histria, imediatamente os lan-
ces assumem o carter de verdade histrica e realidade. As pessoas
muitas vezes falam erroneamente: mais verdadeiro que a vida. Com
relao a Proust, essas palavras so plenamente justificadas. Lendo
as partes de Remembrance of Things Past dedicadas ao caso, compre-
endi por que Leon Blum pode coloc-las entre as obras-primas da
literatura pr-Dreyfus, ao lado de Jacuse, de Zola, M Bergeret Paris,
de Anatole France, e Journal, de Jules Renard, bem como Preuves, de
Jean Jaurs. Proust expressa, do mesmo modo que esses escritores,
uma paixo que inteira e uma convico desprovida de qualquer
complacncia.
Todo leitor de Proust est familiarizado com nomes como Al-
bertine e Charlus, sabe que existe um estilo Swann e um estilo Guer-
mantes. O que dizer do caso Dreyfus? O leitor tem uma impresso
que ele mencionado apenas de passagem como um episdio soma-
do a muitas tramas e acontecimentos. Mas eu defendo que essa im-
presso no suficientemente acurada. Primeiro, consideremos que
o caso discutido no meio da novela, fica-se tentado a dizer em seu
centro. Isso indicado pelo prprio Proust em uma carta a madame
Strauss, uma amiga de longa data, que acompanhou sua publicao
enferma em seu leito. Afinal, sabia ela dos tipos de personagens em
sua novela, que era, de certo modo, a histria de sua vida? Aqui est o
que ele lhe escreveu em 1920:
O que me aborrece sobre esse estilo Guermantes que ele
parece to anti- ou pr-Dreyfus, por acaso, por causa dos
personagens que nele aparecem. verdade que o volume
seguinte to pr-Dreyfus que ele ser uma compensao,
porque o prncipe e a princesa de Guermantes so pr-
Dreyf us, do mesmo modo que Swann, embora o duque e a
254
duquesa no o sejam.
No vou tecer comentrios sobre esse to estranho relato de um
escritor sabre os personagens que criou. Sim, na verdade em The
Guermantes Way e Cities of the Plain que o episdio a maior parte
das vezes mencionado, colorindo os caracteres e suas relaes. Ele
pertence trama central, por assim dizer
10
. A fim de tomar p e ter
acesso ao centro do mundo proustiano, temos primeiro de descobrir
sua fora diretora. Essa fora, contudo, a gravidade peculiar ao uni-
verso proustiano, que atrai e repele os personagens entre si, no
nem o poder, nem o status social, como nos universos de Balzac ou
de Zola: o reconhecimento social. Father Goriot, de Balzac, termina
com essas palavras: Como primeiro ato do desafio que ele estava
enviando sociedade, Rastignac foi jantar na casa de Madame de
Nucingen. Essa uma frase que Marcel Proust nunca teria escrito.
No que seus personagens no se interessem em jantar fora - muito
pelo contrrio. Mas esse ato, com toda a consagrao burguesa que
traz consigo, possui um significado totalmente diferente para eles.
Poder, dinheiro, status social no possuem valor nenhum a seus o-
lhos. Eles so valorizados apenas enquanto permitem que sejam re-
conhecidos pelas pessoas com as quais eles desejam se relacionar e
que as consagrem como tais. Qual o valor em ser um renovado cien-
tista, um artista talentoso, ou um homem frente do estado, se ele
no eleito para uma academia, recebido em certos sales ou convi-
dado a uma festa dada por um ou uma hspede de muito glamour?
Esse fenmeno particularmente evidenciado nas esferas mais altas
da sociedade; na verdade, nenhuma classe social est isenta disso - a
novela mostra isso tanto entre burgueses como entre os servos.
Proust supe uma vontade de reconhecimento que to forte
como a vontade de poder de Nietzsche. Para ser socialmente con-
sagrado, todos so capazes de herosmo, abnegao ou baixeza. No
uma fachada, mas uma tendncia fundamental, uma busca. A busca
muito arriscada e o reconhecimento lento em chegar Se os grupos,
10
claro que os criticas literrios no deixam de mencionar o caso Dreyfus quando
discute Proust. Depois de ler muitos del es, estou inclinado a acredi tar que eles compreen-
deram a influncia do caso sobre sua vida melhor que sobre sua obra A partir de seus
escrita temos, as vezes, a sensao que esse importante acontecimento sucedeu prximo a
ele, sem atingi-lo como um homem, semi-judeu e como um artista. Os que o mencionam
relutam em insistir tambm e exami nam timidamente suas idi as sobre o caso. Ver Del-
horbe (1932), R.L. Kopp (1971); 3.M. Cocking (1982).
255
dos quais se espera que venha, continuam mudando a toda hora.
Apesar das aparncias, os universos de Balzac e Zola so estveis, ou
procuram a estabilidade, depois das sublevaes da Revoluo Fran-
cesa e do Imprio, ou das perturbaes do sculo dezenove; o mundo
de Proust um mundo em transforma-co. Os grupos e as ordens
sociais continuam sendo insensivelmente feitos e refeitos. Os cata-
clismos esto em ao nas profundezas. Ao contrrio dos acidentes
da histria, eles evocam as sublevaes da cosmologia, quando o
nico lao entre o antes e o depois a permanncia de um nome:
Swarm, Guermantes ou Charlus. Portanto, o reconhecimento no est
nunca definitivamente garantido, seguro. A todo momento temos de
lutar para mant-lo novamente. Na verdade, como Max Weber escre-
veu: O reconhecimento um dever. Isso significa que a pessoa que
o busca tem de conseguir toda qualidade fsica ou psquica necessria
e preencher os requisitos estabelecidos pela sociedade. A questo
colocada s pessoas e gravada nas mentes daqueles que se engajam
nessa constante busca foi ironicamente expressa por Proust, em um
humor shakespeariano: A questo no , como para Hamlet, ser ou
no ser, mas pertencer ou no pertencer (en tre ou ne pas en tre)
(G 231)
11
. Essa questo marcante, que ele formulou no contexto
particular da homossexualidade, surge sempre de novo sob vrios
disfarces na novela. Ela nos faz sentir em poucas palavras o dilema
com o qual nos deparamos vivendo com e entre outras pessoas pois,
como escreve ele: Elas so todas manteiga e mel para as pessoas s
quais pertencem e no possuem palavras suficientemente ms para
aquelas a quem no pertencem (G 231)
12
.
impossvel traduzir mais clara e sucintamente nossa maneira
de comportar-nos em sociedade. Para responder a essa questo (que
de crucial importncia para a psicologia social, como sabemos),
Proust introduziu em sua novela uma teoria do fluxo humano. Como
11
M. Proust, Remembrance of Things Past, traduzido por C.K. Scott-Moncdeff (Londres:
Ghana & Windus,1925). As citaes so retiradas dessa edio principalmente em The Guer-
mantes Way (indicado pel a letra G nas pginas incidentalmente citadas) e Cities of the Plain
indicadas pela letra C)
12 No de se admirar que a busca de reconhecimento social tenha assumido tal impo rtn-
cia para Proust, pois ele o desejo de toda mi noria (ver Moscovici.1976). Ele mesmo mem-
bro de trs minorias como um judeu, um homossexual e um pr-Dreyfus, experimentou e
viu as relaes sociais desse trplice ponto de vista.
13 Na verdade a teoria da recombinao social dos indivduos e grupos em busca de um
reconhecimento que estou apresentando aqui mais geral que as teori as de estratificao
ou diferenci ao social. Ela pressupe um constante movimento e mobilidade na sociedade,
enquanto que aquelas teorias consideram a sociedade como uma espcie de molde, ou sis-
tema, em que os indivduos e a grupos esto meramente situados um em relao ao outro.
256
em um mao de cartas, as pessoas so embaralhadas e separadas,
colocadas parte e juntadas, de tal modo que as maiorias e as mino-
rias ou desviantes (nesse caso os pr-Dreyfus, judeus e ho-
mossexuais) so criados. Proust est consciente, e o diz vrias vezes,
de que ele esboou uma teoria desse fluxo. E somos autorizados a v-
la como a verdadeira estrutura de sua novela. Mas sua viso de arte o
probe de explic-la detalhadamente como um Tolstoi ou um Zola
teriam feito: Uma obra em que h teorias semelhante a um objeto
com a etiqueta do preo ainda nele presa, escreve ele habilmente em
Time Regained (882). A melhor maneira de defini-la seria dizer que
uma teoria do fenmeno da recombinao social dos indivduos
nesse fluxo. Ela permite que se qualifiquem para um determinado
meio, de tal modo que pertenam a ele, en tre. Como uma recombi-
nao gentica, da qual emprestei a denominao, ela associa ao in-
divduo alguns traos que no foram originalmente reconhecidos,
conforme seja ele conduzido atravs da sociedade junto com a maio-
ria, ou posto de lado junto com a minoria. Ele se toma assim diferente
do que era. Nesse caminho os grupos mudam seus componentes,
mesmo que algumas vezes incluam as mesmas pessoas. importante
lembrar uma coisa: o fluxo continuo e nunca congela em camadas
estticas, diferenas ou relaes
. Devemos ter presente, observa
Proust, que as opinies que temos uns dos outros, nossas relaes
com amigos e familiares no so de forma alguma permanentes, sal-
vo na aparncia, mas so eternamente fluidas como o prprio mar
(G 37o).
At mesmo a identidade de um indivduo nunca dada de uma
vez por todas, pois ela depende da percepo que outras pessoas tm
dele: No somos, nota o escritor, um todo materialmente constitu-
do, idntico para todos, que cada um de ns pode examinar como
uma lista de especificaes ou um testamento: nossa personalidade
social uma criao do pensamento de outras pessoas (Swanns
Way 23). Aqui est o exemplo banal de tal recombinao. Quando
Swann decide deixar a maioria, separar-se de seu meio anti-Dreyfus
e aproximar-se da minoria, em sntese, tornar-se um pr-Dreyfus,
testemunhamos sua metamorfose tanto mental como fsica. Ele a
assume com alivio e gratido, tambm com alguma resignao. No
processo se misturam, junto com suas atitudes de gentleman, sua
maneira polida de falar e comportar-se, algumas caractersticas e
gestos j esquecidos e at mesmo nunca experienciados de seu pas-
sado judeu, at que ele se transforma em outra pessoa a seus pr-
prios olhos e aos dos outros. Retornaremos a esse ponto posterior-
257
mente.
Falei de uma teoria de recombinao social inspirada nas ob-
servaes que se podem fazer sobre as relaes entre maioria e mi-
noria no decorrer do caso Dreyfus. Permitam-me que agora coloque
seus princpios. O primeiro que, sempre que lidamos com uma mi-
noria divergente, a sociedade apresenta contra ela e contra seus
membros um veredicto antes de qualquer julgamento. Desse modo,
nunca se supe que eles sejam inocentes, nem podem eles se justifi-
car ou se defender. Em M Bergeret Paris, de Anatole France, Maxu-
re, um dos personagens, coloca claramente esse principio: Eu sou
um patriota e um republicano. Se Dreyfus inocente ou culpado, eu
no sei. No me importo, no meu problema. Ele pode ser inocente.
Mas os pr-Dreyfus so certamente culpados. Por que isso assim?
Por que nunca se supe que os membros de uma minoria sejam ino-
centes, mas sempre culpados? Simplesmente porque eles tomaram
uma posio dissidente, no caso pr-Dreyfus, que os associa de ime-
diato a um crime contra a sociedade. E tal crime no admite escu-
sas
13
. Ns perdoamos os crimes dos indivduos, escreve Proust,
mas no sua participao em um crime coletivo (G 2o4). Uma vez
admitido tal principio, compreendemos por que os personagens de
Proust, como os de Kafka nesse ponto, so considerados culpados
quando acusados. E em nenhum lugar em Remembrance of Things
Past consegui ver uma nica passagem em que um Saint-Loup, um
Bloch, ou um Swain explique a seu acusador por que ele se tornou
um pr-Dreyfus.
O segundo principio vincula uma oposio estrita, diria mesmo
clssica, entre sociabilidade pblica e sociabilidade privada. Na pri-
meira, as pessoas so os smbolos de uma famlia, classe, nao, ou
mesmo de uma empresa financeira, etc. Em cada uma de suas rel a-
es, o que eles parecem ser mais importante do que o que eles so.
Mas claro que voc deve julgar apenas pelas aparncias, j tinha
escrito Proust em Jean Santeuil. Os indivduos no so seres inde-
pendentes que modelam seus prprios destinos e confrontam uma
sociedade cujos valores eles so livres de aceitar ou rejeitar. Insepa-
13
A recusa em perdoar um crime coletivo tem sua provvel origem na teoria da conspira-
o. O i ndivi duo concreto ou suposto, aderi ndo a uma gangue de cri minosos, assume
todos os crimes cometidos por seus cmplices, tenha ou no participado deles.
258
rveis de seu meio - seja o etilo Swann ou o estilo Guermantes - eles
so moldados por regras e normas com relao s quais eles se defi-
nem. Se acontecer de se tornarem vtimas da indeciso ou terem de
fazer uma escolha - veremos daqui a pouco a importncia psicolgica
disso - o repertrio de regras e normas que ir ditar suas decises e
guiar suas escolhas. Na sociabilidade privada, por outro lado, os indi-
vduos so caracterizados por sua habilidade em corporificar ou do-
minar os smbolos, sua habilidade em transgredir as regras e normas
com a cumplicidade de outros. Eles so assim vulnerveis paixo e
ao sofrimento, formam laos preferenciais de amizade, caem doentes
e at mesmo cometem a indecncia de morrer. Portanto, o individual
aparece como uma sucesso de estados particulares cuja unidade
existe apenas na e pela memria. Para resumir o assunto, eu diria
que a sociabilidade pblica pertence dimenso do espao e a so-
ciabilidade privada, dimenso do tempo. A oposio implica, obvi-
amente, que algum pode ser um pr-Dreyfus ou um anti-Dreyfus
apenas na esfera pblica. Na esfera privada tal oposio totalmente
sem sentido.
Estamos nos aproximando agora do objeto concreto de nossa
investigao, que tende a mostrar como esses dois princpios con-
formam a recombinao de indivduos e grupos na sociedade. Diga-
mos, de imediato, que o movimento possui um carter cclico. A soci-
edade recombina seus membros atravs de ciclos que so anlogos
aos ciclos comerciais. Cada ciclo comea e termina com um grande
evento: o caso Dreyfus ou a Grande Guerra, nos quais Proust est
interessado. Seguiremos agora os passos pelos quais os pr-Dreyfus
so empurrados para a posio minoritria, enquanto os anti-
Dreyfus so concentrados e empurrados para a posio majoritria.
Uma coisa marcante: o primeiro ciclo descrito por Proust no um
ciclo de expulso. Os apoiadores do Capito Dreyfus no so orienta-
dos do interior para o exterior, nem submetidos abertamente a pres-
ses a fim de novamente se conformar. um ciclo daquilo que cha-
marei de deslocamento, que traz os membros da minoria dissidente
do universo pblico para o universo privado da sociabilidade. Por
conseguinte, como membros da minoria dissidente, eles no se trans-
formam em pessoas de fora, mas, pelo contrrio, em pessoas de den-
tro. Proust nos d uma pista para isso com breves palavras sobre a
opinio da duquesa sobre Swann, uma vez que ele se tornou um pr-
Dreyfus: Ele no estava correndo nenhum risco de ter de falar publi-
camente com o pobre Carlos, a quem ela gostaria de afagar priva-
259
damente (C 63). Portanto, os pr-Dreyfus continuam a subsistir nos
interstcios da vida social sem existir ali plenamente, de acordo e ao
mesmo tempo visveis e invisveis. Eles so exatamente como as pes-
soas deslocadas depois da Segunda Grande Guerra. Tudo acontece
exatamente como se uma conveno tcita implicasse que, se a mino-
ria individual fosse deixar o grupo em conjunto, toda esperana de
juntar-se a ele novamente, algum tempo depois, estaria perdida para
sempre e desapareceria de vista. Como a natureza, a sociedade deve
ser suficientemente cuidadosa para manter toda possibilidade exis-
tente para posteriores combinaes no imaginadas no futuro. Se ela
exclusse alguns indivduos, no seria ela mesma e no poderia so-
breviver a essa perda. Podemos tambm pensar em um cozinheiro
que no joga fora sobras de comida, mas as conserva para uso poste-
rior.
Algum poder certamente perguntar: o que implica o deslo-
camento? Ele acarreta uma perda de reconhecimento social com
todas suas conseqncias danosas para aqueles que foram to as-
sduos em busc-lo. Pode-se imaginar que essa perda no a mesma
para todos. Ela afeta cada indivduo ou categoria em proporo ao
que eles tm de renunciar, ou ao que o grupo retira deles. Seguire-
mos assim esse deslocamento passo a passo. Isso nos permitir ver a
relao entre um indivduo que fica com a minoria e sua perda de
reconhecimento social. Veremos tambm as conseqncias psquicas
do deslocamento na vida coletiva de homens e mulheres na novela de
Proust.
Vejamos primeiro aqueles que pertencem e participam no gru-
po, isto , a aristocracia, como Robert de Saint-Loup. Um nobre e um
oficial militar, ele est convencido da inocncia de Dreyfus e no faz
segredo de sua opinio. Mas como ele pertence a uma famlia muito
antiga, como pertence a le monde, sua posio pblica tratada como
uma opinio privada, quase como uma moda. Ele evita contar isso a
seus colegas oficiais, com uma nica exceo. E eles o cercam com
silncio a fim de evitar qualquer choque Quando a conversa se toma
geral, eles evitam toda referncia Dreyfus com medo de ofender Sa-
int-Loup (G 156). Ele, contudo sente o impacto de sua opinio so-
bre sua situao nesse ambiente. Em certo sentido, as pessoas ten-
tam disfarar e desculp-lo. Eles atribuem assim sua opinio pr-
Dreyfus a uma causa indireta e no a sua reflexo e convico. Isso
coerente com um mecanismo sociopsicolgico muito conhecido. A
causa poderia ser Rachel, uma atriz judia que sua amante: H uma
260
moa, uma esposa do pior tipo: ela tem muito mais influncia sobre
ele que sua me e d-se o caso de ela ser compatriota do Mestre
Dreyfus. E passou seu ponto de vista a Roberto (G 323). Outra ex-
plicao sua opinio sua pretenso de rebaixar-se ao tornar-se a-
migo de intelectuais. Sim, naquele tempo os pr-Dreyfus eram de-
preciados sendo tachados de intelectuais, o pior insulto na boca de
aristocrata ou mesmo de um burgus.
Ambas as razes no justificam ainda o fato de se ter tornado
vulnervel causa dissidente: Roberto no o nico nobre e oficial
com uma amante judia, ou amigos que so escritores. Uma outra
razo , pois, buscada e encontrada na etimologia do nome de sua
me, ela prpria uma feroz anti-Dreyfus. Ela chamada de Mme. de
Marsantes, que interpretado como Mater semita (me judia). A
etimologia contm uma traduo errada, pois semita escreve
Proust, significa caminho e no semita (G 241 verdade, ningum
d a isso muita importncia e percebe-se meramente um jogo de
palavras que tambm um jogo da sociedade. Mas o jogo permite
que as pessoas desloquem
Roberto que inquestionavelmente um
deles e o empurrem para a periferia da esfera pblica, privando-o
assim do reconhecimento social. Ao menos o acesso ao centro difi-
cultado a ele. Desse modo, ele impedido de ser eleito um membro
do Jockey Club, como ele deveria ter sido por direito, como seu pai
antes dele. O duque de Guermantes aponta a causa de seu ostracis-
mo: Que se pode esperar, meu querido, isso o atingiu na ferida, esses
companheiros: eles esto todos em cima disso [...] mas azar deles,
quando algum se chama Marquis de Saint-Loup, esse no um
pr-Dreyfus - que mais posso dizer? (G 253) Na verdade, o porta-
dor de tal nome professando ser um pr-Dreyfus seria deslocado no
corao de uma boa sociedade.
Temos depois indivduos que pertencem ao grupo, mas geral-
mente no participam dele. O caso menos evidente que o primeiro.
Odette, mulher de Swann, uma dessas pessoas. Ela poderia perten-
cer, pois ela francesa e possui o status social exigido. Mas as pessoas
relutam em permitir que participe porque ela era uma mulher ftil,
uma cocotte, como dizem os franceses. E tambm porque Swann
um judeu e, alm disso, um pr-Dreyfus. Suas prprias opinies anti-
Dreyfus poderiam abrir-lhe muitas portas, se seu marido no atrapa-
lhasse. Desse modo ela colocada entre parnteses, isto , tratada
na esfera pblica como uma pessoa privada seria ali tratada. As re-
gras em vigor se aplicam a ela de acordo com circunstncias e situa-
261
es particulares - quero dizer, arbitrariamente. Ela levada a sentir
que nunca est no lugar em que deveria estar, como em um jogo de
cadeiras musicais, exatamente como o caso de uma mulher comum
de um nobre, ou de uma amante. As vezes, as pessoas a convidam,
outras a evitam. De qualquer modo, eles sinalizam sua presena a
outros, deixando-os livres para escolher como se comportar com
respeito a ela.
C
onseqentemente, Mme. de Villeparisis previne a
duquesa de Guermantes, que nunca gostou dela, que Odette vir visi-
t-la:
Escuta, disse Mme. de Villeparisis duquesa de Guerman-
tes, eu estou esperando, a qualquer momento, uma mulher
que voc no gostaria de conhecer. Pensei que seria melhor
preveni-la, para evitar algum mal -estar. Mas voc no pre-
cisa ter medo, eu no permitirei que ela retorne, eu apenas
estava obrigado a deix-la vir hoje. a mulher de Swann (G
346).
A festa da tarde na casa de Mme. de Villeparisis ser a ocasio
para o novelista fazer com que os muitos personagens de seu livro se
encontrem para realizar, por assim dizer, uma anlise espectral deles
luz do caso Dreyfus. Estamos, na verdade, nos aproximando do l-
timo caso que Proust ilumina profusamente com seu ilimitado gnio.
o caso dos judeus, ou semi-judeus, que no pertencem ao grupo,
mas participam plenamente dele. Eles, um Bloch, ou um Swann, por
exemplo, so empurrados para fora da esfera pblica para uma esfe-
ra privada. Eles se tomam, literalmente, pessoas deslocadas. Desses
personagens, Proust parece dizer o que Aristophanes disse de Alcibi-
ades em The Frogs: Um o ama, outro o odeia, outro ainda no pode
viver sem ele. Desse modo, o duque e a duquesa de Guermantes no
podiam ficar sem Swann. Para apoiar esse ponto de vista, menciona-
rei um fato histrico. A maioria dos judeus no se colocou a favor do
Capito Dreyfus. Eles aceitaram a sentena dada contra ele pela corte
militar como justa e final. Isso no impede as pessoas de tratar com
um Bloch ou Swann tanto como um pr-Dreyfus quanto como um
judeu. Consideremos apenas a situao: deslocar judeus e semi-
judeus, que problema! Ns sabemos disso atravs de uma conversa
concreta aconteceu entre Mme. Aubemon e outras senhoras de sua
classe social. Quando perguntada: Que faz voc com seus judeus?,
respondeu: Eu os mantenho. Sua resposta , contudo, mencionada
pelos historiadores como um exemplo e uma exceo.
267
262
Na verdade o deslocamento coloca muitos problemas scio-
psicolgicos e eu no estou muito seguro de que a cincia os tenha
resolvido, ou mesmo os tenha discutido satisfatoriamente. Na verda-
de, desde ento os judeus foram recebidos por toda parte e recebe-
ram, at mesmo, reconhecimento social, como Swann, foram assimi-
lados. Eles adquiriram os procedimentos, a aparncia fsica, os nomes
apropriados, em sntese eles aprenderam a ser como os outros
(Berlin, 1981: 258). As pessoas se esqueceram como eles pareciam
antes. Os prprios judeus os esqueceram depois de ocultar suas ori-
gens e obedecer s regras em vigor por um longo tempo. Se voc no
consegue descart-los primeira ento a semelhana entre judeus e
no judeus se toma enigma no contexto do caso Dreyfus ( a mesma
coisa com a sem entre homossexuais e heterossexuais e Proust reto-
ma a isso vezes). Como podemos discernir que uma pessoa que
voc, apesar disso no parece ser como voc? Como pode detectar
um judeu sob o disfarce de um pr-Dreyfus? Elaborando o que diz
Proust, ns nos damos conta que a semelhana coloca um duplo pro-
blema: o da percepo e o do reconhecimento.
O primeiro o problema colocado a Mme. de Villeparisis, que
tem de detectar a presena de um judeu em seu salo a fim de con-
trolar seus movimentos. Se ao menos ela pudesse compreend-lo!
Pouco, ou nada, face ou diante da aparncia de determinadas pes-
soas permite-lhe supor que ele o tal. Ela no sabe, ou no lembra,
quais so as caractersticas distintivas. Ela apenas sabe que devem
existir tais caractersticas; a curva de um nariz, ou, at mesmo mais
indefinvel, o tom de uma voz. Para sintetizar seu dilema: como pode
algum decidir que o semelhante no o semelhante? No que se re-
fere aos judeus, bem como aos homossexuais, o semelhante no o
portador de um signe qui fait signe (sinal que produz um sinal),
que apenas os iniciados podem detectar. Nesse caso, escreve
Proust,
os prprios membros, que planejam no se conhecer mutu-
amente, reconhecem-se imediatamente, por sinais naturais
ou convencionais, involuntrios ou deliberados, que indicam um
de seus congneres, ao mendigo na rua, para o nobre fidalgo cuja porta
da carruagem ele est fechando, ao pai com relao ao pretendente
de sua filha (G 23).
263
Logo que um indivduo percebido como um portador de tal
sin um deles, quil en est. Mas o sinal invisvel aos no-iniciados
(Deleuze, 1970). Ento, essa a questo de Proust: como perceber
o imperceptvel, como devemos nos identificar como no-identifi-
cvel, quando ns somos Mme. de Villeparisis e no um judeu co-
mo Swann, a duquesa de Guermantes e no um homossexual co-
mo o Baro de Charlus? Parece-me que a pesquisa sobre per-
cepo social no colocou o problema em termos to sutis, nem
props uma resposta satisfatria. De qualquer modo, aqui est a
soluo de Proust.
Podemos compreender facilmente sua teoria se levarmos em
considerao o fato de que para ele, do mesmo modo que para seu
primo, o filsofo Henri Bergson, a percepo e a memria diferem em
natureza, no em grau. Percepo individualstica, a memria
altamente coletiva. Com os dados imediatos de nossos sentidos ns
misturamos milhares de detalhes de nossa experincia dopassado
que , na maioria das vezes, partilhada com outras pes soas.
Perceber , em sntese, uma oportunidade para o indivduo
relembrar. Na sua primeira obra, Jean Santeuil, o novelista escre-
veu: Podemos encontrar tudo em nossa memria; uma espcie
de loja de um qumico, um laboratrio de qumica, onde o acaso
nos faz por as mos s vezes em um remdio calmante, outras em
um veneno perigoso (632). Lembrar ocorre no apenas antes de
qualquer percepo, ele coloca tambm seu fundamento e pode
sozinho completar seu sentido. Colocando a questo com palavras
simples, poderia dizer que, no caso em questo, a memria que
foi herdada e materializada na cultura, arte ou linguagem que nos
permite perceber nas pessoas vivas as caractersticas distintas de
seus ancestrais, reais ou supostos. Imagens irreais so invocadas
na mente do que procura faces escondidas, como escreveu certa
vez Virginia Woolf e transformadas em percepes concretas. Mas
melhor deixar Proust falar. A ocasio ainda o matine de Mme.
de Villeparisis, do qual Bloch um hspede:
Quando falamos de persistncia racial, ns no comunic a-
mos adequadamente a impresso que recebemos dos j u-
deus, gregos, persas, todos aqueles povos que melhor dei-
xar com suas difenas. Conhecemos a partir de pinturas
clssicas as f aces dos antigos gregos, vimos assrios nas
269
264
muralhas de um palcio em Susa. E desse modo percebe-
mos, ao encontrarem uma recepo, oficial em Paris orien-
tais pertencendo a um ou outro grupo, que ns estamos na
presena de criaturas que as foras da necromancia devem ter chama-
do vida. Conhecamos, at ento, apenas uma imagem superf ici-
al; veja, ela ganhou profundidade, ela se amplia em trs di-
menses, ela se move (G 258).
A memria coletiva um estoque de prottipos humanos e
est em nosso poder materializ-los. Em sua lembrana de mu-
seus do passado, Mme. de Villeparisis, como seus hspedes, iro
procurar e encontrar as caractersticas distintivas de Bloch. E
Proust continua:
Eu senti que se eu estivesse na claridade da sala de recepo de
Mme. de Villeparisis tirando fotografias de Bloch, elas teri-
am fornecido a mesma imagem de Israel -to perturbadoras porque
isso; no parece provir da humanidade, to enganadoras porque
ao mesmo tempo isso to estranho como a humanidade -
que ns encontramos nas fotografias de espritos (G 259).
Devemos encontrar aqui o centro de toda percepo social:
um ser humano pode perceber outro ser humano com a ajuda de
algo que ele realmente no percebe. Um fator de iluso, se no de
alucinao, est sempre combinado nela.
Uma vez identificados desse modo, os judeus perdem seu a-
nonimato, sua similaridade, sua liberdade de locomoo no mundo
e podem ser rejeitados. Em casa de Mme. de Villeparisis, Bloch pode
mover-se livremente por algum tempo e falar sobre o caso Drey-
fus com muitas pessoas as vezes apaixonadamente, outras desai-
rosamente. At culminao da cena, quando todos esto cientes
de quem ele e recebe uma resposta rude: Voc no precisa me
pedir, senhor, para discutir o caso Dreyfus com voc; uma ques-
to que, em princpio, nunca comento, a no ser aos Japhetics (G
359). Aps ouvir essas palavras, Bloch, que se considerava acima
de qualquer suspeita, percebe que foi, falando apropriadamente,
desmascarado e ouve-se que ele murmura: Mas como possvel
que voc saiba? Quem lhe disse?, como se ele fosse um filho de
um condenado. Pouco mais tarde, quando se aproxima de sua anfi-
tri para dela se despedir, ela tenta encontrar um meio de faz-lo
dente de que no deve voltar to freqentemente como antes E
265
com toda a naturalidade, escreve Proust, ela encontrou em seu
repertrio mundano a cena pela qual uma grande dama manda al-
gum embora (G 36O), isto , insinuando que esti vesse com so-
no. Para Proust, podemos supor, cada palavra conta. Se tivermos
de nos livrar de uma relao publica embaraosa, no devemos
deixar-nos levar pelas nossas palavras. Ns consultamos o cdigo
de um mtodo convencional e o aplicamos rudemente. Uma vez
descoberto, Bloch pode ser facilmente deslocado.
Afirmei que a semelhana, isto , ser como outras pessoas,
cria um segundo problema. Ns construmos, normalmente, dis-
criminaes contra uma minoria tnica ou social como uma res-
posta ao fato de ela ser diferente, no como ns, ou estrangeira.
Mas pensemos por um momento sobre o que aconteceu na Frana.
Devido ao fato de os judeus, aps sua emancipao, terem se mis-
cigenado com os franceses e se terem tornado como eles. O menor
desvio nesses judeus percebido como sendo muito maior do que
realmente . E sua menor divergncia em opinio provoca uma
resposta exagerada. Percebemos com mais nitidez algo que nos
perturba em uma pessoa quando ela est prxima a ns e nos sen-
timos mais vulnerveis a isso. Ao contrrio, desvios chamam me-
nos a ateno e divergncias no so sentidas to agudamente
quando a pessoa algum concretamente diferente, um perfeito
estrangeiro. A partir desse argumento tiramos, com Proust, a con-
cluso de que os judeus no sofreram tanto devido ao caso Drey-
fus, ou no teriam sido socialmente deslocados se eles tivessem
permanecido como estrangeiros.
O caso que segue um exemplo disso. O Baro de Charlus,
um homossexual, pergunta ao narrador (Proust) sobre Bloch. Ou-
vindo seu nome, ele diz: No uma m idia incluir entre seus
amigos um estrangeiro ocasional. O narrador responde que ele
um francs. Ah, disse Charlus, eu achei que ele fosse um judeu.
O que faz Proust acreditar que o baro um anti-Dreyfus. Ao con-
trrio, ele protesta contra a acusao de crime contra sua p tria,
do qual o capito uma vitima:
De qualquer modo, o crime no existente, o compatriota de seu ami-
go Ide Bloch teria comendo um crime se ele tivesse trado a
Judia, mas que tem ele a ver com a Frana? O seu Dreyf us
deveria ser antes condenado por ter infringido as leis da hospitalidade.
Estava dizendo que, se eles pudessem ser considerados como
estrangeiros, os judeus no teriam sido deslocados para esferas
266
privadas devido a suas idias pr-Dreyfus. Isso afirmado explici-
tamente por Proust em outra passagem com respeito a Swann.
Falando de pr-Dreyfus, eu disse, parece que Prince Von um deles. -
Ah, estou contente que voc me fez lembrar dele, exclamou
M. de Queimantes. Estava esquecendo que ele rinha me pedido para
jantar com ele na segunda-feira. Mas se pr ou anti-Dreyfus totalmen-
te secundrio, pois ele um estrangeiro. Eu no dou o mnimo valor a
sua opinio. Com um francs, outra questo. E verdade que Swann
um judeu (G 108-109).
Esse dilogo mostra claramente que Proust imagina que o an-
ti-semitismo existente durante o caso Dreyfus uma nova varie-
dade. Ele brota da assimilao dos judeus, do fato de eles viverem
dentro da sociedade francesa, no fora, como foi no passado. Isso
ns j sabamos, mas aqui o vemos incorporado em um quadro
mais vivo e minucioso do que aconteceu naquele tempo de pro-
fundas mudanas e fortes tempestades, um quadro que no per-
deu nada de sua atualidade. Gostaria de acrescentar algo antes de
prosseguir. Como se poderia ter esperado, essas idas e vindas
transformam os sentimentos das pessoas e a estrutura de seu
ambiente social. Mas seus efeitos no so idnticos na maioria
que discrimina e na minoria que segregada. E eles no esto
coerentes com as predies de nossas teorias scio-psicolgicas
que discutem tais fenmenos. Por mais estranho que possa pare-
cer, a minoria que parece ter ganho algo e a maioria que se sente
perdedora. No h dvida que as pessoas experimentam alguma
satisfao ao se reunirem entre si sem nenhum intruso, onde todos
so da mesma nao e da mesma opinio. Mas deslocar
desse
mundo
algum como Swann, que era aceito como pertencente a
ele, implica algum sacrifcio. O lao com ele tem de ser cortado e
tudo o que isso significa tem de ser descartado. O grupo amputa-
do de sua minoria, como acontece com uma pessoa que conviveu
com ele durante muito tempo. Esse sentimento de amputao
materializado na ingratido que traduz tanto desiluso e desen-
canto, como auto-insatisfao e tristeza. Proust analisa com muita
fineza as facetas dessa ingratido colorida de nostalgia. Contento-
me em citar a reao de M. de Guermantes com respeito a Swann.
Sua esposa confessa que ela sentiu uma afeio sincera para com
Charles! E ele acrescenta: Quanto a isso, veja voc, eu no preci-
so que ela o diga. E afinal, ele leva sua ingratido ao ponto de ser
uma pr-Dreyfus! (G 108).
Por outro lado, na medida em que a minoria est certa de ter a
267
causa correta a seu lado - o que Proust chama uma opinio can-
dente - ela retoma algum tipo de autonomia. Swann, por exemplo,
sente como se seu sangue comeasse a correr novamente em suas
veias ressequidas por um longo desuso. Ele se sente aliviado do
esforo que fez durante toda sua vida pour en tre, o esforo por pa-
recer como as pessoas de seu meio e ser reconhecido como uma
delas. Estou inclinado a dizer que o deslocamento que ele sofre em
direo minoria lhe d um sentimento de recuperao. como
sentir-se de novo como antigamente, uma vez que o estresse que
pesava sobre ele foi retirado. Nas palavras do autor: Como um
animal exausto que espicaado, ele grita contra as perseguies
e retorna aos braos de seus pais (G 374). Se isso o faz feliz ou
no, ao menos ele aprende a suportar e estimar esse sentimento
de alivio que lhe permite reconciliar-se com o outro grupo, o que
povoa sua memria. Desse modo, ele tambm, como os outros
membros da minoria, se toma desassimilado (Por falar nisso, hoje
na Europa podemos observar uma tendncia anloga desassimi-
lao entre os judeus e outras minorias tnicas. Esse fenmeno
merece ser pesquisado do mesmo modo como tem sido seu opos-
to). Ocorre nele uma recombinao de suas caractersticas fsicas
e morais: Essa nova perda de classe poderia ser melhor descrita
como uma reclassificao (G 375). Tudo acontece para Swann
como se o passado que tinha sido desdobrado passo a passo retor-
nasse repentinamente para ele de uma s vez e o transformasse
em outra pessoa. Vou citar de novo para concluir esse ponto:
Alm disso, em dias recentes, a raa talvez tenha feito com
que o tipo fsico que caracterstico dela aparecesse mais forte-
mente marcado nele, do mesmo modo como o sentimento de solida-
riedade moral com outros judeus, uma solidariedade que Swann pa-
recia ter esquecido durante toda sua vida e que, enxertada uma so-
bre a outra, doena mortal, o caso Dreyfus e a propaganda anti-semita
tenha reacendido (C 42).
2. Fazendo um bom uso do nacionalismo e do anti-
semitismo
Poderia prolongar-me por muito tempo sobre esse ponto,
pois a obra de Proust lida com isso em profundidade. Vou parar,
contudo, a fim de examinar, por um momento, o segundo ciclo que
sua novela descreve. o ciclo de insero na esfera pblica, no le
monde, dos indivduos que estiveram previamente fora, ou foram
confinados esfera privada (O termo , est claro, uma metfora
268
biolgica descrevendo uma mutao em que uma ou vrias novas
bases so inseridas entre as j existentes em uma cadeia de cidos
nuclicos do cdigo gentico). Essa insero caminha passo a pas-
so com um aumento no reconhecimento social. E evidente que o
caso Dreyfus a oportunidade para tal incremento, um ganho que
teria sido impossvel antes. A anlise de Proust desse segundo
ciclo menos alentada aqui. Ele tratar dele com mais detalhe com
referncia ao perodo da Primeira Guerra Mundial. Seja como for,
vemos claramente que a possibilidade de reconheci mento trazi-
da tona devido a uma profunda mudana na sociedade. Com o
caso Dreyfus, um novo critrio acrescentado, dando-se s pesso-
as o direito de pertencer e participar, de ser bem recebidos no
mundo: estou me referindo ao nacionalismo e ao anti-semitismo
14
.
Para resumir em poucas palavras: se voc francs, pode exigir
que voc pertence, que voos en tes. Simplesmente pelo fato de
se tornar um anti-Dreyfus, ou professar ser um anti-semita, voc
pode ver as portas, fechadas at ento, escancararem-se diante de
voc. Se ser um anti-Dreyfus se iguala a ser um francs, ou france-
sa, ento as pessoas se concentram na maioria. Eles ganham, com
isso, uma qualificao social que tinha sido recusada at ento a
muitos deles, porque eram apenas franceses. Conseqentemente,
Odette, esposa de Swann, beneficia-se das oportunidades, quando
seu esposo est longe, para ostentar seu nacionalismo, o que lhe
permite estabelecer relaes com senhoras aristocrticas.
Para aqueles, contudo, que, de certo modo, ainda esto firme-
mente presos aos antigos critrios de reconhecimento, essa inser-
o sentida como uma invaso. Proust faz a duquesa de Guer-
mantes proferir essas terrveis sentenas:
Mas por outro lado, eu penso ser totalmente intolervel que
apenas pelo f ato de eles supostamente possurem pontos
de vista sadios e no negociarem com comerciantes judeus, ou
terem escrito em seus bons abaixo os judeus, que ns devamos
ter um enxame de Durands. Dubois etc., de mulheres que
ns nunca as teramos conhecido se no fosse por essa razo, enfi-
ados goela abaixo por Marie-Ainard ou Victurnienne. Fui vi-
14
A opini~o pblica francesa nos l timos dois anos do sculo dezenove esteve ampla e in-
tensamente envolvida no caso Dreyfus, um tema que cristalizou nestas afirmativas de anti -
semitas com respeito traio e conspi rao judaica e deu a tais afirmativas crdito e uma
aura de respei tabilidade ligando-as causa do Exrcito e da Na~o (Wilson, 1976. 227).
269
sitar Marie-Aynard h alguns dias. L costumava ser to agradvel.
Hoje encontram-se ali todas as pessoas que gastamos a vida
toda tentando evit-las, sob o pretexto de serem anti-Dreyfus (G
325).
M. de Charlus concorda com essa opinio quando se queixa
da companhia ecltica que ela encontra na casa de seus primos:
Todo esse problema do Dreyf us, continuou o Baro, agar-
rando-me ainda pelo brao, tem apenas uma desvantagem.
Ele destri a sociedade [...] devido ao influxo do Sr. e da Sra. Camels e
Camelries e Camelyards, criaturas surpreendentes que eu
encontro at mesmo na casa de meus prprios primos, por-
que eles pertencem ao Pattie Franaise, ou liga anti-
judaica, ou qualquer outra liga, como se uma opinio polti-
ca autorizasse algum a alguma qualificao social (G 398).
Posteriormente, Proust ir afirmar que sim, que isso d a al-
gum direita. O quadro que nos mais freqentemente ofere-
cido ao olhar e representa recombinao social o de um ciclo de
deslocamento e um ciclo de insero, de pessoas que partem, sen-
do substitudas por pessoas que chegam. As ltimas sobem ao
mesmo tempo que as primeiras descem, como os passageiros de
uma escadaria de duas mos no metro. No processo, o reconheci-
mento social que perdido pelos que so deslocados, ganho pe-
los recm-chegados. A personalidade social de cada um passa por
uma mudana. Mas o prprio sucesso produz uma frustrao de
destinos. Pois, os crculos aos quais ns aspiramos e as pessoas
que gostaramos de encontrar so sempre mais fascinantes que
aquelas com as quais convivemos, com as quais concordamos.
Tudo acontece como se, no processo de nos erguermos at elas,
elas fossem rebaixadas e desclassificadas para um denominador
comum. Nas palavras de Proust: Para mim foi, inicialmente, um
desapontamento que Mine. de Guermantes devesse ser como as
outras mulheres; era, por reao e com a ajuda de tantos bons vi-
nhos, quase que um milagre (G 637).
3.Swan e o sapato pranteado
Estou consciente de ter exagerado um pouco o caso. Mas se o
que disse h pouco claro, podemos ver o paradoxo resultante.
Por um lado, quanto mais alguns so inseridos na esfera pblica da
maioria e restringidos a ela, tanto mais outros, digamos um Bloch
ou um Swan, so deslocados dela. Por outro lado, suas relaes
270
com pessoas anti-Dreyfus, como o duque e a duquesa de Guer-
mantes, so concentradas na esfera privada e assumem um car-
ter familiar. No h dvida que sempre mantido um sentimento
de insuficiente coincidncia entre relaes pblicas e privadas.
Mas os ciclos de recombinao que descrevi h pouco aguam o
permanente conflito entre as duas. Como solucionado esse con-
flito? O que teria a ver a psicologia com sua soluo? Para respon-
der a ambas as questes, temos de nos dirigir psicologia social e
no literatura. Isso nos ajudar a dar sentido ao famoso final de
The Guermantes Way.
Vejamos, novamente, com os olhos da memria, a cena mais
refinada. Swann, sabendo da afeio da duquesa de Guermantes
por ele, visita-a certa tarde. Como ela est se vestindo para um di-
ner de gala, pede a seu criado para lev-lo at seu marido. O duque
fica feliz em v-lo, mas ao mesmo tempo fica apreensivo, pois ima-
gina que Swann no um convidado para a festa. Por isso pede cau-
telosamente ao narrador, que est presente, para no mencionar
isso, pois agora, no v voc, o caso Dreyfus fez com que as coisas
ficassem mais srias (G 37O). Enquanto esperam pela duquesa,
falam de muitas coisas. Tudo permanece na esfera privada. Fi-
nalmente aparece ela, esbelta e linda, em um vestido de cetim
vermelho, bordado com lantejoulas. Quando ela percebe a admi-
rao de Swann em seus olhos, a de uma especialista no assunto,
ela comea a depreciar seu vestido e a queixar-se que os rubis de
seu magnfico colar so grandes demais para seu gosto.
Comea ento entre os quatro personagens uma dessas sinu-
osas conversas sobre arte, sobre a genealogia de grandes famlias,
etc. em que Proust mestre. A duquesa brilha com sua inteligncia
e gentil com seu pequeno Charles, sem que ns saibamos exa-
tamente se ela o quer consolar por no ter sido convidado para o
jantar, ou para se desculpar por dedicar-lhe to pouco tempo.
Chegamos prximos ao desenlace quando, cheios de mtua afeie
o, dirigem-se porta de entrada que comear a separ-los, ela
saindo para o diner de gala, ele retornando a sua casa. Somente
ento ele lhe fala com a calma atitude de um homem cnscio de
suas graves responsabilidades, onde a afetao no tem lugar,
que ele est muito doente e morrer em breve. A invaso repenti-
na de um elemento da vida privada no curso da vida pblica cria
nela um estado de dissonncia. Essa uma primeira verso social
da teoria dissonncia cognitiva de Festinger (1957). A duquesa
fica extremamente chocada. Ela no pode deixar de crer que aqui lo
271
que escuta verdade. Mas se comporta como se no o fosse, para
desse modo no necessitar mudar seus planos. E a soluo que ela
encontra exatamente a soluo predita pela teoria. Na linda pro-
sa de Proust:
O que voc est dizendo? grita a duquesa, parando por
um momento em seu caminho para sua carruagem e levantando
seus lindos olhos, sua triste melancolia turbada pela incerteza. Coloca-
da, pela primeira vez em sua vida, entre duas obrigaes incom-
patveis, isto , dirigir-se a sua carruagem para sair para jantar e mos-
trar compaixo por um homem que estava para morrer, ela no po-
de descobrir nada em seu cdigo de convenes que indicasse o ca-
minho correto a seguir e, no sabendo o que escolher, achou melhor
demonstrar no acreditar que a ltima alternativa devesse ser seria-
mente considerada, seguindo desse modo a primeira, que lhe exigia,
no momento, menos esforo e pensou que a melhor maneira de solu-
cionar o conflito seria negar que ele existisse. "Voc est| brincando,
disse ele a Swuam (G 392)
Essa uma notvel mensagem de adeus. Sua resposta, devo
insistir, expressa a primeira dissonncia devida ao conflito criado
pela irrupo da esfera privada dentro de uma esfera pblica,
quando no est disponvel nenhuma regra preestabelecida para
evit-la ou resolve-la. Em outras palavras, a causa da dissonncia,
falando socialmente, no tanto a existncia de duas cognies
opostas, mas a ausncia de uma conveno no repertrio da du-
quesa. Sua resposta suprime o conflito, revelando, contudo, outro
conflito subjacente ao primeiro, apontando na direo oposta: a
intromisso da obrigao pblica de ir a um jantar na obrigao
privada da duquesa de permanecer em casa e falar com Swann.
Essa segunda dissonncia, da qual ela no est consciente, re-
solvida por um acre manqu, quebrando uma norma de decoro.
Essa importante senhora, que se preocupa tanto com a etiqueta,
to melindrada por no poder vestir as roupas perfeitas, mostra-
da levantando seu vestido vermelho para dirigir-se carruagem.
Mas o p que ela coloca mostra est envolto por um sapato preto,
demonstrando com isso a impossibilidade de ir a uma festa. Quan-
do o duque v esse sapato, ele, que sempre exageradamente
corts e tradicional, grita em uma voz terrvel: "Oriane, que est
voc pensando, sua desgraada? Voc est com os sapatos pre-
tos! Com um vestido vermelho! Sobe logo e ponha os sapatos ver-
melhos, ou melhor," diz ao criado, "diga camareira para trazer
272
um par de sapatos vermelhos" (G 394). Embora aborrecida por
Swann ter ouvido, ela tem de obedecer.
As duas dissonncias expressam a tenso psquica entre a so-
ciabilidade privada e pblica, criada, nesse caso, pelo caso Drey-
fuss. A primeira dissonncia resolvida provisoriamente pela
pessoa. Contudo, a insistncia do duque que sua esposa troque
seus sapatos mostra que apenas a regra convencional imposta
pelo meio social pode colocar um fim ao conflito. O capitulo ter-
mina apaziguando a todos, Swann e o narrador indo a suas casas e
os Guermantes a seu diner de gala. Uma vez mais a regra que, se-
gundo Proust, tem de prevalecer na vida social, prevalece: No
pode haver dissonncia; diante do silncio eterno, um acorde do-
minante!
(G 689). Como se pode ver, duas teorias scio-
psicolgicas, uma de ordem literria, outra de ordem cientfica,
parecem articular-se mutuamente a fim de revelar certa ordem
subjacente a um dos mais importantes enredos da novela
15
.
4. Uma converso principesca
Tudo termina mostrando que a oposio entre pr e anti-
Dreyfus tem seu fim com a vitria dos primeiros sobre os ltimos.
Uma vez mais, na histria, uma minoria ativa consegue vencer a
maioria. Mas Marcel Proust, que colocou muitas questes, no
deixou de colocar a seguinte: como pode uma posio minoritria
transformar-se em uma posio majoritria? Ou, em palavras mais
concretas, como puderam os anti-Dreyfus, que eram to hostis no
incio, converterem-se causa do Capito Dreyfus? O escritor re-
torna diversas vezes ao problema da influncia na sociedade. Uma
de suas anlises de particular interesse para mim, pois ela ilumi-
na algumas idias sobre inovao, que desenvolvi no decurso de
minha pesquisa e est de acordo com elas. Proust define a mi noria
como ativa e a maioria como reativa. Durante o caso Dreyfus, entra-
ram em conflito, escreve ele, de um lado um timido apostolado e
de outro uma justa indignao. Alm disso, em um perodo de
tenso e de controvrsia como esse, todos tinham de formar uma
15
difcil compreender esse lindo final se nos contentarmos em fazer como o faz
um historiador da literatura, que a cena mais impressionante da hipocrisia social a dos
sapatos vermelhos (Kopp, 1971:45).
273
opinio, assumir uma posio. A presso assim exercida sobre os
indivduos resulta em que eles se organizem e adotem opinies
semelhantes. A razo que ele d para isso engenhosa: H menos
idias que homens, portanto todos os homens com idias seme-
lhantes so parecidos (G 138).
Tentemos agora seguir, em Cities of the Plain, uma das cenas
que se colocam, para Leon Blum, entre as obras-primas da alma
pr-Dreyfus. Vemos aqui o Prncipe de Guermantes obrigado a
apresentar uma opinio sobre o caso que divide a Frana. Estando
as coisas nesse p, ele no pode deixar de ser anti-Dreyfus, como
todas as pessoas de seu meio com quem convive. Mas uma noite
ele se rene em sua casa com Swann e lhe apresenta uma estra-
nha narrativa, lhe faz uma confisso. Irei resumi-la a fim de re-
construir brevemente a teoria de Proust. Convencido, como toda
sua parentela, da culpa de Dreyfus. o prncipe comea a hesitar
quando toma conhecimento de alguns fatos contraditrios apre-
sentados pelos pr-Dreyfus. Essa a primeira fase, que eu chamo
de fase da revelao; ela acontece quando a minoria apresenta
uma idia que nova ou proibida, no caso em questo, a idia da
possvel inocncia de Dreyfus e da implicao do exrcito na ma-
quinao. Embora perturbado, o prncipe resiste, recusa ouvir os
argumentos, ou ler os jornais pr-Dreyfus. Pensa, desse modo, po-
der permanecer invulnervel a qualquer prejuzo que tal conheci-
mento lhe possa causar.
Segue-se, ento, uma segunda fase, a da incubao, no de-
curso da qual, apesar de sua resistncia, uma dvida insidiosa vai
se ampliando sem que dela ele se d conta e as idias rejeitadas
preparam o caminho at sua mente, tanto mais porque a minoria
pr-Dreyfus as martela insistentemente ou, se quiser. consisten-
temente. O prncipe no fala com ningum sobre isso, nem mesmo
com sua mulher, que tinha nascido na Bavria: No senti que de-
vesse falar sobre isso com a princesa. Todos sabem que ela se tor-
nou to francesa quanto eu (C 15O). Ele logo dominado pelo que
se transformou em um conflito interno to srio que no pode ser
revelado a ningum. L agora, contudo, a imprensa pr-Dreyfus,
mais, porm, assim pensa ele, para se confortar de sua opinio an-
ti-Dreyfus do que pela razo contrria. Nessa caminhada, contudo,
o prncipe finalmente se convence da inocncia do Capito Drey-
fus: Depois disso, diz a ele a Swann, sem deixar que a princesa me
visse, comecei a ler o Sicle e o Aurore todos os dias; em pouco
tempo no permaneceram mais dvidas, isso me mantinha toda
274
noite sem dormir (C 151). Desse modo, l onde ele estava procu-
rando por um antdoto, encontrou veneno. Suas noites de insnia
testemunham quo intenso se tornou o conflito. Ele entrou agora
na terceira fase, a da converso. Caminha por ela por si mesmo,
transformando sua opinio atravs de um intenso trabalho ps-
quico. Ele, porm, permanece ainda na defensiva, mesmo com
respeito a sua mulher, como se temesse ser assimilado por uma
minoria desprezvel. Como os sujeitos de nossos experimentos, o
prncipe mudou privadamente seu ponto de vista, mas o manteve
em pblico. Essa tenso silenciosa, imperceptvel, o corri o tem-
po todo, como se fosse uma traio secreta aos familiares de al-
gum. O Prncipe de Germantes sente que ele necessita corrigir
uma m ao que cometeu como um francs e como um cristo.
Como poderia faz-lo, a no ser confessando publicamente sua
converso a seus familiares e aos que ele tinha anteriormente re-
jeitado pelo fato de no pensarem como ele? Mas isso ele nunca o
faria.
Portanto, como um bom cristo, ele abre sua conscincia a
seu confessor, o Padre Poir, e lhe pede para rezar uma missa pelo
Capito Dreyfus. O sacerdote responde que ele no pode aceitar
seu pedido, pois outra pessoa j fez o mesmo. O prncipe fica sur-
preso quando ouve que existe mais algum em seu meio e diz:
verdade! H pr-Dreyfus entre ns, no assim? O senhor atia
minha curiosidade: gostaria de abrir-me a esse raro pssaro, se o
conhecesse. - O senhor o conhece. - Qual seu nome? - A Princesa
de Guermantes (C 154). pois sua prpria esposa. Notemos, po-
rm, uma mudana lxica a que Proust chama a ateno e uma
mudana significativa no caso. Antigos anti-Dreyfus, quando con-
vertidos causa, mudam seu nome e passam a ser no Dreyfu-
sards, mas Dreyfusists
16
. A distino significa que eles se conver-
teram no minoria, como um Saint-Loup ou um Swann, mas
posio minoritria e a seu movimento de opinio.
Conjecturei, certa ocasio (Moscovici, 1981), que a converso
acompanhada, no fenmeno de mudana, pelo que os socilogos
chamam de ignorncia pluralista. Algum dia, repentinamente, as
16
Como assinalamos na nota 2, vnhamos empregando o termo pr-Dreyfus para o que
era designado na Frana, por Dreylusard. Compreende-se, agora o que Moscovici quer signi-
ficar por uma mudana lxica (N. do Trad.).
275
pessoas se do conta que elas acreditam, ou sentem, as mesmas
coisas. Contudo, o que parece ser repentino, preparado por um
processo oculto, interno, at mesmo secreto. Podemos ver aqui
que o esposo e a esposa se converteram separadamente e do mes-
mo modo, lendo os mesmos jornais, apenas ocultando mutuamen-
te o fato. A princesa mandava sua empregada compr-los e foi
quase surpreendida por seu esposo lendo o Aurora. Se o Prncipe
de Guermantes apresenta a Swann uma narrativa de sua mudana
de opinio que uma confisso, isso para restabelecer o lao
com ele e para consagrar solenemente o que sua confisso ao Pa-
dre Poir no tinha podido fazer por si s: sua converso minoria.
Vai aqui uma ltima citao:
Meu caro Swann, a partir desse momento imaginei a alegria
que devo ter-lhe causado quando lhe falei quo prximos eram
meus pontos de vista dos seus; perdoe-me no ter feito isso antes. Se
voc considerar que nunca disse uma palavra princesa, no ser surpre-
sa para voc saber que pensar de maneira igual faria com que,
naquele tempo, eu me mantivesse muito mais distante de voc do que
pensar diferentemente (C 154).
Deixem-me acrescentar que a anlise de Proust sobre a con-
verso principesca se fundamenta em um caso concreto. O conde
e a condessa de Greffulhe se converteram secretamente causa
-. do Capito Dreyfus. A condessa chegou at mesmo a escrever ao
imperador alemo para saber dele qual era a verdade no caso. Sua
resposta foi uma magnfica coroa de flores.
Concluso
um prazer acompanhar o gnio de Proust ao longo da inves-
tigao da astronomia social (Cocking, 1982), em que, como no
adgio latino, no h nada para ostentao, mas tudo para a cons-
cincia. No sei se consegui apresentar uma narrativa autntica,
embora, claro, parcial, da sutileza que ele coloca nela. Ela trans-
mite o sentido das relaes entre homens e mulheres durante
unidos acontecimentos mais poderosos da era moderna, um acon-
tecimento que nunca deixou de ser para ele enigmtico e ao mes-
mo tempo chocante. Isso fica claro a partir de uma carta narrando
que o caso Dreyfus que ele escreveu em junho de 1906 a Mme. S-
trauss:
Penso que se fica profundamente chocado quando se lem nova-
276
mente essas coisas e se pensa que isso pde acontecer na
Frana h bem poucos anos e no entre os Apaches. H um
contraste assustador entre, de um lado, a cultura, distino,
inteligncia e at mesmo o esplendor de seus unif ormes e,
de outro lado, sua infmia moral.
Hoje, quase um sculo depois do fato, o sentimento, para o lei-
tor de Proust, ainda persiste, mesmo se j mais ou menos acostu-
mado a tais coisas. Na verdade, quem de ns no se engajou em
reflexes semelhantes com referncia ao que aconteceu na Ale-
manha ou em outros lugares
17
quando trevas mortais se ergueram
e ameaaram destruir a civilizao?
De qualquer modo, tais so os Gedankenexperiments que gos-
taria de apresentar a vocs. Tive a inteno de mostrar as vrias
formas que as minorias dissidentes podem assumir sob circuns-
tncias especficas. E tambm exemplificar at que ponto, com que
preciso, a psicologia social nos permite uma nova lei tura da lite-
ratura.
17
O Caso Dreyfus foi, por assim dizer o ensaio geral e a sedimentao das foras po-
lticas e Ideolgicas que deveriam explodir com tal violncia no sculo vinte. Desse ponto
de vista, especialmente no que se refere ao anti-semitismo e a suas conseqncias. Proust
foi extraordi nariamente clarividente. Em sua obra podemos ler sentenas ntidas sabre
judeus e no judeus. Mas em nenhum lugar encenamos a ingenuidade do homem da ordem
e da razo como em Durkheim, que acreditou na assimilao como o efeito natural do caso:
Os erros dos judeus so compensados por inquestionveis qualidades e se existem raas
melhores, h raas piores. Alm disso, os Judeus esto perdendo suas caractersticas tni-
cas muito rapidamente. Mais duas geraes e isso ser um fato consumado (E. Durkheim,
1975: 253). Infelizmente sabemos como as coisas acharam acontecendo depois de duas
geraes.
277
278
6. CONSCINCIA SOCIAL E SUA HISTRIA*
18
Quando era um jovem pesquisador, Piaget, mais que qualquer
outro cientista contemporneo, articulou uma concepo apropri-
ada de pesquisa em psicologia. Eu li The Childs Conception of the
World (1926/1929) pouco depois do que deveria, pois j tinha perto
de 30 anos. Contudo, depois de o ler, fiquei em estado de choque.
Tive uma grande oportunidade. Graas a essa leitura e a outros es-
critos de Piaget, meu pensamento se libertou de muitas noes li-
mitadoras com respeito tanto aos mtodos de pesquisa, quanto s
importantes questes tratadas por nossa cincia.
um dos paradoxos da psicologia que o estudo da cognio
nos adultos interessa-se, sobretudo, pela ateno, percepo, a-
prendizagem bsica e memria, por conseguinte, por processos
elementares para os quais so aplicadas as mesmas tcnicas sim-
plificadas e no-lingsticas que as aplicadas para o estudo dos
ratos, pombos e coelhos. Em contraposio, o estudo da vida men-
tal das crianas fornece uma base para uma observao rica e deta-
lhada e tenta compreender antropolgica e filosoficamente ques-
tes centrais como explicaes, classificaes, moralidade, re-
presentaes espontneas e cientficas, linguagem, isto , as fun-
es mentais superiores, comeando com seu contedo no contex-
to concreto. Foi tentador considerar o primeiro trabalho de Piaget
como uma explorao de nossa cultura atravs do discurso das
crianas e o material coletado como expressando seu folclore,
senso comum e conhecimento, tudo isso no pensamento de uma
nica criana. Isso me levou a considerar, sob uma nova luz, o que
se poderia tornar uma psicologia social como uma importante
disciplina cientfica: um tipo de conhecimento sobre uma antropo-
logia de nossa cultura, do mesmo modo como a antropologia ,
18
Este trabalho foi originalmente preparado para uma conferncia pblica na Segunda
Conferncia sobre Estudos Socioculturais em Genebra, setembro de 1996, como parte da
celebrao do centenrio do nascimento de Jean Piaget e Lev Vygotsky.
285
279
muitas vezes, a psicologia social de outras culturas, assim chama-
das primitivas. Quando, no final da dcada de 1960, Piaget me
convidou a ir a Genebra para organizar ali o primeiro curso de psi-
cologia social, isso significou, para mim, um reconhecimento dos
esforos que tinha empreendido desde minha primeira leitura de
seu trabalho, que transformou a maneira de pensar de um estu-
dante que tinha comeado seus estudos muito tarde, tendo sido
afastado deles devido guerra.
Em contraposio, apenas me familiarizei com Vygotsky mais
recentemente. Foi durante os anos de meu curso em Nova York
que as idias referentes cultura, pensamento e linguagem, que
eram discutidas em numerosos livros e artigos, entraram em meu
mapa mental. Sob muitos aspectos, ele era um autor da moda. Co-
mecei lendo seu trabalho e o achei revigorante, estimulante e no-
convencional. Sobretudo, era curioso conhecer algum que, na d-
cada de 192o, pode escrever como se vivesse na dcada de 198o e
que no acreditava que poderia distinguir o social do marxista.
Deixei-me cativar pelo poder de seu estilo, uma impresso firme
que permanecia quanto mais penetrava em seu horizonte intelec-
tual.
Todo o que estiver bem informado sobre as fortemente irre-
gulares carreiras das vidas de Piaget e Vygotsky sabe que ambos
foram, com respeito a sua educao, estranhos psicologia. Alm
do mais, nenhum foi, e talvez ainda no o seja, um profeta em seu
respectivo pas. Foi a Amrica que lhes conferiu esse status e,
do mesmo modo como se pode falar de um criador de rei, foi Je-
rome Bruner quem foi o criador do profeta. No parei, contudo, de
refletir sobre a questo inevitvel: por que celebrar Piaget e Vy-
gotsky conjuntamente?
A primeira vista, eles parecem ser um par incompatvel. Gos-
taria de afirmar, aps refletir sobre isso, que Piaget e Vygotsky
possuem mais coisas em comum que a maioria dos grandes psic-
logos do sculo vinte. Para comear, eles compartilham a convic-
o de que existia um problema srio para a psicologia: o proble-
ma da modernidade. O que estava em jogo ali era oferecer uma ex-
plicao da evoluo no tanto do animal at o ser humano, mas
da vida mental dos assim chamados primitivos, at a vida mental
dos assim chamados civilizados; do pensamento pr-racional e
coletivo, ao pensamento individual e cientfico. Em sntese, o pro-
blema era compreender como os seres humanos se tomam seres
racionais, como eles controlam seu prprio comportamento e co-
280
mo eles se libertam da dependncia do ambiente e da tradio.
Seu trabalho como um tudo, do qual a psicologia da criana no
mais que um captulo, uma resposta a uma questo fundamental
que ocupou todos os grandes pensadores dessa poca. Seu traba-
lho corre o perigo de se tornar um borro de Rorschach e podemos
ter tantos Piagets e Vygotskys quantos quisermos, se nosso en-
tendimento de seu trabalho no for ancorado em seu contexto his-
trico. Pois seria somente um pequeno exagero dizer que a prolfi-
ca literatura que existe hoje sobre matrias que se referem a eles
reticente sobre a explorao desse fundamento histrico.
Falando de Vygotsky - e poder-se-ia dizer o mesmo de Piaget -
Van der Veer & Valsiner (1991) observam que com o floresci-
mento das modas neo-vygotskianas na psicologia contempo-
rnea, o foco histrico de Vygotsky e suas idias voltaram a um se-
gundo plano (p. 1).
Essa reticncia, para mim, resulta de uma tendncia comum
de procurar a fonte de uma teoria dentro da prpria psicologia.
Como se, na nossa cincia, no pudssemos tomar emprestado ou
encontrar inspirao em idias e princpios de outras cincias,
como a fsica de Maxwell tomou emprestadas hipteses estatsti -
cas da matemtica social que era moda naquele tempo.
Curiosamente, mesmo teorias sociais parecem ter uma ori -
gem psicolgica, como se pode ler no brilhante livro de Wertsch
Vygotsky and the Social Formation of Mind (1985): Muito do que
Vygotsky tem a dizer sobre as origens sociais da conscincia hu-
mana no est necessariamente fundamentado nas idias de Marx,
ou de algum outro terico social (p. 60).
evidente que, se cada psiclogo inventasse sua prpria teo-
ria social, ela teria o mesmo valor cientfico como se cada geneti -
cista ou astrnomo inventasse sua prpria teoria qumica ou fsica.
Contudo, se nos lembrarmos que Piaget e Vygotsky foram duas
mentes altamente criativas, com uma cultura de bases amplas, so-
mos levados a observar que suas idias germinaram dentro de um
largo espectro de campos filosficos e cientficos. Alm disso,
interessante que ambos fundamentam suas teorias na mesma
perspectiva terica, cuja influncia foi to penetrante em sua ge-
rao. Eles herdaram essa perspectiva terica da sociologia e da
antropologia e fizeram amplo uso disso no estabelecimento dos
fundamentos da psicologia infantil. Essa inspirao de toda sua
vida, que Piaget e Vygotsky adquiriram dessas fontes, explica essa
281
proximidade continua, se no sempre uma similaridade, que man-
teve seus respectivos trabalhos em termos de dilogo um co-
mo outro, mesmo que nunca se tenham encontrado. Mas essa
outra histria, embora no muito diferente.
1.As razes da viso social de Piaget e Vygotsky
Quando o trem demorava mais de trs horas para cobrir a
distncia entre Paris e Genebra, podia-se ler em todas as passa-
gens de nvel: Ateno, um trem pode ocultar outro trem. No
momento atual, quando estamos interessados em identificar as
origens conceituais de idias particulares, podemos avisar: Aten-
o, um sculo pode ocultar outro sculo. Assim, o centenrio
de Piaget e Vygotsky pode esconder o centenrio que ns cele-
bramos em 1996/7, da idia de representao coletiva, que de-
sempenhou um papel essencial em seu trabalho e sem a qual
esse trabalho seria incompreensvel. Na verdade, necessrio
um esforo de imaginao para ver como algum possa conectar
seriamente cultura e psicologia, sem que preste ateno a essa
idia. Nem se poderia falar sobre as teorias de Piaget e Vygotsky
como se essa idia nunca fosse formulada. A idia de representa-
o coletiva ou social tornou possvel o casamento da antropolo-
gia e da psicologia dentro de um referencial desenvolvimentista.
Vejamos as razes desse casamento.
Para comear, essa idia introduz o que o grande socilogo
americano Talcott Parsons chamou de uma concepo cultural de
sociedade dentro do pensamento moderno. Durkheim, que foi o
autor dessa concepo, rompe com fceis analogias entre organis-
mos vivos e a sociedade humana; e com aquelas entre evoluo
biolgica e histria social, que poderamos chamar de conseqn-
cias de um darwinismo vulgar. Ele vai em frente fazendo uma crtica
das teorias psicolgicas e antropolgicas que explicam peculia-
ridades tnicas e culturais atravs da raa, instinto, hereditarieda-
de, em suma, atravs da sociobiologia daquele tempo. Para ele, o
ambiente natural dos seres humanos a sociedade. A sociedade
se mostra como sendo um sistema de relaes que geram crenas,
normas, linguagens e rituais coletivamente partilhados que man-
tm as pessoas coesas. Do mesmo modo que qualquer instituio,
o conhecimento e as crenas tm uma existncia antes, durante e
depois das existncias dos indivduos singulares. por isso que
todas as formas de representaes so estveis, exercendo coer-
282
es e constituindo a sociedade. Isso significa que elas possuem
uma realidade que, embora simblica e mental, to real, se no
mais real, que uma realidade fsica. Conceitos, escreve Durkheim
(1995/1993), que so coletivos na origem (como o so na verdade
todos os conceitos), assumem a nossos olhos, mesmo quando seu
objeto no seja um objeto real, tal fora que ele se apresenta como
real. por isso que os conceitos adquirem a vivacidade e a fora
de ao de sensaes (p. 101-102).
Representaes coletivas ou sociais so a fora da sociedade
que se comunica e se transforma. A viso de Durkheim sobre o
pensamento e a realidade de uma representao social inserida
em sua histria expressa da melhor maneira em sua obra Prag-
matism and Sociology (1955/1983): Tudo no ser humano, de-
clara ele, foi feito pela humanidade no decurso do tempo. Conse-
qentemente, se a verdade humana, ela tambm um produto
humano. A sociologia aplica a mesma concepo razo. Tudo o
que constitui a razo, seus princpios e categorias, foi feito no de-
curso da histria (p. 67). A conseqncia disso que representa-
es coletivas ou sociais no podem ser explicadas por fatos me-
nos complexos que os que governam a interao social. Com ou-
tras palavras, eles no podem ser explicados pelos fatos da psico-
logia individual, ou por alguns processos elementares.
Essa a viso que julgo totalmente plausvel, embora supo-
nha que nem todos concordem com isso, e d o seguinte sentido
afirmao de Durkheim: todas as representaes sociais, incluindo
os mitos e a religio, irrespectivamente da cultura a que perten-
am, so racionais. Parafraseando Hegel, poder-se-ia dizer que,
para Durkheim, tudo o que social racional e tudo o que racio-
nal social. Com outras palavras, representaes mticas ou religi-
osas, por exemplo, de outras pessoas vivendo em sociedades dife-
rentes, no so falaciosas ou irracionais, como Frazer ( 1922), por
exemplo, acreditava. Em sua brilhante obra Reason and Culture
Gellner (1922) mostra o carter especfico da teoria nesses termos:
Essa teoria procura explicar por que todos os homens so
racionais: porque todos os homens pensam com conceitos rigoro-
samente restritos, partilhados, exigentes e no em termos
de associaes reunidas privadamente e talvez f ortemente
divergentes. isso que Durkheim quer dizer por racionali-
dade... Essa teoria, contudo, no diferencia entre um sist e-
ma e outro de coeres partilhadas. Ela as explica a todas e
283
no privilegia por si s uma delas com preferncia a outras. Co-
mo a chuva que cai gentilmente sobre o justo e o injusto, ela se aplica a
todas as culturas humanas, no f avorecendo a nenhuma (p. 41-
42).
A atribuio de vieses, falcias e iluses ajuda apenas a dis-
farar essa coero de uma comunidade e favorecer um modo de
conhecer diante de outro. Em relao a isso podemos notar que
Horton (1993) discutiu a relevncia da obra de Durkheim e Lvy-
Bruhl para os dias de hoje e avaliou sua influncia: mesmo hoje,
escreve ele, muitas das idias que dominam o campo derivam de
sua obra (p. 63).
De qualquer modo, devemos reconhecer que na dcada de
1920 a idia de representao coletiva ou social na sociologia se
espalhou pela antropologia, fecundou a lingstica (por exemplo,
Saussure) e entrou na filosofia e epistemologia onde, para men-
cionar apenas alguns nomes, Cornford, Koyr e Fleck me vm
mente. Na psicologia, podemos lembrar Ribot, Dumas, Wallon,
Janet, Blondel e outros.
Quando Piaget e Vygotsky iniciaram suas primeiras pesqui-
sas, a idia de representaes coletivas ou sociais j perpassava a
atmosfera de toda a Europa. Poder-se-ia dizer que Piaget foi inici-
ado nessa idia e estimulado pelo exemplo de outro grande inte-
lectual de Genebra, Saussure. Piaget estava to ligado, em seu ra-
ciocnio, a essa maneira de pensar que seu contemporneo, o psi-
clogo russo Rubinstein, um conhecedor das grandes correntes do
tempo, chamou a ateno a isso de maneira especial. Em um cap-
tulo onde ele fala sobre outros, no Ocidente, que partilharam a
idia de representao coletiva, ressaltou: As mesmas conside-
raes se relacionam, em principio, concepo de desenvolvi-
mento da criana, elaborada por Piaget em seus primeiros traba-
lhos, como ele mostrou, sob a influncia direta da psicologia soci-
al de Blondel e Lvy-Bruhl (Rubinstein, 1959: 328). No que diz
respeito a Vygotsky, ele foi convertido mesma idia depois de
uma sria crise intelectual, como relata Kozulin (199o) ou, como eu
creio, sob a influncia de Janet e Piaget. Contudo, quanto mais eu
leio sobre o que foi escrito sobre Piaget e Vygotsky, no posso se-
no ficar espantado pela to pouca referncia encontrada nessa
relao cientfica e historicamente essencial.
2. Relembrando Lvy-Brull
284
A histria, mesmo a das escolas de pensamento, no mais um
rio tranqilo. A concepo refletida de Durkheim de representaes
coletivas implica uma continuidade de conceitos e de formas de
pensamento que vai das religies antigas s cincias modernas. Ela
remonta ao que, em outro local (Moscovici, 1998), chamei de um
paradoxo da racionalidade das representaes sociais. De fato, to-
das as representaes so racionais, mesmo que, para parafrasear
Orwell, algumas paream mais racionais que outras. Representa-
es dos civilizados podem parecer ser mais racionais do que aque-
las dos supostos primitivos, representaes cientficas podem pare-
cer mais racionais que as religiosas e assim por diante. Tal aparn-
cia, contudo, chega a um beco sem sada se adotarmos seriamente a
postura que o conceito de representao coletiva criado apenas
por uma cultura.
Lvy-Bruhl colocou seu dedo nesse paradoxo. Ele tentou mos-
trar que se as representaes so racionais aos olhos dos membros
de uma cultura elas necessitam ser assim tanto no mesmo sentido,
ou de acordo com a mesma lgica, aos olhos de outra cultura. O
projeto de toda a vida de Lvy-Bruhl foi duplo: primeiro, explicar a
mentalidade das assim chamadas culturas primitivas a partir de
causas sociais e no a partir de causas individuais, como Frazer
(1922) fizera; e, segundo, desmistificar o pensamento ocidental
como sendo privilegiado em comparao com outras formas de
pensamento. Lvy-Bruhl no era um durkheimiano e, em contraste,
trabalhou para conseguir uma compreenso mais rigorosa das re-
presentaes coletivas que ele, ento, transformou em um conceito
genuinamente autnomo com respeito a uma teoria especifica de
sociedade e de histria. Como conseqncia, elaborou uma das mais
surpreendentes e radicais vises de mentalidade. Segundo ele,
impossvel converter formas superiores de pensamento, escolhidas
por uma cultura, em leis universais da mente humana.
O conceito de escolha possui uma natureza social, do que
se segue que uma dessas formas pode ser legitimada como um
prottipo normal, custa de todas as outras. difcil imaginar
hoje o escndalo que o ponto de vista de Lvy-Bruhl provocou. A
idia de que a humanidade partilha uma unidade psquica era a
rocha sobre a qual psiclogos e antroplogos tinham fundado suas
igrejas. Do mesmo modo que a relatividade de Einstein, na mesma
poca, a hiptese de Lvy-Bruhl subverteu a idia kantiana que as
categorias da mente humana so as mesmas para todas as cultu-
285
ras em todos os tempos. Lvy-Bruhl acrescentou um elemento
inescrutvel, para no dizer trgico, a seu conceito de representa-
o social. Ele efetuou uma mudana naquilo que ns pensamos
ser iguais, isto , seres racionais, mas de maneiras imperfeitas,
dependendo da cultura qual pertencemos. H uma tenso men-
tal em toda cultura, incluindo nossa prpria, porque, diz ele, a
homogeneidade cognitiva nunca conseguida. Por mais sur-
preendente que isso seja, os antroplogos e os psiclogos, den-
tre todas as pessoas, foram os mais tardios em reconhecer essa
tenso. A hiptese de Lvy-Bruhl, elaborada em vrios de seus
livros, se espalhou amplamente nas diferentes esferas da vida
artstica e filosfica, de Musil a Fontane, de Husserl a Bergson, de
Jung a Koir ou Fleck. Assumindo como algo pacfico, escreveu
Evans-Pritchard (1964), com referncia a Lvy-Bruhl,
que as crenas, mitos e, de maneira geral, as idias dos po-
vos primitivos so um reflexo de suas estruturas sociais e,
portanto, dif erem de um tipo de sociedade a outro, ele se dedicou
em mostrar como elas formam sistemas, cujos princpios lgicos o
que ele chamou de lei da participao mstica (p. 53).
Temos aqui um pensador cuja obra forneceu um fundamento
comum tanto para Piaget como para Vygotsky. claro que ambos
tambm se beneficiaram de Darwin, Freud, Baldwin, Kofka, Bak-
thin, Saussure, Janet e muitos outros. A hiptese e o enfoque de
Lvy-Bruhl foi o catalisador das teorias iniciais de Piaget e Vygotsky.
Foi atravs de seu esforo de explicar, em termos psicolgicos, os
conceitos do antroplogo francs que uma nova psicologia emer-
giu. De maneira geral, todos conhecem, ou deveriam conhecer,
esse fato e deveriam reconhecer suas conseqncias histricas.
Contudo, na prtica, seu reconhecimento geralmente evitado, de-
vido compreensvel tendncia acadmica de nossos contempor-
neos de moderar idias altamente provocantes e abandonar pala-
vras fora de moda e dissonantes como: mentalidade pr-lgica, pri-
mitivismo, participao mstica e outras semelhantes a essas. De
qualquer modo, no necessitamos dessas palavras.
O prestgio de uma obra est indubitavelmente ligado ao n-
mero de oposi tores que ela consegue mobilizar contra si.
Pode-se dizer o mesmo sobre a qualidade de leitores que a obra
atrai e cujo raciocnio ela influencia. Com base nisso, o prestgio de
Lvy-Bruhl est muito bem justificado, pois sua obra continua a ser
tanto admirada como questionada. Ele foi um pensador notvel e
um escritor que analisou os textos de culturas tradicionais com o
286
mesmo rigor conceptual que ele trouxe anlise dos textos de Pas-
cal ou Descartes, como um historiador da filosofia. Esse talento foi
reconhecido por Husserl quando escreveu a Lvy-Bruhl dizendo
que as representaes coletivas se apresentavam a seus olhos
como o mundo da cultura habitado por pessoas.
Devido aos polmicos debates a que suas idias deram ori-
gem, alguns notveis especialistas no conseguiram nem se referir
a seu trabalho. E acho difcil de entender o que outros reconhe-
cidos especialistas querem dizer quando afirmam que Vygotsky
extraiu, fundamentalmente, seu material etnogrfico da obra de
Lvy-Bruhl (Van der Veer & Valsiner, 1991: 209). Seria o mesmo
que dizer que Weber extraiu do Capital de Marx o material histri-
co da sociedade capitalista e no as poderosas idias sobre seus
processos econmicos e a origem da mais-valia. Luria (1979), em
suas memrias, no cometeu esse erro. Nem Piaget, que sempre se
referiu ao memorvel, ou essencial trabalho de Lvy-Bruhl (por
exemplo, 1951/1995: 147). Mesmo to tarde como em 1951, em
seu ensaio sobre explicaes na sociologia, Piaget defendeu Lvy-
Bruhl contra seus opositores quando escreveu: Nota-se como a
noo de participao resistiu vitoriosamente a seus crticos (Pi-
aget, 1951/1995: 88).
Aqueles que leram a obra de Lvy-Bruhl, porm, sabem que
ele a concebeu ao redor de um nico tema: como a lgica se forma
na mente humana? Certamente, afirma ele, atravs de maneiras
pr-lgicas que, originalmente, deveram ser incontveis. Contudo,
se inumerveis culturas que raciocinam diferentemente da nossa
desapareceram, isso no significa que ns privilegiemos nossa
prpria cultura adotando-a como um modelo. O nico resultado
disso seria ratificar, como norma, a hierarquia de formas de co-
nhecimento e culturas. Nesse sentido, Lvy-Bruhl , como se diria
hoje, no-eurocntrico. O que as cincias humanas devem a ele,
sobretudo, uma regra metodolgica que pode ser definida como
segue: o que absurdo a nossos olhos, no o necessaria mente
aos olhos de outros. Faamos um experimento e, se sua conjetura
se verificar, essa regra tomar-se- necessariamente inteligvel e
claro na medida em que os fatos permitam.
Estamos aqui, penso eu, no n da questo. Conseqentemen-
te, fiel a essa regra, Lvy-Bruhl examinou representaes coletivas
em todos seus aspectos para ver se poderia fazer evidenciar sua
287
coerncia, seguindo sua estrutura concreta particular em todos
seus entrelaamentos e giros e tentando justificar sua forte in-
fluncia sobre as vidas das pessoas. A clareza de Lvy-Bruhl, que
considero magnfica, se mostrou consistente desde suas primeiras
asseres, at s ltimas interrogaes, com as quais ele questio-
nou a obra de toda sua vida. Todo aquele que ler seu Notebooks fi-
car chocado por sua honestidade cientifica e pelas efmeras emo-
es do ser humano.
Nos pargrafos que seguem, irei sintetizar trs temas que ele
desenvolveu com respeito natureza das representaes em cul -
turas pr-modernas, ou assim chamadas primitivas.
O primeiro tema: essas representaes coletivas so impene-
trveis experincia. Isso assim porque ns as consideramos
como sendo santificadas pela autoridade ou tradio e, conse-
qentemente, protegidas da informao que poderia falsific-las.
Pode tambm acontecer que os membros do grupo nunca con-
frontem a experincia diretamente, mas apenas atravs de catego-
rias e sentimentos partilhados. Em um sentido, essas representa-
es so como paradigmas, isto , elas so incomensurveis. Alm
disso, conforme Finis (1994), a noo de incomensurabilidade en-
tre paradigmas foi um fruto da idia de Lvy-Bruhl no referente
impermeabilidade da experincia.
O segundo tema: todas as pessoas so sensveis contradi-
o, mas essa afirmativa no verdadeira para todas as represen-
taes que elas partilham. Isso particularmente verdade para as
civilizaes pr-modernas, nas quais a lei da participao toma
precedncia sobre a eliminao da contradio. Ao apoiar-se nes-
sa lei, as pessoas julgam como idnticos objetos que para elas so
ou familiares, ou semelhantes.
Finalmente, o terceiro tema pode ser expresso como uma efi-
cincia semntica, fazendo aluso famosa eficincia simblica.
De algum modo, a linguagem, para Lvy-Bruhl, uma forma de re-
presentao social, at mesmo um sistema fundamentado em re-
presentaes sociais. E nas assim chamadas culturas primitivas,
sua finalidade ltima seria reproduzir, to estreitamente quanto
possvel, imagens de objetos e de pessoas, toda situao, ou toda
mudana de situao. por isso que, segundo ele, as culturas pos-
suem um lxico particularmente rico, flexvel, mvel, termos qua-
se fluidos, sempre prontos a ser moldados de acordo com as ima-
288
gens que se transformam.
Ao recordar essa evidncia histrica, no reivindico nenhuma
originalidade exceto, com muita modstia, colocar Lvy-Bruhl e
Vygotsky em seu contexto. Eles iniciaram um conjunto de idias e
pressupostos interligados referentes natureza das funes men-
tais mais elevadas que, por um tempo, tinham sido deixadas de
lado porque lhes faltava rigor formal e porque a psicologia se sepa-
rou da cultura. A cultura foi at considerada como um simples re-
sultado desses processos histricos. A autonomia do indivduo foi
em grande parte considerada como sendo um resultado natural
dessa longa histria. Esse processo foi suposto como um movi-
mento singular e progressivo da cultura humana. Agora, medida
que a palavra cultura comea a ser usada no plural, sugerindo
muitas maneiras de vida distintas, locais e igualmente significati-
vas, os pressupostos referentes natureza partilhada das repre-
sentaes e sua especificidade psicolgica podem emergir nova-
mente com uma nova feio.
3. A criana, um novio na cultura moderna
tempo de nos perguntarmos: que tipo de criana, ao menos
no incio, pressupunham Piaget e Vygotsky ao desenvolver sua
psicologia? Na verdade, e isso nos choca primeira vista, parece
que ambos transformaram a criana em uma figura totalmente
cultural e social. Contudo, se voc quiser conhecer essa criana e
sob que bases Piaget e Vygotsky a construram, procure por ela
no apenas nas escolas de Genebra ou Kharbin, mas tambm nos
livros de Lvy-Bruhl! Olhando-se de perto, parece que os adultos
das culturas pr-modernas so reinventados como crianas, como
novios de nossa cultura pr-adulta. No final das contas, temos de
nos defrontar como seguinte fato, no levando em considerao o
raciocnio indutivo: o que Piaget e Vygotsky estavam procurando
na poca, ao estudar as crianas, eram indcios, mais que prov-
veis. Eram indcios relacionados assim chamada mentalidade
primitiva e nada mais. E uma vez encontrados esses indcios,
deram-lhes uma formulao psicolgica.
Por essa razo, insisto que os trs temas na obra de Lvy-Bruhl
mencionados acima so tambm os temas das teorias de Piaget e
Vygotsky. Penso ser necessrio sugerir, embora sem fechar a
questo, sua afiliao intelectual. Talvez deva dizer que se pode
mostrar como eles transformaram a criana na via rgia para a
289
compreenso da vida mental dentro de uma cultura e de uma so-
ciedade. Piaget e Vygotsky seguiram um caminho comum no
porque ambos estivessem interessados nas crianas, mas porque
eles construram e reinventaram as crianas empregando meios
materiais similares. Gostaria, primeiramente, de apresentar essas
caractersticas que so comuns a Piaget e Vygotsky. Isso me pos-
sibilitara, mais tarde, enfatizar com mais facilidade a principal ra-
zo suas divergncias.
No surpreendente e altamente significativo que Piaget e
Vygotsky estabelecessem, ambos, a lei da participao, que foi
muito discutida naquela poca, como a espinha dorsal da mentali-
dade infantil? Ao assim proceder, eles se colocaram ao lado de
Lvy-Bruhl e fortaleceram sua concepo de funes mentais su-
periores. Como no podemos deixar de notar que, para que para
ambos o desenvolvimento natural do pensamento se orienta na
direo do pensamento cientfico e na direo da no-
contradio? Piaget definiu o pensamento pr-lgico e pr-
operacional e Vygotsky definiu o pensamento em complexos, como
estgios necessrios desse desenvolvimento. Com respeito a isso,
a lei da participao no mais uma lei particular de uma cultura
especifica, mas uma lei universal do pensamento que cada um en-
contra no desenvolvimento da criana. A conexo terica entre
uma experincia antropolgica e uma anlise psicolgica , com
isso, alcanada.
Piaget comea, alm disso, alargando o raio de participaes
e ele considera que elas aparecem no momento em que a criana
comea a diferenciar entre o self e o mundo. Conseqentemente,
tanto o pressuposto dos poderes mgicos da criana, como a atri-
buio de conscincia e vida s coisas no mundo, emergem simul-
taneamente com esse espectro de participaes. Piaget explica as
participaes por um egocentrismo ontolgico, que se manifesta
em uma confuso entre um signo e uma coisa, entre o que objeti-
vo e o que subjetivo. Seja quando a criana faa uma conjetura a
respeito de seus poderes mgicos ao dizer que ela obriga o sol ou a
lua a segui-la, ou seja quando atribui conscincia a coisas materi-
ais, essa uma participao em ao. Isso equivalente, acredita
Piaget, a um pensamento intuitivo, ou pr-operacional, no segun-
do estgio do desenvolvimento da criana.
H certo estilo vitoriano quando lidamos com pensadores e
290
suas idias. A dcada de 1920 era fortemente vitoriana. O entrela-
amento de surrealismo, futurismo, antropologia e psicologia era
uma realidade e eu penso que isso influenciou pensadores como
Vygotsky e influenciou sua atrao pelo pensamento mgico e as
assim chamadas culturas primitivas. Ele estava fascinado pelos
fenmenos da identificao totmica que, acreditava ele, encon-
trar-se-iam tambm nas mentes das crianas. Se um membro de
um cl diz que ele um papagaio vermelho, essa afirmativa pode
parecer estranha quando vista em termos de sua validade fsica, -
mas totalmente compreensvel em termos de participao, do
mesmo modo que saudar a bandeira, ou identificar diferentes
membros da mesma famlia pelo nome. O termo complexo foi
cunhado por Vygotsky para dar conta de tais modos de pensar em
crianas de 4 ou 5 anos. Nessa idade, supe-se que as crianas se-
jam capazes de arranjar e selecionar objetos com base em algum
atributo concreto - um atributo que os adultos podem julgar irrele-
vante - e que, de qualquer modo, ir mudar muitas vezes no de-
curso das classificaes dos objetos feitas pelas crianas. Pensar
em complexos, do mesbjeto individual simultaneamente ele
mesmo, com sumo modo que dar nome, significa que um oas prprias
caractersticas e algo pertencendo a uma rede de muitos outros
objetos, com os quais ele possui algum atributo em comum. H
uma relao evidente entre a noo de o complexo de Vygotsky e
a noo de semelhana de famlia de Wittgenstein.
Seja como for, pensar em complexos possui uma caracterstica
em comum com as representaes de supostos primitivos, , uma
insensibilidade contradio. Vygotsky estava convencido que sua
anlise explicaria a formulao psicolgica da lei da participao.
Em sntese, o pensar dos assim chamados primitivos, no tanto
pr-lgico, mas pr-conceptual.
Piaget e Vygotsky adotaram estratgias de anlise diferentes
das de Lvy-Bruhl. Piaget chegou a acreditar, contudo, que todas as
caractersticas da mentalidade pr-lgica so transferidas em con-
ceitos da psicologia infantil. Mencionarei aqui apenas uma, do am-
plo conjunto de tais caractersticas, isto , o egocentrismo. Esse
conceito deve muito, evidentemente, a Bleuler e a Freud. Alm
mais, e isso no tinha sido notado antes, ele deve muito a Durkheim
para quem o egocentrismo estava associado anomia e alienao.
De acordo com Piaget, os escritos de Durkheim forneceram evidn-
cia para a idia de que a criana alienada na sociedade geronto-
291
crtiea. Permanece o fato de o egocentrismo estar situado a meio
caminho entre o pensamento artstico e socializado, permanecendo
a criana como incapaz de compreender o ponto de vista do outro.
exatamente porque a criana centrada sobre si mesma, do
mesmo modo que o indivduo primitivo centrado em seu grupo,
que ela possui apenas uma compreenso parcial e de curto prazo da
realidade, o que, contudo, no afeta a tendncia geral de seu racio-
cnio. Se concordarmos que a sociedade gerontocrtica, como subli-
nhou Piaget, afeta o julgamento da criana, devemos dizer, do
mesmo modo, que a criana sobressociocntrica. Nessas circuns-
tncias, onde a pessoa inteiramente subordinada a sua famlia,
igreja ou comunidade, ela incapaz de pensar por si mesma sem
pensar ao mesmo tempo, em sua famlia, igreja ou comunidade. Isso
se aplica igualmente s crianas e aos adultos. Essa condio forne-
ce o modelo para a concepo total de participao de Piaget. Seja
uma questo de egocentrismo ou, pelo contrrio, de sociocentris-
mo, as representaes da criana, como as do homem primitivo
seriam impenetrveis experincia e, conseqentemente, contra-
dio. Impenetrabilidade experincia e insensibilidade s con-
tradies, escreveu Rubinstein (1959), caracterizam do mesmo
modo o pensamento da criana nas obras de Piaget, como pensa-
mento de um homem primitivo em Lvy-Bruhl. Aqui, como l,
participao substitui os princpios lgicos de identidade e contra-
dio(p. 328-329).
Essa passagem implica um tema que permeia tambm a
obra de Vygotsky. Segundo ele, o pensamento e a linguagem da
criana esto subordinados linguagem e ao pensamento da so-
ciedade. A criana adquire grande parte de suas idias e vocabul-
rio atravs das instituies socializadoras da sociedade. Ela, por-
tanto, no domina a realidade, pois lhe falta o acesso experincia
de que necessitaria adquirir, porque vive em um mundo restrito
pelo dos adultos. Para a criana, haveria um processo libertador
quando, de acordo com a linguagem, comeasse a interiorizar es-
sas representaes.
4. A divergncia entre Piaget e Vygotsky
impossvel compreender a psicologia da criana sem com-
preender as idias e achados de Piaget e Vygotsky. Isso, por sua
vez, necessita que compreendamos os achados de Durkheim e
292
Lvy-Bruhl e como esses achados diferem no que diz respeito
evoluo das representaes coletivas. exatamente por que as
teorias de Piaget e Vygotsky esto no mesmo nvel e possuem mui-
tos pontos em comum, que a maior fonte de sua divergncia, que
no pertence mesma ordem de fatos, se torna transparentemen-
te clara. Na verdade, Parsons notou que a idia de representao
social ou coletiva foi apenas esboada por Durkheim. Mesmo as-
sim, houve, desde o incio, uma oposio fundamental entre Dur-
kheim e Lvy-Bruhl. Isso se deveu no tanto s diferenas com
respeito natureza das representaes, mas quelas com respeito a
suas diferentes concepes de evoluo. Conseqentemente, os
dois estudiosos apresentaram solues diferentes ao problema da
modernidade, que foi esboado no inicio desse artigo. Segundo
Durkheim, pensar em uma representao religiosa primitiva e
em uma representao cientfica moderna so dois passos de
um processo histrico nico, o ltimo proveniente do primeiro.
Segundo Lvy-Bruhl, representaes primitivas e modernas so
antitticas e a evoluo da primeira para a segunda a substituio
de um padro de pensar e sentir pelo seu contrrio. Essa , eviden-
temente, uma distino muito bruta, que esclarecerei a seguir.
Defendo que essa oposio entre Durkheim e Lvy-Bruhl re-
fletida no pensamento de Piaget e de Vygotsky. Em poucas pala-
vras, sugiro que Piaget segue Durkheim e Vigostky segue Lvy-Bruhl.
No gostaria, contudo, de reduzir as diferenas entre Piaget e Vy-
gotsky a apenas essa diferena, porque h ainda outras idias,
extravagantes ou sbias, a respeito daquilo em que diferem. A
crena que o desenvolvimento contnuo, como defendia Dur-
kheim, ou descontnuo, como pensou Lvy-Bruhl, o ponto de
partida crucial para a singularidade terica de cada um desses
dois grandes psiclogos.
Em certo sentido, as idias de Piaget continuam o racionalis-
mo de Durkheim. Esse um tipo de racionalsmo que inverte a
clssica frmula do pensamento ao e torna a ao, ou o ritual,
o principal agente que confere s pessoas representaes estveis
e partilhadas, sem as quais elas no seriam nem humanas, nem
sociais. Partindo da ao, Piaget concebeu um novo e sofisticado
mecanismo - acomodao e assimilao - para dar conta da evo-
luo de um estado de equilbrio a outro, atravs de uma nova or-
ganizao dos elementos preexistentes. Ele notou uma continui-
dade ininterrupta da criana ao adulto. Em 1965 ele afirmou que
isso, conseqentemente, restaura a continuidade, mais do que
293
Lvy-Bruhl poderia supor, entre as assim chamadas representaes
primitivas e as nossas. O prprio sentido dessa evoluo para a
reversibilidade e para conceitos cientficos corresponde concep-
o de Durkheim segundo a qual quanto mais os indivduos se tor-
nam autnomos, tanto mais as representaes se tomam diferen-
ciadas e sujeitas critica. O que foi anteriormente considerado
como uma intuio e um smbolo ir fixar-se em conceitos. No pro-
cesso de descentrao, representaes sociocntricas, como as
chama Piaget, so transformadas em representaes cientficas.
necessrio comentar brevemente a teoria histrico-cultural
de Vygotsky. Nos dias de hoje, palavras como cultura e hist-
ria evocam sentimentos positivos e so amplamente populares.
Os sentidos dessas palavras, contudo, so obscuros na sua ori -
gem. E uma tautologia afirmar que a idia central de Vygostky e
Lvy-Bruhl seja a de que as pessoas que vivem em pocas diferen-
tes e em culturas diferentes possuem funes mentais diferentes,
ou diferentes representaes. Poderamos supor que necessrio
uma teoria para explicar que o mundo diferente em pocas e lo-
cais diferentes e que tal sugesto teria implicaes subversivas?
Tomemos, no sentido literal, os escritos de Vygotsky & Luria (Luria
& Vygostsky, 1992). Do ponto de vista de Vygotsky, a origem das
funes mentais mais elevadas deve ser buscada no nas pro-
fundezas da mente ou nos tecidos nervosos, mas na histria so-
cial, fora do organismo individual. Isso, evidentemente, implica
uma mudana fundamental em todas as reas da psicologia. Lem-
bremos que esse foi mais ou menos o pressuposto bsico feito por
Durkheim e sua escola.
Lvy-Bruhl, contudo, introduz a ousada e dificilmente crvel
hiptese de que o desenvolvimento histrico do conhecimento e
das representaes o resultado de uma srie de transformaes
qualitativas e de descontinuidades no apenas de contedo, mas
nas estruturas cognitivas.
Lvi-Bruhl foi o primeiro a identificar a caracterstica quali-
tativa do pensamento primitivo e o primeiro a tratar processos lgi-
cos como produtos de desenvolvi mento histrico. Ele teve
uma grande influncia nos psiclogos da dcada de 1920
que tentaram ir alm de noes simplsticas sobre a mente e com-
preender a conscincia humana como um produto de desen-
volvimento sociocul tural (Luria, 1976: 7).
A avaliao histrica clara e precisa. Lvi-Bmhl abandonou o
294
caminho estril da psicologia evolucionista de seu tempo e ofe-
receu uma nova viso de conscincia social. Naquele tempo ele
props uma nova hiptese de desenvolvimento histrico e um
modo particular de torn-lo evidente. Embora ele no tivesse em-
pregado a palavra revoluo, ela , contudo, semelhante aos saltos
qualitativos das revolues representacionais que tm muito em
comum com as mudanas paradigmticas de Kuhn (1962). Tais
consideraes levaram Vygotsky e Luria a acreditar que a conjetu-
ra de Lvy-Bruhl merecia ser provada. A revoluo bolchevista se
constitua em um experimento natural que lhes permitia test-la
concretamente. O perodo, escreveu Luria entre os anos de
1931/1932, ofereceu uma oportunidade nica de observar como
decididamente todas essas reformas efetuaram no apenas
uma abertura de viso mas tambm mudanas radicais na estru-
tura dos processos cognitivos (Luria, 1976: iv). No se poderia
sintetizar melhor tanto a tarefa que eles se propuseram realizar
como o enfoque hipottico-dedutivo que torna original essa teoria
histrico-cultural. por isso que eu me surpreendi que excelentes
estudiosos como Van der Veer & Valsiner (1991) pudessem escre-
ver que Vygotsky e Luria sentiram a necessidade [ao planejar
essa pesquisa] de atestar essas semelhanas e diferenas cogniti-
vas (p. 242).
Deduz-se dos escritos de Luria que ele e Vygotsky sentiram
necessidade de testar uma corajosa conjetura de Lvy-Bruhl e foi
com esse objetivo em mente que a expedio foi organizada. Em
seu excelente livro de memrias, Luria (1979) narra seu primeiro
encontro com Durkheim e sua viso de sociedade estruturada a
partir de representaes sociais e normas que modelam a vida
mental dos indivduos. Posteriormente, ele se familiarizou com as
idias de Janet que, sob a influncia desse socilogo francs, se
aprofundou a compreenso da relao entre atividades sociais e
intelectuais no desenvolvimento da criana. Finalmente, ele es-
creveu sobre Lvy-Bruhl que, de certo modo, havia justificado o
experimento natural que eles quiseram realizar no Usbequisto,
Luria estava convencido que eles tinham provado que as mudan-
as revolucionrias na sociedade tinham acarretado mudanas
fundamentais nas representaes das pessoas e em seus proces-
sos mentais. E, desse modo, sua teoria scio-histrica perigosa-
mente correta, diria eu. Podemos lembrar como Rubinstein, em
1934, criticou implicitamente Vygotsky por escolher a hiptese da
descontinuidade de Lvy-Bruhl e no a hiptese da continuidade
295
de Marx: o que decisivo aqui, escreve ele,
pode ser identificado em um contraste entre Marx e Lvy-Bruhl. O l-
timo def endeu no apenas uma transformao quantitativa,
mas qualitativa, da psique no processo de desenvolvimento
scio-histrico - mudanas no apenas no contedo, mas
tambm nas formas e estruturas. I. ...] H uma caesura (inter-
rupo) entre a primeira cognitiva e a intelectual. A continuidade
aqui se torna impossvel. Essa acentuao basicamente falsa e poli-
ticamente reacionria nas diferenas mostra o resultado do misticis-
mo ideolgico (Rubinstein, 1934/1987: 119-120).
Mas ao escolher a hiptese da descontinuidade de Lvy-
Bruhl, Vygostky rejeita, ao mesmo tempo, a hiptese da continui-
dade de Durkheim. Era uma crena de Durkheim que os indiv-
duos se tornam, no processo de evoluo, menos subordinados
coletividade e se tornam mais capazes de perceber a realidade
fsica diretamente e de reagir a seus prprios pensamentos, as re-
presentaes cientificas modernas substituem as antigas no cien-
tficas. Contrariamente a Durkheim, Lvy-Bruhl estava convencido
de que o pensamento cientfico no substitui inteiramente o pen-
samento pr-cientfico, a lei da no-contradio no elimina a lei
da participao. Nesse sentido, o ponto de vista de Lvy-Bruhl a
chave para o problema da teoria histrico-cultural. Entende-se por
que, segundo essa teoria, os conceitos cientficas, ou representaes,
so eventualmente transformados em representaes do senso
comum, em vez de serem inteiramente eliminados por elas.
Trouxemos memria esses estudos seminais do desenvolvi-
mento do pensamento infantil do nvel dos complexos para o dos
conceitos racionais. Eles so, em certo sentido, inacabados e nos
deixam espera de uma continuao. Seria incapaz de avaliar sua
importncia sem os comentrios histricos e culturais oferecidos
pelo Professor Brushlinsky, do Instituto de Psicologia de Moscou,
na Academia de Cincia da Rssia. Esses estudos e os que se se-
guiram a eles, e isso raramente mencionado, esto interessados
com a difuso do conhecimento, por assim dizer - mais exata-
mente, com a difuso depois da revoluo sovitica, dos conceitos
marxistas no pensamento cotidiano das crianas. Evidentemente,
os conceitos espontneos, ou do senso comum, e os cientficos
possuem duas origens distintas e, possivelmente, opostas: a pri-
296
meira, na escola ou no partido; e a segunda, no ambiente familiar.
No processo de comunicao do professor ao aluno, essas repre-
sentaes se chocam e se transformam reciprocamente. As repre-
sentaes espontneas facilitam a assimilao das cientificas e as
cientficas enriquecem as espontneas de tal modo que elas se
tornam mais abstratas. Ou, como coloca Vygotsky, as primeiras se
movem para cima e as ltimas para baixo, tornando-se mais con-
cretas. Conseqentemente, Vygostsky e seus estudantes, do mes-
mo modo que Lvy-Bruhl antes deles, sugeriram que no se pode
erradicar o pensamento pr-cientfico. Ao contrrio, eles sugerem
que o senso comum um mediador necessrio de assimilao, seja
ele cultural ou cientifico. Incluir esses estudos entre os precurso-
res de nossos estudos baseados na teoria das representaes soci-
ais e inclu-los como parte da psicologia social no seria desprovi-
do de fundamento. H neles algo mais do que nosso olhar possa
perceber? Lembremos que esses estudos foram debatidos durante
o perodo e existia uma preocupao com a questo de uma peda-
gogia socialista. Segundo Lenin, a conscincia social criada fora
da mente do indivduo pelo partido e ela penetra nas mentes das
pessoas e especialmente dos trabalhadores atravs da remoo de
suas idias e crenas espontneas, no-revolucionrias e de con-
ceitos no-marxistas. Rubinstein, em seu artigo, menciona em que
sentido isso foi relevante para a psicologia: o problema leninista
do espontneo e consciente se coloca, fica evidente, fora da psico-
logia, mas a transio de uma para a outra uma mudana psqui-
ca profunda (Rubinstein, 1934/1987: 123). Conseqentemente,
os estudos de Vygostsky e de seus colegas podem ser tambm
vistos como testando, em tempos estimulantes, mas perigosos, o
dogma leninista da conscincia social, que foi fortemente critica-
do pelos seus oponentes social -democratas. Mais que tudo, foi
provavelmente esse esforo que deve ter levantado crticas e sus-
peitas a respeito do grande psiclogo russo.
Nossa poca no a deles. Contudo, do que acabei de dizer,
podemos imaginar a raiz da diferena entre Piaget e Vygotsky,
com respeito soluo do problema da modernidade. Para o pri-
meiro, esse problema estava interessado na capacidade de pensar
cientificamente e de descentrar da sociedade, a fim de cooperar
ou agir racionalmente. Para o ltimo, a soluo do problema da
modernidade era criar uma conscincia social baseada em uma vi-
so cientifica, sem dvida uma viso marxista, do mundo e da soci-
edade. A diferena no se ligava apenas aos dois grandes psiclo-
297
gos. Ela correspondia a duas correntes que dividiam a Europa na
marcha da histria moderna.
Comentrios conclusivos
Fleck escreveu em 1936: O embrio da teoria moderna da
cognio se fundamenta nos estudos da escola de Durkheim e
Lvy-Bruhl na sociologia do pensamento e no pensamento das
pessoas primitivas (Fleck, 1936/1986: 80). esse embrio que
Piaget e Vygotsky enriqueceram em sua psicologia do desenvol-
vimento e que foi elaborado na psicologia social pela teoria das
representaes sociais. Tentei tambm lembrar que a idia de re-
presentaes sociais fundamental, no apenas no passado, mas
tambm no futuro, para uma psicologia cultural vigorosa. Ela est,
por assim dizer, no corao do cdigo gentico.
Antes de terminar, necessrio enfatizar que o ponto nevrl-
gico est em outro lugar e no em comparar as duas teorias dos
dois pensadores. Eles viveram no mesmo tempo, mas no na mes-
ma histria. Vygotsky trabalhou exatamente no olho do furaco e
em uma das grandes tragdias de nosso tempo. E embora Piaget
fosse talvez mais sensvel do que se possa pensar ao fluxo e refluxo
da democracia na Europa, ele teve, de um modo ou outro, uma
oportunidade de observ-la de Genebra, do mesmo modo que
Kant observou a Revoluo Francesa do outro lado do Reno. A
obra de Piaget um monumento, a de Vygotsky um busto mag-
nificente, mas sempre um busto, um pouco como os de Leonardo
da Vinci, que escreveu tanto, que comeou obras sem comple-
t-las. A grande tentao opor Piaget a Vygotsky como se opu-
sssemos razo controlada sobre paixo, uma vida regulada ver-
sus uma existncia desorganizada, uma carreira normal versus
uma rebelio, o clssico versus o romntico.
Em sntese, enfrentamos o que Nietzsche chamou de um esp-
rito apolneo, totalmente equilibrado, regular, contnuo, expres-
sando a unidade da vida psquica e um esprito dionisaco de rup-
tura, irregularidade, conflito e a dualidade das foras psquicas e
das novidades inesperadas. A histria nos convida para l, quando
comparamos Wundt e Fechner, Freud e Janet, Lewin e Skinner,
Baldwin e Tolman, para falar apenas dos mortos. Esse contraste
298
de viso cientfica, contudo, seria muito grosseiro se no tivesse
um discernimento nas origens de suas histrias paralelas e sem
que se investigasse se eles representam, ou no, uma oposio in-
telectual mais duradoura, que data do nascimento da psicologia:
Pediria que lessem tudo isso com tolerncia: como uma inspirao
para tornar a histria da psicologia mais interessante, tanto como
uma cincia da humanidade e como uma cincia humana.
299
300
7. IDIAS E SEU DESENVOLVIMENTO
Um dilogo entre Serge Moscovici e Ivana Markov
IM - Sua teoria das representaes sociais j tem quase qua-
renta anos e, apesar disso, nos dias de hoje, vrias atividades psi-
cossociais relacionadas a esse campo parecem estar florescendo
mais do que nunca; muita pesquisa em representaes sociais est
sendo realizada, no apenas em toda a Europa, mas tambm em
outros continentes. H um programa de Doutorado europeu sobre
representaes sociais e comunicao, que organiza anualmente
uma escola de vero para jovens pesquisadores; h uma associ a-
o e uma rede sobre representaes sociais que publica uma re-
vista e organizou uma srie de conferncias internacionais. Ao
mesmo tempo, a teoria tem seus crticos. Alguns deles afirmam
que a teoria muito vaga; outros, que muito cognitiva; que no
est claro como o conceito de representaes sociais difere de
outros conceitos, por exemplo, dos conceitos de atitudes, cognio
social, crenas, esteretipos, etc.; outros ainda gostariam de casar
a teoria tanto com a anlise de discurso, como com o construti-
vismo(s) social e o construcionismo - ou com ambos ao mesmo
tempo.
Mas a teoria das representaes sociais apenas uma rea de
seus interesses de pesquisa. Outras reas em que voc se consti -
tuiu em uma figura de liderana, durante muito tempo, incluem a
influncia das minorias e a da inovao, a psicologia ecolgica e a
psicologia da multido. Seus estudos nessas reas foram traduzi-
dos em uma dzia de lnguas.
Os leitores da Frana esto familiarizados, tambm, com seu
trabalho na histria e na filosofia da cincia, na inveno humana
e tecnologia, na psicologia da resistncia e da dissidncia e, mais
recentemente, com seu magnfico estudo autobiogrfico, Chroni-
que des annoes gares (Crnica dos anos perdidos, Moscovici.
1997). Embora residindo permanentemente em Paris, voc traba-
lhou em universidades dos EE.UU., foi convidado para dar confe-
rncias por todo o mundo e recebeu um grande nmero de ttulos
de doutor de vrias universidades europias.
Antes de comear a falar sobre esses assuntos, gostaria de re-
301
petir aqui algo que Willem Doise disse na escola de vero sobre
representaes sociais, em Lisboa, em 1997, quando estava falan-
do sobre sua carreira inicial com voc, na dcada de 196o, em
Paris. Eu estou parafraseando o que Willem disse:
As mulheres trabalhavam no laboratrio de representaes
sociais (Claudine Herzlich e Denise Jadelet) e ele no era
acessvel aos homens; os homens trabalhavam no laborat-
rio sobre influncia das minorias e maiorias (Willem Doise,
Michel Plon); esse era um laboratrio cientifico difcil e eu
teria gostado de trabalhar com representaes; e Serge
cabea de tudo isso, escreveu livros sobre a histria e a f i-
losofia da cincia, sobre tecnologia e inovao.
SM - claro, eu estou feliz, mas tambm surpreso, porque a
teoria das representaes sociais tenha estado conosco por muito
tempo e que as novas geraes de pesquisadores estejam interes-
sados nela, a tenham desenvolvido e tenham feito progresso teri-
co e metodolgico. Estou feliz de ver que novas correntes emergi-
ram dentro da teoria e que mais diversidade esteja sendo expres-
sa, atravs das personalidades dos pesquisadores - como se diz na
Frana il faut de tout por faire un monde ( preciso de tudo para
construir um mundo). No sou contra ortodoxias, mas elas nunca
resistem ao teste do tempo.
Minha primeira resposta poder soar desrespeitosa. Sou
muitas vezes solicitado a justificar o conceito de representao
social e a explicar como ele difere de outros conceitos, tais como
atitudes, cognio social e assim por diante. Gostaria de lembrar
que a idia de representao coletiva ou social mais velha que
todas essas noes e que ela parte do cdigo gentico de todas
as cincias humanas. necessrio distinguir uma idia, de sua
expresso conceitual, em reas cientificas especificas. Por exem-
plo devemos distinguir a idia de atomismo, como uma maneira
descontinua de ver a matria, do conceito de particula, digamos
que a mecnica quntica; ou a idia de molcula do conceito de
gens na biologia molecular, etc. Do mesmo modo, a idia de repre-
sentao coletiva ou social, foi a fonte de conceitos extremam fru-
tiferos na antropologia, lingstica (por exemplo la langue), hist-
ria (por exemplo, mentalidade), psicologia infantil e psicologia
social. Mas como veremos, a psicologia social tem uma tarefa mais
geral com respeito a essa idia. Na verdade, a partir desse ponto
de vista, dever-se-ia esperar o contrrio, que essas diversas no-
302
es deveriam ser definidas com respeito idia bsica de re-
presentaes sociais. De fato, a maioria dos pedidos que recebo,
no so crticas, ou preldios para um dilogo, mas exigncias de
credenciais. Ainda mais, no sei o que se quer dizer por cogniti-
vo, porque hoje a palavra cognitivo possui um sentido muito ge-
ral e ela se aplica a qualquer tipo de processamento de informa-
o. As representaes sociais esto, claro, relacionadas ao pen-
samento simblico e a toda forma de vida mental que pressupe
linguagem. Finalmente, o conceito de representaes sociais
muito vago? De que maneira vago vago? Se algum o com-
para com conceitos formais, matemticos, ento isso certamente
verdade. Se algum quer dizer que ele muito complexo, isso
verdade tambm. Essa , porm, uma opo que assumi no come-
o de minha pesquisa e uma opo que voc vai encontrar tam-
bm na minha teoria da influncia. Pode algum pressupor que os
fenmenos sociopsicolgicos so mais simples que os fenmenos
lingsticos ou econmicos? Ou deveriam as teorias sociopsicol-
gicas ser mais simples que as outras teorias? Deveriam elas ser re-
duzidas a simples proposies, como elas o so muitas vezes? Dis-
cuti essa questo, muitas vezes, com Leon Festinger, quando ra-
mos colegas na New School, em Nova Iorque, e ele estava envolvi-
do em pesquisa antropolgica e histrica. Essas discusses foram
alimentadas por questes concretas, durante nossas viagens aos
lugares pr-histricos, onde ns encontramos especialistas em
paleontologia, antropologia e assim por diante. E ns chegamos
concluso que, em psicologia social, as teorias devem ser mais
ricas do que elas normalmente so, de tal modo que descrevam e
possivelmente expliquem, adequadamente, os fenmenos espec-
ficos. Ainda mais, tendo discutido algumas observaes com Fran-
cis Crick em suas memrias, ambos concordamos que o modelo
dessas teorias no poderia ser o modelo hipottico-dedutivo da
fsica, mas o modelo mais indutivo e descritivo da biologia, tanto
em termos de evidncia, como das relaes entre teorias e fen-
menos.
Fico emocionado pelas interessantes observaes de Willem.
Permita-me acrescentar alguma coisa. Sempre evitei proselitismo.
Voc agora conhece meu passado cultural. Havia um respeito qua-
se religioso pelo conhecimento e pelo aprender. Nessa cultura, as
pessoas pensam que se uma idia certa, ento ela conseguir
triunfar, apesar de toda resistncia externa. Imp-la autoritaria-
mente desvalorizar seu contedo autntico. No quero que Wil-
303
lem pense que usei minha autoridade nesse assunto. Mais tarde fi-
quei muito feliz em ver que ele foi inspirado pela teoria e contri-
buiu para ela de maneira original.
1. A origem das idias nas representaes sociais
IM - De maneira muito clara, suas idias sobre representa-
es sociais formam uma parte central de seu trabalho como um
todo, como eu acabei de delinear. Por conseguinte, esse dilogo
nos trar uma oportunidade de discutir suas idias sobre repre-
sentaes sociais, no contexto de sua paixo de toda sua vida, na
busca da origem das idias, da histria do conhecimento humano
e da tecnologia, da construo de mitos e da transformao das
idias em senso comum. Alm disso, espero que possamos falar
sobre a interdependncia entre representaes sociais e lingua-
gem - um tema que voc mesmo trouxe discusso da pesquisa
scio-representacional, desde o inicio, mas que, do meu ponto de
vista, foi em grande parte ignorado, ou mal interpretado.
SM - Se ns falamos sobre as origens de minhas idias sobre
representao social, ento diria que a teoria das representaes
sociais um fruto de minha idade da inocncia. Quando eu digo
idade da inocncia, quero dizer que comecei a trabalhar nessa
direo quando era ainda um refugiado poltico em Paris. Eu era
um estudante na Sorbonne e no tinha nenhuma idia sobre meu
futuro profissional. Nesse tempo, havia pouca psicologia social na
Frana, ou na Europa, falando de maneira geral. No tive nenhum
contato com os colegas dos EE.UU. ou ingleses. Li por conta pr-
pria e, alm disso, fiz alguns cursos interessantes com o Professor
Lagache, sobre Kurt Lewin. Dessa maneira, fiz alguma idia es-
pontaneamente sobre como se pareceria a psicologia social, mas
no tinha idia do que ela realmente era, ate muito mais tarde. E
por isso que digo que a teoria das representaes sociais um fru-
to de minha idade da inocncia. Isso no quer dizer que eu estava
em um estado de inocncia intelectual porque, como escrevi em
minha autobiografia, eu j havia escrito alguns ensaios e publica-
do, com meus amigos da Romnia, uma revista de vanguarda em
Bucareste, entre outras coisas.
H um ponto que gostaria de discutir sobre esse perodo. Ha-
via um problema que minha gerao debateu amplamente: o pro-
304
blema da cincia. Era, ao final de contas, o problema da moderni-
dade. Ns estvamos todos interessados em compreender de que
maneiras a cincia teve um impacto na mudana histrica, no nos-
so pensamento, em nossas perspectivas sociais. Ns estvamos
muito menos interessados em como a cincia afeta nossa cul tura,
as idias de cada um na vida cotidiana, ou como essas idias po-
dem se tornar parte das crenas das pessoas e assim por diante.
Todas as pessoas jovens que foram atradas pelo marxismo, co-
munismo e socialismo estavam preocupadas com a questo da
cincia, tecnologia e matrias afins.
IM - Ento, o que os marxistas pensavam sobre o efeito da ci-
ncia nas pessoas comuns? Voc aceita a posio marxista?
SM - No, eu no aceitei. Deixe-me explicar. A guerra era um
inferno para mim. No inferno, as pessoas aprendem muito sobre si
mesmas e sobre a humanidade em geral. Voc se torna mais lci do
e enfrenta os problemas duros da vida e da morte. Na minha opi-
nio, a parte mais rica e mais profunda da Divina Comdia, de Dan-
te, o Inferno. Desse modo, j durante a guerra comecei a pensar
sobre o impacto da cincia na cultura das pessoas, como ela altera
suas mentes e comportamento, por que ela se torna parte de um
sistema de crenas, etc. Voc ve, esse o tipo de perguntas que
Gramsci se fez, durante seus anos de priso. Naquele tempo, no
havia posies claras sobre o problema. Em primeiro lugar, a po-
sio marxista, com a qual me familiarizei porque, como jovem, na
Romnia, no comeo da guerra, eu me inscrevi no parti do comu-
nista. Os marxistas - ou, mais precisamente, Lanin! - desconfiavam
do conhecimento espontneo e do pensamento das massas. Eles
estavam convencidos que o conhecimento espontneo tinha de
ser purificado de suas racionalidades ideolgicas, religiosas e po-
pulares e substitudo por uma viso cientfica do ser humano, da
histria e da natureza, isto , pela viso marxista e materialista. Os
marxistas no acreditavam que a difuso do conhecimento cient-
fico poderia melhorar o conhecimento ou o pensamento comum. O
primeiro tinha de erradicar o ltimo. Voc conhece a frmula: a
conscincia social provm do exterior. A outra posio era uma
mais geral, podemos cham-la da posio do iluminismo. Para
expressar isso com poucas palavras, o conhecimento e o pensa-
mento cientfico dispersam a ignorncia, os preconceitos ou os
311
305
erros do conhecimento no-cientfico, atravs da comunicao e
da educao. Assim, de certo modo, seu objetivo era transformar
todos os seres humanos em cientistas, faz-los pensar racional-
mente.
Ao mesmo tempo, paradoxalmente, todos consideravam a di-
fuso do conhecimento cientfico entre as pessoas, a cincia po-
pular - vulgarisation (vulgarizao) a palavra francesa para isso -
como uma desvalorizao, ou uma deformao, ou ambas, do co-
nhecimento cientfico. Em outras palavras, quando a cincia se
espalha pela rea social, ela se toma algo impuro e degradado, su-
postamente porque as pessoas so incapazes de assimil-la, como
fazem os cientistas. Veja voc, havia uma convergncia entre os
pontos de vista marxistas e no-marxistas; o conhecimento co-
mum contaminado, deficiente e errado. Desse modo, depois da
guerra, eu reagi de certo modo a esse ponto de vista e tentei reabi-
litar o conhecimento comum, que est fundamentado na nossa
experincia do dia a dia, na linguagem e nas prticas cotidianas.
Mas bem l no fundo, reagi contra a idia subjacente que me preo-
cupou a certo momento, isto , a idia de que o povo no pensa,
que as pessoas so incapazes de pensar racionalmente, apenas os
intelectuais so capazes disso. Eu cresci em um tempo em que rei-
nava o fascismo, de tal modo que se poderia dizer que, pelo con-
trrio, so os intelectuais que no so capazes de pensar racional-
mente, pois na metade do sculo vinte eles produziram teorias to
irracionais, como o racismo e o nazismo. Pode crer, a primeira vio-
lncia anti-semita aconteceu nos colgios e universidades, no nas
ruas e foi legitimada no pelos padres ou pelos polticos igno-
rantes, mas por pessoas estudadas, tais como Mircea Eliade, Emi le
Cioran e outros filsofos.
Por conseguinte, o problema para mim se tornou o seguinte:
como o conhecimento cientifico transformado em conhecimento
comum, ou espontneo? Nesse processo, ele adquire as qualidades
de um credo real. Esse problema estava tambm relacionado com
um ensaio que escrevi imediatamente depois da guerra, em que
criticava a dualidade marxista da cincia e da ideologia, como as
razes da conscincia social. Sugeri que um terceiro componente
intervm, isto , o senso comum. Mais precisamente, o que ti nha
em mente era sua relao com a cultura, porque, nessa ordem de
coisas, voc deve assumir como ativo, real, somente o que entra
nas maneiras e prticas, isto , na vida do senso comum. Desse
modo, quando comecei minha pesquisa na Frana, tentei compre-
306
ender e reabilitar o pensamento comum e o conhecimento co-
mum. Ainda mais, no os considerei como algo tradicional, ou pri-
mitivo, como mero folclore, mas como algo muito moderno, origi-
nando-se parcialmente da cincia, como a configurao que assu-
me quando se torna parte e parcela da cultura. Via transformao
do conhecimento cientfico em conhecimento comum como uma
rea de estudo possvel e excitante.
IM - Mas explorar o senso comum , na verdade, uma tarefa
difcil. Tinha uma idia de como faz-lo?
SM - Claro que tinha. Eu sempre gostei de fazer coisas, no
apenas especular sobre elas teoricamente. Nos anos de
1948/1949, havia duas teorias que estavam comeando a pene-
trar na sociedade francesa: a primeira, o marxismo, partilhado e
propagado pelo maior partido comunista da Europa; e em segun-
do lugar, a psicanlise. Eu estava impossibilitado de escolher o
marxismo, porque era um estrangeiro e um refugiado de um pas
comunista; era tambm uma questo politicamente difcil. Assim,
o que restou para mim foi a psicanlise, que acabou sendo a me-
lhor escolha a longo prazo, pois ela penetrou mais profundamente
a sociedade francesa, que o marxismo. Ainda mais, Daniel Lagache,
que era meu professor, ele prprio era um psicanalista e acabou
interessado em minhas idias e me encorajou a comear a pesqui-
sar nessa rea.
IM - Para mim, essa questo particularmente interessante,
porque eu nunca pude entender como, na Frana, o marxismo e a
psicanlise pudessem andar juntos. Quando era estudante de me-
dicina na Checoslovquia comunista, a psicanlise era proibida.
No livro livro-texto de psiquiatria, havia apenas uma linha e meia,
no fim de uma pgina e em letras menores, sobre Freud e sobre a
psi canalise, apresentada como uma pseudocincia burguesa.
Sempre fomos levados a crer que a prxima revoluo comunista
seria na Frana, sendo o partido comunista to forte - e isso pro-
vavelmente influenciou, em parte, minha prpria deciso de emi-
grar para a Inglaterra e no para a Frana. Ento, para mim, foi
sempre um problema como o marxismo e a psicanlise pudessem
coexistir na Frana.
SM - Naquele tempo, na dcada de 195o, eles estavam lutan-
307
do entre si. Ou melhor, os marxistas guerreavam os psicanalistas,
o que tornou meu estudo ainda mais fascinante. Como voc sabe,
na segunda parte de La Psychanalyse, son image et son public
(Moscovici, 1961/1976), que devotei ao estudo da comunicao,
analisei a propaganda contra a psicanlise na imprensa comunis-
ta. Essa foi tambm a ocasio de mostrar que, quando uma nova
idia, ou conhecimento cientifico, penetra na esfera pblica, a vida
cultural de uma sociedade, ento voc tem uma verdadeira Kul-
turkampf, lutas culturais, polmicas intelectuais e oposio entre
diferentes modos de pensar. Esse foi tambm o caso com a relati-
vidade, a termodinmica e o darwinismo. H um drama implicado
no processo de transformao do conhecimento, o nascimento de
uma nova representao social. Isso explica o confronto entre
psicanlise e marxismo, quando o partido comunista estava em
ascenso. Sartre tentou encontrar um compromisso que, na minha
opinio, no foi de todo bem-sucedido. Depois da revoluo estu-
dantil de 1968, quando foi necessria uma ideologia para inte-
grar e recuperar os estudantes dentro do referencial social exis-
tente, Althusser iniciou uma coexistncia pacifica com Lacan, com
o marxismo e com a psicanlise. Nesse tempo, contudo, o partido
comunista no era mais um partido central e as idias e a lingua-
gem psicanalticas j se constituam em parte importante do co-
nhecimento comum e da cultura. Os gurus das demonstraes de
massa, que ocuparam o espao entre a Republique at a Bastille,
tinham sido substitudos pelos gurus dos divs individuais, em
consultrios confortveis, na rea que vai do Guarder Latin, at
Saint-Germain-des-Pres.
IM - E uma pena que La Psychanalyse no tenha ainda sido
traduzida para o ingls. um livro clssico; ali voc define os con-
ceitos elementares e apresenta a base terica das representaes
sociais. Em especial, a segunda parte de La Psychanalyse que no
bastante conhecida entre os psiclogos que trabalham na rea
das representaes sociais. Considero isso importante, por ao
menos duas razes. Primeiro, ali que voc explora a relao en-
tre representaes sociais e linguagem. E, segundo, voc examina
as estratgias que a ideologia comunista, usando a propaganda,
empregou na imprensa, a fim de faz-la parte da realidade exis-
tente. Essas duas questes esto interligadas na segunda parte de
La Psychanalyse e por isso quero falar sobre elas com mais deta-
lhes.
308
Ao estudar as representaes sociais da psicanlise na Fran-
a, voc mostrou como a propaganda, focando alguns critrios lin-
gsticos, atravs do emprego de palavras, associando-as a novos
sentidos e a categorias scio-cognitivo-afetivas alternativas, ten-
tou criar novas representaes, novo conhecimento comum. Voc
descreve esse processo como consistindo de trs estgios. O pri-
meiro estgio estava baseado na evidncia geral de que a psican-
lise poderia ser associada a vrias esferas das atividades humanas,
tais como a cincia, a terapia, a uma doutrina particular ou a uma
ideologia. Selecionando ideologia para associar psicanlise, a pa-
lavra psicanlise recebeu um novo sentido especfica Por exem-
plo, a imprensa comunista descreveu a psicanlise como o smbo-
lo de um estilo de vida dos EE.UU., de uma cultura americana de-
cadente, ou como uma pseudocincia. Podemos dizer que o senti-
do da palavra psicanlise foi particularizado, com a inteno de
que esse sentido particular fosse, mais tarde, adquirir um signifi-
cado novo e global. A fim de conseguir isso, a palavra psicanlise
subseqentemente nunca foi usada sozinha, mas sempre com um
adjetivo, ou um grupo de palavras, que re-enfatizavam as novas
conexes. Desse modo, a imprensa comunista nunca usou combi-
naes de palavras, tais como cincia psicanaltica, eficincia
teraputica psicanaltica, objetividade das concepes psicanal-
ticas e assim por diante. Em vez disso, ela sempre usou combina-
es tais como: o mito da psicanlise, psicanlise americana,
ou uma cincia burguesa. O emprego dessas restries, fixou o
contedo particular, como um contedo geral. Como voc mos-
trou, o sentido da nova combinao de palavras tomou-se um tipo
de rtulo, um ttulo, como o ttulo de um livro ou de um filme. No
estgio final, o critrio de hierarquia determinou a ordem em que
significaes especficas foram organizadas. Por exemplo, a pala-
vra cincia tornou-se parte de algum tipo de hierarquia artifici-
almente criada como, digamos, a cincia sovitica no cume, se-
guida pela cincia proletria, a cincia materialista e assim por
diante. Tal hierarquia seria classificada como mais alta do que,
digamos, a cincia racionalista, a cincia americana, a cincia
burguesa, etc. Desse modo, a propaganda, atravs dos efeitos da
seleo de associaes entre categorias, atravs do emprego do
controle, reduziu o raio de significaes, a fim de eliminar os ris-
cos da relativizao e das livres interpretaes dos sentidos pelo
seu pblico, ou pelos interlocutores. O resultado dessas operaes
foi, tanto a criao de uma li nguagem especifica, como a elevao
de uma barreira semntica entre as palavras. a constituio des-
309
sa linguagem especifica que acompanha a formao de uma repre-
sentao. Uma vez conseguido isso, as palavras obtem seus senti-
dos especficos e esses, por sua vez, justificam seu uso na propa-
ganda. A repetio dos elementos formaliza e solidifica o pensa-
mento, tomando-o parte da constituio lingstica e cognitiva do
indivduo.
Achei esse estudo iluminador, porque ele mostrou uma rela-
o direta entre pensamento e linguagem. Mais especificamente,
nesse caso, ele mostrou a relao entre as operaes da ideologia.
e os sentidos das palavras, com uma ideologia tentando se tomai
representao social, uma parte da cultura.
Mas retomemos origem de suas idias sobre representa-
es sociais. Voc explicou que a primeira razo que o levou ao
estudo das representaes sociais foi sua convico de que o sen-
so co- mum, ou o conhecimento comum, necessita ser reabilitado.
E no pode ser tratado como algo irracional, mas como um impor-
tante terceiro fator entre conhecimento cientifico e ideologia. Oual
foi a segunda razo que o levou a estudar as representaes soci-
ais durante sua idade da inocncia?
1.1. Representaes sociais e atitudes
SM - difcil saber como uma idia nasce na mente de al-
gum. H sempre uma transfertilizao de conjeturas, interesses
intenes, uma vez que voc agarra uma boa questo. Naquele
tempo, encontrei o Professor Jean Stoetzel, que era, ento, o nico
professor de psicologia social na Frana, em Bordus. Ele era tam-
bm o diretor do Instituto para o Estudo da Opinio Pblica em
Paris e autor de um livro clssico sobre a teoria das opinies. Fui a
ele porque tinha de aprender mtodos de levantamento e tambm
porque precisava de dinheiro. No apenas aprendi mtodos de le-
vantamento, especialmente o emprego de escalas, mas tambm
um pouco de psicologia social. Como voc sabe, at a II Guerra
Mundial, a psicologia social era definida como a cincia das atitu-
des e da opinio pblica. Li sobre elas e cheguei concluso de
que tais noes eram muito atomsticas e superficiais para meu
propsito terico. Uma psicologia social do conhecimento no po-
deria ser construda sobre tais fundamentos; at a estava claro. O
auxlio deveria vir de outra fonte. Naquele tempo, fiquei fascinado
pela ciberntica, por duas razes. Ela parecia anunciar um novo
310
tipo de cincia, unificando diferentes campos de conhecimento e
reunindo pesquisadores tanto das cincias naturais, como das
cincias humanas. De algum modo, isso se adequava a minha pr-
pria idia de psicologia social, como uma nova cincia em si mes-
ma. Ainda mais, ela compreendia uma mistura interessante de te-
oria matemtica da informao, com a teoria sociofisica da co-
municao. Lembro claramente de um artigo de Roman Jakobson
sobre esse tpico, quando j tinha comeado meu estudo-piloto
sobre a difuso da psicanlise. Tanto a teoria da informao, como
a teoria da comunicao, me aproximaram da idia de represen-
tao. Embora nunca tivesse seguido cursos regulares de estudos,
pois eu tinha sido excludo do lyce, na Romnia, por motivos raci-
ais, sempre fui arguto em matemtica e pude entende-la - muito
facilmente. Por isso estudei a teoria da informao e tentei aplic-
la s escalas de atitude de Guttman, com sucesso, penso eu, ao
menos aos olhos do prprio Guttman.
Deixe-me ser um pouco mais especfico nesse ponto. A ori-
ginalidade das escalas de Guttman est no fato de elas lidarem
com amostragem de idias mais do que com a amostragem de in-
divduos. Elas supem um universo de itens sociais (objetos, opi-
nies, etc.) e faz-se uma amostra de um pequeno nmero deles, a
fim de mostrar, por assim dizer, a estrutura que os mantm uni-
dos. Isso levanta duas questes. Primeiro: o que h nesse universo
social e mentalmente? E segundo: o que mantm os itens de uma
atitude juntos e os ordena em uma escala, especialmente em uma
escala de Guttman, que representa um contedo e um padro sig-
nificativo?
Minha resposta particular era que os itens eram mantidos
juntos e ordenados por uma estrutura mental subjacente, expres-
sa pela redundncia de respostas individuais, uma estrutura que
eles partilhavam, pois, se eles no o fizessem, no haveria uma
ordenao normal dos itens na populao. E os erros (ou rudos,
como eles eram chamados na teoria da informao) expressam as
respostas que se desviam da estrutura mental normal. Eles eram,
ento, puramente padres mentais individuais. As computaes
da teoria da informao mostravam tudo isso de maneira elegan-
te. Isso era fantstico porque, naquele tempo, eu fazia escalas a
mo, organizando sujeitos e ordenando itens. Desse modo, pude
ver, no escalograma, os itens que foram excludos e aqueles que
foram mantidos, como partes dessa assim chamada estrutura
mental. Algum poderia tambm ver o contraste entre as respos-
311
tas redundantes e as ruidosas, entre os padres mentais sociais
e os individuais. O que eu estava medindo era, de algum modo, o
grau de estruturao dessa estrutura mental social. Assim, no ini-
cio, a representao social era uma espcie de idia visual, que
tentei, ento, compreender, dar-lhe um sentido. Nesse contexto,
para responder parte de sua questo, as atitudes se mostraram a
mim como uma dimenso de nossas representaes compartilha-
das.
Trabalhando na teoria da informao e na construo de es-
calas, tive o privilgio de ser convidado a um seminrio organiza-
do por Claude Levi-Strauss sobre essas questes. De fato, foi um
seminrio sem paralelo; entre os participantes estavam, se lembro
exatamente, Koyr, Lacan, Mandelbrot, Schtzenberger e outros
pesquisadores de altas qualidades intelectuais. claro que no
abri minha boca e mantive meus ouvidos abertos. E aprende-se
bem mais quando se escuta as pessoas falando, do que lendo o que
elas escreveram. Tentei aprender mais sobre a teoria da comuni-
cao. E imaginava quo til seria essa teoria para a psicologia
social do conhecimento. Vrios autores ingleses, no lembro quais,
disseram que a comunicao impossvel quando no h possibi-
lidades pr-concebidas ou padronizadas, ou representaes pr-
fabricadas. Essa foi, contudo, a maneira como a noo representa-
o entrou em meu vocabulrio, ou em minha mente. De qualquer
modo, tentei formular uma teoria de comunicaes cujo cdigo
era a representao normalizada e a atitude, o conhecimento ou
os itens de opinio eram as formas de mensagens. A nica coisa
que me desagradava nessa teoria era o fato que a comunicao era
concebida como uma espcie de troca e reproduo de represen-
taes.
Quando me pergunto, hoje, sobre o que cristalizou essa noo
de representao em minha mente, penso que foi lendo Merleau-
Ponty. Tambm participei de alguns de seus cursos, quando ele
ensinava psicologia infantil na Sorbonne. Ele escreveu e talvez
falasse bastante sobre a primazia da percepo. Pensei que a pri-
mazia da percepo fosse justificada em cada ramo de psicologia
no-social, ou em uma concepo de senso comum como perten-
cendo aos sentidos, ao conhecimento sensorial, de acordo a gran-
de tradio da filosofia europia. E de fato, mais recentemente
muitos psiclogos sociais seguiram essa tradio, ao empregarem
o termo o perceptor social, que se refere a pessoas que adqui-
rem seu conhecimento de senso comum na base da observao e
312
da experincia. Parecia-me que ns estamos interessados com
simbolos, realidade social e conhecimento, comunicando-nos so-
bre objetos no como eles so, mas como eles devem ser e as sim o
que se apresenta uma representao. Em outras palavras, pensei
que a psicologia social do conhecimento implicasse a primazia das
representaes. Foi isso que fixou essa noo em minha mente,
como ela foi associada com certas idias na relao entre comuni-
cao, conhecimento e a transformao do contedo do conheci-
mento. Deu-se pouca importncia a esse contedo, no mais que
se da hoje. Mas que podemos ns dizer do pensamento, - ou co-
nhecimento, quando ns no sabemos nada sobre seu contedo?
No mais daquilo que podemos dizer sobre linguagem, quando
ns no tomamos os sentidos em considerao. De qualquer mo-
do, cheguei concluso que, do mesmo modo como algum pode
pensar um sistema de representaes que forma um conhecimen-
to cientfico, algum pode tambm pensar um sistema de repre-
sentaes que forma um conhecimento do senso comum. Como
voc sabe, nasci na Romnia, um pas onde o conhecimento popu-
lar era predominante, na verdade era o nico tipo de conhecimen-
to generalizado. Provavelmente este sentimento foi em parte
responsvel pelas minhas escolhas intelectuais.
IM - Foi muitas vezes mostrado, por crticos do conceito tra-
dicional de atitude, que o problema principal que os estudos so-
bre atitudes se interessaram com a expresso individual da ati-
tude e no com uma atitude como algo que social, ou coletiva-
mente, compartilhado. Voc concorda com essa avaliao?
SM - Eu at nem diria isso. Os psiclogos sociais, na minha o-
pinio - e eu penso que conheo muito bem o assunto- quiseram
estudar um tipo de um substituto para o comportamento, podera-
mos dizer, um pr-comportamento, que lhes permitisse predizer o
comportamento. A maioria das definies de atitude lhe mostra
isso. H tambm uma idia subjacente de que, se ns pudermos
predizer o comportamento, podemos tambm mud-lo. No meu
modo de entender, os psiclogos sociais que estudam as atitudes
no esto realmente interessados no conhecimento das pessoas e
em seu mundo simblico. Eles esto interessados em como as ati-
tudes esto estruturadas e o que ns podemos descobrir sobre
estruturas atravs de escalas - na verdade, meu primeiro trabalho.
(Moscovici, 1954), baseado no emprego da escala de Guttman,
estava interessado nesse assunto.
313
IM - Como voc sabe, houve um enorme interesse entre os
psiclogos sociais, para identificar, com preciso, as diferenas
entre atitudes e representaes sociais. No seu aplaudido artigo,
Jasper e Frasr (1984) argumentaram que enquanto a caractersti-
ca mais di- ferenciadora das representaes sociais que elas so
partilhadas por muitas pessoas, constituindo sua realidade social,
em contraste, o conceito de atitude se individualizou. Uma argu-
mentao similar, elaborada depois, foi apresentada por Rob Farr.
A idia bsica dessa argumentao que, enquanto que em 1920,
no trabalho de Thomas & Znaniecki (1918/1920) sobre o campo-
ns polons na Amrica, a noo de atitudes era social e, por isso,
muito parecia com o conceito de representaes sociais, posteri-
ormente, as atitu- des foram individualizadas, no sentido de que
elas foram tratadas como uma disposio de resposta de um indi-
vduo.
Parece-me que o que voc falou h pouco muda, de certo mo-
do, o foco da relao entre atitudes e representaes sociais Em
principio, presumivelmente, voc no se oporia ao argumento de
que as atitudes foram individualizadas. Eu entendi, contudo voc
dizendo que adquirir uma atitude para com um objeto, significa
que voc deve ter uma representao, que parte de seu co-
nhecimento cultural, ou do conhecimento popular, como tambm
parte de sua cognio. claro, falamos de cognio em um sentido
muito amplo, incluindo imagens, emoes, paixes, crenas e as-
sim por diante. Voc traz discusso, por conseguinte, uma ques-
to ontolgica bsica, com respeito a pensamento e a um objeto.
Eu entendo que essa a resposta a essa questo ontolgica, que
distingue enfoques tradicionais das atitudes e a teoria das re-
presentaes sociais. Enquanto que os enfoques tradicionais do
estudo das atitudes consideravam uma atitude e um objeto da ati-
tude como entidades distintas, voc v uma atitude e a represen-
tao do objeto latitudinal, como sendo interdependentes. Voc
concordaria com essa formulao?
SM - Eu concordo com ela, com a condio de que nos lem-
bremos de um certo nmero de coisas. Ns nascemos em uma
grande biblioteca, onde ns encontramos todo tipo de conheci-
mento, de idiomas, de normas e assim por diante. Ningum de ns
pode teorizar, ou falar, sobre natureza e realidade - do mesmo
modo que Ado, antes de ser expulso do paraso, no conhecia
nada sobre a diferena entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso.
Se quiser, nosso conhecimento uma instituio igual a outras
314
instituies. Nossas representaes so tambm instituies que
ns partilhamos e que existem antes de ns termos nascido den-
tro delas; ns formamos novas representaes a partir das anteri-
ores, ou contra elas. As atitudes no expressam conhecimento
como tal, mas uma relao com certeza e incerteza, crena ou des-
crena, em relao a esse conhecimento. Pode-se falar tambm
sobre uma atitude em relao a um objeto, uma pessoa, um grupo
e assim por diante. Contudo, no que diz respeito a entidades soci-
ais, essas so as entidades representadas. As mais salientes dentre
elas so aquelas representaes que esto interessadas com fe-
nmenos como dinheiro, mercado, direitos humanos, Frana, Deus
e assim por diante. Por conseguinte, no sei como algum pode es-
colher entre as duas noes, especificamente, atitudes e repre-
sentaes sociais. Cheguei a sua preocupao ontolgica bsica.
Quando algum fala sobre a relao entre pensamento e um obje-
to, uma atitude (ou cognio) e um objeto, esse algum est inte-
ressado em uma relao binria, com uma oposio entre subjeti-
vidade e objetividade. Contudo, a metfora da biblioteca sugere
uma relao trade entre representao social, representao indi-
vidual e o assim chamado objeto que , muitas vezes, a expresso
ontolgica de uma representao social. Pense em um carto de
crdito. Voc vai e compra uma mala, voc apresenta seu carto de
crdito ao vendedor, que o coloca em um aparelho especial que
registra a compra. Aparentemente, o negcio entre duas pesso-
as, uma das quais est do lado do objeto. Na verdade, h ali um
terceiro parceiro, o banco, a instituio que criou o carto e esta-
beleceu o equilbrio entre dbito e crdito. Do mesmo modo, as
representaes sociais fazem sempre esse terceiro parceiro inter-
vir na relao com o outro, ou com o objeto. Francamente, no sei
por que o conceito de atitude se ope ao de representao social,
pois ela (a atitude) uma de suas dimenses. Nem posso eu en-
tender como algum pode substituir um conceito pelo outro,
quando esse algum se prope estudar a gnese do senso comum.
IM - Gostaria de dar um exemplo para aprofundar esse assun-
to. O que voc disse sobre o estudo das atitudes na psicologia so-
cial se aplica, em geral, tambm ao estudo do pensamento, da so-
luo de problemas, dos conceitos e da formao de conceitos.
Esses assuntos tambm se basearam no pressuposto ontolgico
de que o objeto de estudo e o self, so independentes. Isso tem
conseqncias epistemolgicas importantes para as teorias de
315
formao de conceitos, de soluo de silogismos e anagramas de
aquisio de sentidos para as palavras e assim por diante. Minha
crtica pessoal a tal posio j tem mais de vinte anos, mas para
deixar clara a questo, vou me referir a um exemplo mais recente
na rea da educao para a sade, com respeito Aids. A campa-
nha, na Inglaterra, na dcada de 198o, foi feita sob o ttulo no
morra de ignorncia. Foi suposto, em tal campanha, que o indiv-
duo, a fim de se proteger contra HIV/Aids, tinha de conseguir co-
nhecimento tcnico. O que foi totalmente ignorado foi que existia
um conhecimento popular presente, que, havia representaes de
HIV/Aids que eram parte da cultura e que, por isso, eram j parte
da mente do individuo; que esse conhecimento popular e essas
representaes estavam ancorados em pecado, doenas sexual-
mente transmissveis, obscenidade e muitos outros fenmenos
indesejveis. Essas representaes tinham uma influncia mais
forte nas atividades das pessoas, que um conhecimento neutro e
objetivo sobre vrus, antivrus, agulhas infectadas e camisinhas
que lhes eram dadas, atravs de campanhas de sade. As repre-
sentaes de HIV/Aids eram ameaadoras ao self fazer algo que
pudesse ser uma ao preventiva com respeito aquisio
transmisso de HIV poderia, ao mesmo tempo, servir como uma
prova, a outros, que o individuo, de fato, poderia j estar infectado.
Isso, por sua vez, pode levar rejeio desse indivduo pelos ou-
tros. Em geral, o que essas campanhas deveriam ter feito, era levar
a srio o conhecimento representacional popular e social, sua ex-
presso lingstica e seu raciocnio individual. Voc tem uma vi so
diferente sobre esse assunto?
SM - No, eu no vejo diferente. Quando a epidemia da Aids
comeou entre grupos de homossexuais, eu estava nos EE.UU.
Lembro que a representao social e a linguagem foram elabora-
das ao redor da denominao de cncer gay. Isso permitiu aos
grupos em questo falar, partilhar seu conhecimento, familiarizar-
se com essa estranha doena e agir coletivamente. A pesquisa
mdica foi provocada por esse conhecimento e linguagem popula-
res. E a escolha de um nome cientfico envolveu negociaes
entre diferentes grupos. Escolheram um acrnimo neutro, sem
nenhuma referncia aos homossexuais, para evitar a dissemina-
o de preconceitos existentes. Esse acrnimo se transformou em
um nome prprio e se tornou o smbolo de uma nova representa-
o social, desenvolvida no curso da comunicao, que misturou
conhecimentos cientficos e populares. Nos seminrios que dei
316
mais tarde na New School, meus estudantes e eu descobrimos que
os elementos das representaes novas e antigas se sobrepunham.
1.2. Representaes sociais e a teoria scio-psicolgica do co-
nhecimento
IM - Desse modo, se entendi voc corretamente, a fim de de-
senvolver uma psicologia social do conhecimento, necessita-se
comear com questes referentes ao conhecimento popular e co-
nhecimento cultural, dos quais fazem parte as representaes so-
ciais e, atravs deles, elas se desenvolvem. Estuda-se sua gnese
atravs da conversao, propaganda, mdia e outros meios de co-
municao baseados na linguagem. As representaes esto inse-
ridas nos sentidos das palavras e, por conseguinte, so recicladas
e perpetuadas atravs do discurso pblico. E, claro, voc men-
cionou antes que a cultura desempenha um papel importante na
formao das representaes sociais.
SM - Quando eu lhe falei sobre ideologia e cincia, voc lem-
bra que localizei o senso comum como um terceiro gnero de co-
nhecimento, diferente dos outros dois. Ele no pode ser reduzido
ideologia, como algumas pessoas gostariam de fazer. E por isso
que, quando se estuda o senso comum, o conhecimento popular,
ns estamos estudando algo que liga sociedade, ou individuos, a
sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar. Isso pode lhe fa-
zer rir, mas para mim essa autonomia do senso comum como um
terceiro gnero de conhecimento, por assim dizer, a necessidade
do senso comum, foi provada na luta dos dissidentes russos glas-
nost, pelo direito de expressar o que cada um podia ver e conhe-
cer, por uma linguagem comum, em sntese, por um senso comum,
em uma sociedade que se proclamou ideolgica e cientifica Glas-
nost, na verdade, foi uma das reformas que permitiu sociedade
civil se manifestar, com numerosos grupos e movimentos. Nosso
dilogo descontinuo, como todo dilogo deve ser. Na minha ida-
de da inocncia, tinha uma preocupao: cada cincia um objeto,
um fenmeno, uma matria-prima que lhe prpria e que ela
estuda atravs de sua histria. E que dizer da psicologia social?
Pensei que o senso comum era o fenmeno, ou matria-prima
da psicologia social, do mesmo modo que o para a antropologia,
os sonhos para a psicanlise, ou o mercado para a economia. E os
estudantes compreenderam o que quando lhes falava que ns
temos tantas cincias populares, psicologia popular, fsica popu-
lar, medicina popular, mgica popular e assim por diante e todas
317
elas oferecem materiais maravilhosos para uma rica explorao
de nossa cultura, nossas maneiras pensar e falar, nossos modos de
nos relacionar e de nos comportar em grupos. exatamente o
estudo desse tipo de material pode ser a fonte de teorias mais
gerais e complexas, que podem explicar a estrutura e a gnese de
nosso conhecimento e de nossa ao em comum. Esse material
poderia interessar tambm a outras cincias humanas, como a
sociologia, a economia ou a histria. Voc v que o que eu tinha
em mente era uma psicologia social do conhecimento como o cen-
tro de nossa cincia.
1.3. Conhecimento cientfico e conhecimento do senso comum
IM- Voc disse antes que os marxistas no pensavam que fu-
so do conhecimento cientfico iria aumentar o nvel de conhe-
cimento pblico e que, alm disso, ligar o senso comum irra-
cionalidade foi a viso partilhada por alguns outros cientistas
sociais. Em contraste, seu objetivo era reabilitar o pensamento
comum e o conhecimento comum e voc assumia que o conhe-
cimento comum algo bastante moderno, algo que provem da
cincia.
Gostaria de fazer algumas associaes. A primeira, diz res-
peito ao conhecimento cientfico e senso comum. H algum tem-
po, voc fez uma distino entre dois universos: reificado e con-
sensual. O conhecimento cientfico pertence ao universo reifica-
do, enquanto o conhecimento do senso comum pertence ao uni-
verso consensual. Esses dois tipos de universos diferem um do
outro no sentido que o primeiro tenta estabelecer explicaes do
mundo que so imparciais e independentes das pessoas, enquan-
to que o ltimo prospera atravs da negociao e da aceitao
mtua. Mas, de maneira igualmente importante, eles diferem
com respeito ao tipo de pensamento e mtodos de raciocnio. O
primeiro procede, sistematicamente, da premissa para a conclu-
so e ele se apia naquilo que ele considera puros fatos. O mto-
do do segundo no to sistemtico; ele se apia na memria
coletiva, no consenso. Mas o que deve ser enfatizado que am-
bos os modos de pensar esto baseados na razo. O pensamento
do senso comum razovel, racional e sensvel - para empregar
os termos de Alfred Schtz. Melhor ainda, para citar seu prpri o
318
trabalho recente, todas as representaes so racionais, mesmo
se, para parafrasear Orwell, algumas paream mais racionais que
outras (Moscovici, 1998: 416; ver tambm captulo 6). Voc
mesmo queria reabilitar o senso comum porque estava conven-
cido de que os marxistas e outros estavam errados quando eles
pensavam que o pensamento comum irracional.
Queria, contudo, levantar esse ponto especifico aqui porque,
apesar do j acentuado por voc repetidamente, penso que o
ponto que diz respeito natureza racional das representaes
sociais , muitas vezes, mal entendido, at mesmo por estudiosos
das representaes sociais. fcil fazer um atalho e dizer que a
cincia racional, porque ela se apoia na razo e porque as re-
presentaes sociais se apiam no consenso, elas esto baseadas
em um pensamento irracional. Em outras palavras, fcil tomar
raciocnio como tendo apenas um sentido. Essa outra razo
porque penso que importante enfatizar a natureza polifsica do
conhecimento e do raciocnio. Raciocnio, no pensamento comum
e no senso comum, por um lado e em pensamento cientifico e
conhecimento cientifico, por outro lado, mostram essa natureza
polifsica.
No meu ponto de vista, a afirmao concernente natureza
razovel do senso comum a principal diferena entre o ponto
de vista das representaes sociais e, digamos, da viso de Lewis
Wolpert em The Unnatural Nature of Science (1992), que Rob
Farr discute em seu artigo sobre Senso comum, cincia e repre-
sentaes sociais (Farr, 1993).
Mas continuemos com a questo referente cincia e senso
comum. Em contraste com os marxistas e com Wolpert, h den-
tistas sociais que tomam- ou tomaram - o conhecimento do senso
comum mais a srio e, de fato, viram um caminho direto do sen-
so comum at cincia Voc escreveu sobre o caminho da cin-
cia ao senso comum em seu trabalho sobre O fenmeno das re-
presentaes sociais (Moscovici, 1994a; ver capitulo 1 deste
livro) Voc disse algo assim: antes, a cincia estava baseada no
senso comum e ela tornou o senso comum menos comum. Em
contraste hoje o senso comum cincia tornada comum. Essa
uma formulao provocativa e por isso ns devemos discuti-la
por um momento. H - ao menos houve - cientistas sociais que
subscreveram a primeira parte da afirmao, isto , do senso
comum para cincia. O conhecimento popular, conhecimento
cultural e se comum e sua relao com o conhecimento cientfico
319
foram dados muito extensivamente por antroplogos, socilogos
e, a certo ponto, por psiclogos sociais. Poderamos pensar em
pessoas como Schtz, Heider, Gadamer, Garfinkel e Bartlett.
Por exemplo, Schatz, em seus escritos fenomenolgicos, fal-
ta uma distino entre senso comum e conhecimento cientifico
referindo-se a Whithead, ele mostra que a cincia tem dois obje-
tivos: primeiro, produzir uma teoria que esteja de acordo com a
experincia e, segundo, explicar conceitos do senso comum so-
bre a natureza. A explicao consiste na preservao desses con-
ceitos do senso comum em uma teoria cientfica.
Para Schutz, o conhecimento do senso comum se apia no
toque de conhecimento que socialmente produzido e aprovado.
Ele comea de uma pressuposio da reciprocidade de perspec-
tivas. Em contraste, a cincia comea de um corpus de evidndia
de regras de procedimento, mtodos cientficos, etc. A posio de
Heider, com respeito ao senso comum, eu a vejo como sendo
muito semelhante de Schtz. Ele tambm afirma que o conhe-
cimento do senso comum deve ser levado a srio e que ele a
base do conhecimento cientifico. Ele se refere a Whitehead pela
mesma razo que Schtz. Para Schtz, o senso comum e o racio-
cnio cientfico so duas maneiras paralelas de lidar com a real i-
dade social. Ambos correspondem experincia, em particular
observao fsica. Schatz considera o senso comum- como voc
mesmo j comentou antes - como algo que, muitas vezes, se su-
pe proveniente dos sentidos, do conhecimento sensorial. O ca-
minho do senso comum at a cincia , falando estritamente,
racional. Schtz sempre se referiu racionalidade da ao e, ba-
sicamente, o que ele queria significar era uma correspondncia
entre percepo dos sentidos, observao, etc., de um lado e a
realidade, de outro. De maneira semelhante, Whitehead se refe-
riu fsica, observao fsica - como fez Heider, quando ele
falou sobre senso comum.
Por conseguinte, ambas as posies possuem seus advoga-
dos, uma vendo o conhecimento cientifico comum como uma
continuao do senso comum e a outra vendo o senso comum e o
conhecimento cientfico como totalmente separados e opostos
entre si. Deveramos, portanto, esclarecer as semelhanas e dife-
renas entre essas duas posies e a sua. Para mim, a questo
interessante, no apenas por razes histricas, mas, sobretudo,
por razes tericas.
320
SM - Para responder a seus comentrios sobre cincia e sen-
so comum, seria obrigado a escrever um livro inteiro. Voc me
pede que me defina correlao a outros autores e a outras teori-
as. Antes de fazer isso, eu tenho de lhe dizer o que eu mesmo
penso, como certas idias nasceram e tomaram lugar, pois a
maioria do meu trabalho foi por caminhos solitrios. Eu no es-
tava muito interessado em saber o que outras pessoas pensa-
vam, pois j tinha suficiente trabalho em saber quais eram meus
prprios pensamentos. Por isso, para reassumir o fio de minha
histria de vida, parecia-me que tinha dado um grande passo a
frente, que conhecia qual era o campo da psicologia social, quan-
do supus que sua matria-prima era o senso comum. Experien-
ciei esse passo frente como uma descoberta intelectual e uma
inspirao prtica, porque h algo potico sobre conhecimento
popular, do mesmo modo que h sobre sonhos e mitos.
Ao mesmo tempo, na medida em que trabalhava entusiasti-
camente naquilo que seria a teoria das representaes sociais,
participei de um seminrio sobre a histria e a filosofia da cin-
cia, sob a orientao do Professor Alexandre Koyr. Como voc
sabe, a primeira vez que fui aos EE.UU., fui no como psiclogo
social, mas como um historiador da cincia. Tinha uma bolsa de
estudos na Institute for Advanced Studies, em Princeton. Dei
minhas primei- ras aulas em ingls em Yale e Harvard sobre t-
picos relacionados revoluo cientifica e encontrei Thomas
Kuhn que, de certo modo, foi discpulo de Koyr. Koyr foi um
mestre magnfico e seus seminrios sobre Galileu, Kepler, etc.
foram extraordinrios. De qualquer modo, eles me permitiram
ter uma percepo mais profundas noes de senso comum, me
permitiram ver como e por que senso comum pode ser coerente
e possui sua prpria lgica diferindo, ao mesmo tempo, da cin-
cia.
Do ponto de vista histrico, a fsica de Aristteles uma fisi-
ca do senso comum. Ela foi elaborada atravs da sistematizao
algumas idias correntes e est fundamentada nas qualidades
sensoriais - as famosas qualidades secundrias - dos objetos ob-
servao direta dos fenmenos e em uma explicao teleolgica,
em causas finais. Ela no , contudo, nem incoerente, nem mgi-
ca, nem ela um amontoado de ecos, como pensavam as pessoas
antes que Duhem ou Koyr mostraram o contrrio. A cincia de
Galileu ou cartesiana diferente, porque ela elimina as proprie-
dades sensoriais dos objetos, introduz o mtodo experimental
321
estudo dos fenmenos e por isso formaliza o raciocnio terico
Ao mesmo tempo, ela substitui uma explicao feita com causas
finais por uma explicao com causas eficientes. Tudo isso mui-
to conhecido, precisa, contudo, ser relembrado, porque essa foi a
razo por que o senso comum se mostrou, para mim, como uma
forma de conhecimento sistemtico, coerente. Isso tambm me
levou sob a recomendao de Claude Faucheux, ao maravilhoso
artigo de Kurt Lewin sobre a passagem da cincia aristotlica
para a cincia de Galileu, que ele queria empreender na psicolo-
gia social. Esse um artigo que todo estudante deveria ler ainda
hoje. Apesar disso, foi durante esses seminrios sobre a histria
da cincia a especificidade do senso comum em relao cincia
assuma forma mais precisa em minha mente, ao mesmo tempo
em que me convenci de seu respectivo valor e coerncia. Quero
tambm insistir em outra diferena que parece importante, para
mim. Em contraste com o pensamento cientfico, que de maneira
ideal pode ser compreendido independentemente de seu conte-
do, de uma maneira formal, lgico-matemtica, o pensamento
espontneo, ou cotidiano, no pode ser dividido em dois; o con-
tedo infecta o raciocnio, tornando-o plausvel, e, sem isso, a
forma iria parecer incompreensvel, sem sentido. Em outras pa-
lavras, a estrutura e a dinmica do pensamento no podem ser
compreendidas quando se parte apenas dos processos cogniti-
vos, pois eles no podem ser separados do que , por assim dizer,
a substncia do conhecimento concreto. Ao trabalhar com a filo-
sofia e a histria da cincia, adquiri uma viso mais rica e mais
realista do que a vida do conhecimento. Kepler , certamente,
o primeiro que colocou a lei matemtica do movimento dos pl a-
netas, mas ele tambm pensava que esses planetas eram movi-
dos por foras vivas. A ao newtoni ana distncia , sem dvi-
da, familiar e fundamental, do ponto de vista cientfico. As pesso-
as, contudo, tm alguma dificuldade em aceit-la - como pode um
corpo agir onde ele no est? -, pois ela se apia sempre em uma
representao mgica de fora.
Vamos adiante. Se h um sistema de conhecimento, neces -
srio fazer a pergunta: quem o sujeito conhecedor, como deve-
mos imagin-lo nessa prtica corrente? Por exemplo, na psicolo-
gia social recente, ele foi visto como um cientista leigo, ou um
aprendiz, comparado a um cientista sofisticado, ou um especia-
lista. Quando comecei minha pesquisa, na dcada de 195o, en-
frentei uma oposio entre o pesquisador profissional e o dil e-
322
tante, o cientista e o filsofo amador, o primeiro fazendo pergun-
tas precisas sobre os fenmenos, enquanto que o segundo se
fazia perguntas gerais, at mesmo sobre fenmenos espec ficos.
Em vez de sistematizar, o amador coloca os itens de conhecimen-
to e informao que ele coleta em seus arquivos mentais. Desse
modo ele extrai elementos hetercl itos da cincia e os coloca em
um conjunto significante, que possui valor prtico para ele. No
senso comum, predominam elementos realsticos e materialis-
ticos, do contexto imediato. Eles incluem interrogaes especula-
tivas, metafsicas, tais como De onde ns viemos? Quem somos
ns? Para onde vamos? Qual a origem do universo e do ser hu-
mano? e assim por diante. Eu escolho Bouvard e Pcuchet, fa-
mosos heris de Gustave
Flaubert, que esto envolvidos em uma
caminhada prtica e terica atravs da agricultura, histria,
qumica, arqueologia, medicina, como prottipos do sujeito do
senso comum. Como qualquer um de ns, eles caminham atravs
dos campos da cincia, como andantes no tempo e conhecimen-
to, arquivando noes e experimentos, tentando reconstruir uma
viso global. Eles reconstroem um mundo comum, baseado em
idees regues (idias recebidas), no em ides fausses (idias falsas)
inspiradas por ideias ci entficas. Em sua novela inacabada, Flau-
bert nos d uma viso da cincia popular como o sculo dezeno-
ve a propagou, cheia de entusiasmo e chaves tediosos. James
Joyce buscou alguma inspirao nisso: em certo sentido, Bloom
o herdeiro de Bouvard e Picuchet em nosso sculo.
Finalmente, sugiro, com cuidado, a hiptese da polifasia
cognitiva. Basicamente, penso que, do mesmo modo que a lin-
guagem polissemica, assim tambm o conhecimento polifsi-
co. Isso significa, em primeiro lugar, que as pessoas so capazes,
de fato de usar diferentes modos de pensamento e diferentes
representaes, de acordo com o grupo especifico ao qual per-
tencem, ao contexto em que esto no momento, etc. No neces-
srio investigar muito para perceber que at mesmo cientistas
profissionais no esto totalmente interessados no pensamento
cientifico. Muitos deles possuem um credo religioso, alguns so
racistas, ou consultam seus astros, tm um fetiche, amaldioam
seu aparato experimental quando se recusa a trabalhar, o que
no , necessariamente, muito racional. E como mostraram mui-
to bem alguns estudos, quando solicitados a explicar alguns fe-
nmenos comuns, eles fazem uso at mesmo da fsica aristotli-
ca, e da fsica de Galileu que eles aprenderam na escola e na qual
323
confiam. Se essas diferentes, at mesmo conflitantes, formas de
pensamento no coexistem em suas mentes, elas no seriam m
humanas, eu suponho.
O que interessa agora no so essas observaes gerais, mas
o duplo significado de minha hiptese. Primeiro, as pessoas no
so monofsicas, capazes de uma nica maneira privilegiada de
pensamento, sendo os outros caminhos acessrios, perniciosos
ou, mesmo, sobreviventes dos anteriores. Segundo, na nossa teo-
ria psicolgica, supomos, como fez Augusto Comte, que finalmen-
te uma nica forma de pensamento, isto , a cincia, ir prevale-
cer e o resto ir mover. Essa a lei do progresso e da racional i-
zao. Mas, no h razo de por que, no futuro, apenas uma for-
ma de pensamento puro deva predominar. sendo o mythos de-
finitivamente substitudo pelo logos, pois, em toda cultura co-
nhecida, vrias formas de pensamento coexistem. Em sntese, a
polifasia cognitiva, a diversidade de formas de pensamento, a
regra, no a exceo. Pode-se, por exemplo, observar hierarquias
parciais e temporais. Mas seria uma generalizao arriscada, que
a cincia no deve favorecer, conferir privilgio excl usivo a esse
ou aquele gnero de conhecimento, ou forma de pensamento,
que ser proclamado como o primeiro e o ltimo. Partindo dessa
hiptese, podemos colocar as questes sociopsicolgicas genu-
nas, das transformaes dos sistemas de conhecimento, das for-
mas de pensamento ou discursos, dentro do contexto social. A
partir dai, podemos compreender como possvel que, no ape-
nas em sociedades diferentes, mas tambm dentro dos mesmos
indivduos, coexistam maneiras incompatveis de pensamento e
representaes. verdade que essa , por agora, uma hiptese
muito geral e tambm uma hiptese que difcil de admitir. Mas,
ao mesmo tempo penso que no se pode questionar, tanto sua
relevncia concreta, como sua relevncia social, em nosso tempo
ps-moderno. Ao menos para mim, ela foi uma intuio til. A-
qui, novamente, o senso comum aparece como o lugar privilegia-
do, em que tais questes podem ser colocadas e, conforme o ca-
so, respostas podem ser conseguidas.
Peo desculpas por falar to longamente, mas se for assim
dificilmente poderia justificar o que vir a seguir, o esclareci-
mento da racionalidade, que voc est esperando. Voc est me
colocando em uma posio delicada. O progresso das cincias
humanas separou-as da filosofia e impulsionou os pesquisadores
para gavetas de disciplinas especializadas. Quanto mais as pes-
324
soas progridem em seu conhecimento, mais elas perdem de vista
a totalidade dos fenmenos e de si mesmas. Na minha juventude,
dizer de um pesquisador que ele era um filsofo, ou que estava
interessado na filosofia, era quase que um insulto. Agora, o
contrrio, um pesquisador tem de ser um filosofo e apelar para a
filosofia como uma autoridade. Mas eu penso que seria ingenui-
dade no reconhecer que penetrar no mundo dos filsofos exige
alguma intuio e uma preparao especial. Se no for assim,
algum pode correr o risco de se tornar, por sua vez, uma esp-
cie de Bouvard ou Pcuchet, vagando de um filsofo a outro, res-
pigando aqui e ali uma palavra-chave, ou metfora, sem realmen-
te compreender seu sentido profundo. por isso que, quando
expresso algumas opinies filosficas, apenas o fao com o sorri-
so de algum que no nutre iluses sobre o que ele conhece, ou
no conhece.
Isso para dizer que a maneira como concebo o senso co-
mum provm principalmente de filsofos da cincia como Me-
yerson, Frank, Mach, Peirce, Duhem, Bachelard e outros, com
cujo trabalho me familiarizei quando trabalhava nesse campo.
No li Heider, at que estive em Princeton em 1962. Gostei mui-
to de seu livro como um livro literrio, mais do que um livro de
psicologia social - isso mostra como eu era ignorante. Do mesmo
modo, eu no li Schtz, at que fosse professor na New School, na
dcada de 1980- Sua viso de senso comum como um tipo de
conhecimento direto e sensorial a la Mach, no era minha viso,
embora seu enfoque fosse realmente sutil e rico. Ofereci diversos
cursos integrando sua anlise do mundo da vida. Contudo, o es-
prito da fenomenologia no me capturou. claro que eu li Krisis,
de Husserl, por razes nostlgicas. Era difcil, para mim, aceitar
suas idias de que as razes da crise dos tempos modernos de-
vem ser encontradas em Galileu e Descartes. Ou que sua soluo
est na redescoberta do mundo concreto da vida, o Lebenswelt,
como ele disse. Essa uma frase linda, quase mgica, mas ela no
suficiente para indicar o lugar onde as pessoas podem encon-
trar abrigo das foras da tecnologia, da poltica ou da histria,
especialmente quando se sabe que ele escreveu em 1935, na
vspera do triunfo do fascismo.
Apesar disso, quando a Schutz, no me tornei um fantico de
tais noes como aceito sem discusso, ou tipicalidade, etc.
Elas pressupem um ordenamento e uma preditibilidade das
coisas humanas, uma solidez do mundo da vida, nas quais eu no
325
acredito. Nossas relaes intersubjetivas e decises pessoais so
bastante imprevisveis e improvisadas. Como disse Napoleo: A
gente improvisa e ento se v. Os mundos da vida, do mesmo
modo que quaisquer outros mundos, so seqncias de eventos
mais ou menos regulares, surpresas e rotinas, no meio das as pes-
soas conseguem viver junto. Essa uma mgica social um lado,
tudo o que Schtz escreveu sobre a anomie, sobre a distribuio
do conhecimento, sobre themata, descongelou mui idias que
tinha antes. Veja, por exemplo, a anomia. Ela , primeiro, uma
perda de nome, significando que o que originalmente era uma
possesso individual, tomou-se uma possesso comum. Muitas
pessoas falam sobre e empregam noes que pertencem teoria
de Darwin, ou psicanlise, sem mesmo conhecer os nomes de
darwinismo ou psicanlise, Darwin ou Freud. Em segundo lugar,
a anemia , ela prpria, um nome. Ela categoriza um tipo de pes-
soa, ou conhecimento, em oposio a uma pessoa, ou conheci-
mento, particular que tem um nome. O senso comum categori-
zado como um tipo annimo de conhecimento, em oposio
cincia, ou filosofia, que so consideradas no-annimas. Essas
so categorias muito importantes de nossa cultura, pois aquilo
que tem um nome considerado duradouro, memorvel, de
grande valor, enquanto que aquilo que no tem nome, efmero,
transitrio, perecvel. No h dvida que a paixo pelo nome a
mais forte das paixes, sobre a qual ha pginas admirveis no
Symposium, de Plato.
Retornando fenomenologia, voc no a acha muito estti-
ca? De qualquer modo, o que eu tentei elucidar, naquele tempo,
foi a gnese do senso comum, a transformao de formas de pen-
samento. Enquanto que em minha pesquisa sobre a histria da
cincia, estudei com Koyre a transformao da fisica do senso
comum aristotlico, para a mecnica cientfica de Galileu, em
minha pesquisa sobre psicanlise eu estava interessado com a
transforma-co contrria. Sempre que falei sobre representaes
sociais, posteriormente, enfoquei sua gnese, enfoquei as repre-
sentaes se construindo, no como algo j feito. Eu at acres-
centaria que essencial para ns estud-las na sua construo,
do ponto de vista de sua histria e desenvolvimento. evidente
que as observaes de nossa conscincia e as representaes so
elaboradas durante nossas comunicaes. A paixo para conhe-
cer, sobre o que Husserl escreveu e a paixo para a comunica-
o, vo de mos dadas. E por isso que escrevi que ns pensa-
326
mos com nossas bocas, acentuando o papel especifico da con-
versao na gnese e partilha de nossas representaes comuns.
Estou consciente de que lhe devo uma resposta sobre a ra-
cionalidade, ou irracionalidade, dosenso comum. Na verdade,
pede-se fazer essa pergunta na esteira de toda pesquisa sobre
distores cognitivas. O que fez os psiclogos se interessarem
pelo senso comum foi o trabalho de Heider, que abriu um campo
de investigao sobre o pensamento das pessoas leigas e das
pessoas na vida cotidiana. Na introduo de seu livro, Heider
(1958) lembra o leitor que no deve fazer perguntas sobre a
verdade ou falsidade de noes do senso comum. Isso foi negli-
genciado, a tal ponto que os psiclogos sociais comearam a se
perguntar, no como e por que as pessoas pensam corretamente,
em seus contextos familiares, mas como e por que elas pensam
incorretamente. Por conseguinte, na dcada de 198O, ns expe-
rienciamos esse episdio marcante, embora curioso, no qual se
mostrava como pessoas fazem erros de atribuio fundamentais,
como coletam informaes de manei ra deficiente, como menos-
prezam informao bem fundamentada, como possuem habili-
dades limitadas no raciocinio dedutivo e assim por diante. Sob
todos os aspetos, isso provou nossa irracionalidade na vida coti-
diana, por um lado e, por outro, a inutilidade de estudar o senso
comum, que desapareceu do horizonte de pesquisa. Pela mesma
razo, os motivos por que comportamentalistas disseram que
no devemos nos interessar com a mente, foram confirmados,
como foram tambm os argumentos dos filsofos que afirmavam
que o senso comum tem de ser banido do estudo do pensamento,
em sntese, que o ser humano no tem mente, apenas um cre-
bro. Eu chamo esse episdio de curioso, porque ele reproduz,
exceto no referente aos mtodos, a concepo de Frazer do pen-
samento primitivo e os primitivos como novios ineptos. Quero
mostrar, com isso, o renascimento da psicologia individualista
dos antroplogos ingleses, sua degradao do pensamento popu-
lar e do pensamento de outras culturas. Foi Lvy-Bruhl quem
mostrou os erros das concepes de Tylor e Fiazer e revelou a
coerncia e singularidade da assim chamada mentalidade primi-
tiva e maneiras comuns de pensar. Ele mostrou que as pessoas
no so necessariamente cientistas despreparados, mas podem
ser bons msticos ou filsofos da vida cotidiana. no solo do tra-
balho de Lvy-Bruhl que a psicologia do desenvolvi mento de
Vygotsky e Piaget cresceram. Esse um acontecimento excep-
327
cional, porque as criticas foram poucas e raramente chegaram
at a raiz da questo.
Mas, devemos ns, de fato, considerar a distoro como um
desvio do pensamento, como um sinal de erro, uma falta de lgi-
ca? O grande lingista Emile Benveniste mostrou que, no estudo
das significaes gramaticais ou lxicas, deve-se evitar empregar
noes polares de regularidade, ou desvio, em um sentido estri-
to. Aqueles que geralmente esquecem a estrutura hierrquica da
linguagem, a enterram na noo de desvio. Um elemento secun-
drio, uma coisa, enquanto um elemento desviante outra coi-
sa completamente diferente. Tomemos, por exemplo, o erro fun-
damental de atribuio, cujo elemento principal todavia perma-
nece na possibilidade de pensar que deve existir uma ligao
entre um efeito e uma causa. Esse erro consiste, como todos sa-
bem, em atribuir a causa de algum comportamento, ou aconte-
cimento, a uma pessoa, em vez de atribui-la a uma situao. O
leigo comete o erro, enquanto o especialista o evita, fornecendo,
por isso, uma resposta correta. Mas onde est a diferena entre o
primeiro e o ltimo? O leigo ignora a categoria de causalidade?
ele incapaz de raciocinio causal, enquanto que o especialista,
conhecendo essa categoria, , por isso, capaz de raciocinio cau-
sal?
Esse, evidentemente, no o caso. Ambos so capazes de f
azer atribuies, de dar explicaes causais. Desse modo, a nica
diferena est no fato de que um prefere explicaes pessoais,
enquanto que o outro prefere explicaes situacionais, por moti-
vos que no ficaram claros. Portanto, eles no aplicam a catego-
ria de causalidade do mesmo modo; e no h aqui um erro de
raciocinio maior que o que existe quando se compara a astrono-
mia ptolemaica com a astronomia copernicana, pois ambos esto
fundamentados em uma hiptese distinta sobre o movimento
dos planetas. Mas no quero insistir no fato bvio que a questo
da racionalidade no pode ser reduzida a uma questo de pro-
cesso e lgica, sem levar em considerao o contedo e finalida-
de do pensamento comum. Ningum assume uma mentalidade
conspiratria como o cume da cincia ou razo. Mas tomando em
considerao sua amplitude, freqncia e importncia na vida
social, seria ridculo explic-la apenas como uma distoro, ou
uma falta de lgica, pois ela implica toda uma viso sobre o ser
humano e o mundo. Enumerar suas irracionalidades uma coisa,
compreender o que as pessoas fazem com ela uma questo
328
totalmente diferente. Mui tos estudos sobre a histria das artes
mostram os feitos criativos que os pintores conseguiram, porque
ns estamos sujeitos a iluses perceptuais, ou o que os novelis-
tas conseguiram, devido a nossas iluses cognitivas. Somente
dentro da realidade histrica e cultural as relaes de razo e
no-razo podem ser plenamente avaliadas e compreendidas.
A hiptese da polifasia cognitiva assume que nossa tendn-
cia em empregar maneiras de pensar diversas e at mesmo opos-
tas - tais como as cientificas e religiosas, metafricas e lgicas e
assim por diante - uma situao normal na vida cotidiana e na
comunicao. Conseqentemente, a unidade lgica ou cognitiva
de nossa vida mental, que assumida como dada por muitos
psiclogos, um desiderato, no um fato. Podemos supor que h
trs elementos - contexto, normas e fins - que regulam a escolha
que fazem de uma forma de pensamento, com preferncia a ou-
tra. E talvez ns a qualifiquemos como racional. Para comear,
bvio que alguma informao particular pode ser identificada e
podemos lidar com ela, somente dentro de um contexto. Por e-
xemplo, um acontecimento no tem apenas uma causa, mas um
nmero infinito de causas, que dependem da multiplicidade de
outros eventos articulando esse contexto e tambm da represen-
tao que ns temos dele. Pense na famosa ma de Newton. A
queda de uma ma, como um simples fruto, pode bem ter como
sua causa o peso, a, maturao do fruto, que depende do sol che-
gando ao pomar, da: variedade da ma, mas tambm das ci r-
cunstncias atmosfricas, de um forte vento soprando naquele
dia. Apresentando sua representao mecnica, Newton olha
para a ma caindo dentro de um contexto do qual ele exclui a
maturao do fruto, o vento etc: da cadeia causal, de modo a re-
ter apenas a direo do movimento e o peso do fruto. Por isso, a
maneira como ns lidamos com qualquer informao e a racio-
nalidade de nosso lidar com ela uma questo de contexto e
representao explicando o que vai ser tomado como uma causa,
ou como um efeito.
As normas definem o que considerado como pensamento e
conhecimento racionais na cultura ocidental. Desde os gregos, a
norma dominante foi o princpio de no-contradio, que se tor-
nou, por assim dizer, uma categoria imperativa. Ela tanto um
imperativo jurdico, como retrico, dizendo-nos que no deve-
mos nos contradizer. Ao transgredir essa norma, somos qualifi-
cados como irracionais. O pensamento primitivo foi definido, no
329
sculo dezenove, com fundamento na suposio de que ele
transgride o princpio da no-contradio, ou as leis da associa-
o. Pela metade do sculo passado, outra norma comeou a e-
xistir: o princpio da probabilidade. A transgresso desse princi-
pio foi, desde ento; considerado um sinal de distoro e irracio-
nalidade, embora o pr& prio Einstein duvidou disso, dizendo
Deus no joga dados.
As finalidades da atividade cognitiva podem ser mltiplas,
indo desde a procura da verdade, a persuaso e exercido do po-
der, at a seduo e o prazer de viver. Por conseguinte, o conhe-
cimento toma uma forma diferente, de acordo com o fim especi-
fico que algum luta por conseguir. Pode ser uma finalidade cien-
tfica, como quando algum quer confirmar, ou falsificar, uma
idia arrojada, ou uma idia ideolgica, como quando algum
tenta convencer ou exercer poder. Pode ser tambm uma finali-
dade popular, ter o prazer de pensar ou falar, ou desempenhar
espontaneamente determinada tarefa. claro que uma pessoa,
ou um grupo, no pode conseguir todas essas finalidades dife-
rentes e opostas, atravs da mesma uni dade cognitiva. Muitos
efeitos cmicos surgem quando uma pessoa emprega uma forma
inadequada de pensar ou falar. Por exemplo, um cientista ten-
tando seduzir algum atravs de um raciocnio ci entifico ou re-
trico to ridiculo como Dom Quixote dirigindo-se a uma mu-
lher camponesa, como se ela fosse uma dama. Penetrar na racio-
nalidade do pensamento das pessoas, ou do senso comum, no
uma tarefa fcil. Pense na questo do mtodo. Ao estudar o pen-
samento cientifico, ns analisamos a produo, teorias e experi -
mentos dos pesquisadores e seus escritos. Ou ns observamos
como eles trabalham nos laboratrios e assim por diante. Nin-
gum nunca sugeriu que o conhecimento cientfico deveria ser
estudado escolhendo uma amostra de pessoas que receberam o
prmio Nobel e solicitando-lhes que resolvam alguns problemas
implicando silogismos ou inferncias estatsticas, mas isso o
que os psiclo: gos fazem quando estudam o pensamento do sen-
so comum e o conhecimento comum. Ao invs disso, os psiclo-
gos deveriam estudar o conhecimento do senso comum a partir
de suas produes, incorporadas em textos, linguagem, folclore,
ou mesmo literatura. Isso foi o que Heider fez. Se voc contrasta
sua maneira de estudar psicologia popular com a maneira que se
tomou dominante posteriormente, com a psicologia social expe-
rimental empregando, por assim dizer, aprendizes, espero que
330
voc ir compreender o que eu estou tentando dizer. Na minha
opinio, a maioria desses experi mentos no tem a ver como pen-
samento do senso comum. Isso no significa que eles no so
interessantes para o estudo do processamento da informao. Se
voc projeta isso para uma populao inteira, que no possui
mais que 5 ou 1O por cento de especialistas, ento voc mesmo
pode tirar a concluso sobre a finalidade social de tais resulta-
dos.
Nunca devemos esquecer que ns adquirimos a marca do
conhecimento do senso comum cedo na infncia, quando ns
comeamos a nos relacionar, comunicar e falar. A maioria das
pessoas fala muito bem sua lngua materna, mesmo que elas no
tenham nenhum estudo. O conhecimento do senso comum, por
isso, no pode ser to distorcido e errado, como algumas vezes
se sups. Ele serve muito bem a seus propsitos na vida diria e
chegou mesmo a encantar e a tornar a vida digna de ser vivida
por sculos, como ele me serviu, durante minha infncia na zona
rural, em uma cultura popular, maravilhosa, potica, apesar da
dificuldade e da pobreza em muitos lares. Penso em um quadro
de Chagall, Village et violiniste; ele pode lhe dar uma idia da
pequena aldeia em que cresci.
IM - Penso que a questo colocada por voc sobre senso
comum e distores pode ser feita no apenas com respeito
psicologia social, mas tambm com respeito psicologia cogniti-
va. em um sentido mais geral. Quando vim Inglaterra, em 1967,
fiquei admirada ao descobrir que os psiclogos ali no est uda-
vam o pensamento como um processo social, como era o caso na
psicologia marxista com a qual eu estava acostumada na Checos-
lovquia. Tenho em mente pessoas como Rubinstein, Vygotsky,
Leontiev e assim diante. Ao invs disso, o pensamento e a sol u-
o de problemas eram investigados como processamento da
informao e como processo onde o foco estava nos erros lgicos
e nas distores. Voc apresenta silogismos ou tarefas lgicas
baseadas em um clculo proposicional s pessoas e voc fica
interessado em descobrie que tipos de erros eles podem fazer.
Havia o pressuposto de existe apenas um modo de codificar cor-
retamente tais tarefas lgicas. Como resultado, os erros dos
sujeitos eram atribudos ao contedo da tarefa, motivao dos
sujeitos, ao esquema mental e a vrios outros fatores. Escrevi
sobre isso muito extensamente em Paradigms, thought and lan-
guage (Markov, 1982). De fato, foi grande parte essa a razo por
337
331
que, em vez de continuar, na Inglaterra, como psiclogo cogniti-
vista - esse era o rtulo na Checoslovquia -, quis tornar-me
um psiclogo social, para estudar o pensamento e a linguagem,
do ponto de vista social.
Continuando com a mesma questo, gostaria de perguntar
sobre seus pontos de vista a respeito de Bartlett, a quem voc se
refere muitas vezes em seu trabalho. Que papel, voc diria de-
sempenhou ele no desenvolvimento de suas idias sobre repre-
sentaes sociais?
SM - Gostei do trabalho de Frederick Bartlett, que encontrei
quando fui ao Congresso Internacional de Psicologia, em Bruxe-
las, na dcada de 1950. Ele se vestia de maneira muito engraa-
da, mas era um homem agradvel, gentil e eu estava em um pai-
nel sobre escalas, com Louis Guttman, no qual apresentei um
trabalho. Bartlett era uma pessoa bastante reservada, mas tive
uma conversa agradvel com ele. Ele era mais social com res-
peito ao pensar, que muitos dos psiclogos sociais hoje. Durante
nossa conversa, ele fez um comentrio sobre Lvy-Bruhl, dizen-
do que era errado comparar o homem primitivo com Kant. Des-
cobri depois que ele j havia feito esse comentrio na dcada de
192O, em seu livro sobre cultura primitiva (cf. Bartlett, 1923:
289). Mas esse comentrio me impressionou muito, porque pen-
sei que ele estava de acordo com meu prprio mtodo cientfico.
Esse encontro me disps a ler seu livro Remembering (Bartlett,
1932). Nesse tempo, estava trabalhando na teoria das represen-
taes sociais. E sua anli se sobre convencionalizao ajudou-me
a compreender o processo de objetivao mais claramente.
IM - Isso me leva a uma questo at mesmo mais fundamen-
tal, que tem a ver com pressupostos ontolgicos, de um lado, e
sua elaborao epistemolgica, de outro. Gostaria de afirmar que
a fenomenologia, a teoria das representaes sociais e alguns
outros enfoques sociais cientficos, tais como o dialogismo de
Bakhtin, a teoria sociocultural da mente de Vygotsky, o co-
construtivismo de Valsiner, a teoria do desenvolvimento cogniti-
vo de Nelson, o estruturalismo da Escola de Praga, todos com-
partilham dos mesmos
p
ressupostos ontolgicos sobre a realida-
de. Esses pressupostos incluem, por exemplo, a interdependn-
cia da cultura e da mente individual; seu co-desenvolvimento; a
interdependncia entre
p
ensamento/pensar e linguagem/falar.
Os pressupostos ontolgi cos so o fundamento de nosso racioci-
nar e muitas vezes eles so Implcitos, no-verbalizados - ou
332
mesmo difceis de verbalizar. Contudo, eles dividem nitidamente
esses enfoques, daqueles que esto baseados em entidades di s-
cretas, processos isolados, pro
c
essamento da informao, rela-
es causa-efeito. Em outras palavras, esses pressupostos onto-
lgicos especificam as diferenas entre o paradigma dialti-
co/dialgico, por um lado, e o paradigma platnico/cartesiano,
por outro. Ainda mais, eles tambm os distinguem de enfoques
tais como ps-modernismo e construcionismo e, de modo parti-
cular, das formas escuras de construcionismo, para empregar o
termo de Danziger (1997).
1. 4. Representaes sociais, Piaget e Vygotsky
IM - O que diferencia entre os enfoques especficos, no para-
digma dialtico/dialgico, a elaborao epistemolgica de al-
guns temas bsicos, o foco que dirigem para questes particulares
e o privilegiamento de fenmenos especficos. Foi por isso que
falei antes sobre as diferenas entre a teoria das representaes
sociais e a fenomenologia, com respeito a suas diferenas episte-
molgicas, mas os pressupostos ontolgicos subjacentes presumi-
velmente permanecem os mesmos. Poder-se-ia fazer uma anlise
semelhante com respeito s representaes sociais e outros enfo-
ques, dentro do mesmo paradigma. Isso me leva a outra influncia,
na origem de suas idias sobre representaes sociais, que tam-
bm discutida em seu trabalho sobre Piaget & Vygotsky (ver cap. 6
neste volume). Voc deixa muito claro que Piaget sempre desem-
penhou um papel importante na sua vida intelectual. Pode ria fa-
lar algo sobre isso?
SM - Se me voltar e lanar um olhar para o caminho que con-
duz teoria das representaes sociais, ele me parece estranha-
mente curto, embora mais complexo que eu pensava quando nos-
sa conversao comeou. Disse-lhe como e por que meu trabalho
sobre a escala de Guttman e meu interesse na ciberntica e comu-
nicao fixaram minha mente na noo de representao. claro,
naquele tempo ela era imprecisa e meramente intuitiva. Depois
me concentrei, por algum tempo, na questo da matria-prima
da psicologia social e na descoberta que essa matria-prima o
senso comum. Vi a psicologia social como uma cincia gentica, ou
do desenvolvimento, como a gnese do senso comum, do senso
comum moderno, isto , a vi como a transformao do conheci-
mento cientifico em conhecimento do senso comum. E isso estava
relacionado a todas essas questes epistemolgicas de que ns
333
estivemos falando. Chegou, ento, a difcil questo: que idia, que
conceito seria til, para se estudar o senso comum? Quando digo
que estava procurando uma idia, ou conceito, no quero dizer
uma noo que poderia ser empregada apenas para se colar nela o
rtulo social, como quando se diz cognio social, atitude indi-
vidual, ou construo individual. Quero dizer uma idia, ou concei-
to, que tem um sentido terico, baseado em uma demonstrao de
que o conhecimento, ou pensamento, necessariamente social, do
mesmo modo que na fisica, quando voc demonstra que a matria
tem de ser necessariamente atmica. De tudo o que conheo, tais
conceitos ou idias so muito raros em nosso campo. E isso no
deixa de ter suas conseqncias para o valor das teorias.
Aqui chega Piaget. Ele no escreveu apenas sobre psicologia
infantil, ele tambm escreveu muito sobre a histria e a epistemo-
logia da cincia e at mesmo sobre as relaes entre lgica e so-
ciedade. Lendo Piaget, ocorreu-me que ele estudou o senso co-
mum das crianas, do mesmo modo que eu estava tentando estu-
dar o senso comum dos adultos. Esse foi o primeiro elo. Descobri
depois que seu mtodo de estudar crianas atravs das observa-
es e entrevistas focais poderia servir-me do mesmo modo. Esse
foi o segundo elo. Envolvendo-me em seu trabalho, comecei a in-
vestigar seus sistemas tericos, o sentido dos conceitos que ele
empregou, sua lgica, se voc quiser. E aqui encontrei de novo a
representao, dessa vez no apenas como uma noo, mas como
uma idia terica. E isso, literalmente, mudou minha maneira de
pensar. Como voc sabe, na cultura europia e quando ns estu
damos psicologia, ns compreendemos o pensamento com o au-
xilio de duas distines, a distino ser humano/animal e a distin-
co ser humano/mquina. A partir desse ponto, eu compreendi o
pensamento atravs de uma terceira distino, a distino socie-
dade/indivduo, que se tornou, para mim, a distino bsica. Acon-
teceu ento que, tendo-a descoberto em Piaget, eu me perguntei
se a idia de representao social, ou coletiva, no poderia se tor-
nar o corao da teoria que procurava. Isso me ocupou por dois ou
trs anos.
Olhando retrospectivamente, descobri algum mrito em se-
guir as idias de Piaget naquele momento especifico. No era ape-
nas um jovem pesquisador, em uma situao no definida, mas
tambm um estrangeiro. Quando Piaget chegou a Paris, contudo,
em 1953/1954 (que era quando estava me fazendo essas pergun-
tas), como um sucessor de Merleau-Ponty na cadeira de psicologia
334
infantil, o mnimo que se poderia dizer que ele no tinha mui tos
admiradores. Merleau-Ponty no disse coisas muito interessantes
sobre suas idias e pessoas influentes, como Fraisse ou Zazzo, que
era um aluno de Wallon, tinham pouca simpatia pelas idias de
Piaget. Ele estava, por isso, de certo modo isolado. Talvez
tenha
sido isso o que me incitou a ler mais sobre seu trabalho. Alm dis-
so, ele me causava uma forte impresso quando eu o via no Caf
Bazar.
IM - Mas voc j se referiu a Durkheim na La Psychanalyse.
Est dizendo que ele no foi muito importante na teoria das repre-
sentaes sociais?
SM - No diria que Durkheim no foi muito importante, mas
eu li muito pouco dele, alm de seu trabalho sobre representaes
individuais e coletivas. Naquele tempo, seu trabalho e o de sua es-
cola no eram to populares como o so hoje. Lvy-Bruhl vivia em
um ostracismo, como vive at hoje. O livro La Pense sauvage (O
pensamento selvagem), de Levi-Strauss (1962/1966), foi escrito
contra ele. Desse modo, comecei a ler seriamente a obra dos pais
dessas idias, Durkheim e Lvy-Bruhl, na dcada de 1980, quando
eu escrevi The Invention of Society e compreendi o que eles esta-
vam querendo dizer. Alm disso, Piaget tomou seus conceitos e
muitos pontos de vista tericos, por exemplo, sobre o pensamento
simblico e o julgamento moral, de Durkheim. De certo modo, re-
cebi a herana de Durkheim e de Lvy-Bruhl sem estar consciente
disso. como um estrangeiro que chega a um pas, aprende sua
lngua, adota seus costumes e inconscientemente absorve sua his-
tria, seu carter tradicional - dos quais ele vai tomar conscincia
somente mais tarde. Eu sou um francs, nest-ce pas? Alm disso,
Piaget significou para mim algo mais. Como disse antes, na minha
idade da inocncia no tinha uma viso concreta do que uma
psicologia social ou do que deveria ser. No comeo de meus estu-
dos, trabalhei como pesquisador assistente em psicologia ex-
perimental. E alguns pesquisadores me disseram que psicologia
social era um ramo da psicologia experimental em que no acredi-
tei e que no respondia a minhas aspiraes. Parei de trabalhar
como pesquisador assistente e encontrei um trabalho como tutor
em uma famlia. Isso me deixou algum tempo para pensar sobre
qual poderia ser a alternativa. E, medida que ia me familiarizan-
do com a psicologia infantil de Piaget, tinha a impresso de desco-
brir o que a psicologia social pode ser. Isso quer dizer: a psicologia
social no uma cincia de funes isoladas - motivao, percep-
335
o - mas uma cincia do todo dos indivduos, ou dos grupos, na
continuidade da psicologia infantil. uma cincia do desenvolvi-
mento, da mudana, no das reaes a ambientes fixos. No sei se
posso encontrar as palavras exatas para expressar a voc essa vi -
so que me possuiu, h quarenta anos. No estou certo que, mes-
mo hoje, eu tenha outra de que eu mais gostasse.
1.5. Representaes sociais e crenas
IM- Voc descreve brilhantemente, em Chronique des annes
gares, seu primeiro encontro com Penses, de Pascal, quando
voc tinha 18 anos. Descreve os incios de seu interesse nas idias
que o preocuparam desde ento (Moscovici, 1997: 286). Interessei-
me muito por aquela passagem na Chronique, no apenas porque
ela escrita linda e poeticamente, mas tambm porque voc ex-
pressa ali intuies psicossociais profundas, que se ligam clara-
mente s representaes sociais. Primeiro, voc mostra explicita-
mente que a leitura dos Penses marcou a origem de seu interesse
em psicologia social. De modo especifico, lendo a afirmao de Pas-
cal crer importante e seu argumento subjacente a essa afir-
mao, fez com que voc pensasse que no se pode conhecer, ou
agir, ou criar algo, sem crer. Como voc diz, a crena que incen-
deia as idias e as palavras. Fundamentalmente, voc distinguiu
entre dois impulsos principais, o religioso e o artstico. O primeiro
separa os seres humanos dos deuses, o ltimo os envolve no tra-
balho, na matria, na tecnologia, na medicina e nas prticas sociais.
Contudo, ao invs de se abrir cincia, o que a modernidade reali-
zou, com a secularizao da religio, foi preparar uma era de novos
mitos. O nazismo amalgamou religio, poesia, folclore em novos
mitos e, alm do mais, ele tornou as cincias, tais como a biologia e
a medicina, parte de seus novos mitos. Gostaria de citar aqui da
Chronique des annes gares (p. 288-289):
Creio que lembro um dos meus pontos de partida. A cincia
uma forma moderna de impulso artstico. um tipo de
arte, se pensarmos sobre a extraordinria inventividade
nas cincias matemticas e f sicas, sobre a natureza extra-
ordinria de suas idias do universo e suas descobertas
materiais_ Outro ponto de partida que a cincia foi con-
taminada pela religio. Em vez de i ncluir os seres humanos
na natureza, ela exige sua excluso. Essa uma de suas il u-
336
ses, um de seus perigos. Para dizer isso bem simples-
mente, em vez de afirmar-se como uma ars vivendr, ela
permitiu ser assimilada a uma am moriendi.
Nessa passagem, pode-se ver claramente a ligao entre
suas idias sobre histria e filosofia da cincia expressas em
Essai sur Ihistoire humaine de Ia nature (Moscovici,
1968/1977) e suas idias sobre conhecimento e f, como voc
as desenvolveu em La Psychanalyse.
SM - um tpico que sempre me preocupou, mas eu no sei
como falar sobre ele como um psiclogo social. Conhecimento e
crena so conceitos opostos que formam um par, como razo e f.
Eles podem ter o mesmo contedo, mas qualidades diferentes. Pen-
se em uma idia muito popular, que , de certo modo, o principio da
modernidade: h progresso humano. Em um contexto, ela pode ser
considerada como uma questo de conhecimento. Grandes pensa-
dores tentaram comprov-la, ou falsific-la, estabelecer seu dom-
nio de validade dizendo, por exemplo, que h progresso na cincia,
mas no moralidade e assim por diante. Em outro contexto, pode-
mos considerar a idia de que h progresso humano como sendo
uma questo de crena. Nesse caso, ela exige compromisso com a
modernidade e uma confiana no esforo humano. uma questo
de lutar por um futuro melhor. O que foi chamado de religio do
progresso foi formado atravs de tal compromisso e confiana. Se a
idia de que h progresso humano se refere, em um caso, ao conhe-
cimento e em outro, crena, ela pode ser negada do mesmo modo,
nesses dois casos. No primeiro voc tem de apresentar evidncia e
argumentos para neg-la. No segundo caso, voc tem de apresentar
uma imagem oposta crena, uma crena na tradio, uma imagem
de algum passado idlico, com o qual as pessoas esto compromis-
sadas e em elas confiam, quando refletem sobre sua crena. A fim
de negar a crena, necessrio opor-lhe outra imagem, mas no
argumentos ou observao. Provas a favor, ou contra, numa crena,
so secundarias. Provas da existncia de Deus provavelmente con-
verteram poucos cristos ou judeus. Na verdade, no difcil ser
convertido e crer; mais difcil parar de crer, mesmo se algum tem
boas razes para fazer isso.
No vou esboar uma filosofia para voc, ou mesmo uma teo-
ria. Desde minha juventude - e voc deve ter lido o porqu em mi-
nha autobiografia - me preocupei com o poder da crena, entre ou-
tras coisas, pois durante a guerra pude ver o poder aterrador do
nacionalismo e do racismo. Embora eles fossem apresentados
337
como tendo fundamento em conhecimento biolgico e etnolgi-
co, eles se mostraram como sendo crenas polticas ou religio-
sas da mesma natureza. Penso que no se pode separar conhe-
cimento e crena por longo tempo. Mesmo um filsofo como
Bertrand Russel reconheceu a natureza misteriosa e a central i-
dade da crena em cada aspecto da vida mental. O que poderia
eu acrescentar ao que ele disse: Crer parece ser a coisa mais
mental que ns fazemos, a forma mais remota do que feito
pela simples razo de fazer. O conjunto da vida intelectual con-
siste de crena. E William James, no seu famoso artigo A Von-
tade de Crer, argumenta que crena essencial ao. Tudo o
que est contido na nossa crena uma idia e ela, por sua vez,
pode ser viva ou morta. E se viva ou morta, pode ser avaliado
pela prontido em agir. Para mim, o racismo e tudo o mais, foi
sempre uma questo de crena das massas, no de pr-conceito
ou esteretipos, etc. Os que mobilizaram as pessoas para criar
esse mundo moderno, ao menos assim que eu os vejo, coloca-
ram a si mesmos essa pergunta de Plato: Como pode algum
dar s idias filosficas o poder de idias mincas, isto , como
pode algum dar s idias cientificas o poder de idias re-
ligiosas? Toquei sobre essa interrogao em The Age of the -
Crowd (A era da multido), (Moscovici, 1985) e principalmente
em The Invention of Society (A criao da sociedade), (Moscovi-
ci, 1988/1993). Ali quis mostrar que, apesar da tendncia para
racionalizar e secularizar, a sociedade moderna , como qual-
quer sociedade, uma mquina para fazer deuses (que era o titu-
lo francs do livro, La Machine faire dieux). E eu defendo que
se, em ltima anlise, a principal explicao para os fenmenos
sociais, as de Weber e Durkheim, por exemplo, so psicossoci-
ais, isso devido ao fato de que eles consideram os indivduos
sozinhos, ou juntos, como homines credentes, homens de cren-
as. H muitas pessoas que querem crer e no conseguem. Eles
no experienciam isso corno um triunfo, mas como uma trag-
dia. uma pena que ns olhemos para os sujeitos vindo a nos-
sos laboratrios como indivduos uni-dimensionais, como
pequenos robs, com computadores em vez de mentes e ns
provavelmente fazemos a mesma coisa fora do laboratrio. Ns
esquecemos aquilo que faz a riqueza e o tormento de suas vi-
das, o que realmente interessa a eles.
Vamos um pouco mais adiante. Se verdade que o senso
comum uma forma de conhecimento, ao mesmo tempo ele se
338
mostra contendo numerosas crenas. Como podemos reconhe-
ce-las? O simples fato de que algumas proposies so assumi-
das como dadas e por isso se acredita nelas, um indicador.
Alm disso, elas esto misturadas com valores e atitudes que
no so discutidos, que at mesmo proibido discutir, de tal
modo que as concluses que ns tiramos de alguma informa-
o, ou idias, so, por assim dizer, j aceitas de antemo. Nesse
caso, ns tentamos confirm-las a qualquer custo, o que se tem
observado nos estudos antropolgicos ou experimentais. Atra-
vs da crena, o indivduo, ou grupo, no se relaciona como um
sujeito se relaciona com um objeto, um observador com uma
paisagem; ele est conectado com o mundo como um ator com
o personagem que ele encarna, um homem com sua casa, uma
pessoa com sua identidade. As representaes sociais, que so
identificadas no senso comum, so anlogas a paradigmas que,
contrariamente aos paradigmas cientficos, so construdos
parcialmente por crenas baseadas na f e parcialmente por
elementos de conhecimento baseados na verdade. E pelo fato
de conterem crenas, valid-los se mostra como um processo
longo, incerto, pois os paradigmas no podem ser nem confi r-
mados, nem negados. A origem de uma represent ao social
no puramente raciocnio ou informao, mas ela pode estar
muitas vezes em oposio ostensiva a principios de raciocnio
ou informao. Se ela est fixada, como disse Peirce, ou enrai-
zada na cultura, na linguagem, ento ns absorvemos represe n-
taes sociais, comeando na infncia, juntamente com outros
elementos de nossa cultura e com nossa lngua materna.
Longe de apenas registrar dados, ou sistematizar fatos, e-
las (as representaes sociais) so ferramentas mentais, ope-
rando na prpria experiencia, conformando o contexto em que
os fenmenos esto radicados. Talvez isso tambm explique
por que dire- rentes tipos de conhecimento e representaes
podem coexistir] juntos. Ainda mais, eles no eliminam antigos
tipos de conhecimento e representaes, mesmo se velhos e
novos tipos se contradigam. Como observaram Stphane Lau-
rent na Frana, ou McCloskey, Caramazzo e Green nos EE.UU., a
fsica do senso comum continua a ser usada mesmo por indiv-
duos que conhecem muito bem a fsica cientfica. Por exemplo,
eles podem aplicar a teoria medieval do movimento, a fim de
descrever e explicar o movimento de um corpo fsico. No h
nada de surpreendente sobre os achados desses experimentos,
339
nem significam eles que nossa fsica popular est baseada na
irracionalidade. Eles confirmam o que ns discutimos nos se-
minrios de Koyr.
E depois o lingista Leonard Talmy mostrou que essa teo-
ria medieval do movimento tambm inspira nossa linguagem.
Quando ns dizemos que o vento fez com que a bola continuas-
se a rolar, ns representamos a bola como tendo uma tendncia
interna ao repouso. Ele podia tambm ter mostrado que os i n-
gleses, entre os quais a teoria de Newton nasceu, costumavam
dizer que o sol nunca se punha em seu imprio, o que se refere
teoria de Ptolomeu. Lingistas como Talmy supem, correta-
mente na minha opinio, que representaes compartilhadas
governam o sentido da linguagem - e no de outra maneira.
claro, podemos encontrar representaes sociais que so
mais abstratas, mais impessoais e outras que so mais concre-
tas e pessoais. Isso, de fato, muito conhecido, de tal modo que
ns podemos falar, por exemplo, de cognies quentes e frias.
Mas eu penso que, do ponto de vista social, o que est em jogo
aqui o grau de presena, ou de fora, da crena. Por isso, tal-
vez seja melhor falar, corno fez William James, do grau em que
essas representaes esto vivas ou mortas; as pessoas acredi-
tam, ou no acreditam nelas, em determinado momento. Sendo
assim, duvido que possamos realmente compreender a vida
mental dos indivduos ou grupos, se ns menosprezarmos o
cruzamento hbrido de f e conhecimento, a mistura daquilo
que considerado verdadei ro porque ns nele acreditamos e
aquilo em que ns acreditamos porque o consideramos verda-
deiro. A pobreza do cognitivismo no que ele ignore o senti-
do; ele deixa fora as crenas.
1.6. Representaes coletivas e sociais
IM - Fica claro, a partir de seu trabalho sobre Vygotsky e
Pia-get (ver capitulo 6, neste volume), que se pode distinguir
entre duas tradies de pesquisa, com respeito gnese do
conceito de representaes sociais. Uma provm de Durkheim e
continua atravs de Piaget. A outra provm de Lvy-Bruhl e
continua atravs de Vygotsky. Como voc apontou, embora te-
nha tomado o termo de Piaget e o referisse a Durkheim j na La
Psychanalyse, entendo que em sua perspectiva terica e emp-
rica ele est aliado a Lvy-Bruin e Vygotsky. Voc mostrou que
h uma diferena fundamental entre essas duas tradies e ela
347
340
se refere { dicotomia continuidade/descontinuidade. Do meu
ponto de vista, ento fundamental que essa diferena coloque
essas duas tradies de representaes sociais em paradigmas
cientficos muito diferentes, no sentido de Kuhn. Tentarei ex-
plicar.
Em sua crtica a Durkheim (Moscovici, 1984), voc mos-
trou que ele era fiel tradio kantiana e tinha uma concepo
muito esttica de representaes. Por conseguinte, embora na
teorizao de Durkheim houvesse preocupao tanto com a
sociedade como com o indivduo, foi a inabilidade de Kant em
dominar o conceito de interdependncia dialtica, ou co-
construo, que tomou as representaes de Durkheim to es-
tticas. Voc mostrou, em seu artigo de 1998, que Piaget seguiu
o racionalismo de Durkheim que, de fato, era o racionalismo
kantiano. O conceito de estrutura de Piaget no mais que uma
reorganizao dos elementos preexistentes dentro de um todo
interligado. Esse conceito pr-dialtico de estrutura, que en-
contramos em Piaget, no estruturalismo francs e talvez no
dinamarqus, nitidamente diferente do estruturalismo da
Escola de Praga, que dialtico e dinmico. Acrescentaria que a
noo de universais cognitivos e lingsticos se adapta pers-
pectiva pr-dialtica. Desse modo, como pode essa perspecti va
explicar, em termos gerais, a noo de desenvolvimento? O
conceito de continuidade implica que a criana se desenvolve
at a idade adulta, atravs de estgios, atravs de uma srie de
opera- i es intermediadas e mutuamente interligadas. Esses
estgios se desdobram de uma maneira semelhante, mesmo se
voc estudat crianas em Genebra, Pads, Nova Iorque ou Mos-
cou (Piaget 197O/1972), . o que d crdito a operaes univer-
salmente vlidas.
A noo de descontinuidade, contudo, mais que apenas;
uma oposio a continuidade. Continuidade/descontinuidade,
para; mim, reflete pressupostos ontolgicos de dialti-
ca/dialogismo, como mencionei antes: a interdependncia da
cultura e da mente do indivduo; seu co-desenvolvimento; a
interdependncia entre pensamento/pensar e linguagem/falar.
Podemos encontrar, diria, alguns desses pressupostos em Levy-
Bruhl e todos eles em Vygotsky. Podemos falar sobre transfo r-
maes qualitativas de algo, somente se assumirmos uma estru-
tura aberta, isto , uma complementaridade da estrutura com
seu contexto relevante. E foi isso que Luria e Vygotsky tenta-
341
ram investigar em Uzbekisto, na dcada de 193O (ver Luria &
Vygotsky, 1976; 1979). Isso tam-bem compatvel com o que
voc disse sobre Lvy-Bruhl: Do mesmo modo que a teoria da
relatividade de Einstein naquele tempo, a hiptese de Lvy-
Bruhl destruiu a ideia kantiana de que as categorias da mente
humana eram as mesmas em todos os tempos e em todos os
lugares (ver captulo 6 deste livro). A estrutura cognitiva e a
cultura se constituem mutuamente.
As pessoas perguntam muitas vezes: Qual a diferena en-
tre o conceito de representao social de Moscovici e o de Dur-
kheim? Espero, por isso, que uma resposta a essa questo fique
agora clara. Estudando representaes sociais, devemos estu-
dar tanto a cultura, como a mente do indivduo.
A no ser que a distino entre os conceitos Dur-
kheim/Piaget e Lvy-BruhlNygostsky de representao social
seja entendida, ns podemos celebrar o aniversrio de cem
anos do termo representa-co coletiva ou social e ainda es-
tarmos escondendo algo muito mais fundamental: as diferenas
paradigmticas entre os dois conceitos de representaes soci-
ais ou coletivas. Embora voc diga, em seu artigo sobre esse
assunto, que a diferena entre esses dois enfoques est na g-
nese das representaes sociais, mas no em sua natureza, eu
iria argumentar que, de fato, a diferena na gnese leva a uma
diferena na natureza dessas representaes sociais. Isso , em
termos das diferenas em sua base ontolgica.
Os psiclogos sociais, muitas vezes, fazem a pergunta com
respeito diferena entre representaes sociais e coletivas.
Por exemplo, no seu artigo magistral, Rob Farr (1998) est pre-
ocupado com temas histricos, que cercam as noes de repre-
sentaes coletivas e representaes sociais e com seu em-
prego. Essas questes histricas so importantes e necessitam
ser conhecidas. Poderia comentar sobre esse assunto?
SM- Por favor, no espere que eu jamais seja capaz de ex-
plicar a diferena entre coletivo e social. Suponho que de-
vam existir algumas diferenas, mas preciso olhar no dicion-
rio, porque eu no as encontro em nenhum trabalho de qual-
quer pensador digno de considerao, inclusive Durkheim. A
maior parte das vezes, as duas palavras so usadas como sin-
nimas. Eu prefiro, contudo, usar apenas social, por que ele se
349
342
refere a uma noo clara, aquela da sociedade, a uma idia de
diferenciao, de redes de pessoas e suas interaes. No sculo
dezenove, a palavra coletivo era muito comum, sugerindo a
imagem de um amontoado de pessoas, um agregado de indivi-
duos formando um todo. Da o termo psicologia coletiva, que
no era muito distinta da psicologia da massa. No vejo a
questo histrica muito claramente. Mas eu posso construir
dois cenrios. O primeiro, o cenrio de Mauss, est ligado es-
cola de Durkheim. O prprio Durkheim conservou o social e o
psicolgico juntos. Depois de sua morte, Mauss insistiu mais na
especificidade do social e assumiu uma posio muito critica
com relao a Lvy-Bruhl, a quem considerou como insuficien-
temente social, porque ele era muito psicolgico. O ser coletivo
estava, para Bruhl, nesse lado da barreira, pois ele era insensi-
vel singularidade dos grupos sociais. O outro cenrio, o cen-
rio de Moscovici, se quiser, tem a ver com relaes entre socie-
dade e cultura. Em The Invention of Society, distingui entre so-
ciedades vividas e sociedades concebidas. Brevemente, po-
deria dizer que na primeira, culturas, tradies, rituais, credos
simblicos, etc. eram a matriz da sociedade. Na ltima, o co n-
trario, sociedade a matriz e aia sua cultura. Voc pode encon-
trar um ponto de vista semelhante no livro de Raymond Willi-
ams Culture: O carter social da produo cultural, que evi-
dente em todos os periodos e formas, agora mais diretamente
ativo e inescapvel, que em todas as culturas anteriormente
desenvolvidas (Williams, 1989: 3O). Arriscaria eu dizer que
no tenho realmente muita f em nenhum desses cenrios? Eu
respeito muito o trabalho histrico de Faz[. Uma vez ou outra,
contudo, a multiplicao de distines cessa de ter a fecundida-
de que supostamente deveria. Atravs de todo meu trabalho,
permaneci fiel navalha de Guilherme de Occam: no se deve
multiplicar conceitos sem necessidade. No se deve fazer com
mais o que se pode fazer com menos.
2. A teoria das representaes sociais e a teoria da
mudana social
IDA - Gostaria de the perguntar sobre um tema que de
grande interesse para muitos psiclogos sociais. Pode explicar
qual a relao, se houver, entre as duas maiores reas de seu
trabalho: a teoria das representaes sociais e a teoria da mu-
dana social - ou, como a ltima , muitas vezes, chamada, a
343
teoria da influncia da minoria? Penso que, em geral, os psic-
logos sociais olham para essas duas teorias como reas inde-
pendentes de seu trabalho. Aqueles que pesquisam representa-
es sociais no esto normal mente interessados nos processos
de influncia social. Ainda mais, essas duas reas so, muitas
vezes, ensinadas por diferentes professores, em cursos de gra-
duao de psicologia social. Contudo, vejo uma unidade concei-
tual importante, subjacente a essas duas reas.
SM- De muitos modos, a teoria das representaes sociais
e a teoria da inovao, como ela deveria ser chamada com mais
propriedade, pertencem a diferentes campos da psicologia so-
cial, respondem a diferentes questes e se relacionam a reas
distintas de minha experincia de vida. Eu no apenas pertenci
a uma minoria discriminada, tambm criei um movimento de
minoria, como conto em minha autobiografia. Basicamente, as
minorias so consideradas como existindo na fronteira social,
ou mesmo fora dela. A situao de uma minoria a situao de
um grupo ao qual foi negada autonomia e responsabilidade, que
no tem a confiana, nem reconhecido por outros grupos, tan-
to porque ele dominado, ou devido a sua posio dissidente,
hertica, etc. Tal grupo no se reconhece nos sistemas existe n-
tes de poder, crena e no representa tal sistema para ningum.
A fim de fornecer um sistema diferente de crenas, de obter
poder ou se tornar um modelo para outros, tal grupo tem de ser
capaz de influenciar os outros, mudando sua maneira de ver
e/ou agir, at que chegue ao ponto de se tomar uma maioria. As
minorias no so os nicos inovadores, porm, atravs da his-
tria, elas se mostraram, muitas vezes, como os principais a-
gentes de inovao na arte, cincia, politica e assim por diante.
Por isso, a questo terica e prtica, com respei to a minorias,
a pergunta de Gibbon: como foi possivel, a um punhado de cris-
tos, tornar-se uma Igreja e conseguir uma mudana to ingen-
te e, aparentemente, impossvel na histria romana? Em outras
palavras: como as minorias agem para ter um impacto, como
so elas capazes de converter e recrutar pessoas e transformar
a estrutura social? Apresentei uma discusso dessa teoria em
outro lugar e no vou repeti-la aqui. Permanece, contudo, o fato
que sempre me preocupou. Veja voc, meu primeiro estudo em
psicologia foi, ele mesmo, um estudo de inovao e mudana so-
cial (Moscovici, 1961).
Estudando a penetrao da psicanlise na sociedade fran-
344
cesa, tambm estudei, em certo sentido, a penetrao das idias
de uma minoria que era desconsiderada nos meios cientficos,
polticos e religiosos. Ela era at mesmo uma teoria estrangeira,
no-francesa. O que no se deve esquecer, contudo, o fato de
que, ao mesmo tempo em que prosseguia no meu trabalho de
campo na psicanlise, realizei um estudo de comunidade sobre
as conseqncias psicolgicas da mudana industrial. Como
voc sabe, naquele tempo o Doutorado de Estado, na Frana,
consistia em duas teses, a tese principal e a t ese complementar.
O estudo da representao social da psicanlise foi minha pri-
meira tese, orientada pelo Professor Lagache e minha tese
complementar foi esse estudo de comunidade, orientada pelo
Professor Stoetzel. Na dcada de 195O, era muito comum, para
um psiclogo social, trabalhar tanto na pesquisa pura, como na
aplicada.
IM - No sabia disso.
SM - Naquele tempo, o problema principal, na Frana, era o
problema da re-converso, isto , a mudana das reas indus-
triais tradicionais antigas, em reas modernas. Criei uma equi-
pe de pesquisa que inclua seis ou sete psiclogos, um socilogo
e um economista interessado nesse trabalho, que continuou por
vrios anos, nas reas de minerao e na rea txtil. Os resulta-
dos desse trabalho foram publicados em uma srie de livros.
Minha primeira pesquisa teve lugar em uma pequena regio,
famosa no apenas por sua indstria, isto , por fabricar cha-
pus, mas tambm por seu passado socialista e sindical. Como
qualquer psiclogo social daquele tempo, comecei com tentati-
vas de detectar a resistncia mudana e superar essa resis-
tncia, de tal modo que a regio e sua indstria pudessem se
modernizar. Nesse microcosmo, descobri que a resistncia
mudana no era o problema. Tambm observei que se uma
mudana, em uma comunidade, acontece, porque uma mino-
ria ou vrias minorias so capazes de manter um conflito e ne-
gociar uma soluo para esse conflito, em relao ao poder que
elas encontram e por que elas so capazes de levar a populao
frente.
Naquele tempo, estava associado a Claude Faucheux, que
conhecia Festinger e outros psiclogos sociais ingleses e dos
EE.UU., que trabalhavam em dinmica de grupo. Ele se interes-
sou no meu trabalho, inclusive nos meus estudos em histria da
cincia e fez-me ler a literatura sobre dinmica de grupos e
345
sobre influncia social. Com base nessa leitura, cheguei co n-
cluso que a psicologia social no estava tanto interessada com
aes de minorias, ou com a mudana levada a efeito por um
grupo minoritrio. Sua preocupao principal era descobrir
como um individuo, ou um divergente, mudado por um grupo
e como se torna um membro normal do grupo. Isso o que
Claude Faucheux e eu chamamos de distoro da conformidade.
Em outras palavras, a psicologia social estava principalmente
interessada em conformidade e influncia social era sinnimo
de conformidade social. A parir dal e no curso dos anos segui n-
tes, esse trabalho deu uma reviravolta sistemtica e na verdade
se transformou em uma teoria.
IM - Gostaria de apontar para uma questo que, penso, di-
ferencia seu enfoque, no estudo da influncia social, desde o
inicio.. Aquelas teorias tradicionais da influncia, baseadas em
modelos funcionais unidirecionais, no so teorias sociais do
conhecimento - seja do conhecimento leigo ou cientifico ou do
senso comum. No apenas a palavra conhecimento nunca
mencionada ali, mas nem so as preocupaes com conformi-
dade em geral, tipicalidades abstratas tais como normas, pon-
tos de vista, comportamento, atitudes gerais e assim por diante.
Em contraste a isso, a teoria das representaes sociais esteve
interessada, desde o incio, em identificar o contedo do conhe-
cimento do senso comum e olhai para os modos como ele se
expressa na linguagem e comunicao. Do mesmo modo, a teo-
ria da inovao. como voc mostrou antes, est interessada com
a difuso do conhecimento cientifico e outros tipos de conhe-
cimento institucionalizado, em senso comum. Em outras pal a-
vras, ambas as teorias esto preocupadas com o conhecimento
das maiorias e das minorias. Fico pensando se voc no gosta-
ria de comentar sobre o papel do conhecimento na teoria da
influncia.
2.1. Influncia social e a circulao do conhecimento
SM - No posso discutir aqui longamente o fenmeno do de-
senvolvimento e circulao do conhecimento dentro da sociedade.
At onde saiba, trs modelos foram propostos e foram difundidos:
1. Difuso atravs do contgio, comeando por Le Bon.
2. Propagao das idias atravs da imitao. Aceitar
uma opinio ou informao e torn-la minha, significa
346
imitar e imitar repetir, reproduzir em si mesmo o que
apareceu em algumas outras mentes. Do mesmo modo
que individuos ou grupos inferiores imitam individuos
ou grupos superiores, as idias dominantes de nosso
tempo, que so reproduzidas, so as dos grupos domi-
nantes, instrumentos que os possibi lita manter seu po-
der e tais idias sero disseminadas.
3. O terceiro modo o da conformidade. De acordo com e-
le, o surgimento e a desapario de idias no depende
de serem evidentes ou absurdas, mas da conformidade e
do grau de oposio que elas enfrentam, dependendo da
sua con-cordncia, ou discordncia, com as idias ado-
tadas pela maioria, ou pela autoridade. Esse modelo ,
sem dvida, verdadeiro, mas permanece incuo, como
uma tautologia.
O que faltou, aparentemente, a esses modelos foi tenso, um
intercmbio entre o emissor e o receptor do conhecimento. A difu-
so aqui reduzida a uma srie infindvel de escolhas individuais
e aceitao de conhecimento. No momento em que voc passa de`
uma viso individualista para uma viso social de circulao do
conhecimento e linguagens voc tende a ver esse processo como
umprocesso de comunicao, no decurso do qual a informao
transmitida e transformada. Ento a comunicao oral, como no
caso do senso comum, seu meio fa parole, conversao (falada).
Temos aqui um quarto modelo, o da comunicao, que tentei el a-
borar.
Algum pode supor que na cincia e na filosofia a acentuao
colocada em aes de elaborao individual do conhecimento;
no senso comum, o contrrio, pois o acento nas aes difundi-
das de um conhecimento compartilhado, em um determinado
tempo. Ainda mais, toda teoria cientifica ou filosfica tende a se
tornar primeiro o senso comum de um grupo restrito, de uma mi-
noria, que ento distribudo, em conexo com a vida prtica,
atravs da maioria da sociedade, onde ele se torna senso comum,
com um contedo renovado e uma nova maneira de pensar. Em
uma carta escrita a Necker em 1775, Diderot afirmava: A opinio,
essa entidade mvel, cuja fora para o bem ou o mal todos ns co-
nhecemos , na sua origem, nada mais que o efeito de um pequeno
nmero de homens que falam depois de pensar e formam, con-
tinuamente, em vrios pontos da sociedade, centros de instruo,
de onde provm os erros, as verdades fundamentadas e gradual-
347
mente alcanam os ltimos confins da cidade onde elas se estabe-
lecem como artigos de fe.
A partir desses comentrios, voc pode ver como delineado
o modelo de comunicao. Em primeiro lugar, temos aqui a difu-
so a partir do inventor ou, falando de maneira geral, da minoria
de cientistas, filsofos, etc. para a maioria, um processo no decur-
so do qual ocorre o que ns chamamos de popularizao do co-
nhecimento. Essa a primeira transformao de uma idia nova,
estranha ou esotrica, pelo e no ambiente social. Em seguida, ago-
ra circulando dentro da maioria, a idia nova, estranha ou eso-
trica, interfere em ideais existentes, toma-se o foco da conversa-
o, do debate e do resto. O efeito dessas conversaes e debates
reforar, intensificar e levar a efeito toda idia, ou item, de co-
nhecimento circulando na sociedade, tanto novos, como velhos.
Uma vez que as coisas esotricas e estranhas se tenham tornado
estveis e familiares, grupos de especialistas populares, ou cren-
tes, so formados. A partir dessas comunicaes, entendimentos
ou desentendimentos, a partir de numerosas transformaes e re-
formulaes, algo novo criado nas conversaes e debates, isto e,
uma nova representao partilhada do senso comum, com seu
prprio estilo e contedo. O prprio contedo, as vezes, mudou a
tal modo que no podemos reconhec-lo, mesmo que o nome te-
nha permanecido inalterado, por exemplo, o nome e a noo de
seleo natural, que foi transportada da biologia evolucionista,
para a evoluo dos fenmenos psicolgicos ou sociais. Mas o in-
divduo, ou a minoria inicial, no esto imunes s presses da
maioria. Isso os leva a se ajustarem ao senso comum, tanto mos-
trando sua relutncia em expressar suas novas idias, como
propondo-as de tal modo que no se confrontem s idias religio-
sas, ou opinies politicas, o modo prevalecente de pensar de seus
compatriotas. Uma das concluses a que foi possivel chegar desse
modelo foi que, em confronto com uma concepo generalizada, o
- senso comum no menos vulnervel mudana continua pelos
;. processos sociais e comunicativos, do que qualquer outro tipo de
. conhecimento ou crena. Voc tem aqui uma imagem simplifica-
da daquilo que eu chamei de uma sociedade pensante.
Demos um passo frente. Como disse antes, ns geralmente i
separamos a comunicao, isto , a transmisso da informao, da
influncia, cujo objetivo conseguir o consentimento de algum.
Mas ainda permanece um conflito na difuso do conhecimento,
um conflito entre o novo e o antigo, entre idias esotricas e exti-
355
348
cas, que cada partido quer impor, atravs de estratgias de persu-
aso. Como disse Parsons, dentro de um comunicador, h um , .
persuasor Intrnseco. E Berkeley observou, h muito tempo, que
essa distino , em grande parte, artificial, porque no h comu-
nicao sem inteno persuasiva: A comunicao de idias mar-
cada por palavras no o fim principal e nico da linguagem, co-
mo se supe comumente. H outros fins, como o levantar deter-
minadas paixes, incitar ou afastar de uma ao, colocar a mente
de acordo com alguma disposio especfica. No modelo comu-
nicativo que descrevi, distinguimos duas direes, por onde circu-
la e e transformado o conhecimento: a primeira vai da cincia, filo-
sofia, etc. em direo ao senso comum e a segunda, do senso co-
mum em direo cincia e a outras formas de conhecimento. No
primeiro caso, podemos falar de inovao e no segundo caso, de
conservao, ou conformidade.
Por conseguinte, o primeiro movimento, na teoria da influn-
cia, foi distinguir entre esses dois processos: inovao e conformi-
dade, o que abriu um novo campo de fenmenos para explorao
psicossocial, que at ento se tinha interessado na conformidade.
Nunca pude entender por que o reconhecimento desses dois pro-
cessos complementares fundamentais enfrentou tanta oposio.
Seria devido autonomia da inovao? Seria devido dualidade
dos processos de influncia? Ou se sentiu a necessidade de resta-
belecer o status quo ante, afim de tornar a inovao um caso parti-
cular de conformidade? Na verdade, uma dualidade semelhante
existe na fsica entre o principio da entropia e o principio da con-
servao, na linguagem entre o que Zipf chamou de foras de uni-
ficao, as foras da diversidade e na filosofia da cincia entre o
que Kuhn chamou de cincia revolucionria e cincia normal, etc.
Sejam quais tenham sido as razes para tal oposio, isso resultou
na manuteno do antigo modelo que nunca reconheceu as duas
fontes de influncia: de um lado a influncia da minoria, que A se
conformar a uma minoria e do outro lado a infl uncia da maioria,
que significa se conformar a uma maioria. A inovao, com suas
caractersticas originais e seu campo de fenmenos especficos,
mantida fora da psicologia social. Talvez as pessoas acreditem,
bem l no fundo, que o animal social, para emprestar uma fr-
mula popular de Aronson, um animal que se conforma.
Vamos esquecer isso e retornar a nossos processos e especi-
almente s noes de minoria e maioria. Diria que, atravs das
diferentes culturas, podem-se encontrar alguns tipos representa-
349
donais que, de acordo com a linguagem poltica, foram rotulados
de maioria e minoria, mas que tm uma intima semelhana asso-
ciada, na cabea das pessoas, com ortodoxia e heresia, academicis-
mo e vanguarda, normalidade e desvio comportamental, obedin-
cia e dissidncia, autctone e estrangeiro, etc. Dentro dessa dia-de,
h uma invisivel e sempre presente representao de cultura, das
categorias muito efetivas que so revividas ao serem atribu das a
um papel, a uma mensagem e assim por diante. Obviamente, po-
demos simboliz-las por nmeros, ou por nomes. Contudo, o que
interessa no so nmeros (que percentagem de opinio, ou de
votos, constitui uma maioria, ou minoria?), ou nomes, mas os tipos
representacionais que so ativos. Eu sabia que um dia iriam me
pedir que explicasse atravs de que ndice emprico eu defino uma
minoria, mas difcil enumerar todos os indices dispersos, quan-
do se lida com essas representaes que so tanto tpicas, como
compostas, la Galton.
IM- Como voc colocou, uma minoria no pode ser definida
independentemente de seu contexto social. Uma minoria, como
quaisquer outros conceitos societais, por exemplo, uma represen-
tao social, uma estrutura, urn processo, urn indivduo e assim
por diante, so todos termos relacionais que podem ser definidos
apenas em relao a algo. Isso no significa, claro, um relativis-
mo, que coisa diferente, que ns no podemos levantar aqui.
SM - Inovao nas minorias no algo que eu inventei; ela e-
xiste l, na vida social, um thema cultural para grupos em sua
representao de suas origens - pense no julgamento de Scrates,
de Cristo, de Galileu ou Giordano Bruno. O fenmeno ampla-
mente descrito na antropologia, economia, histria e assim por di-
ante. Por isso, o que me espantou naquele tempo e naquela idade
foi ser perguntado como eu definia a minoria. As minorias so
definidas de acordo com situaes histricas e modelos culturais.
E s vezes me admiro por que as pessoas as podem tomar em um
sentido puramente numrico. H muito tempo dei o exempla das
mulheres, mostrando claramente que ser uma minoria no signifi-
ca sempre ser menos numeroso. Uma maioria pode tambm ser
entendida legalmente, culturalmente, como menor. Em francs eu
cunhei a palavra mineurit, em ingls poder-se-ia cham-la de
uma minor-ity (em portugus, menor-idade).
A teoria da representao social que delineei acima pergunta
350
e responde questo: O que conhecimento partilhado? Ela de-
volve ao conhecimento seu carter de uma ideia-modelo, mais ou
menos padronizada. Tais representaes servem s pessoas, por
um lado, comoparadigmas na comunicao e, por outro lado, como
meios de orientao prtica. Sendo assim, as bases para um di s-
curso sobre a natureza do conhecimento humano aqui sugeridas.,
como voc pode ver, mudaram. Em primeiro lugar, o conhecimen-
to como concebido aqui, um processo de luta e persuaso no
curso da histria humana, no um processo de aprendizagem rea-
lizado pela pessoa singular, que se supe adquirir conhecimento,
atravs da informao privada. Essa uma concepo das teorias
de conhecimento tradicional que ou desprezam, ou constroem um
mundo parte do conhecimento e da comunicao comum. Esse
conhecimento, como quaisquer outros tipos de conhecimento
mais exticos, que um dia ou outro so includos no discurso p-
blico, levanta outra questo: como o conhecimento partilhado?
Como pode uma nica idia, um ponto de vista particular, que
pode parecer uma obsesso de um individuo singular, at o mo-
mento em que mergulha na corrente central do desenvolvimento
do conhecimento humano, como pode ele fazer uma passagem
para se tomar uma obsesso coletiva? Isso aconteceu no caso do
marxismo, da teoria da evoluo, da psicanlise e da teoria da re-
latividade. Contudo, essa passagem no foi um milagre, mas ape-
nas um exemplo de como essas minorias mantiveram um conflito
com a oposio, como elas viram a hostilidade dos homens e
como elas os converteram para essa nova viso ou idia, de a-
cordo com a dinmica que expliquei, espero, atravs da teoria da
inovao.
2.2. A interdependncia minoria/maioria
IM - Vou expressar minha hiptese sobre essa oposio, que
vejo como uma dificuldade em compreender a idia de pensar em
totalidade. Comeo citando de seu livro sobre Social Influence and
Social Change (Moscovici, 1976). Voc enfatizou ali que os proces-
sos de influncia esto baseados em duas idias inter-relaciona-
das. Em primeiro lugar, a influncia exercida em duas direes e
reciproca: da maioria em direo minoria e da minoria em di-
reo maioria. Em segundo lugar, seguindo do primeiro, cada
parte de um grupo deve ser considerado como emitindo e rece-
bendo influncia simultaneamente (...I cada individuo ou subgru-
351
po I...1 est ao mesmo tempo sendo influenciado, ou influencian-
do, outros ao mesmo tempo, sempre que ocorre influncia. Am-
bas as idias, de reciprocidade e simultaneidade, criaram uma
dificuldade conceptual para a psicologia social em voga, porque
elas pertencem - eu diria - a uma maneira de pensar dialtica, ou
dialgica. Uma teoria de interao entre entidades foi um conceito
difcil para a psicologia social dominante daquele tempo, porque
seu pressuposto fundamental era o da existncia de entidades dis-
cretas que, por uma razo ou outra, podem entrar em interao.
Para voc, ao contrrio, o ponto de partida era uma diade, o da
maioria/minoria: um componente no tem sentido sem o outro
componente. Eles so mutuamente interdependentes, como figura
e fundo, porque a maioria definida em termos da minoria e a
minoria em termos da maioria. Como voc diz, essa noo de reci-
procidade - ou complementaridade - foi empregada desde muito
tempo na fsica. Bohr introduziu esse principio em sua tentativa
de resolver o problema de como atribuir propriedades contrrias
aos objetos, isto , propriedades semelhana de ondas, proprie-
dades semelhana de partculas. Essa relao interna - uma ten-
so - dentro da diade um pressuposto para a mudana social.
Contudo, esse conceito era estranho s teorias tradicionais da
influncia. Seu ponto de partida era o de duas entidades interde-
pendentes: maioria e minoria. Desse modo, as teorias de influn-
cia baseadas na conformidade comearam com uma norma, de um
lado, e um individuo desviaste, de outro. O problema para o psic-
logo social era como junt-los: voc os junta atravs da influncia
na entidade mais fraca: unidirecionalmente, pelo fluxo da maioria
para a minoria.
O segundo ponto que gostaria de apresentar segue desse pri-
meiro. Se voc tem um modelo baseado em entidades separadas,
ento a idia de simultaneidade da influncia impossvel de ser
concebida. Esse foi tambm o problema na hngistica, baseada em
opostos como entidades independentes, da tradio de Saus sure.
Roman Jakobson (1987) criticou a tese de Saussure, que atribua
aos sons da linguagem linearidade mensurvel apenas em uma
direo. Como ele mostrou, os sons eram definidos em termos de
seqencialidade meramente temporal e no pela simultaneidade.
Ao invs disso, Jakobson viu os sons da linguagem em termos de
oposies interdependentes. Ns estamos falando aqui sobre uma
dificuldade terica que provm de dois paradigmas al ternativos:
um baseado na noo de entidades discretas e o outro baseado em
352
interdependncias. Embora em linhas tericas, o que voc props
na teoria da inovao tem uma longa tradio, de Hegel atravs,
por exemplo, de Mead, Vygotsky, Baldwin e os lingistas da Escola
de Praga, na psicologia social emprica foi uma nova concepo e,
por isso, difcil de ser compreendida.
IM - H um ponto a mais. Eu me perguntei: como uma teoria
to estranha e perturbadora como a psicanlise, defendida por um
grupo to pequeno, altera o senso comum? Obviamente, outras
pessoas, por exemplo aquelas que trabalham no campo da crena
ou cincia, fizeram essa pergunta antes de mim. Voc sabe que
essa foi a pergunta de Heisenberg: Devemos perguntar como um
to pequeno grupo de fisicos foi capaz de forar o outro para essas
mudanas na estrutura da cincia e do pensamento. Ele conside-
rou que essa era a pergunta principal para se compreender as re-
volues cientificas.
Bem agora, para no vagar por muito longe de sua pergunta,
qual a relao entre a teoria das representaes sociais e a teoria
da inovao, h aqui um outro ponto: as representaes de grupos
que constituem um tipo ou outro tm, sem dvida, alguma impor-
tncia na comunicao da influncia. Isso se refere a tipos que so
normalmente descritos como antagnicos ou alternativos. Como
entender a relutncia que pessoas, especialmente nos EE.UU., ti-
vetam contra esse aspecto perturbador e incmodo das minorias?
Os EE.UU. o pais dos imigrantes; houve ali dissidentes religiosos,
no-conformistas, pensadores independentes. Lendo o livro Tan-
glewood Tales, de Hawthorne, pode-se ver que a vida religiosa dos
EE.UU. esteve repleta de heresias e luta contra as heresias, sem
mencionar a desobedincia civil e assim por diante. Esse pano de
fundo da teoria da inovao, do sentido das minorias e maiorias,
no despertou a ateno quando falei la sobre isso. H algum tem-
po fiz uma anlise literria de The Scarlet Letter, do ponto de vista
de minha teoria, do mesmo modo que fiz sobre Ala recherche du
temps perdu, de Proust, ou melhor, de um aspecto limitado desse
trabalho (Moscovici, 1986; ver tambm capitulo 5 neste volume).
2.3 Estilo comportamental
SM - Chego agora a um ponto mais preciso de convergncia
entre as duas teorias. Como voc sabe, respondi pergunta sobre
que ajuda a uma minoria pode ter influncia, dizendo que no
353
seu prestigio, poder ou capacidade, mas seu estilo de comporta-
mento. o estilo comportamental que leva a outras pessoas a in-
teno do ator, a influencia, seu grau de firmeza de convico, de-
terminao, consistncia, coragem, etc. O estilo comportamental,
contudo, para que tenha efeito, deve ser entendido pela maioria,
que deve compartilhar a mesma representao desse estilo como-
a minoria, a fim de detectar sua mesma estrutura e dar-lhe o mes-
mo sentido. como observar algum que est em um palco, por
exemplo, um teatro chins, ou representando atravs de gestos. A
fim de apreciar a mimica, as pessoas devem partilhar a represen-
ta-co do que esses gestos e aes significam, de outro modo essas
pessoas vo parecer loucas ou ridculas. Por exemplo, se sou con-
sistente quando expresso mi nhas idias sobre a teoria das repre-
sentaes sociais, h alguma possibilidade de que as pessoas iro
perceber a firmeza de meu compromisso intelectual. exatamente
por isso que dissidentes como Havel. Sakharov e outros foram to
eficientes em sua oposio ao regime.
IM - O estilo comportamental nos traz de volta ao conheci-
mento do senso comum. Nossas representaes de outras pes soas,
em termos de motivos, intenes, fins e razes, esto to enraiza-
das em nossa realidade social, que ns temos a tendncia de per-
ceber suas aes diretamente como tendo um significado par-
ticular - mais do que interpret-las. Do mesmo modo, temos uma
boa imagem de como somos percebidos por outros e por isso ns
podemos aplicar estratgias que reforcem percepes particula-
res. Essa uma boa psicologia social da parte das minorias e
uma aplicao do principio de Hegel do reconhecimento.
SM - No apenas uma aplicao do princpio de Hegel. No l i-
vro sobre que voc falou (Moscovici, 1976), desenvolvi uma teo-
ria, arrisco-me cham-la assim, do reconhecimento. Mostrei que
isso que as minorias procuram. Elas de fato tm acesso a uma e-
xistncia prpria e vontade de se tomarem maioria, somente na
medida em que so reconhecidas por outros grupos. Falei com
Henri Tajfel sobre essas minorias sociais, tornando a hiptese
mais precisa, dizendo que a necessidade de reconhecimento social
est no corao da inovao, seu motor, por assim dizer, do
mesmo modo que a necessidade de semelhana social o motor
da conformidade. Pois um indivduo que est incerto sobre suas
opinies ou julgamentos, procurar reduzir essa incerteza compa-
rando-os s opinies e julgamentos da maioria. Ns mesmos veri-
ficamos essa hiptese no estudo com Genevieve Paicheler, que foi
354
publicado no primeiro livro por Henri Tajtel sobre a diferena
entre grupos (Moscovici & Paicheler, 1978).
Voc v, eu penso que em psicologia social h duas orienta-
es, no estudo das relaes entre grupos. Uma a orientao de
Sherif, com respeito relao de grupos in e out e a outra a
orientao de Lewin em Resolving Social Conflicts (1948), com
respeito s relaes entre maiorias e minorias, ou melhor, entre
um grupo que se representa como sendo a maioria e outro como
sendo a minoria, ou vice-versa. Dependendo do que algum se re-
presenta ser, ele busca reconhecimento, ou se compara com outro.
Mas de qualquer maneira que um grupo representar a si mesmo,
ele somente pode comunicar, ou influenciar, se ele adotar um esti-
lo comportamental. Estilos comportamentais so comporta-
mentos simblicos. Em um estilo comportamental, uma ao e
uma representao esto associadas, conferindo sentido e rele-
vncia comunicativa. Isso pode ser e foi questionado. Contudo, a
Professora Wendy Wood e seus colegas mostraram, em uma bri-
lhante meta-anlise com um grande nmero de experimentos,que
os estilos comportamentais, particularmente a consistncia, de
fato desempenham um papel causal que a teoria lhes confere.
Falei, at demais, muitas vezes, da tendncia de cortar teorias
e at mesmo pior, de cortar fenmenos em fatias. A mesma coisa
aconteceu com a teoria da inovao: minorias, converso, mudan-
a de atitude, etc. foram consideradas fatias independentes da in-
fluncia. Por que isso foi feito e com que conseqncias, no est
claro, ou parece claro demais. Isso no significa que a teoria no
tenha feito progresso notvel. Estudos empricos fascinantes fo-
ram levados a efeito e novas idias foram propostas. Mas, voc v,
s vezes me sinto distante, at mesmo ultrapassado. Para mim, os
experimentos so parte da ars inveniendi, a arte da descoberta,
mais que a arte da prova e a explicao no tudo, nem a coisa
principal, na cincia. O que est ai para ser explicado deve primei-
ro ser cuidadosamente descrito. Meu prazer, quando estou fazen-
do experimentos, descobrir novos e estranhos fenmenos; por
exempla, a pesquisa sobre fenmenos de polarizao de grupos,
com Mariza Zavalloni (Moscovici & Zavalloni, 1969), entre outros.
IM - Ento, o estilo comportamental que liga diretamente as
duas teorias, a teoria das representaes sociais e a da inovao.
Voc estudou estilo comportamental e consistncia no apenas no
laboratrio, mas tambm entre dissidentes.
355
2.4. Dissidentes como uma minoria
SM - Sim. Os dissidentes escolheram consistncia porque eles
sabiam o que a consistncia representa para os outros e o que o
compromisso representa para os outros. Desse modo, estilos com-
portamentais provem do estudo das representaes sociais; sub-
jacentes a isso tudo, ns temos representaes de inteno, de
comportamento, de regras de comportamento, etc. e voc pode
dizer que isso resulta em representao. Se ns no tivermos a
mesma representao, ento o estilo comportamental no tem
efeito.
IM - O estilo comportamental est baseado na consistncia e
na repetio. A repetio algo muito importante no desenvolvi-
mento da representao. Voc discute esse ponto em La Psychaly-
se, como um modo de mostrar como a propaganda tenta mudar a
representao. Desse modo, poder-se-ia ver esse papel do estilo
comportamental de duas maneiras, primeiro, como uma represen-
tao compartilhada, como uma expresso de objetivos, intenes,
motivos que so compreendidos por outros; e segundo, como uma
atividade consistente e repetitiva, que d fora a esses objetivos,
intenes e motivos.
SM - No pensei sobre isso, mas verdade.
IM - Eu me pergunto se a essa altura voc no poderia dizer
algo sobre o estudo sobre dissidentes, porque seu excelente en-
saio sobre Solzhenitsyn e Tvardovsky conhecido apenas aos
leitores franceses. Voc o escreveu depois que a edio inglesa de
Social Influence and Social Change (1976) tinha sido publicada e
ele est incluido na verso francesa de seu livro intitulado Psycho-
logie des minorits actives (Moscovici, 1979) que, de algum modo,
expressa mais apropriadamente o enfoque principal do livro.
SM - Uma coisa que queria mostrar, nesse estudo, era que,
uma vez que voc est na posio de um dissidente, sua maneira
de pensar, seu estilo de relaes ou de comportamento mudam
totalmente. Pude ver a que ponto o estilo comportamental con-
sistente em relao ao clima psicolgico ou situao e As perso-
nalidades implicadas. No ensaio sobre Solzhenitsyn e Tvardovsky,
escrevi sobre pessoas que, em um tempo de um grande experi-
mento histrico, foram indivduos fortes e muito proeminentes,
profundamente conscientes do que eles estavam fazendo e do que
363
356
estava acontecendo social e politicamente. Ambos tinham objeti-
vos pelos quais eles lutaram. Sua dramtica relao revelou mui-
tos aspectos da influncia que eles exerceram um sobre o outro e
achei isso iluminador. Essa foi tambm uma ocasio para confir-
mar a hiptese sobre conflito e converso. Dessa maneira, at cer-
to ponto eles me forneceram subsidio terico. Esses dois persona-
gens - e por personagem eu quero dizer algum que faz o que pen-
sa e pensa o que ele faz - expressam a relao entre a ati vidade
mental e a comportamental. Desde que escrevi esse ensaio, traba-
lhei sobre um terceiro personagem e fiz anotaes sobre ele. Sa-
kharov. Ele um personagem muito interessante. Ele tinha escrito
suas memrias e comecei a trabalhar sobre elas. Voc v, ento,
que eu penso que a anlise de textos literrios, baseada em dissi-
dentes, um modo de progredir no estudo das minorias. Experi-
mentos de laboratrio poderiam, s vezes, transformar-se em no
mais que uma srie de pequenos estudos, um conduzindo ao ou-
tro, um sendo um refinamento do anterior e assim por diante,
todos juntos no sendo mais que uma espcie de trabalho intelec-
tual fechado.
IM - Essas anlises literrias so estudos sociopsicolgicos
imaginativos de grande valor. Mas so seus experimentos sobre
minorias, que influenciaram os psiclogos sociais. Os psiclogos
podem realizar estudos experimentais relativamente simples e
bem arrumados e podem procurar por variveis que Moscovici
no levou em considerao, confirmar e desconfirmar Moscovici
nessas variveis; eles podem aperfeioar esses experimentos, me-
lhor-los e assim por diante. Em outras palavras, eles podem levar
adiante a cincia normal, para empregar o termo de Kuhn. Eu di-
ria que, de fato, todo livro-texto dos EE.UU. fala sobre seus estudos
em influncia da minoria.
SM - Mas no sobre inovao.
IM - No sobre inovao. Esses experimentos podem ser vis-
tos como a outra face dos experimentos em mudana social.
SM - Para mim, estudos dentro ou fora do laboratrio tm o
mesmo valor. Apenas consideraes heursticas decidem que tipo
apropriado para que fenmenos. A criao de novas idias e no-
357
vos fenmenos o que ns estamos procurando e at mesmo sen-
do pagos por isso. Os mtodos so apenas meios para um fim. Se
eles se tornam um fim, ou um critrio da seleo dos tpicos e
idias, ento eles so apenas outra forma de censura profissional.
Ento, voc pode me chamar de oportunista metodolgico e eu
no me sentirei ofendido. Retornando aos dissidentes, eles fize-
ram escolhas consistentes e recusam qualquer compromisso, por-
que eles sabem que, aos olhos de outras pessoas, isso representa
uma nova atitude e uma expresso de oposio, o sinal que indica
que eles pensam de maneira diferente. Somente os comunistas
fiis, ou o colaborador compromissado, se comportou de uma
maneira inconsistente nos julgamentos pblicos, s vezes se opon-
do, s vezes aceitando as acusaes do advogado. No havia dvi-
da quanto a isso, como Yakir diz em suas memrias, devido s
presses fsicas e morais da policia, s quais todos os dissidentes
estavam submetidos. Sendo assim, se os dissidentes no tivessem
compartilhado as mesmas representaes de estilo comportamen-
tal com a maioria das pessoas e no tivessem tido alguma idia
sobre seus efeitos, eles no teriam escolhido isso como uma estra-
tgia e nunca teriam convertido tantas pessoas que, por sua vez,
influenciaram a outros.
Os estudos de laboratrio so interessantes, porque eles po-
dem fornecer uma anlise mais detalhada dos fenmenos especfi-
cos. Aprendi muito tarde como fazer experimentos, embora tives-
se uma noo de sua funo a partir do meu conhecimento da his-
tria da cincia. Aprendi que o ingrediente principal de um experi-
mento uma hiptese, uma hiptese que faz com que voc com-
preenda os fenmenos sob uma luz diferente. H algum tempo,
enviei um artigo para uma revista e um dos revisores disse que
no tinha feito um esforo para falsificar minha hiptese. Muitas
pessoas pensam que o dito de Karl Popper era Falsifique idias.
Na minha opinio, seu dito era: Falsifique idias arrojadas. E
idias arrojadas so raras. Com respeito s outras, s mais co-
muns, confirm-las, ou falsific-las, no faz nenhuma diferena. E
mesmo com respeito s idias anojadas, voc tem de ser cuidado-
so. Elas no podem ser fcil e prontamente submetidas a um teste
experimental rigoroso; isso iria mat-las. Quando a biologia mole-
cular estava in statu nascendi, um de seus pioneiros, Delbruck,
recomendou a regra de deixar uma abertura, embora limitada, na
apreciao de seus resultados, penso que essa uma regra sbia.
Lembro que discuti isso com Leon Festinger, que tambm
358
pensou que quando ns abrimos um novo campo de pesquisa, ou
lidamos com fenmenos complexos, as pessoas e as revistas tm
de mostrar mais flexibilidade do que sua prtica normal. Penso
que a reviso de Asch sobre a teoria da dissonncia, que terminou
com o julgamento no provada, j estava no fundo de sua mente.
De qualquer modo, aprendi como fazer experimentos, porque eles
oferecem uma possibilidade estimulante de explorar novos fe-
nmenos, no porque eles so o mtodo cientfico. Contudo, sem-
pre senti a necessidade de procurar seu sentido e validade no con-
texto social ou histrico. por isso que coletei alguns materiais
sobre dissidentes que eram acessiveis em francs e ingls. E o
resultado foi o artigo sobre Solzhenitsyn e Tvardovsky, em que
coloquei a diferena entre uma minoria dissidente e uma minoria
de comportamento desviante, que so muitas vezes confundidas.
IM - Poderia explicar a diferena entre esses dois conceitos?
SM- Um dissidente uma pessoa que rompeu com uma insti-
tuio, ou com uma minoria e prope uma viso alternativa, luta
por ela. Um indivduo com comportamento desviante algum, ou
um subgrupo, que se afasta da instituio, ou da maioria, mas con-
tinua a compartilhar seus pontos de vista e suas normas. Solzhe-
nistsyn queria subverter o marxismo e abolir o regime sovitico.
Tvardovsky tentou criticar, liberaliz-los, a fim de melhorar sua
sociedade. Solzhenitsyn foi exilado e Tvardovsky apenas des-
provido de suas funes no partido e de editor de NovyMir. claro
que esse tipo de explicao e de fenmeno no pode ser testado
em um laboratrio. H uma defasagem enorme entre tentar mu-
dar a mente de algum sobre cores, por um lado, e mudar a mente
de um dissidente sobre suas crenas com respeito ao comunismo,
por outro lado. A teoria lida melhor com esse tipo de defasagem e
sai enriquecida por ela.
IM- Bem, voc no pode estudar tais questes em um labora-
trio porque o trabalho de dissidentes um processo longo - e tais
processos so estudados em termos de representaes sociais,
Nos laboratrios se estudam coisas diferentes.
359
SM - Elas so coisas diferentes, mas marcadas pelo mesmo
referencial terico e relacionadas mesma teoria.
H, portanto, alguns pequenos elos entre elas e espero que
outros venham construir mais alguns; por exemplo, poder-se-ia
pensar em um processo de gnese de um novo movimento social.
Se uma minoria quer criar um movimento, mudar sua posio na
sociedade e tornar-se ativa, ela tem de propor uma representao
social alternativa. Subseqentemente, ela tem de se comunicar,
implementar uma estratgia de persuaso a fim de recrutar novos
membros e influenciar a maneira de pensar e agir da maioria. Em
Social Influence and Social Change (1976), tentei construir uma
psicologia de minorias ativas, como uma contrapartida psicolo-
gia das massas, sobre-quem mais tarde escrevi outro livro, The
Age of the Crowd (1985), como voc sabe. Uma vez superado o
que Norbert Elias chamou de accademismus, a projeo das divi-
ses acadmicas e conseqentes rivalidades no projeto de pesqui-
sa dos departamentos, a psicologia social , na sua base, nada
mais que um casamento entre a psicologia das minorias ativas e a
psicologia das massas. Com essas duas psicologias, a alquimia
social constri tudo o mais: identidades, grupos, comportamentos
coletivos, esteretipos, discurso e assim por diante. Voc tem de
acreditar em sua estrela da sorte, a fim de materializar rapida-
mente seus sonhos, procurar uma resposta s perguntas que sur-
giram no decurso de sua vida. Eu no sou particularmente um
indivduo otimista. Mas digo a mim mesmo que devo ter acredita-
do em minha estrela da sorte ao ir em busca dessas teorias, perse-
gui-las por to longo tempo, a fim de procurar uma resposta ao
que me assombrou por anos, a fim de dar sentido a minha experi-
ncia. Consegui, ou no, aos olhos de outros? No compete a mim
responder. De qualquer modo, elas me ajudaram a criar uma com-
preenso melhor do mundo em que vivi e naquele em que esta-
mos vivendo.
Finalmente, gostaria de lhe dizer que a teoria da influncia
exercida entre uma minoria e uma maioria, no nasceu da corren-
te de pesquisa sobre influncia (Sherif, Asch, etc.), mas da pesqui -
sa sobre dinmica de grupo. Como voc sabe, por vinte anos ao
menos, o grupo tinha desaparecido da psicologia social. Preencher
esse vcuo de fenmenos e noes bem estabelecidos, heursticos,
ser uma tarefa rdua. Seja como for, ns continuamos a pesquisa
sobre dinmica de grupo da escola de Lewin, em duas direes. De
um lado, mencionaria os estudos sobre inovao e criatividade,
360
estendendo nossa crtica maneira como o comportamento des-
viante e a ao das minorias, em um grupo, era concebida. Por
outro lado, posso mencionar a pesquisa que levou descoberta,
com Mariza Zavalloni, da polarizao do grupo (Moscovici & Zaval-
loni, 1969), algo que no apenas me trouxe grande felicidade,
mas foi tambm um dos fenmenos que me deu muita satisfao,
tanto no plano esttico, como no intelectual. No apenas porque
ele fone e atraente, mas tambm porque ele est no corao da
teoria das decises coletivas (Moscovici & Doi-se, 1994), cujo
primeiro esboo pode ser encontrado em Lewin e Sherif. A teoria
trata da mudana nas preferncias, as atitudes induzidas no e pelo
grupo, atravs da participao e do envolvimento normativo de
seus membros. Dada a coerncia e fecundidade da teoria, foi pos-
svel formul-la em termos fsico-matemticos (Moscovici & Ga-
lam, 1991), o que permite lanar uma nova luz sobre a dinmica
do grupo, a gnese das minorias e maiorias, as relaes entre in-
fluncia e poder e, algo notvel, sobre a evoluo dos grupos. Gos-
tei muito dela, porque leva frente pontos fortes da pesquisa de
Lewin sobre mudana dentro do grupo e da pesquisa de Sherif
sobre envolvimento e mudana de atitude.
Porm, logo que transformamos a polarizao do grupo em
um fenmeno intra-individual, no apenas a teoria perdeu sua be-
leza mas, alm disso, o interesse, a centralidade do fenmeno fo-
ram perdidos. No tempo de sua descoberta ns a consideramos
como uma das principais contribuies da psicologia social expe-
rimental europia. Isso foi assim porque o laboratrio de Bristol,
graas aos importantes estudos de Colin Fraser, tomou parte nele,
como tambm, se lembro bem, o laboratrio fundado por Martin
Ide em Mannheim. Lembre-se que, naquele tempo, ns estvamos
muito ocupados, construindo conscientemente uma psicologia
social na Europa. Pode ser ilustrativo voc saber que em uma reu-
nio Henri Tajfel disse: OK. Ns temos algo parecido com uma
interessante dinmica de grupo. Agora, como Sherif depois de Le-
win, ns necessitamos tambm de algo parecido a uma interes-
sante dinmica intergrupal. No conhecia essa relao, que ele
me explicou em detalhe. Esse foi um dos motivos para seu envol-
vimento naquilo que se tomaria seu trabalho de toda a vida e uma
das teorias mais originais nessa rea. E meu laboratrio tentou
contribuir com esse trabalho. Era muito excitante construir um
campo cientfico na Europa, arranhando as extremidades, por as-
sim dizer. Na verdade, isso histria. Mas lamento isso e no con-
361
segui entender como possvel conceber uma psicologia social
sem sociedade e sem o grupo, quero dizer, sem interao. Ou co-
mo outras pessoas fora da rea podem acreditar no valor de tal
psicologia social. Isso no uma questo de anti-individualismo e
tudo isso. Simplesmente, as palavras ainda tm seu sentido e os
campos cientficos sua lgica. De minha parte pessoal, sinto-me
muito triste com respeito a esse encolhimento, a essa perda de
tempo, que me proporcionou muita alegria e confiana nas possi-
bilidades da psicologia social poder se envolver com problemas
muito importantes.
2.5. O modelo gentico
IM - Voc explicou a relao entre a teoria da inovao e a te-
oria das representaes sociais de duas maneiras bsicas. A pri -
meira, que ambas as teorias esto interessadas na mudana social.
As representaes sociais esto, muitas vezes, interessadas em
fenmenos macrossociais, que so de natureza duradoura e tais
fenmenos so dificeis de estudar em laboratrio. So as minorias
que levam frente a mudana social, introduzindo inovaes. A
segunda maneira, que existe uma noo de estilo comportamental,
comum a ambas as teorias.
Contudo, iria dizer que no modelo gentico onde voc apre-
senta uma perspectiva muito nova em psicologia social e isso
algo que os livros-texto dos EE.UU. evitam discutir. Eles falam so-
bre influncia da minoria, mas nunca sobre a questo terica que
est subjacente ao modelo gentico.
No meu entender, o que totalmente esquecido a Parte I de
seu livro sobre minorias, que tem o ttulo de Influncia social do
ponto de vista funcionalista e Parte II, Influncia social do ponto
de vista gentico. Como falamos antes sobre isso, voc apresenta
os processos de influncia da maioria e da minoria no como dois
processos separados, mas como duas facetas de influncia, que
so mutuamente interdependentes. Voc coloca claramente ali
essa diferena essencial entre os modelos funcionalista e gentico
(Moscovici, 1976: 6). Para o primeiro modelo, o sistema social e o
ambiente so dados, para o ltimo, eles so produtos; para o pri-
meiro, o acento est na dependncia dos indivduos do grupo e
362
sua reao social a ele, enquanto que para o ltimo o acento est
na interdependncia entre os dois; para o primeiro, os indivduos
e o grupo tendem a se adaptar, enquanto que para o ltimo eles
crescem. Crescer significa aqui, por exemplo, o desenvolvimento
da capacidade de criar novas maneiras de pensar, de definir seus
limites, de modificar o ambiente e ampliar a rede de relaes so-
ciais, embora eu pense que importante enfatizar que cresci-
mento realmente significa co-crescimento, isto , crescimento
de ambas as partes na diade indivduo/grupo, ou minori-
a/maioria.
SM - Claro, no pensei que o modelo gentico esteja especifi-
camente relacionado influncia ou s representaes sociais.
uma concepo subjacente a ambos os fenmenos e, na verdade,
ele expressa o objetivo da cincia. Por exemplo, quando compre-
endi que o senso comum a area privilegiada da psicologia social,
a primeira coisa com a qual me interessei, a primeira pergunta
que fiz a mim mesmo, foi descobrir como o senso comum cons-
trudo, como ele chega a existir e como ele acaba, para empregar
as palavras de Aristteles. Devo colocar explicitamente o que disse
implicitamente muitas vezes: o conceito de senso comum est
ancorado na comunicao; e comunicao implica uma criativida-
de semelhante da linguagem, la Humboldt, ou transformao,
ao desenvolvimento de um nvel de conhecimento a outro. Desse
modo, a prtica humana tem acesso a questes que estiveram an-
tes inacessveis.
Tentei mostrar que h um modelo funcionalista subjacente s
teorias de conhecimento e influncia em psicologia social e pensei
que esse modelo deveria ser substitudo pelo modelo gentico;
isso quer dizer, por um modelo que considera a sociedade como
uma rede mais ou menos estruturada e que v as relaes se cons-
truindo, no como j construdas. Nesse modelo, a influncia so-
cial vista como uma ao ou negociao recproca, no como
uma forma de presso exercida pelo grupo sobre o indivduo, para
restabelecer o equilbrio.
Na verdade, tudo isso deve ser discutido mais longamente e
em maior detalhe, o que iria exigir mais tempo. H relaes entre
o modelo que proponho e a idia de Giddens de estruturao, ou o
modelo de Vygotsky de desenvolvimento. Penso que algumas cri-
ticas sobre a reciprocidade maioria/minoria nem sempre enten-
deram a questo que estava sendo discutida. Elas no parecem
estar interessadas na minha opinio, nem solicitam uma rplica.
363
Sempre tive a impresso que algumas pessoas pensam que no sei
ler, ou no entendo ingls. Desse modo eles me atribuem opinies,
ou fazem julgamentos sobre meus pensamentos, como fazem os
antroplogos, escrevendo artigos sobre os pensamentos dos assim
chamados primitivos, acreditando que eles no vo ler o que foi
escrito sobre eles. Isso porque eu vivo na Frana? Consideradas
todas as coisas, eles dizem o que querem e esto simplesmente
satisfeitos em concordar entre si. Lamento essa situao, mais por
causa do clima intelectual da disciplina, do que por mim mesmo. O
que interessa e o que permanece conosco o que traz novas idias
e novos fenmenos. E isso A diferente da mera polmica, que no
sempre agradvel. Quero simplesmente dizer que, por detrs
das objees de alguns e da ironia de outros, subjaz o modelo fun-
cionalista, no mencionado, mas sempre presente, que correspon-
de ao nosso positivismo e empiricismo espontneos e a uma re-
presentao especifica de sociedade. Isso explica sua ex-
traordinria persistncia, bem como a das noes que dele deri-
vam para nossa disciplina. um modelo esttico, mecanicista, com
uma preferncia por modelos automticos repetitivos. Eu sou
atrada por fenmenos dinmicos, noes geradoras e o estudo
dos fenmenos in statu nascendi. Esse , em poucas palavras, o
esprito do modelo gentico.
IM - Sim. Certamente concordo com seu diagnstico - na ver-
dade, h alguns anos expressei, de maneira semelhante, a nature-
za oculta de nosso pensamento cartesiano, isto , esttico. Con-
tudo, embora a concepo sobre aquilo em que o modelo gentico
est baseado, tenha uma validade geral nas cincias, incluindo as
cincias naturais, importante mostrar que voc foi o primeiro a
introduzi-lo na psicologia social emprica.
Para mim, teoricamente, o modelo gentico subjaz tambm
teoria das representaes sociais, por que ali tambm ns temos a
relao entre maioria, seja qual for e minoria. Essa interdependn-
cia mtua, contudo, difcil de captar no laboratrio, porque tal
processo complexo e a longo prazo. Podemos examinar apenas
partes desse processo e coloc-las junto, apenas mais tarde. Por
exempla, pode-se demonstrar, no laboratrio, a operao do estilo
comportamental, mas sua fora e conseqncias formidveis nas
atividades de um dissidente e seu efeito no regime totalitrio no
so, seguramente, matria de um experimento de laboratrio. Se
algum quisesse estudar influncia social no laboratrio, deveria,
provavelmente, fazer algo mais, deveria tambm mostrar como as
364
maiorias e minorias conseguem essa mudana social.
SM - Isso difcil de estudar no laboratrio.
IM - Exatamente e por isso que pensei que o estudo das re-
presentaes e da influncia complementar, nessa maneira. Pen-
so igualmente que difcil estudar representaes no laboratrio.
Voc deu alguns exemplos quando voc fez isso com Faucheux.
Penso que esses exemplos, contudo, so de natureza diferente, por
que voc j sabe o que uma representao.
3. Representaes sociais, a teoria da inovao, lingua-
gem e comunicao
IM- Parsons (1968) nos lembra da nfase de Durkheim sobre
a natureza simblica das representaes coletivas e sociais. Para
um sistema ser simblico, deve ser cultural e social e a linguagem,
aponta Parsons, aqui o prottipo. No nosso dilogo, hoje, a ques-
to da relao entre representaes sociais e linguagem apareceu
em diversas ocasies. A linguagem e a comunicao so parte de
sua definio original de representaes sociais, como voc a a-
presenta em La Psychanalyse. Pode-se, contudo, voltar mais atrs.
Voc descreve, na Chronique des annes gares, suas observaes
de conversaes na Itlia, antes de voc vir Frana. Naquele tem-
po, voc no falava italiano, como voc comentou em suas obser-
vaes como minha escola Berlitz para o italiano (Moscovici,
1997: 5O6). Ritmo do movimento do corpo, nuanas no tom da
voz, interdependncia entre gestos e palavras, seu efeito no pen-
samento - tudo isso parece ter levado convico da importncia
da conversao em minha teoria de representaes sociais (ibid.:
5O6). O mesmo tema, a importncia da comunicao no desenvol-
vimento do conhecimento na -cincia humana, tambm enfati-
zado em seu Essai sur Ihistoire humaine de la nature
(1968/1977). Por isso, nosso dilogo, hoje, estaria incompleto
sem que toquemos na interdependncia entre linguagem e repre-
sentaes sociais.
SM - Oh, eu sabia que voc iria levantar essa questo. Foi fun-
damental, desde o inicio, estabelecer a relao entre comunicao
365
e representaes sociais. Uma condiciona a outra, porque ns no
podemos comunicar, sem que partilhemos determinadas repre-
sentaes e uma representao compartilhada e entra na nossa
herana social, quando ela se torna um objeto de interesse e de co-
municao. Sem isso seramos levados atrofia e, no final, tudo
desapareceria. Por isso, em La Psychanalyse, diferenciei entre trs
sistemas de comunicao - difuso, propagao e propaganda - de
acordo com a fonte, o objetivo e a lgica das mensagens. Se lembro
bem, esses foram os primeiros artigos que publiquei em psicologia
social. Seguramente, isso precedeu a moda da semitica; era antes
de descobrir Bakhtin. Hoje eu falo sobre gneros de comunicao.
A conversao o primeiro gnero de comunicao em que, coma
sugeri desde o inicio, o conhecimento do senso comum formado.
Os outros trs, difuso, propagao e propagam da, so gneros
secundrios de comunicao e eles so, infelizmente, muito menos
estudados. Seguindo essa idia, devemos olhar formas de pensa-
mento ou conhecimento, como inseparveis da linguagem e da
forma do gnero de comunicao. Claro que isso o pano de fundo
(background), para usar o termo de Searle, de uma viso particu-
lar. Uma das idias mais gerais, sobre a qual nunca parei de pen-
sar, desde o dia em que descobri Tarde, a da cincia comparativa
da conversao em diferentes culturas, de acordo com a postura
dos corpos; as regras que algum tem de respeitar, as relaes
entre sexos e assim por diante. E imaginei minha hiptese, basea-
do na comparao dos modos de falar e o conhecimento. Realizei,
ento, dois ou trs estudos, que enriqueceram minha hiptese
inicial sobre as respectivas posies dos corpos - por exemplo, de
costas, etc. - e as caractersticas sintticas da lngua falada, ou das
idias expressas. Na Blgica, meu colega Bernard Rim desenvol-
veu esse tipo de estudo e vejo que, mais recentemente, Robert
Kraus, na Columbia University, se interessou pelos mesmos fen-
menos. Apesar dos esforos de Rommetveit e meus prprios, na
Europa e de Robert Kraus nos EE.UU., a linguagem ainda no tem
um lugar na psicologia social, como se as pessoas no pensassem
com palavras e locues, mas com bits de informao, seja o que
isso queira significar, como se eles no se engajassem em um di -
logo e nunca tivessem um monlogo interno - na verdade, o mon-
logo interno foi apelidado de ruminao. A introduo da lingua-
gem na psicologia social, o estudo dos seres humanos depois, e
no antes, deles terem descoberto essa maravilhosa habilidade da
fala, foi um sonho agradvel - e continuou assim.
366
correto afirmar que, quando as pessoas falam sobre La Psy-
chanalyse, eles se concentram na representao e se esquecem da
segunda parte do livro, que trata de comunicao e linguagem.
Como voc disse, prestei ateno no apenas s mudanas nos
contedos, mas tambm s mudanas na maneira como as pessoas
falam sobre ele. Se ns estamos interessados no pensamento soci-
al, no podemos apenas imaginar pessoas ruminando informao,
ou ruminando conhecimento, como se eles fossem mudos, ou no
tivessem corpo. Minha hiptese em la Psychanalyse foi que exis-
tem diferentes sistemas de comunicao e conversao em niveis
interpessoais, do mesmo modo que h difuso, propagao e pro-
paganda em nvel da massa; e que suas regras ou lgica con-
formam essas representaes sociais de maneiras especificas. A
psicanlise foi no apenas tirada dos livros e tornada pblica. Ha-
via uma luta cultural, os comunistas lutavam contra ela, a Igreja
Catlica sutil e consistentemente resistia a ela e construa uma
representao incua bastante diferente. Foi somente na dcada
de 197O que a situao mudou, quando a psicanlise de tornou
quase que uma religio civiL Mostrei como as prticas sociais se
tornaram relacionadas, por exemplo, a falas sobre cura e confi s-
so, como essas prticas expressam suas representaes em lin-
guagem e como a prpria linguagem, ao mesmo tempo, vai mu-
dando. Para mim, comunicao parte do estudo das representa-
es, porque as representaes so geradas nesse pro cesso de
comunicao e depois, claro, so expressas atravs da linguagem.
Sempre pensei que a conversao algo muito bsico para a psi-
cologia social. Esse ponto de vista era - e ainda - algumas vezes,
ridicularizado, no sentido de que conversao foi pensada como
sendo algo em si mesma, algo pendurado metafisicamente em si
mesma. Foi nesse contexto do estudo da comunicao, que come-
cei a pensar sobre lutas culturais - o que os alemes chamam kul-
turkampf - algo como uma luta de idias e essas tm lugar no
campo da comunicao, na formao de representao social. Por-
tanto, uma representao social no uma coisa tranqila, consis-
tindo de um objeto e uma cincia e a transformao desse objeto.
Normalmente, h uma espcie de batalha ideolgica, uma batalha
de idias e tais batalhas so importantes mesmo na cincia. Como
disse Einstein, a nica diferena entre uma cincia e uma guerra
que na cincia voc no mata pessoas; as pessoas no morrem na
batalha cientifica das idias. Penso que o que est faltando muito
na psicologia social de hoje uma preocupao com a luta das
idias.
367
IM - Estudar representaes sociais da psicanlise, portanto,
foi particularmente importante, porque essa questo era relevan-
te naquela ocasio, estava em seus comeos, era saliente. Estava,
por assim dizer, na linguagem e na comunicao da poca. Quando
meus colegas e eu comeamos a pesquisar, depois do fim do co-
munismo na Europa Central e do Leste, em 199O, sobre as repre-
sentaes sociais da democracia, no conhecia nada sobre sua
anlise da linguagem em La Psychanalyse. Mas nossas questes
eram semelhantes s suas: a propaganda comunista, durante qua-
renta anos no poder, conseguiu mudar as representaes sociais
da democracia? Do mesmo modo que em seu estudo da psicanli-
se, assim tambm a palavra democracia foi particularizada, fo-
ram-lhe dados sentidos ideolgicos especficos que, contudo, ob-
tiveram um significado ideolgico global, por exemplo, democra-
cia burguesa, democracia sovitica e assim por diante. Foi ento
que Ragnar Rommetveit chamou minha ateno para o trabalho
do filsofo Ame Naess, sobre a anlise semntica da democracia.
Naess fez sua pesquisa como parte do estudo da Unesco durante a
Guerra Fria, em 195O.O objetivo desse estudo era, atravs da
compreenso dos sentidos da palavra empregados pelas ideo-
logias rivais do Leste socialista e do Oeste capitalista, diminuir a
tenso internacional. Naess observou que os polticos soviticos
nunca empregavam o termo democracia sem um adjetivo, refe-
rindo-se ou a democracia proletria ou democracia capitalista
e assim por diante, sendo que democracia sovitica estava no
cume de todas as democracias possiveis. Conseqentemente, eles
obviamente empregavam as mesmas regras da propaganda que
voc descreve em La Psychanalyse.
3.1. Persuaso e propaganda
SM - Podemos considerar a teoria da inovao como um a-
profundamento da teoria da comunicao, que me cativou naquele
tempo e ainda me cativa Infelizmente, as pessoas tm apenas um
interesse marginal nela. Muitos dos psiclogos que conheo sepa-
ram o fenmeno da comunicao do fenmeno da influncia. Mes-
mo que entenda suas razes para proceder assim, no penso que
essas razes sejam convincentes. Sob muitos aspectos, considero a
distino entre esses dois fenmenos como artificial. Toda men-
sagem, toda emisso lingstica, est baseada em uma inteno
368
persuasiva. No essa a idia inerente ao modelo de comunicao
apresentado por Grice? Minha teoria uma teoria da influncia;
mas, pelo mesmo motivo, uma teoria do processo comunicat ivo
que normalmente acontece entre os partidrios e os opositores de
diferentes pontos de vista. assim que a apliquei quando fazia
parte da criao do movimento ecolgico na Europa e algumas
pessoas a aceitaram como expressando a psicologia daqueles que
fizeram parte do movimento. Tive sorte em propor teorias sobre
aquilo que considerado como o fenmeno bsico na psicologia
social. Penso, contudo, que devemos fazer um esforo para unifi-
car os conceitos e fenmenos, para colocar um fim a subdivises
que subsistiram por trinta ou quarenta anos e, de certo modo,
usar a navalha de Occam para noes como atitude, influncias
normativas e informacionais, preconceito e muitas outras, mesmo
que eu, como outros, tenhamos trabalhado com elas. Essas noes
no me parecem ter mais valor heuristico. Esse comentrio no
me ajudar a conquistar amigos, mas estou convencido de que
isso que temos de fazer.
IM - Voc mostrou que, quando ns falamos sobre influncia
e comunicao, temos de distinguir o problema da persuaso dos
gneros de comunicao. No tenho clareza sobre essa distino.
SM - Tentarei explicar. A comunicao um processo social e
uma instituio social. Mudar as mentes das pessoas apenas uma
parte dela, mas no o objetivo desse processo. Voc pode dizer
que rezar um gnero de comunicao, muito importante, a
cura da alma. Rezar muda as mentes das pessoas, mas no o ob-
jetivo real desse gnero de comunicao. Agora, a persuaso a
parte do processo que est relacionada com a mudana das pes-
soas; voc tem de ter uma idia da estrutura da cultura, da estru-
tura do grupo que usa a instituio de comunicao continua. Te-
mos instituies de comunicao; uma escola uma instituio de
comunicao. Dependendo de ser ela bem-sucedida, ou no, ela
tem determinada estrutura; a certa altura, voc pode se perguntar
se ela bem-sucedida, se ela muda e esse um problema de per-
suaso.
IM - A persuaso e a propaganda estariam, ento, no mes mo
nvel?
369
SM - No, no. A propaganda algo que est nas instituies;
a propaganda no apenas eu quero mudar as mentes das pes-
soas, ela algo que uma instituio faz continuamente e mudar as
mentes das pessoas parte disso. A propaganda procura manter a
estrutura da instituio, manter a representao e manter a estru-
tura social. Ns comunicamos, a sociedade tem de comunicar con-
tinuamente, bem ou mal. Desse modo, as representaes esto
relacionadas com esse processo continuo de comunicao e mu-
dar as opinies parte dele. Com brevidade, a propaganda e a
orao so tambm rituais e sua funo manter a insti tuio, o
partido, etc.
IM - Tentarei sintetizar o que entendi. A propaganda faz mui-
tas coisas na sociedade, a fim de manter e fortificar as representa-
es sociais existentes - e tambm para criar novas representa-
es sociais. Antes, nesse dilogo, falvamos sobre a tentativa da
imprensa comunista e da Igreja de criar novas representaes
sociais da psicanlise. Entre outras coisas que a propaganda faz,
ela tambm muda as mentes das pessoas. No seu objetivo prin-
cipal -embora esse possa ser um objetivo muito importante, como
ambos, voc e eu, experimentamos, vivendo em regimes totalit-
rios.
Em contraste, os processos de influncia operam, em grande
parte, atravs da comunicao persuasiva, sendo seu objetivo fun-
damental mudar as mentes das pessoas, mas isso no seria plane-
jado estrategicamente. No inicio voc falava da cincia, ideologia e
senso comum. Desse modo, em certo sentido, no comunismo e no
marxismo a propaganda empregava tanto a cincia, como a ideo-
logia, para seus propsitos. De fato, no bloco sovitico havia a pro-
fisso de propagandista, cuja tarefa era educar as pessoas no
mandsmo-leninismo.
SM - Sim, mas era a instituio da sociedade, ou do partido.
Era comunicao, como a orao a comunicao da Igreja. No
era feita independentemente dessa instituio. Assim, quando
voc tenta compreender a propaganda, voc deve olhar para tudo
isso e no apenas para a mudana das mentes das pessoas. Propa-
ganda uma instituio e ns a experimentamos, por exemplo, na
midia. A midia faz propaganda todo o tempo. Com respeito psi-
cologia social da influncia, aqui ns estamos interessados apenas
no problema de como esse processo de comunicao muda as
mentes das pessoas. Nos estudos sobre i nfluncia da minoria, en-
foquei principalmente a persuaso, como as minorias influenciam.
370
O estudo de comunicao que realizei sobre psicanlise e
propaganda no foi um estudo sobre persuaso, foi um estudo
sobre certos gneros de comunicao, de certas instituies. Ao
contrario, nos estudos sobre minorias, enfoquei outro aspecto da
comunicao, a persuaso e a influncia.
3.2. Representaes sociais e construo social
IM - Voc disse antes que no aceita apenas o falar por falar,
como sendo a base da psicologia social, pendurada metafisicamen-
te nela mesma. Isso me leva ao ltimo ponto que gostaria de dis-
cutir com voc, isto , s questes referentes relao entre a
teoria das representaes sociais e da construo social. Quando
emprego o termo construo social, devo ser mais especfica:
quero referir-me ao que hoje em dia conhecido como constru-
cionismo, relacionado a algumas formas radicais de anlise de
discurso. Ouvi, recentemente, afirmaes - e penso que so escu-
tadas sempre mais freqentemente - que as representaes soci-
ais e a anlise de discurso so semelhantes pelas seguintes razes:
ambas se interessam pela linguagem; ambas so construtivistas;
ambas se interessam pela crtica cincia individualista e positi-
vista. Do meu ponto de vista, essas semelhanas citadas so muito
gerais para formar a base de quaisquer tentativas integrativas
srias. Gostaria de lembrar-lhe o que Kurt Danziger (1997) disse
recentemente, sobre o construcionismo social, a anlise de discur-
so e sobre o ps-modernismo, em seu ensaio de reviso de onze
livros escritos sobre o tema do construcionismo e outros assuntos
relacionados, publicado em Theory and Psychology: asimplicaes
relativistas de tratar todo conhecimento como localmente cons-
trudo impossibilitam o estabelecimento de qualquer agenda, seja
ela a do objetivismo autoritrio, ou a da emancipao. Ele conti-
nua dizendo que, no final das contas, nem fica claro por que al-
gum deva preferir o construcionismo social ao empiricismo tra-
dicional. Ainda mais, o construcionismo comeou com uma critica
e continuou como uma critica. Nesse sentido, ele um parasita das
teorias que ele critica. Como resultado disso, ele dificilmente de-
senvolve uma teoria concretamente estabelecida, que resista
critica.
SM - Diverti-me lendo a reviso de Danziger (1997) e vendo
que, dos dois tpicos que ele escolheu, um se refere lembrana
coletiva e o outro causalidade, os tpicos que foram fundamen-
371
tados na idia de representao por Halbwachs e por Fauconnet. A
propsito, voc sabe que Lvy-Bruhl foi considerado na Frana
como sendo um psiclogo social, bem como Halbwachs?
Tenho muitas imagens de construcionismo social. Para come-
ar, existe a posio irnica de Rorty e a tentativa de desmasca-
rar algumas das categorias existentes, tais como crenas sobre
cincia, sobre esquizofrenia, raa e assim por diante. Mas nunca
fica claro o que ele desmascara, se uma representao comparti -
lhada, uma idia, ou uma coisa, para tomar o termo de Lacan.
Desmascarar a viso de Mannheim, que foi praticada pelos inte-
lectuais de esquerda. Isso radical, ou pretende ser radical? Marx
disse, em algum lugar, que ser radical significa ir s razes, ser cri -
tico e transformar sua crtica em uma arma poltica. Voc leu mi-
nha histria autobiogrfica e voc sabe que foi isso que fiz. E mais
tarde na vida, minha crtica com respeito cincia, natureza e
desigualdade das mulheres fez com que me tornasse um dos pio-
neiros da ecologia poltica, participando ativamente em demons-
traes contra as usinas nucleares e colocando-me como candida-
to eleio. Creio que as representaes sociais implicam uma
posio critica e no uma posio irnica, que pode levar a um en-
gajamento prtico. A teoria da influncia da minoria, foi aplicada
conscientemente por alguns dos movimentos verdes.
Em segundo lugar, vejo o construcionismo social como se o-
pondo ao positivismo e promovendo uma tcnica, especificamente
a anlise de discurso. Francamente, o positivismo uma posio
que j morreu h muito tempo. Com respeito anlise de discurso,
ela perfeitamente compatvel com a teoria das representaes
sociais. Na verdade, a anlise de discurso comeou na porta ao
lado de meu laboratrio, com o trabalho de Pecheux e Henri. Foi
aplicado ao estudo das representaes sociais pelo prprio Pe-
cheux. Isso no de se admirar, pois Ragnar Rommet veit e eu fo-
mos os dois primeiros psiclogos sociais a defender seriamente a
integrao da linguagem na psicologia social. Publiquei at mesmo
o primeiro livro de leituras em ingls sobre psicologia social da
linguagem. verdade, contudo, que eu no subscrevo frmula
linguagem ber alies. Considero isso errado e nenhum pensador
srio jamais aceitaria isso, incluindo Wittgenstein ou Austin.
Em terceiro lugar, no encontro nenhum trabalho convincen-
te dizendo como ns construmos socialmente. Apenas atravs da
conversao e negociao ao redor da posio na escala de poder?
E como pode voc construir algo, sem ter uma representao so-
372
cial, mesmo uma utopia? Na minha experincia e viso da socie-
dade, ela algo sobremaneira poderoso e seria forar demais re-
duzi-la a operaes interpessoais e negociaes intersubjetivas.
Escrevi sobre esse tpico em meu livro The Invention of Society, de
modo que no vou repetir meus argumentos aqui.
Finalmente, sou muito relutante em aceitar que a cincia ,
para emprestar uma frase de Hegel, noite todos os gatos so
pardos, significando que nada ou verdadeiro ou falso, que todas
as teorias e idias tm o mesmo valor, ou melhor, no-valor. Curi-
osamente, tem-se a impresso que, se a cincia se tomou uma ide-
ologia, o que era ideologia foi substitudo por conhecimento ou
cincia Mas isso no certo. No tendo treino filosfico, no gos-
taria de fazer um julgamento sobre aqueles que supostamente
deveriam saber. Mas verdade que algumas vezes, quando leio
um desses livros, fico impressionado pelo carter vigoroso de suas
afirmaes. Ento lembro logo que a epistemologia tambm pode
ser uma forma de censura que, em outros climas, pode ter custado
a vida a muitos. Nos nossos tempos, ela apenas toca a questo do
nosso ostracismo intelectual. Esse um fato sociolgico para voc!
IM - Voc se refere muitas vezes criatividade do pesquisa-
dor e importncia da descoberta de novos fenmenos, que voc
v como sendo caractersticas da teoria das representaes so-
ciais. Poderia dizer algumas palavras sobre isso?
SM - Essa uma questo de experincia pessoal e de escolha.
Quando era moo, muitas pessoas na Frana estavam escrevendo
artigos e livros sobre o que estava certo ou errado, o que era uma
cincia critica ou uma cincia apologtica, o que era psicologia
social boa ou ruim e assim por diante. Embora tenha algumas i-
dias sobre isso, raramente as expressei. No acreditava - e ainda
no acredito - que uma boa epistemologia, ou uma boa ideologia,
leve criatividade. Para mim, a cincia e a filosofia so formas de
arte. Como artistas, os pesquisadores se esforam para criar algu-
ma coisa, para cunhar novas noes, descobrir fenmenos, inven-
tar teorias ou prticas alternativas. Tais prticas criativas so, elas
mesmas, uma critica das teorias e prticas existentes. No se des-
tri o que no se substitui. Esse foi o objetivo que coloquei para
mim mesmo, quando me tornei um pesquisador: descobrir, inven-
tar e ser critico atravs da realizao de algo novo. Penso que se
pode mudar a cincia social, a psicologia social, criando uma nova
373
teoria e que a criao de uma nova teoria , em si mesma, uma cri-
tica Ainda mais, penso que a crtica sem uma teoria alternativa
concreta no tem dentes, algo fictcio. Aqui, como em qualquer
lugar, verdade que os homens fazem a histria, mas eles no sa-
bem que histria eles fazem.
IM - Que pensa voc das pessoas que esto tentando colocar o
contrucionismo e a anlise de discurso junto com as representa-
es sociais?
SM - Fazem isso? Para o adorador da metfora do computa-
dor, todas essas tendncias representam holismo, linguagem, sen-
tido, quem sabe. Para outros, apenas uma boa inteno_ Masco-
mo diz o provrbio, A estrada para o inferno est pavimentada
com boas intenes. Como posso saber se isso pode ser conse-
guido de uma maneira criativa? O construcionismo , na melhor
das hipteses, uma metateoria. A teoria das representaes soci-
ais, diria, pode ser vista em duas perspectivas. Primei ro, uma
teoria concebida para responder a questes especfi cas, com res-
peito a crenas e vnculos sociais e para descobrir novos fenme-
nos. Em segundo lugar, ela tambm a base de uma psicologia
social do conhecimento. Ela est interessada como pensamento do
senso comum e com a linguagem e comunicao. Parsons nos
lembra que a linguagem era um prottipo, integrando fenmenos
culturais e individuais e que por isso ela era parte do estudo das
representaes coletivas e sociais, desde o inicio. A anlise de dis-
curso, por enquanto, no possui uma autntica teoria do dilogo e
da linguagem. A teoria das representaes sociais est interessa-
da, por um lado, com questes de vnculos sociais e da ao e, por
outro lado, com o conhecimento social, comunicao e linguagem.
Na minha opinio, a anlise de discurso uma parte dela. Af inal,
voc conhece essas questes melhor do que eu, voc escreveu
sobre isso.
4. A Associao Europia de Psicologia Social
IM - Falamos sobre seu trabalho como psiclogo social. Con-
tudo, voc influiu tambm no estabelecimento da Associao Eu-
ropia de Psicologia Social. Poderia dar alguns detalhes biogrfi-
374
cos com relao a essa parte de seu trabalho?
SM - Minha idade da inocncia terminou no comeo da dca-
da de 196O, quando encontrei outros psiclogos sociais europeus
e americanos que organizaram uma reunio em Sorrento, depois
em Frascati, onde encontrei outros colegas. Suponho que voc no
esteja interessada em saber como fui eleito em Frascati para um
comit ad hoc, depois fiz a proposta para criar uma associao eu-
ropia, como um tipo de minoria ativa e me tornei seu primeiro
presidente. Voc est provavelmente interessada em escolhas
mais substanciais. Deixa-me colocar a coisa da seguinte maneira.
Os americanos que encontrei, pensavam sobre ns, psiclogos so-
ciais europeus, em termos de duas tendncias. A primeira, vamos
cham-la de tendncia clone, era usar a Europa como um campo
de estudos comparativos e generalizao. Queriam assim treinar
psiclogos sociais sua imagem, que compartilhassem suas idias
e mtodos, em sntese, criar um ramo da psicologia social ameri-
cana na Europa. A segunda tendncia, vamos cham-la de ten-
dncia de disseminao, tentava principalmente nos ajudar a criar
laboratrios, associar-se com aqueles que eram, supunham eles,
psiclogos sociais criativos e deix-los fazer o que julgassem til.
Para eles, claro, o crescimento da psicologia social europia no
significava o crescimento de teorias com validade apenas local;
essas teorias deveriam se expandir no contexto das tradies de
pesquisa e de pensamento, que eles sabiam serem especificas des-
se contexto. No quero nomear pessoas, mas Festinger defendia
essa segunda tendncia.
Lembro que o encontrei, Schachter e Lanzetta, no Hotel de la
Ville, em Roma e discutimos isso. Concordamos que no se pode
promover a pesquisa de uma cincia jovem, que apenas tomava
corpo, mesmo nos EE.UU., somente atravs da imitao, somente
importando idias ou mtodos. Eles eram at mesmo mais radi-
cais que eu. Festinger disse, ns vamos ajud-los a comear, que-
rendo dizer, vocs criam seu campo e a associao da maneira de
vocs e depois ns nos retiramos, institucionalmente falando. A
principio, estava relutante, porque pensava que era muito bom
para ser verdade e tambm por causa de algumas experincias an-
teriores, que no quero mencionar. Os acontecimentos, contudo,
mostraram que estava enganado. Tomei-me um membro do Co-
mit Transnacional de Psicologia Social, cujo presidente era Leon
Festinger. Esse comit foi muito ativo na criao da Associao
Europia e, depois, na criao da Associao Latino-Americana.
375
Tomei-me presidente quando, por razes institucionais, o comit
foi transferido do Social Science Research Council, em Nova Iorque,
para a Unesco, em Paris. Durante esses anos, embora seus mem-
bros mudassem, ns permanecemos um grupo ativo, amigo e pen-
so que fizemos um trabalho razoavelmente bom.
H muitos psiclogos sociais que me consideram como um
patriota europeu. Isso cmico e tranqilizador, dada minha vida
nmade- claro, gosto da Europa, seu estilo de vida, da riqueza de
sua cultura, diversidade de pessoas e criatividade histrica. E Pa-
ris no existe em nenhum outro continente e eu amo Paris. Mas o
outro lado da moeda, na Europa, so suas tragdias, crueldades e
guerras terrveis, que no so destruies criativas, mas destrui-
es tout court. Nossa atitude com relao a outras pessoas de-
pende da histria e depois da experincia. Para mim, os EE.UU. e
os americanos no so nem qualquer pais, nem pessoas especifi-
cas. No foi em um campus que por primeiro encontrei alguns
americanos, foi em Viena, Munique e tambm nos campos de re-
fugiados, logo depois da II Grande Guerra. Meus sentimentos, mi-
nhas impresses com respeito a eles, retornam quelas experin-
cias. Como muitos outros europeus, devo a eles minha vida, mi nha
liberdade e isso cria um elo cordial, uma gratido eterna. Isso con-
tinuou, pois compreendi uma poro de coisas com respeito
pesquisa em geral e psicologia social em particular, graas a
meus contatos e trabalho com eles. No me teria tomado o mesmo
homem e no teria trabalhado do mesmo modo, se no tivesse
tanta sorte de encontrar e me ligar, em uma profunda amizade,
com americanos tais como Festinger, Deutsch, Lanzetta, Schach-
ter, Kelley, Berkowitz, Zajonc e muitos outros que me estimula-
ram, me criticaram, mas que tambm levaram a srio o que estava
fazendo e at mesmo me encorajaram a publicar em ingls algum
trabalho de pesquisa in statu nascendi, como fez Berkowitz quan-
do lhe falei do meu trabalho sobre linguagem e inovao.
E depois, de certo modo, tive uma carreira paralela nos
EE.UU., na New School. No h dvida que temos certas afinidades
intelectuais e geracionais e uma libido sciendi que vai bem alm de
consideraes de interesse ou carreira, o que no significa que ns
temos a mesma viso de psicologia social, ou de problemas teri-
cos. No diria, por exemplo, que a teoria das representaes so-
ciais, em especifico, era seu prato preferido. Mas nunca escutei al-
gum me dizendo que ela estpida, europia, no cientfica, ou
que no deveria prosseguir com ela. Penso que temos um respeito
376
genuino uns pelos outros. Veja, vou contar-lhe uma anedota.
Quando Faucheux e eu publicamos nosso primeiro artigo sobre in-
fluncia da minoria, ele provocou tanto curiosidade, como ceticis-
mo. Mas, durante as frias de vero, Lanzetta organizou um tipo
de seminrio, em Dartmouth. E durante trs semanas, cada tarde,
ns discutimos as idias e experimentos com respeito a essa for-
ma de influncia. Se lembro bem, entre os americanos estavam,
alm de Lanzetta, Brehm, Kelley, Sarah e Chuck Kiesler, que me
ajudou a compreender mais claramente as questes tericas e
empricas que poderiam ser colocadas.
Isso para explicar quo estreitos eram os elos entre euro-
peus e americanos e quanto quis trabalhar com eles. Afinal de
contas, a psicologia social tinha apenas tomado corpo em uma
disciplina autnoma e ns tnhamos um objetivo comum. Repito,
havia diferenas de fato, mas olhando para trs algumas pessoas
as exageraram, pois elas no conhecem o outro lado da moeda.
Seja como for, ao menos foi assim que eu senti: os americanos no
viam a Europa como um deserto intelectual, como ns no olh-
vamos para os EE.UU. como uma espcie de Mecca, para onde as
pessoas tinham de fazer sua peregrinao para voltar como cren-
tes qualificados. Isso pode ser creditado ao fato que nossos col e-
gas americanos tinham sido alunos de professores europeus e ns
j estaramos muito avanados em nosso pensamento pessoal, j
teramos passado por experincias muito difceis para desistir de
idias, de um estilo de pesquisa que ns estimvamos muito. Que-
ramos restaurar na Europa o tipo de vida cientfica que a guerra
tinha interrompido e compensar por suas perdas em talento e
idias. Alguns americanos tambm esperavam e queriam isso.
Apenas nesse sentido eu sou um europeu patriota. Nietzsche disse
que, quando uma cultura imita a outra, ela imita suas piores qua-
lidades. Isso tambm verdade no que se refere cincia. Tive
sorte de conhecer os EE.UU. e os americanos mais profundamente,
sem tentar imit-los ou no imit-los, simplesmente compreender
e aprender por impregnao.
No h dvida que as coisas mudaram desde ento e, talvez,
como acontece muitas vezes, eles no acabaram sendo o que a
gente gostaria que tivessem sido. No fico sempre satisfeito com a
maneira como minha pesquisa foi tratada e apropriada entre eles.
No penso que os americanos estejam prestando um servio psi-
cologia social e a si mesmos, na sua maneira de considerar a pes-
quisa que feita em outros lugares, ou quando impem uma uni-
377
formidade prematura, um cdigo profissional, regras de como se
deve escrever e de iniciao que prejudicam muito a vida intelec-
tual e impedem sua criatividade. Do mesmo modo, alguns colegas
europeus no prestam servio a nossa disciplina, quando pensam
que vo ganhar mais respeitabilidade profissional e mais seguran-
a cientfica, pelo fato de seguir o padro de uma cincia norma-
tizada. Quero dizer, fazendo o que os cientistas fazem nos EE.UU.
em certas ocasies e sendo aprovados por eles. Isso simplifica a
vida, mas essa prtica tem como conseqncia o menosprezo da
diversidade concreta das correntes de pesquisa, mesmo nos
EE.UU. Caminhe pela Quinta Avenida, em Nova Iorque, da Univer-
sidade de Nova Iorque at a Colmbia, indo pela New School e o
Graduate Center e voc ver essa diversidade! Ao mesmo tempo,
um fato da vida, a americanizao das cincias humanas, nas pala-
vras de Mancas, uma realidade da qual no podemos desviar os
olhos. Estou, sim, persuadido de que, se no essa gerao, outra
ir dar-se conta que existem diferentes maneiras de encarar esse
fato da histria. E que prejudicial, como tambm ilusrio, como
disse a nossos colegas americanos da Sociedade Americana de
Psicologia Social, em Ohio, criar uma cincia para e em um nico
pais, como foi prejudicial e ilusrio criar uma sociedade socialista
em um nico pais. Em todo empreendimento cientifico e es-
pecialmente na cincia humana, a diversidade um bem e a uni-
formidade uma perda.
Sempre tentei encorajar tal diversidade, relacionada s tradi-
es culturais e de pesquisa, na rede de pessoas trabalhando nas
representaes sociais. E quando algum me pede que lhe diga
qual a maneira verdadeira de fazer as coisas, minha resposta
que no sou o dono dos frutos da teoria. Nesse sentido, sou um
europeu patriota. Gosto da diversidade de sua pesquisa e seus
estilos epistemolgicos, sua tradio de que um intelectual ainda
fala e escreve em diversas lnguas, seu respeito pela histria e pelo
trabalho das geraes passadas e muitas outras coisas desse tipo,
que voc tambm encontra nos EE.UU., se tiver um pouco de tem-
po e olhar para as pessoas certas. verdade, olhando para trs, a
idia da representao social muito mais imbricada na tradio
europia de ligar reas cientficas, antropologia, sociologia, hist-
ria, lingstica, Piaget e Vygotsky e at mesmo psicologia social.
Mas no vamos dar oportunidade a esteretipos.
Outro ponto biogrfico est relacionado s representaes
sociais. Lembro a ocasio em que apresentei a teoria pela primei ra
378
vez, em Sorrento, na primeira reunio de psiclogos sociais euro-
peus, organizada por John Lanzetta. Hilda Hi mmelweit estava di-
rigindo a sesso e meu ingls era terrvel. Ningum entendeu o
que eu estava dizendo, mas minha fala foi seguida por uma discus-
so muito entusiasmada, sobre o que meus colegas realmente
entendiam a respeito de um teste projetivo. Foi assim que a teoria
comeou e se espalhou um pouco na Frana, depois em Bologna e,
subseqentemente, em Londres, atravs de Hilda, que ficou intri-
gada com ela. No que ela tenha entendido a teoria, mas porque
ela estava convencida de que eu no era total mente estpido, en-
to ela pensou que provavelmente havia algo naquilo que eu esta-
va dizendo.
5. O futuro da psicologia social
IM- H algo mais que voc gostaria de acrescentar para com-
pletar esse dilogo?
SM - De certo modo, sou um chauvinista com respeito psi-
cologia social, porque creio que ela uma disciplina que realmen-
te atinge os principais fenmenos histricos e culturais, fenme-
nos que so tambm sensveis poltica Gostaria de concluir esse
dilogo, dizendo uma palavra sobre a ltima parte de sua primeira
pergunta, que uma questo de uma posio epistemolgica. Fa-
lando em termos gerais, como se podem combinar e unificar duas
disciplinas, ou dois campos cientficos? Obviamente, essa questo
relevante psicologia social e ainda mais teoria das represen-
taes sociais. Para dizer a verdade, a idia de psicologia social
abarca um campo de conhecimento muito amplo, comeando do
referencial da sociologia e indo at o referencial da psicologia. E,
conseqentemente, alguns crem que a teoria das representaes
sociais, devido a suas origens, deveria ser situada mais no primei-
ro, do que no segundo referencial. Isso, contudo, pode conduzir a
uma epistemologia reducionista, como foi o caso quando se pen-
sou que a nica maneira de nos aproximarmos de fenmenos de
natureza complexa, seria situ-los em diferentes universos. Desse
modo a psicologia foi reduzida a uma explicao social e a sociol o-
gia, por sua vez, foi reduzida a uma explicao psicolgica. Mas h
ainda outra epistemologia que no tenta reduzir, mas procurar
uma comunalidade, ou uma unidade entre disciplinas separadas,
no estudo de certos fenmenos. O caso mais conhecido o do ele-
379
tromagnetismo. Por dcadas, houve tentativas de reduzir, sem
sucesso, modelos mecnicos, ou fenmenos mecnicos, a modelos
eltricos. Finalmente, o modelo da relatividade unificou a ambos.
Obviamente, eu no sou Einstein e a teoria das representaes
sociais no a teoria da relatividade. Contudo, isso no me impe-
de de considerar a psicologia social como uma disciplina que pro-
cura descobrir unidade e comunalidade entre modelos de socio-
logia e modelos de psicologia, com respeito a certos fenmenos
que nem uma, nem outra, pode assumir sozi nha, tais como, por
exemplo, a comunicao da influncia no estudo das redes sociais.
H um limite intrnseco efetividade de qualquer reduo, para a
descoberta de novidade e, certamente, poderamos fazer mais
progresso, ou avanar melhor, juntando os recursos de dois ou
trs campos disciplinares, exatamente como foi o caso da cibern-
tica.
Em outras palavras, a condio ideal aquela em que ns am-
pliamos o escopo da psicologia social, no aquela em que ns divi-
dimos o po em duas metades, considerando duas subespeciali-
dades, uma psicologia sociolgica e uma sociologia psicolgica.
No respondi, no passado, a afirmativas de que a teoria das repre-
sentaes sociais mais uma forma sociolgica de psicologia soci-
al, do que uma forma psicolgica de psicologia social, porque no
queria complicar um debate j complexo. Mas no quero tambm
que nossa teoria se retire da psicologia social para a sociologia,
atravs de uma epistemologia reducionista, que amplamente
adotada. Um pensador proeminente, como Chomsky, rejeita essa
postura por razes que merecem ser mencionadas. Em um livro
recente sobre Language and Thought (1993: 8O), ele observa que:
o problema da cincia no reducionismo, unificao, que
algo muito diferente. H maneiras diferentes de se olhar o mundo.
Elas funcionam at onde conseguem, ns gostaramos de integr-
las; mas reduo no um modo de integr-las. E de fato, no de-
curso da cincia moderna, isso raramente foi verdade. Vista sob
esta luz, possvel supor que a psicologia social no amadurecer
at que ela comece a considerar esse problema da unificao seri-
amente. E voltando para onde ns comeamos esse dilogo, a ida-
de da inocncia, penso que a teoria das representaes sociais e
comunicao, toca os principais fenmenos do campo da psico-
logia social. Considero, portanto, a teoria das representaes so-
ciais como uma teoria unificadora do campo da psicologia social -
o campo que surgiu, de longe, na minha idade da inocncia - e
380
mesmo uma teoria que caminha na direo de resolver seu pro-
blema de unificao. Estou convencido, a parti r de fundamentos
tericos, que a nica teoria que pode, hoje, unificar nossa disci-
plina, profundamente fragmentada, que reduziu a humanidade de
indivduos e grupos sociais a algo abstrato, estereotipado e insig-
nificante. O ser humano hoje, disse Kundera em algum lugar, se
encontra em um verdadeiro redemoinho de reducionismo e nossa
disciplina tambm contribui para isso, como se o ser humano no
fosse complexo e cheio de contradies, no tivesse paixes e
crenas, no estivesse sempre em tenso entre o conhecimento e a
crena, tanto em sua vida pessoal, como nos movimentos sociais.
Mas no quero fazer profecias sobre o futuro da psicologia social.
Quero dizer, simplesmente, que a psicologia social poderia ocupar
um lugar importante entre as cincias humanas e na sociedade e
que ela deveria deixar o redemoinho do reducionismo e agarrar os
fenmenos do pensamento e comunicao entre as pessoas em
sua unidade, isto , em sua existncia confusa. Bem l no fundo,
aquilo em que sempre acreditei - e ainda acredito - que a psico-
logia social deveria lutar para ser uma espcie de antropologia de
nossa cultura. Se isso for verdade, urn dia, ento ela ha ocupar seu
lugar como uma disciplina central, que todos nossos clssicos pre-
viram e profetizaram. No lutar para que isso acontea no ter
esperana.
381
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
NB.: Onde h duas datas para um determinado texto, a pri meira
indica a data da publicao original, e a segunda a data da l-
tima edio, ou de uma edio em ingls.
ABLESON, R.P. et al. (eds.) (1968). Theories of Cognitive Consisten-
cy. Chicago: Rand McNally.
ABRIC, J.-C. (1976). Jeux, contlits et representations sociales. Un-
iversit de Provence [Those de doctorat Os lettresl.
(1988). Cooperation, competition et representations sociales.
Cousset: Del Val.
ABRIC, J.-C. et al. (1967). Approche et vitement dans des jeux a
motivation mixte. Psychologie Franaise, 12: 277-286,
ACKERMAN, W. & ZYGOURIS, R. (1974). Representation et assimi-
lation de la connaissance scientifique. Bulletin de Cerp, 22: 1-
2.
ALEXANDER, L.N. et al. (197O). Experimental expectations and
autokinetic experiences: consistency theories and judgemen-
tal convergence. Socrometry, 28: 1O8-122.
ALLPORT, F. (1924). Social Psychology. Boston: Houghton Mifflin.
ANDERSON, H.N. (1968). A simple model for information integra-
tion. In: ABLESON, R.P. et al. (eds.). Theories of Cognitive Con-
sistency. Chicago: Rand McNally.
ANSART, P. (1988). Le concept de representation en sociologie. In:
MARBEAU, L. & AUDIGIER, F. (eds.). Seconderencontre Inter-
nationale surla didactique delhistoire et de la gographie. Par-
is: INRP.
ARENDT, H. (197O). Men in Dark Times. Londres: Jonathon Cape.
ARISTOTLE (1994). Posterior Analytics. Oxford: Clarendon
Press.
ASCH, S. (1952). Social Psychology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-
Hall.
BACK, K.W. (1964). La domaine de la psychologie sociale. Bulletin
du Cem, 13: 21-33.
BARBICHON, G. & MOSCOVICI, S. (1965). Diffusion des connais-
sances scientifiques. Social Science Information, 4: 7-22.
382
BARTLETT, F.C. (1923). Psychology and Primitive Culture. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
- (1932). Remembering - A Study in Experimental and Social Psy-
chology. Cambridge: Cambridge University Press.
BAUER, M. & GASKELL, G. (1999). Towards a paradigm for re-
search on social representations. Joumal for the Theory of Social
Behaviour, 29: 163-186.
BEM, D.J. (1965). An experimental analysis of self-persuasion.
Joumal of Experimental Social Psychology, 1: 199-218.
BERGER, P. & LUCKMANN, T. (1966). A construco social da reali-
dade. Petrpolis: Vozes.
BERGSON, H. (1976). Les deux sources de la morale et de la reli-
gion. Paris: PUF.
BERLIN, I. (1981). Against the Current. Oxford: Orford University
Press.
BILLIG, M. (1987). Arguing and Thinking: a Rhetorical Approach
to Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
-(1988). Social Representation, objectification and anchoring: a
rhetorical analysis. Social Behaviour, 3: 1-16.
- (1993). Studying the thinldng society: Social Representations,
rhetoric and attitudes. In: BREAKWELL, G. & CANTER, D. (eds.). Em-
pirical approaches to Social Representations. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
BLUM, L. (1982). Souvenirs surlaffaire. Paris: Gallmard.
BOWER, T. (1977). The Perceptual World of the Child. Londres:
Fontana.
BREHM, J.W. (1966). A Theory of Psychological Reactance. Lon-
dres: Academic Press.
BROCH, H. (1979). Massenwahntheorie. Frankfurt: Suhrkamp. BROWN,
R. (1965). Social Psychology. Nova torque: Free Press. BUTOR,
M. (196O). Repertoire. Vol. 1. Paris: Ed. de Minuit.
CARRIER DUNCAN, J. (1985). Linking of thematic roles in deriva-
tional word formation. Linguistic Inquiry, 16: 1-34.
CARROLL, J.S. & PAINE, J.W. (1976). Cognition and Social Beha-
viour. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
383
CASSIRER, E. (1946). The Myth of the State. Nova Iorque: Double-
day.
CHAPANIS, N.P. &CHAPANIS, A. (1962). Cognitive dissonance:
fiveyears later. Psychological Bulletin, 61: 1-22.
CHARLE, C. (1977). Champ littraire et champ du pouvoir: Les
crivains etlaffaire Dreyfus. Annales, 32: 24O-264.
CHOMBART DE LAUWE, M.J. (1971). Une monde autre: fen lance,
de ses representations A son mythe. Paris: Payot.
CHOMSKY, N. (1975). Reflections on language. Nova Iorque: Pan-
theon Books.
- (1982). Some concepts and consequences of theory of govern-
ment and binding. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- (1993). Language and thought. Moyer Bell: Wakefield.
COCH, L. & FRENCH, J.R.P. (1953). Overcoming resistance to
change. In: CARTWRIGHT, D. & ZANDER, A. (ed.). Group Dy-
namics: Research and Theory. Evanston, III.: Tow Peterson.
COCKING, J.M. (1982). Proust. Cambridge: Cambridge University
Press.
CODOL, J.P. (1974). On the system of representations in a group
situation. European Joumal of Social Psychology, 4: 343-365.
CODOL, J.P. & FLAMENT, C. (1971- Representation de structures
sociales simples dans lesquelles le sulet est implique. Cahiers de
Psychologie, 14: 2O3-218.
COLLINS, B.E. & GUETZKOW, H. (1964). A Social Psychology of
Group Processes for Decision Making. Nova torque: John Wiley.
CORBIN, A. (1977). Le peril vnrien au dbut du sicle: prophy-
laxie sanitaire et prophylaxie morale. Recherches, 23: 63-71.
CORNFORD, F.M. (1957). From religion to philosophy. Novalorque:
Harper.
CULICOVER, P. (1988). Autonomy, predication and thematic rela-
tions. Syntax and Semantics, 21: 37-6O.
DANZIGER, K. (1979). The positivist repudiation of Wundt. Joumal
of the History of the Behavioural Sciences, 15: 2O5-23O.
391
384
- (199O). Constructing the Subject. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
(1997). The varieties of social construction. Theory and Psycholo-
gy, 7: 399-916.
DAVY, G. (1931). Sociologues dhier et daujourdhui. Paris: Mean.
DEAUX, K. & PHILOGENE, G. (2OOO) (eds.). Social Representations:
Introductions and Explorations. Oxford: Blackwell.
DE ROSA, A.M. (1987). The Social Representations of mental illness in
children and adults. In: DOISE, W. &MOSCOVICI, S. (eds.). Cur-
rent issues in European Social Psychology. Vol. 2. Cambridge:
Cambridge University Press, p. 47-138.
DELACAMPAGNE, C. (1983). LInvention du Racisme. Paris:
Fayard. DELEUZE, G. (197O). Proust et les signs. Paris: PUF.
DELHORBE, C. (1932). Laffaire Dreyfus et les crivams franais.
Paris: Attinger.
DEUTSCH, M. (1969). Organizational and conceptual barriers to
social change. Joumal of Social Issues, 25: 5-18.
DEUTSCH, M. & KRAUSS, R.M. (1965). Theories in Social Psycholo-
gy. Nova lorque: Basic Books,
DEUISCHER, I. (1984). Choosing ancestors: some consequences
of the selection from intellectual traditions. In: FARR, R. &
MOSCOVICI, S. (eds.). Social Representations. Cambridge: Cambridge
University Press.
DOISE, W. (1969). Intergroup relations and polarization of indi-
vidual and collective judgements. Joumal of Personality and Social
Psychology, 12: 136-143.
- (1992). Lancrage dans les tudes sur les reprsentations so-
ciales. Bulletin de Psychologie, 45: 189-195.
(1993). Debating Social Representations. In: BREAKWELL, G. &
CANTER, D. (eds.). Empirical Approaches to Social Represen-
tations. Oxford: Oxford University Press.
DOISE, W. & PALMONARI, A. (eds.) (199O). Ltude des representa-
tions sociales. Paris: Delachaux/Niestle.
DUBY, G. (1961). Histoire des mentaits. In: SAMERAN, C. (ed.).
Lhistoire etses mthodes. Paris: Gallimard.
385
DURKHEIM, E. (1895/1982). The Rules of Sociological Method.
Londres: Macmillan.
392
(1898/1974). Individual and collective representations. In:
DURKHEIM, E. Sociology and Philosophy. Nova Iorque: Free Press.
- (1912/1995). The ElementaryForms of the Religious Life. Nova
lorque: Free Press.
(1955/1983). Pragmatism and Sociology. Cambridge: Cambridge
University Press.
- (1975). Textes. Vol. 2, Paris: Ed. de Minuit.
DUVEEN, G. (1998). The psychosocial production of ideas: Social
Repre-
sentations and Psychologic. Culture and Psychology, 4: 455-472.
DUVEEN, G. & LLOYD, B. (eds.) (199O). Social representations and
deve-
lopment of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
EISER, J.R. & STROEBE, W. (1972). Categorization and Social
Judgement. Londres: Academic Press.
ELLISON, R. (1965). Invisible Man. Harmondsworth: Penguin.
EMLER, N. & DICKINSON, J. (1985). Childrens representations of
economic inequalities. British Joumal of Developmental Psy-
chology, 3: 191-198.
EVANS-PRITCHARD, E. E. (1937). Witchcraft, oracles and magic
among the Azande. Oxford: Oxford University Press.
- (1964). Social Anthropology and Other Essays. Nova Torque: Free Press.
- (1965). Theories of primitive religion. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
FARR, R.M. (1977). Heider, Harr and Herzllch on health and ill-
ness: some observations on the structure of representations col-
lectives. European Joumal of Social Psychology, 7: 491-5O4.
(1978). On the varieties of social psychology: an essay on the rela-
tions between psychology and other social sciences. Social Science
Information, 17: 5O3-525.
- (1981). On the nature of human nature and the science of behaviour.
In: HEELAS, P. & LOCKE, A. (eds.). Indigenous Psychologies
:
The
386
Anthropology of the Self Londres: Academic Press.
(1984). Social representations: their role in the design and execution of
laboratory experiments. In: FARR, R.M. & MOSCOVICI, S.
(eds.). Social Representations. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
- (1993). Common sense, science and social representations. Pub-
lic Understanding of Science, 7: 189-2O4.
393
- (1996). The Roots of Modern Social Psychology. Oxford: Black-
well.
- (1998). From collective to social representations: Alter et Retour.
Culture and Psychology, 4: 275-296.
FARR, R.M. & MOSCOVICI, S. (1984) (eds.). Social representations.
Cambridge: Cambridge University Press.
FAUCHEUX, C. (197O). Cross-cultural research in social psychology.
Unpublished manuscript. Social Science Research Council.
FAUCHEUX, C. & MOSCOVICI, S. (196O). Etudes sur la crativit des
groupes: tche, structure des communications et russite. Bul-
letin du Cerp, 9: 11-22.
-- (1968). Self-esteem and exploitative behaviour in a game
against chance and nature. Joumal of Personality and Social Psy-
chology, 8: 83-88.
FESTINGER, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston,
Ill.: Row Peterson.
- (1964). Conflict, Decision and Dissonance. Stanford: Stanford Uni-
versity Press.
FINIS, V.G. (1994). La filosofia nello specchio della cultura, II Mon-
do, 3 (1): 266-277.
FINLEY, M. (1983). Politics in the Ancient World. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
FISHBEIN, M. & RAVEN, B. (1962). The AB scales: an operational
definition of belief and attitude. Human Relations, 15: 35-44.
FLAMENT, C. (1965). Rseaux de Communications et Structures
de Groups. Paris: Dunod.
387
- (1989). Structure et dynamique des representations sociales. In: JO-
DELFT, D. (ed.). Les representations sociales, p. 2O4-219. Par-
is: PUF.
FLECK, L. (1936/1986). The problem of epistemology. In: COHEN,
R.S. & SCHNELLE, T. Cognition and Fact: Materials on Ludwick
Fleck. Dordrecht: Reidel.
FLICK, U. (1998). Everyday knowledge in social psychology. In:
FLICK, U. (ed.). The Psychology of the Social, p. 41-59. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
FODOR, J.A. (1975). The Language of Thought. Nova Iorque: Tho-
mas Cromwell.
FRASER, C. & GASKELL, G. (199O) (eds.). The Social Psychological
Study of Widespread Beliefs. Oxford: Clarendon Press.
FRASER, C. et al. (1971). Risky shifts, cautious shifts and group
polarization. European Joumal of Social Psychology, 1: 7-3O.
FRAZER, J. (1922). The Golden Bough, Londres: Macmillan.
FREGE, G. (1977). The thought: a logical inquiry. In: STRAWSON,
P. (ed.). Philosophical Logic. Oxford: Oxford University Press.
FREYD, J.J. (1983). Shareability: the social psychology of episte-
mology. Cognitive science, 7: 191-21O.
GELLNER, E. (1992). Reason and Culture: the historical role of ra-
tionality and rationalism. Oxford and Cambridge MA: Black-
well.
GIDDENS, A. (1985). Durkheim. Londres: Fontana Press. GOLDMANN,
L. (1976). Cultural Creation. St Louis: Telos Press. GOMBRICH,
E. (1972). Symbolic Images. Londres: Phaidon.
GORIN, M. (198O). A lcole du groupe: heurs et malheurs
duneinnovation educative. Paris: Dunod.
GRAMSCI, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Lon-
dres: Lawrence and Wishart.
GRIZE, J.B. (1993). Logique naturelle et representations sociales.
Papers on Social Representations, 2: 151-159.
HARRE, R. (1984). Some reflections on the concept of social re-
presentation. Social Research, 51: 927-938.
- (1998). The epistemology of social representations. In: FLICK, U.
388
(ed.). The Psychology of the Social. Cambridge: Cambridge University
Press.
HEIDER, F. (1958). The psychology of interpersonal relations.
Nova lorque: Wiley.
HERZLICH, C. (1973). Health and Illness: A Social Psychological
Analysis. Londres: Academic Press.
HEWSTONE, M. & JASPARS, J. (1982). Intergroup relations and attribu-
tion processes. In: TAJFEL, H. (ed ). Social Identity and Inter-
group Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
HOCART, A.M. (1987). Imagination and proof. Tucson: The Univer-
sity of Arizona Press.
HOLTON, G. (1978). The Scientific Imagination: Case studies. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
- (1988). Thematic origins of Scientific Thought. 2nd Edition. Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press.
- (1998). The advancement of science and its burdens. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press.
HORTON, R. (1993). Patterns of Thought in Africa and in the West.
Cambridge: Cambridge University Press.
HOVLAND, C.I. et al. (1953). Communication and Persuasion. New
Haven: Yale University Press.
ISRAEL, J. & TAJFEL, H. (1972) (eds.). The Context of Sonia/ Psy-
chology. Londres: Academic Press.
JACKENDORF, R. (1991). SemanticStructures. Cambridge, Mass.:
MIT Press.
JAHODA, G. (197O). A psychologists perspective. In: MAYER, P.
(ed.). Socialisation: The approach from social psychology. Lon-
dres: Tavistock.
(1982). Psychology and anthropology. Londres: Academic Press.
- (1988). Critical notes and reflections on social representations.
European Joumal of Social Psychology, 18: 195-2O9.
(1992). Crossroads between Culture and Mind. Londres: Harvester
Wheatsheaf.
JAKOBSON, R. (1987). Language in Literature. Cambridge, Mass.:
389
Harvard University Press.
JAMES, W. (189O/198O). ThePrinciples of Psychology. Novalorgue:
Dover.
JASPARS, J. (1965). On social perception. Unpublished PhD thesis.
Leiden: University of Leiden.
JASPARS, J. & ACKERMANN, E. (1966/1967). The interdisciplinary
character of social psychology: an illustration. Sociologica
Neerlandica, 4: 62-79.
JASPARS, J. & FRASER, C. (1984). Attitudes and social representa-
tions. In: FARR, R.M. & MOSCOVICI, S. (eds.). Social Representa-
tions. Cambridge: Cambridge University Press.
JODELET, D. (1984). The representation of the body and its trans-
formations. In: FARR, R.M. & MOSCOVICI, S. (eds.). Social Repre-
sentations. Cambridge: Cambridge University Press.
-(1989/1991). Madness and Social Representations. Hemel
Hempstead: Harvester/Wheatsheaf. heatsheaf.
(1989). Representations sociales: un domain en expansion. In:
JODELET, D. (ed.). Representations sociales, p. 31-61. Paris:
PUF.
(1991a). Soziale Reprasentationen psychischer Krankheit in ei-
nem landlichen Milieu in Frankreich: Entstehung, Struktur, Funktio-
nen. hi: FLICK. U. (ed.). Alltagswissen ber Gesundheit
undKrankheitSubjektive Theorien and soziale Reprasentatio-
nen, p. 269-292. Heidelberg: Manger.
(1991b). Representation sociale. Grand Dictionnaire de la Psycho-
logie. Paris: Larousse.
JODELET, D. & MILGRAM, S. (1977). Cartes mentales et images
sociales de Paris. Mimeo, Laboratoire de Psychologie Soziale, Ecole
des Nantes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
JOVCHELOVITCH, S. (1996). In defence of representations. Joumal
for the Theory of Social Behaviour, 26: 121-135.
KARS, R. (1968). Images de la culture chezles ouvders [ranais.
Paris: Ed. Cujas.
- (1976). Lapparel psychique groups]: constructions du groupe.
Paris: Dunod.
390
KOGAN, N. & WALLACH, M.A. (1964). Group problem solving. In:
LINDZEY, G. &ARONSON, E. (ed.). The Handbook of Social Psy-
chology, Volume IV. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
KOLAKOWSKL L. (1978). La Pologne: une societ en dissidence.
Paris: Maspero.
KOPP, R.L. (1971). Marcel Proust as a Social Critic. Rutherford, N.J.:
Fairleigh Dickinson University Press.
KOZULIN, A. (199O). Vygotzkys psychology. Hemel Hempstead:
Harvester Wheatsheaf.
KUHN, T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chigago:
The University of Chigago Press.
LAUDAN, L. (1977). Progress and its problems. Berkeley: Universi-
ty of California Press.
LE GOFF, J. (1974). Les mentaltes: une histoire ambigue. In: LE
GOFF, J. & NORA, P. (eds.). Faire Ihistoire. Paris: GaWmard.
LE ROY-LADURIE, E. (198O). Montaillou: Cathars and Catholics in
a French Village 1294-1324. Londres: Penguin.
LEVI-SPRAUSS, C. (1962/1966). The Savage Mind. Londres: Wei-
denfeld and Nicholson.
LVY-BRUHL, L. (1925/1926). How natives think. Londres: George
Allen & Unwin.
LEWIN, K. (1948). Resolving Social Conflicts. Nova Iorque: Harper
& Row.
LLOYD, G.E.R. (199O). Demystifying mentalities. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
LURIA, A.R. (1976). Cognitive Development. Cambridge, MA: Har-
vard University Press.
- (1979). The Making of Mind. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
LURIA, A.R. & VYGOTSKY, L.S. (1992). Ape, Primitive Man, and
Child: Essays in the History of Behavior. Nova Torque and Londres:
Harvester Wheatsheaf
MacIVER, R.M. (1942). Social Causation. Nova Iorque: Ginn and
391
Company.
MANN, T. (1977). Essays, Vol. 2. Frankfurt: Fischer.
MARKOVA, L (1982). Paradigms, Language and Thought Chiche-
ster and Nova Iorque: Wiley.
MARKOVA, L & WILKIE, P. (1987). Representations, concepts and
social change: the phenomen of Aids. Joumal for the Theory of
Social Behavior, 17: 389-4O1.
MARKUS, H. & NURIUS, P. (1986). Possible selves. American Psy-
chologist, 41: 959-969.
MARX, G.T. & WOOD, J.R. (1975). Strands of theory and research in
collective behaviour. Annual Review of Sociology, Volume 1.
McCLELLAND, D.C. et al. (1953). The Achievement Motive. Nova
torque: Appleton Century Crofts.
McDOUGALL, W. (192O). The Group Mind. Cambridge: Cambridge
University Press.
McGARTH, J. & ALTMAN, L (1966). Small Group Research: A Syn-
thesis
and Critique of the Field. Nova lorque: Holt Rinehart and Wins-
ton.
MEAD, G.H. (1939). Mind, Self and Society. Chicago: University of
Chicago Press.
MEDAWAR, P. (1982). Induction and intuition in scientific
thought. Plutos Republic. Oxford: Oxford University Press.
MILGRAM, S. (1989). Cities as social representations. In: FARR,
R.M. & MOSCOVICI, S. (eds.). Social Representations. Cambridge:
Cambridge University Press.
MONTMOLLIN, G. de (1959). Reflexions sur ltude et 1utilization
des petits groupes: I Le petit groupe: moyen et objet de con-
aissance. Bulletin du Corp., 8: 293-31O.
(196O). Reflexions sur ltude et lutWZation des petits groupes:
B Le petit groupe comme moyen daction. Bulletin du Carp, 9:
1O9-122.
MOSCOVICI, S. (1954). Analyse hierarchique. Anne Psychologique,
54: 83-11O.
(1961). Reconversion Industrielle et Changements Sociaux. Un
392
Exemple: Ia Chapellerie dans lAude. Pans: Colin.
(1961/1976). La psychanalyse, son image et son public. Pans:
PUF.
- (1967). Communication processes and the properties of lan-
guage. In: BERKOWITZ, L. (ed.). Advances in Experimental Social
Psychology, Volume 3. Nova lorque: Academic Press.
- (1968). LExperience du Mouvement. Paris: Herman.
(1968/1977). Essai surlhistoirehumaine de la Nature. Paris:
Flammarion. - (1976). Social Influence and Social Change.
Londres: Academic Press. - (1979). Psycho)ogie des Mioonts
Actives. Paris: PUF.
- (1981). Bewusste and unbewusste Einflsse in der Kommunica-
tion. Zeitschnft for Sozialpsychologie, 12: 93-1O3.
- (1982). The coming era of social representations. In: CODOL, J.P.
& LEYENS, J.P.(eds.). Cognitive approaches to social beha-
viour, p. 115-15O. The Hague: Nijhoff.
(1983). Les foules avant la foule. Stanford French Review,7: 151-
174.
(1989a). The phenomena of social representations. In: FARR, R.M.
& MOSCOVICI, S. (eds.). Social representations, p. 3-69. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
- (1984b). The myth of the lonely paradigm: A rejoinder. Social
Research, 51: 939-967.
(1985). The Age of the Crowd
:
a historical treatise on mass psy-
chology. Cambridge University Press.
(1987). Social Collectivities. Essays in Honor of Elias Canetti. Lon-
dres: Andre Deutsch.
-(1988). Notes towards a description of social representation.
European Joumal of Social Psychology, 18: 211-25O.
(199Oa). Social psychology and developmental psychology: ex-
tending the conversation. In: DUVEEN, G. & LLOYD, B. (eds.).
Social Representations and the Development of Knowledge, p.
164-185. Cambridge: Cambridge University Press.
- (199Ob). The generalized self and mass society. In:
393
HIMMELWEIT,
H.T. & GASKELL, G. (eds.). Societal Psychology. Londres: Sage.
- (1988/1993). The Invention of Society. Cambridge: Polity Press.
- (1993a). The return of the unconscious. Soda] Research, 6O, 39-
93.
- (199314. Introductory Address. Papers on Social Representations,
2: 16O-17O.
- (19971 Chronique des Annes Egares. Paris: Editions Stock.
- (1998). Social consciousness and its history. Culture and Psychol-
ogy, 4: 411-429.
MOSCOVICI, S. & DOISE, W. (1994). Conflict and Consensus. Lon-
dres: Sage.
MOSCOVICI, S. & FAUCHEUX, C. (1972). Social influence, conformi-
ty bias and the study of active minorities. In: BERKOWITZ, L.
(ed.). Advances in Expenmental Social Psychology, Volume 6.
Nova Torque: Academic Press.
MOSCOVICI, S. & GALAM, S. (1991). Toward a theory of collective phe-
nomena. I. Consensus and attitude change in groups. Euro-
pean Joumal of Social Psychology, 21: 49-74.
MOSCOVICI, S. & HEWSTONE, M. (1984). De la science au sens
com-
mun. In: MOSCOVICI, S. (ed.). Psychologie Sociale. Paris: PUF.
MOSCOVICI, S. & PAICHELER, G. (1978). Social comparison and social
recognition: two complementary processes of identification.
In: TAJFEL, H. (ed.). Differentiation Between Social Groups.
Londres: Academic Press.
MOSCOVICI, S. & PLON, M. (1968). Choix et autonomie du sujet - la
thorie de la reactance psychologique- LAnne Psychologique,
68: 467-48O.
MOSCOVICI, S. & ZAVALLONI, M. (1969). The group as a polarizer
of attitudes. Joumal of Personality and Social Psychology, 12:
125-135.
MOSCOVICI, S. et al. (1969). Influence of a consistent minority on
the responses of a majority in a colour perception task. Sociometry,
32: 365-38O.
394
MOONY, G. (1982). The power of minorities. Londres: Academic
Press.
MUGNY, G. & CARUGATI, F. (1985/1989). Social representations of
intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.
MULDER, M. (1959). Power and satisfaction in task-oriented
groups. Acta Psychologies, 16: 178-225.
NELSON, J. (1974). Towards a theory of infant understanding.
Bulletin of the British Psychological Society, 27: 251.
NISBETT, R. & ROSS, L. (198O). Human Inference: Strategies and
shortcomings of social judgement. Englewood Cliffs, N.J.: Pren-
tice-Hall.
OYSERMAN, D. & MARKUS, H. (1998). Self as social representa-
tion. In: FLICK, U. (ed.). The Psychology of the Social, p. 1O7-
125. Cambridge: Cambridge University Press.
PALMONARI, A. (198O). Le representazioni social. Giomale Italia-
no di Psicologia, 2: 225-246.
PALMONARI, A. & RICCI BITTI, P.E. (eds.) (1978). Aspetti cognitiivi
dells socializzazione in eta evolutiva. Bologna: Il Mulino.
PARSONS, T. (1968). Emile Durkheim. In: SILLS, D. (ed.). The In-
tern atio-. na] Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 4.
Nova lorque: Free Press.
PIAGET, J. (1926/1929). The Childs Conception of the World.
Londres: Routledge and Kegan Paul.
(197O/1972). The Principles of Genetic Epistemology. Londres:
Routledge and Kegan Paul.
(1965/1995). Sociological Studies. Londres: Routledge.
PLOW, M. (197O). Apropos dune controverse sur les effets dune
menace en situation de ngociation. Bulletin de Psychologie, 23:
268-282.
POTTER, J. & EDWARDS, D. (1999). Social representations and
discursive psychology: From cognition to action. Culture and Psy-
chology, 5: 447-458.
POTTER, J. & LITTON, I. (1985). Some problems underlying the
theory of social representations. British Joumal of Social Psy-
chology, 24: 81-9O.
395
QUAGLINO, G.P. (1979). Relazioni tra gruppi epercezione sociale.
Studi di ricerche di psicologia. Turin.
REBERIOUX, M. (1976). Histoire, historiens, Dreyfusisme. Revue
historique, 518: 4O7-433.
- (198O). Zola, Jaures et France. Cahiers naturallstes, 54: 266-281.
RICOEUR, P. (1981). Hermeneutics and human sciences. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
ROQUEPLO, P. (1974). Le Partage du Savoir. Paris: Le Seuil.
ROSCH, E. (1977). Human categorisation. In: WARREN, N. (ed.).
Studies in Cross-Cultural Psychology, Volume 1. Londres: Academic
Press.
ROSSIGNOL, C. & Element, C. (1975). Decomposition de lquilibre
structurel: aspects de la representation du groupe. Anne Psy-
chologique, 75: 417-425.
ROSSIGNOL, C. & HOUEL, C. (1976). Analyse des composantes imagi-
naires de la representation du groupe. Cahiers de Psychologie,
19: 55-69.
ROTTER, J B. (1966). Generalized expectancies for internal versus
exter-
nal control of reinforcement. Psychological Monographs, 8O, 1.
RUBINSTEIN, S.L. (1934/1987). Problems of psychology in the
works of Karl Marx. Studies in Soviet Thought, 33: 111-13O. Origi-
nally published in Sovetskaja psichotechnika, 1934: 7, N. I.
- (1959). Principi Ipub razvitiia psichologii. Moscow: Izdavatelstvo
Akademii nauk SSSR.
SCHUIZ, A. (197O). Reflections on the Problem of Relevance. New
Haven: Yale University Press.
SHAVER, K.G. (1975). An Introduction to Attribution Processes.
Cambridge, Mass.: Winthrop.
SHERIF, C. W. et al. (1965). Attitude and Attitude Change: The So-
cial Jud-
gement-involvement Approach. Philadelphia: W.B. Saunders.
SHERIF, M. (1936). ThePsychologyof Social Norms. Nova torque:
Harper and Row.
SMEDSLUND, J. (1998). Social representations and psychologic.
396
Culture and Psychology, 4: 435-454.
SPERBER, D. (199O). The epidemiology of beliefs. In: FRASER, C. &
GASKELL, G. (eds.). The Social Psychological Study of Widespread
Beliefs, p. 25-44. Oxford/Nova lorque: Oxford University Press.
STICH, S. (199O). The fragmentation of reason: preface to a prag-
matic theory of cognitive evaluation. Cambridge: MIT Press.
TAJFEL, H. & WILKES, A.L. (1964). Salience of attributes and
commitment to extreme judgements in the perception of people.
British Joumal of Social and Clinical Psychology, 2: 4O-49.
TALMY, L. (1985). Force dynamics in language and thought. Cogni-
tive Science, 12: 49-1OO.
TARDE, G. (191O). LOpinion et la Foule. Paris: Alvan.
THIBAUT, J.W. & KELLEY, H. H. (1959). The Social Psychology of
Groups. Nova torque: John Wiley.
THOMAS, W.I. & ZNANIECKI, F. (1918/192O). The Polish Peasant
in Europe and America. 5 Volumes. Boston: Badger.
THOMPSON, J.B. (1995). The Media and Modernity. Cambridge:
Polity Press.
TVERSKY, A. & KAHNEMAN, D. (1974). Judgement under uncer-
tainty: heuristics and biases. Science, 185. 1124-1131.
VAN DER VEER, R. & VALSINER, J. (1991). Understanding Vy-
gotsky: A quest for synthesis. Cambridge MA: Blackwell.
VIGNAUX, G. (1991). Categorisations et schmatisations: des argu-
ments au discours. In: DUBOIS, D. (ed.). Smantique et Cogni-
tion. Paris: Editions du CNRS.
VYGOTSKY, L.B. (1934/1986). Thought and Language. Cambridge,
MA: MIT Press.
- (1978). Mind in society: The development of higher psychological
processes. M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner &E. Soubennan, (eds.).
Cambridge, MA: Harvard University Press.
WALLACH, M.A. & BEM, D.J. (1964). Definition of responsibility
and level of risk taking in groups. Joumal of Abnormal and So-
cial Psychology, 68: 263-274.
WASON, P.C. & JOHNSON-LAIRD, P.N. (1972). Psychology of Reaso-
ning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
397
WEBER, M. (1972/1968). Economy and society. Nova Iorque:
Bedminster Press.
WEINBERG, S. (1974). Unified theory of Elementary-Particle Inte-
raction. Scientific American, 231 (1): 5O-59.
WERTSCH, J.V. (1985). Vygotzky and the social formation of mind.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
WILLIAMS, R. (1989). Culture. Londres: Fontana Press.
WILSON, S. (1976). Anti-semites and Jewish response in France
during the Dreyfus Affair. European Studies Review, 6: 225-
248.
WITTGENSTEIN, L. (1953). Philosophical Investigations. Oxford:
Blackwell.
WOLPERT, L. (1992). The Unnatural Nature of Science. Londres:
Faber and Faber.
WYER, R.S. & SKULL, T.K. (1984). Handbook of social cognition,
Vol. I. Londres: Erlbaum.
ZAJONC, RD. (1966). Social Psychology: An Experimental Approach.
Belmont, Ca.: Wadsworth.
ZIMBARDO, PG. (1969). The Cognitive Control of Motivation. Glen-
view, III: Scott and Foresman.
Desde a origem da investigao filosfica, a grande questo 8:
como chegamos a conhecer, como formamos conceitos e ideias em
nossa mente e qual 8 a correspondncia entre essas ideias e a rea-
lidade. No sculo XX, a sociologia do conhecimento refaz as
mesmas perguntas. Mas com acento diferente. A preocupao
no como o individuo conhece, mas como o individuo dentro do
grupo e como o prprio grupo chegam ao conhecimento. Paralela-
mente, a psicologia quer saber qual 8 o processo psquico do co-
nhecimento. Talvez a psicologia social, atravs do conceito de re-
presentaes sociais, tenha chegado a uma soluo, a uma sntese.
O conceito de representaes sociais explica muitos pontos que
permaneciam inexplicados, permite verificar como se formam os
conhecimentos e, portanto, possibilita que programemos o proces-
so.
FA
e
398
Moscovici introduziu este conceito na psicologia social. Este
livro rene seus textos fundantes. Eis a contribuio e a importncia
desta obra.
Investigaes em psicologia social
EDITORA VOZ ES
N
REPRESENTAES
SOCIAIS
4
EDITORA
VOZES
You might also like
- A Adolescência - Contardo CalligarisDocument44 pagesA Adolescência - Contardo CalligarisDeisy Baumgartner100% (6)
- Orientação profissional: A abordagem sócio-históricaFrom EverandOrientação profissional: A abordagem sócio-históricaRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- MORIN, Edgar - Introdução Ao Pensamento ComplexoDocument61 pagesMORIN, Edgar - Introdução Ao Pensamento ComplexoLucas Soares100% (8)
- Livro - O Que É Psicologia Social - Silvia LaneDocument89 pagesLivro - O Que É Psicologia Social - Silvia LaneAngelica Piovesan100% (4)
- Michel Foucault - Ditos e Escritos, Vol. II. Arqueologia Das Ciências e História Dos Sistemas de Pensamento (2000, Forense Universitária)Document198 pagesMichel Foucault - Ditos e Escritos, Vol. II. Arqueologia Das Ciências e História Dos Sistemas de Pensamento (2000, Forense Universitária)Rodrigo Ribeiro80% (5)
- Temas em Psicologia Social: Identidade e Processos Grupais Vol. 1From EverandTemas em Psicologia Social: Identidade e Processos Grupais Vol. 1No ratings yet
- Dimensão subjetiva: uma proposta para uma leitura crítica em psicologiaFrom EverandDimensão subjetiva: uma proposta para uma leitura crítica em psicologiaNo ratings yet
- Mil Platôs Vol. 1 PDFDocument94 pagesMil Platôs Vol. 1 PDFTitosantis100% (1)
- PATTO, Maria Helena Souza. Introdução À Psicologia EscolarDocument471 pagesPATTO, Maria Helena Souza. Introdução À Psicologia EscolarYuri CunhaNo ratings yet
- BERGER LUCKMANN. A Construção Social Da Realidade PDFDocument128 pagesBERGER LUCKMANN. A Construção Social Da Realidade PDFRandália Amaro100% (5)
- Extravios Do Desejo - Depressão e Melancolia - Antonio Quinet (Org) PDFDocument297 pagesExtravios Do Desejo - Depressão e Melancolia - Antonio Quinet (Org) PDFDanilo G. Romero75% (4)
- Processo Grupal Perspectiva HistóricaDocument7 pagesProcesso Grupal Perspectiva HistóricaVânia BronzoniNo ratings yet
- Psicologia, subjetividade e políticas públicasFrom EverandPsicologia, subjetividade e políticas públicasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Processos Psicológicos Básicos: Sensação, Percepção e VisãoDocument117 pagesProcessos Psicológicos Básicos: Sensação, Percepção e VisãoAléxia Vega100% (7)
- Rene Lourau Analista Institucional em Tempo Integral Altoe Org2Document143 pagesRene Lourau Analista Institucional em Tempo Integral Altoe Org2HelderSouza67% (3)
- BENJAMIN, Alfred. A Entrevista de Ajuda PDFDocument93 pagesBENJAMIN, Alfred. A Entrevista de Ajuda PDFPedro Aleixo FilhoNo ratings yet
- Psicologia sócio-histórica e educação: tecendo redes críticas e colaborativas na pesquisaFrom EverandPsicologia sócio-histórica e educação: tecendo redes críticas e colaborativas na pesquisaNo ratings yet
- 01 - Livro - O Que É Psicologia Social - Silvia LaneDocument23 pages01 - Livro - O Que É Psicologia Social - Silvia LaneUliana DC100% (1)
- Psicologia Escolar em Busca de Novos RumosDocument171 pagesPsicologia Escolar em Busca de Novos Rumosdenise barbosa santos100% (7)
- O SUS: do direito à saúde para todosDocument24 pagesO SUS: do direito à saúde para todosRay DigicomNo ratings yet
- Psicologia Sócio-Histórica e Desigualdade Social: Do Pensamento À PráxisDocument338 pagesPsicologia Sócio-Histórica e Desigualdade Social: Do Pensamento À Práxisepereira100% (2)
- HARDT, Michael. Gilles Deleuze Um Aprendizado em FilosofiaDocument95 pagesHARDT, Michael. Gilles Deleuze Um Aprendizado em FilosofiaPriscila Lira de Oliveira100% (7)
- O que é intervenção psicossocialDocument10 pagesO que é intervenção psicossocialMAIZA MEIRELES DE OLIVEIRA100% (1)
- A Instituição NegadaDocument1 pageA Instituição NegadaRosangela Esteves Muller0% (2)
- Livro Bakhtin - para Uma Filosofia Do Ato - Waldemir Miotello e Carlos Alberto Faraco PDFDocument155 pagesLivro Bakhtin - para Uma Filosofia Do Ato - Waldemir Miotello e Carlos Alberto Faraco PDFsimonejp1No ratings yet
- Análise Institucional de Lapassade e movimentos instituintes no BrasilDocument32 pagesAnálise Institucional de Lapassade e movimentos instituintes no BrasilAlie80% (5)
- BASAGLIA, Franco. As Instituições Da Violência.Document38 pagesBASAGLIA, Franco. As Instituições Da Violência.Argus Setembrino67% (3)
- A dimensão subjetiva do processo educacional: Uma leitura sócio-históricaFrom EverandA dimensão subjetiva do processo educacional: Uma leitura sócio-históricaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Representações sociais do professorFrom EverandRepresentações sociais do professorRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Emoções, Sociedade e Cultura - Mauro KouryDocument11 pagesEmoções, Sociedade e Cultura - Mauro KouryHacsa OliveiraNo ratings yet
- Livro - Trabalho e Poder de Agir - Yves Clot PDFDocument182 pagesLivro - Trabalho e Poder de Agir - Yves Clot PDFNaim Rodrigues DE AraújoNo ratings yet
- Teoria das Representações Sociais e a eficiência no serviço públicoDocument140 pagesTeoria das Representações Sociais e a eficiência no serviço públicoNaiara S. S100% (1)
- Análise Institucional e Práticas de Pesquisa na UERJDocument61 pagesAnálise Institucional e Práticas de Pesquisa na UERJLucian Lourenço100% (8)
- Processos psicológicos básicos: percepção, memória, pensamentoDocument2 pagesProcessos psicológicos básicos: percepção, memória, pensamentoglauciamaga70% (10)
- A diversidade de perspectivas da psicologiaDocument34 pagesA diversidade de perspectivas da psicologiaMomoBe67% (3)
- O surgimento dos sistemas escolares estataisDocument6 pagesO surgimento dos sistemas escolares estataisTHIAGO LUIZ DE MATOS100% (2)
- Representações Sociais e a Construção do ConhecimentoDocument10 pagesRepresentações Sociais e a Construção do ConhecimentoRenata Bittes100% (1)
- CONELLIUS CASTORIADIS A Instituição Imaginária Da SociedadeDocument31 pagesCONELLIUS CASTORIADIS A Instituição Imaginária Da SociedadeClarissa Pais100% (2)
- A Crise Da Saúde Pública e A Utopia Da Saúde ColetivaDocument126 pagesA Crise Da Saúde Pública e A Utopia Da Saúde ColetivaMarcelo Jss83% (6)
- ANDREOLA, B. A. Dinâmica de Grupo - Jogo Da Vida Didática Do FuturoDocument45 pagesANDREOLA, B. A. Dinâmica de Grupo - Jogo Da Vida Didática Do FuturoEdilson Oliveira100% (3)
- Texto Representações Sociais - Cap 1 - Denise Jodelet PDFDocument28 pagesTexto Representações Sociais - Cap 1 - Denise Jodelet PDFClaudio Gruber Mann100% (1)
- Formação de Educadores e Psicólogos:: Contribuições e Desafios da Subjetividade na Perspectiva Cultural-HistóricaFrom EverandFormação de Educadores e Psicólogos:: Contribuições e Desafios da Subjetividade na Perspectiva Cultural-HistóricaNo ratings yet
- Livro A Crise Da Democracia Brasileira 2017Document324 pagesLivro A Crise Da Democracia Brasileira 2017Joaoricardoatm100% (2)
- Controle social da política de assistênciaDocument62 pagesControle social da política de assistênciaJuliana Maia100% (1)
- Psicanálise imagem públicoDocument2 pagesPsicanálise imagem públicomarvinpsc0% (8)
- MACEDO e CARRASCO Con Textos de Entrevista 1a.ed.2005Document144 pagesMACEDO e CARRASCO Con Textos de Entrevista 1a.ed.2005Joao lucas100% (14)
- Pedagogia e governamentalidade: ou Da Modernidade como uma sociedade educativaFrom EverandPedagogia e governamentalidade: ou Da Modernidade como uma sociedade educativaNo ratings yet
- Aula 6 - Max WeberDocument13 pagesAula 6 - Max WeberEDUPNo ratings yet
- Kurt Lewin, A Teoria de Campo e A Dinâmica Dos Grupos Fev 2013Document16 pagesKurt Lewin, A Teoria de Campo e A Dinâmica Dos Grupos Fev 2013Camilo89% (9)
- Teoria Das Representações Sociais PDFDocument671 pagesTeoria Das Representações Sociais PDFtania iora100% (1)
- Boaventura - O Fim Do Império CognitivoDocument26 pagesBoaventura - O Fim Do Império CognitivoC Rosa Guarani-Kaiowá100% (3)
- SCHUTZE Entrevista NarrativaDocument13 pagesSCHUTZE Entrevista NarrativaCarola González75% (4)
- Silvia Lane em Busca de uma Psicologia Social BrasileiraFrom EverandSilvia Lane em Busca de uma Psicologia Social BrasileiraNo ratings yet
- ILUMINISMODocument16 pagesILUMINISMOVictor HedipoNo ratings yet
- REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PSICOLOGIA SOCIALDocument82 pagesREPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PSICOLOGIA SOCIALMichael AlessandroNo ratings yet
- Max Weber - A Ciência Como VocaçãoDocument36 pagesMax Weber - A Ciência Como VocaçãoCamila Damasceno100% (2)
- A Reforma Psiquiátrica Italiana e a desinstitucionalização como um processo social complexoDocument23 pagesA Reforma Psiquiátrica Italiana e a desinstitucionalização como um processo social complexoAdriane ErbsNo ratings yet
- Senso Comum, Representações Sociais e Representações CotidianasDocument107 pagesSenso Comum, Representações Sociais e Representações Cotidianasdomliteris100% (4)
- Moscovici, Representações SociaisDocument6 pagesMoscovici, Representações SociaisCarlos RochaNo ratings yet
- Representação Social: evolução do conceitoDocument17 pagesRepresentação Social: evolução do conceitoAlexsandro MenezNo ratings yet
- Teorias das Representações SociaisDocument22 pagesTeorias das Representações SociaisWanessa Do Bomfim MachadoNo ratings yet
- O NASCIMENTO DA PSICOLOGIA GRUPALDocument9 pagesO NASCIMENTO DA PSICOLOGIA GRUPALHosttacia Ferreira71% (7)
- Estresse Nas Organizações Do Trabalho - CompressedDocument65 pagesEstresse Nas Organizações Do Trabalho - CompressedJosé Ubirajara de CastroNo ratings yet
- MOSCOVICI, S. Representações Sociais O Fenômeno Das Representações SociaisDocument81 pagesMOSCOVICI, S. Representações Sociais O Fenômeno Das Representações SociaisAnonymous ugzqmoNo ratings yet
- MOSCOVICI - S - Representacoes SociaisDocument106 pagesMOSCOVICI - S - Representacoes SociaisIsabela BastosNo ratings yet
- TRS 50 AnosDocument899 pagesTRS 50 AnosRaíssa Lopes100% (1)
- Resenha Do Livro "Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social", Escrito Por Serge Moscovici, Editora Vozes, 2009Document4 pagesResenha Do Livro "Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social", Escrito Por Serge Moscovici, Editora Vozes, 2009Tiago PazNo ratings yet
- Social 1Document17 pagesSocial 1Diogo MendonçaNo ratings yet
- Alves SaúdeDocument251 pagesAlves SaúdeEmanuel LuzNo ratings yet
- Apontamentos Socioantropológicos Sobre Comunidade e SaúdeDocument9 pagesApontamentos Socioantropológicos Sobre Comunidade e SaúdemaraandreaNo ratings yet
- A dimensão cultural da imigração alemã no BrasilDocument17 pagesA dimensão cultural da imigração alemã no BrasilMateus ZottiNo ratings yet
- O Tema Da Imigração Na Sociologia ClássicaDocument28 pagesO Tema Da Imigração Na Sociologia ClássicamaraandreaNo ratings yet
- Distopia - Maria Conceição TavaresDocument9 pagesDistopia - Maria Conceição TavaresRogério RauberNo ratings yet
- Everardo Reflexões Sobre Origens e Construção Das CSociais em SaúdeDocument26 pagesEverardo Reflexões Sobre Origens e Construção Das CSociais em SaúdemaraandreaNo ratings yet
- Alan Sokal Revista de AntropologiaDocument10 pagesAlan Sokal Revista de AntropologiamaraandreaNo ratings yet
- Gilles Bibeau O Q São Evidências PDFDocument5 pagesGilles Bibeau O Q São Evidências PDFmaraandreaNo ratings yet
- comoreferenciarecitarsegundooEstiloVancouver 2008Document52 pagescomoreferenciarecitarsegundooEstiloVancouver 2008Reginha_165No ratings yet
- 20100601143858-Php19DA - Tmp-Censo FIPE Populacao de Rua 2009Document16 pages20100601143858-Php19DA - Tmp-Censo FIPE Populacao de Rua 2009maraandreaNo ratings yet
- Agamben - O Elogio Da ProfanaçãoDocument8 pagesAgamben - O Elogio Da ProfanaçãoDri AzevedoNo ratings yet
- As Metrópoles Se Transformaram Assim Como Os ParadigmasDocument5 pagesAs Metrópoles Se Transformaram Assim Como Os ParadigmasmaraandreaNo ratings yet
- Madel e Prometeu Acorrentado Análise Da Categoria Sociológica de ProdutividadeDocument19 pagesMadel e Prometeu Acorrentado Análise Da Categoria Sociológica de ProdutividademaraandreaNo ratings yet
- Nova Perspectiva Sociologia ConhecimentoDocument40 pagesNova Perspectiva Sociologia ConhecimentoJosé Lucas Góes BenevidesNo ratings yet
- Efeitos Colaterais Do Produtivismo Acadêmico Na PGDocument1 pageEfeitos Colaterais Do Produtivismo Acadêmico Na PGmaraandreaNo ratings yet
- Manual de Proprietario Do Motor de Popa Mercury 75-90-115-125 HP (Carburado)Document78 pagesManual de Proprietario Do Motor de Popa Mercury 75-90-115-125 HP (Carburado)Carlos Lima80% (5)
- ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIADocument10 pagesANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIAAdriano Ramos LeiteNo ratings yet
- Concurso público da Câmara Municipal de Registro analisa vieses cognitivosDocument20 pagesConcurso público da Câmara Municipal de Registro analisa vieses cognitivosEvandroNo ratings yet
- Educação Cristã na Encíclica Divini Illius MagistriDocument39 pagesEducação Cristã na Encíclica Divini Illius MagistriRodrigo Brito100% (1)
- Os ignorantes e os instruídos: o povo entende a verdade melhor que as elitesDocument50 pagesOs ignorantes e os instruídos: o povo entende a verdade melhor que as elitesGuilhermePöttkerNo ratings yet
- Glossário de termos técnicos do contrato de concessão rodoviária do Lote NoroesteDocument22 pagesGlossário de termos técnicos do contrato de concessão rodoviária do Lote NoroesteEmerson GranzottiNo ratings yet
- Verão Quente 1975Document31 pagesVerão Quente 1975Zulmita GastaNo ratings yet
- Documento Referencial Do Polo de Desenvolvimento Integrado Do Alto PiranhasDocument43 pagesDocumento Referencial Do Polo de Desenvolvimento Integrado Do Alto PiranhasFrancisco Mavignier Cavalcante FrançaNo ratings yet
- Regimento Escolar Da Educação Básica Da Rede Municipal de EnsinoDocument60 pagesRegimento Escolar Da Educação Básica Da Rede Municipal de EnsinoCaro LinaNo ratings yet
- LIBERTARIAN EDUCATION HISTORYDocument19 pagesLIBERTARIAN EDUCATION HISTORYAlexandre DuarteNo ratings yet
- Do Contrato Social e o Discurso Sobre A Desigualdade - Jean-Jacques RousseauDocument48 pagesDo Contrato Social e o Discurso Sobre A Desigualdade - Jean-Jacques RousseauJulie NóbregaNo ratings yet
- Orientações para o Ano Letivo 2015 PDFDocument215 pagesOrientações para o Ano Letivo 2015 PDFArnowdhy HudsonNo ratings yet
- A Volta para Casa Desmistificando o TelecommutingDocument148 pagesA Volta para Casa Desmistificando o TelecommutingUbiratan CoutinhoNo ratings yet
- Desafio da resistência à padronizaçãoDocument5 pagesDesafio da resistência à padronizaçãoSandra Maria Xavier BeijuNo ratings yet
- A Origem Da Geometria - HusserlDocument42 pagesA Origem Da Geometria - HusserlUmkara SinceroNo ratings yet
- Cultura popular e patrimônio imaterial no MaranhãoDocument38 pagesCultura popular e patrimônio imaterial no Maranhãozerkalo74No ratings yet
- Manual de Instrução e Operação - Haulotte H960e - 1996 Até 2008Document62 pagesManual de Instrução e Operação - Haulotte H960e - 1996 Até 2008Wellson SOUZANo ratings yet
- Semiótica de Peirce e sua FilosofiaDocument14 pagesSemiótica de Peirce e sua FilosofiaJuh AzevedoNo ratings yet
- Cap 6Document30 pagesCap 6Luiz FernandoNo ratings yet
- Edouard ClaparedeDocument148 pagesEdouard ClaparedeMara BrumNo ratings yet
- Altar Da Deusa e Do DeusDocument22 pagesAltar Da Deusa e Do Deusapi-19791880No ratings yet
- A Crítica Literária Da Literatura Infantil PDFDocument5 pagesA Crítica Literária Da Literatura Infantil PDFAndreia MedeirosNo ratings yet
- Ana Maria Guerra MartinsDocument23 pagesAna Maria Guerra MartinsrsabinaNo ratings yet