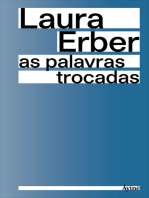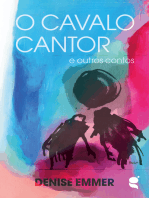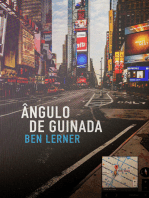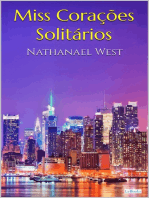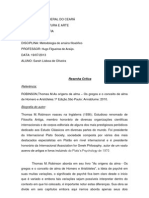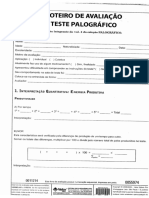Professional Documents
Culture Documents
Revista Polichinello #14
Uploaded by
Heleine FernandesOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Revista Polichinello #14
Uploaded by
Heleine FernandesCopyright:
Available Formats
1
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
14
Esta edio dedicada memria de
Mrio Faustino dos Santos e Silva
H 50 anos nas profundezas.
...
que saber do
que de mais vivo
ter nele havido
uma cartomante?
Nilson Oliveira
Vs que aqui entrai, abandonai toda esperana...
Dante, Divina Comdia, Inferno.
As experincias que cortam esta edio da Polichinello enunciam uma erupo de foras, cujas linhas
dobram-se numa confuencia entre estilos, formas, pulsaes, maneiras pelas quais a escrita efetua
sua potncia criadora. Com efeito, a experiencia termina por dar lugar sua prpria pluralizao:
trata-se no mais do universo literrio a literatura mas do plural que reune, em um conjunto
heterogeneo *, experimentos da escrita.
Uma pluralidade fundada no mais na igualdade e na desigualdade, nem na predominncia e na
subordinao, tampouco na mutualidade recproca, mas na dissimetria e na irreversibilidade.
J no se trata mais de cultivar alinhamentos identitrios ou geracionais, mas de inventar encontros
animados por uma vontade de outramento, isto , encontros entre escritas que se atualizam no por
semelhana, mas por diferentes linhas de inveno, numa experincia da multiplicidade na qual as
foras vibram, efetivamente, numa intensa diferencialidade.
Experimentos cujo comum a impossibilidade de cessar as foras que movem a escrita, sobretudo
de aceitar a escrita como tmulo da literatura. Escrever (literatura) uma prtica indcil, vontade
ingovernvel, selvagem.
Escrever incessante, e, no entanto, o texto no avana deixando para trs de si lacunas, buracos,
rasgos e outras solues de continuidade, mas as rupturas elas mesmas so rapidamente reinscritas
(R.L). Escrever exige e, no entanto, recusa toda escritura, toda tipografa, todo livro. Escrever correr
riscos: viver sem ser vivente, morrer sem morte. Escrever nos remete ao outro da experincia.
Tal como nos remete os experimentos de Max Martins e Mario Faustino, acontecimentos que se
reinventaram em formas no adestradas de criao na qual cada potica, cada singularidade inventa,
para alm de si, maneiras de re-existir, portanto, maneiras de resistir, subvertendo o plano do estvel,
martelando na direo de um pensamento movente, que institui na escrita a liberdade prpria de um
pensamento selvagem, sempre emissor de (mais) um lance, de (mais) um combate.
E
D
I
T
O
R
I
A
L
* LCB, 2011, 27
ISSN 21781230 | 14
NUCLEO EDITORIAL
Nilson Oliveira
Daniel Lins
Alberto Pucheu
Ney Ferraz Paiva
Antnio Moura
Izabela Leal
Nonato Cardozo
Marcilio Costa
Evandro Nascimento
DISTRIBUIO
Lumme
IMAGENS
Marcilio Costa
REVISO
Dayse Rabelo
PROJETO GRFICO
Nonato Moreira
nonato.m3d@gmail.com
TIRAGENS
500 Exemplares
CONTATO
(91) 32784578
revista.polichinello@gmail.com
Belm | PA | Janeiro de 2013
7
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
N
D
I
C
E
HERA, Max Martins 8 O ANIMAL SORRI, Max Martins 9 ESTA GUA QUE PASTA A GEOGRAFIA, Max
Martins 10 NO TREM, PELO DESERTO, Mrio Faustino 11 A DE ANIMAL, Gilles Deleuze & Claire Parnet
12 A OVELHA NEGRA & OUTRAS FBULAS, Augusto Monterroso 16 SABERES ANIMAIS, Maria
Esther Maciel 17 POEMAS, Annita Costa Malufe 19 SELVAGENS, Luiz Bras 21 A LAGARTIXA UM
XAM, Nonato Cardoso 22 PENSAMENTO SELVAGEM, PENSAMENTO DO OUTRO: O IMPOSSVEL
DILOGO COM MONTEZUMA, Maria Elisa Rodrigues Moreira 23 SELVAGEM, Solange Rebuzzi 27 O
CRNIO FALANTE, Conto Nupe 28 O INFANTE SELVAGEM: PEQUENO TRATADO SOBRE LINGUAGEM
E INFNCIA, Luciano Bedin da Costa & Larisa da Veiga Vieira Bandeira 29 DOIS FRAGMENTOS, Dalcidio
Jurandir 34 NOVAS REVELAES DO PRNCIPE DO FOGO, Marcelo Ariel 35 A MINHA LITERATURA
SELVAGEM, Paulo Nunes 38 NOITE ROMANA, Pier Paolo Pasolini 41 O NEGRO E AS CERCANIAS
DO NEGRO, Haroldo Maranho 42 20 FANTASIAS PARA ESCREVER, LER E CRITICAR O TEXTO 46 (DE
PREFERNCIA, SELVAGEM), Sandra Mara Corazza 46 LVI-STRAUSS, Marcia Tiburi 50 CONFIANA,
Suely Rolnik 52 DEITADO SOBRE O RIO, Evandro Nascimento 59 FAVOS, Arturo Gamero 61 HERA
DE MAX MARTINS, Paulo Vieira 62 COMO SE NASCE NUMA ILHA DESERTA?, Eduardo Pellejero 63
FBULA, Jos Kozer 67 ANOTAES PARA UMA FBULA, Afonso Henriques Neto 69 POEMAS, Contador
Borges 72 O POEMA COMO NORTE OU A DESESPERAO DO 74 HOMEM QUE NO EST NA
CIDADE, Andr Queiroz 74 DE GRAFIES INCISIONS, Joan Navarro 79 CAIO DAS PGINAS NOS TEUS
BRAOS, Heleine Fernandes 83 MORTE-RESSURREIO DE LADY LAZARUS, Ney Ferraz Paiva 86
ENTRE MUITOS, Wislawa Zsymbrska 87 WISLAWA. FEVEREIRO, 2012, Antnio Moura 88 O SACRIFCIO,
Giselda Leirner 89 ANNE OF AMY DEAD HEART?, Juliete Oliveira 94 E QUEM CONSIDERA ALGO DE
SBITO, Mario Arteca 95 QUELLO CHE TU VUOI, Claudio Oliveira 96 DO OUTRO LADO DA PAREDE
DO SONHO, Delfn Nicasio Prats 100 ATRAVESSANDO OS OLHOS DE UM MORTO, Marcilio Costa 102 DOS
SEGREDOS DE SER LNGUA ENCANTADA, Giselle Ribeiro 103 A ASCENSO DE LAURA, Jos Cardona-Lpez
107 2 POEMAS, e. e. cummings 108 BREVES NARRATIVAS, Henry Burnett 109 PEDRAS DESCALSAS, Jair
Cortez 111 LCIFER NO CU, COM DIAMANTES, Andria Carvalho 114 ESQUECIMENTO, Maxine Kumin 115
POEMAS, Hilde Domin 116 A BALADA DO JOVEM SIENKIEWICZ, Francisco dos Santos 117 HA!HABSBURGO
- UM RETORNO, Leonardo Gandolf 118 POEMAS, Ronald Augusto 120 DO LIVRO (INDITO) GLADIS
MONOGATARI, Vctor Sosa 121 LE PETIT CHAPERON ROUGE DORME, Virna Teixeira 122 DO SONETARIO
MATTOSIANO, Glauco Mattoso 123 POEMA, Andreev Veiga 124 DEVELAR, Juan Arabia 125 LIVRO DE
ORAES, Daniel Faria 126 [LUA MBAR] [NONA SELEO], Ana Carmen Amorim Jara Casco 127 NO
PERGUNTES POR QUE TOCO O TEU ROSTO, Mar Becker 129 COMO NASCEM OS SEGREDOS, Roberta Tostes
Daniel 130 SYLVIA QUEIMA, Anna Apolinrio 131 AOS VENTOS, Vasco Cavalcante 132 SUSPENSO, Lara
Amaral 133 A POTICA DE MANOEL DE BARROS: DEVIR CRIANA, Silvana Ttora 134 O HOMEM QUE
MORAVA NO DCIMO NONO ANDAR, Roseana Nogueira 139 CONECTURAS, Milton Meira 140 LOST DOG,
Benoni Arajo 141 QUANDO PSICANLISE E LITERATURA CONVERSAM TTE--TTE 142 , Njla Assy 142
8
A Sylvia e Benedito
Em verdes eras - fomos
hera num muro
cantochorado pelo vento
que envolvia tudo o verde
embora o verde s vezes de haver se ressentisse
no olhar de quem
alm
a gente amava ave.
ramos
e perdurvamos
avos do ser estando em dia a carne
para o pacto-pasto das razes,
um rio-sim manando milhas
de sonhos-ervas, gros
de smen solto amanhecente - sol
a sombra
a relva.
E-se era inverno, o verde sido,
um no-sim, um eco
ainda assim se condizia
no prprio corao dos que no leito amando
agora se desamam
ou se desdizem h'era
amor tecido contra um muro.
HERA | Max Martins
9
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
O ANIMAL SORRI | Max Martins
O animal sorri. Seus dentes
so rochas
e runas
por onde a noite
sem memria desce
sua demncia.
Teu corpo (ainda leve)
indelvel sombra
sobra
duma remota juventude
est de volta.
Ningum te segue, e cega
a ave fere a tarde
te anuncia
s febres deste dia.
Rios se desesperam
pedras agonizam
se torturam
se procuram.
(Virs jaula
deste animal remanescente
do fogo e do Dilvio?
Atraioado
oco
ex-
posto em praa pblica
para os olhos
das crianas, dos fotgrafos?
EU-COBERTO-DE-PELOS: virs me ver
atrs das grades?)
10
ESTA GUA QUE PASTA A GEOGRAFIA | Max Martins
Esta gua que pasta a geografa
de meu tmulo
deu-me
o leite dos infernos.
Na emboscado do cio
seu fogo
fustigou-me o fgado
e f-lo
estigma, lama. E a sina,
do verbo corrompido fez o signo-fruto
corrodo
que ela enterrou e canta.
SEU COICE FOI INFINITO.
Max Martins (Belm, 1926-2009), poeta, autor, entre outros, de: Anti-Retrato (1960), H'Era (1971), O Risco Subscrito (1980),
Caminho de Marahu (1983), Para ter Onde Ir (1992).
11
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
Mrio Faustino, O homem e sua hora e outros poemas. So Paulo: Companhia de Bolso, 2009, p.196.
NO TREM, PELO DESERTO | Mrio Faustino
As vozes frias
Anulam toda chance de existncia.
Jogam cartas terrveis
Batem fotografas perigosas
No temem. Falam. Passam,
Na chacina do raro ostentam sua misria.
Ningum veste de verde. Um s
Parece vivo, aberto e esse dorme.
As aves lentas voam seus pressgios
E a brisa morna engendra fores duras
Na secura dos cactos.
Algum pergunta: "Estamos perto?" E estamos longe
E nem rastro de chuva. E nada pode
Salvar a tarde.
(S se um milagre, um touro
Surgisse dentre os trilhos para enfrentar a fera
Se algo frtil enorme aqui brotasse
Se liberto quem dorme se acordasse)
12
A DE ANIMAL | Gilles Deleuze & Claire Parnet
CP: Ento comeamos com A. A Animal.
Poderamos considerar sua a frase de W. C. Fields:
"Um homem que no gosta nem de crianas, nem
de animais no pode ser totalmente ruim". Por
enquanto, deixemos de lado as crianas, sei que
voc no gosta muito de animais domsticos, e
nem prefere, como Baudelaire ou Cocteau, os
gatos aos cachorros. Em compensao, voc tem
um bestirio, ao longo de sua obra, que bastante
repugnante, ou seja, alm das feras, que so
animais nobres, voc fala muito do carrapato, do
piolho, de alguns pequenos animais como esses,
repugnantes, e alm disso, que os animais lhe
serviram muito desde O anti-dipo. Um conceito
importante em sua obra o devir-animal. Qual ,
ento, sua relao com os animais?
GD: Os animais no so... O que voc disse
sobre minha relao com os animais domsticos,
no o animal domstico, domado, selvagem, o
que me preocupa. O problema que os gatos,
os cachorros, so animais familiares, familiais,
e verdade que desses animais domados,
domsticos, eu no gosto. Em compensao,
gosto de animais domsticos no-familiares,
no-familiais. Gosto, pois sou sensvel a algo
neles. Aconteceu comigo o que acontece em
muitas famlias. No tinha gato, nem cachorro.
Um de meus flhos com Fanny trouxe, um dia,
um gato que no era maior que sua mozinha.
Ele o tinha encontrado, estvamos no campo, em
um palheiro, no sei bem onde, e a partir desse
momento fatal, sempre tive um gato em casa. O
que me incomoda nesses bichos? Bem, no foi
um calvrio, eu suporto, o que me incomoda...
no gosto dos roadores, um gato passa seu
tempo se roando, roando em voc, no gosto
disso. Um cachorro diferente, o que reprovo,
fundamentalmente, no cachorro, que ele late. O
latido me parece ser o grito mais estpido. E h
muitos gritos na Natureza! H uma variedade de
gritos, mas o latido , realmente, a vergonha do
reino animal. Suporto, em compensao, suporto
mais, se no durar muito, o grito, no sei como se
diz, o uivo para a lua, um cachorro que uiva para
a lua, eu suporto mais.
CP: O uivo para a morte.
GD: Para a morte, no sei, suporto mais que
o latido. E, quando soube que cachorros e
gatos fraudavam a previdncia social, minha
antipatia aumentou. Ao mesmo tempo, o que
digo bem bobo, porque as pessoas que gostam
verdadeiramente de gatos e cachorros tm uma
relao com eles que no humana. Por exemplo,
as crianas, tm uma relao com eles que no
humana, que uma espcie de relao infantil
ou... o importante ter uma relao animal com
o animal. O que ter uma relao animal com o
animal? No falar com ele... Em todo caso, o
que no suporto a relao humana com o animal.
Sei o que digo porque moro em uma rua um
pouco deserta e as pessoas levam seus cachorros
para passear. O que ouo de minha janela
espantoso. espantoso como as pessoas falam
com seus bichos. Isso inclui a prpria psicanlise.
A psicanlise est to fxada nos animais
familiares ou familiais, nos animais da famlia,
que qualquer tema animal... em um sonho, por
13
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
exemplo, interpretado pela psicanlise como
uma imagem do pai, da me ou do flho, ou seja,
o animal como membro da famlia. Acho isso
odioso, no suporto. Devemos pensar em duas
obras primas de Douanier Rousseau: o cachorro
na carrocinha que realmente o av, o av em
estado puro, e depois o cavalo de guerra, que
um bicho de verdade. A questo : que relao
voc tem com o animal? Se voc tem uma
relao animal com o animal... Mas geralmente
as pessoas que gostam dos animais no tm
uma relao humana com eles, mas uma relao
animal. Isso muito bonito, mesmo os caadores,
e no gosto de caadores, enfm, mesmo eles tm
uma relao surpreendente com o animal. Acho
que voc me perguntou, tambm, sobre outros
animais. verdade que sou fascinado por bichos
como as aranhas, os carrapatos, os piolhos.
to importante quanto os cachorros e gatos. E
tambm uma relao com animais, algum que
tem carrapatos, piolhos. O que quer dizer isto?
So relaes bem ativas com os animais. O que
me fascina no animal? Meu dio por certos
animais nutrido por meu fascnio por muitos
animais. Se tento me dizer, vagamente, o que me
toca em um animal, a primeira coisa que todo
animal tem um mundo. curioso, pois muita
gente, muitos humanos no tm mundo. Vivem
a vida de todo mundo, ou seja, de qualquer um,
de qualquer coisa, os animais tm mundos. Um
mundo animal, s vezes, extraordinariamente
restrito e isso que emociona. Os animais reagem
a muito pouca coisa. H toda espcie de coisas...
Essa histria, esse primeiro trao do animal
a existncia de mundos animais especfcos,
particulares, e talvez seja a pobreza desses
mundos, a reduo, o carter reduzido desses
mundos que me impressiona muito. Por exemplo,
falamos, h pouco, de animais como o carrapato.
O carrapato responde ou reage a trs coisas, trs
excitantes, um s ponto, em uma natureza imensa,
trs excitantes, um ponto, s. Ele tende para a
extremidade de um galho de rvore, atrado pela
luz, ele pode passar anos, no alto desse galho,
sem comer, sem nada, completamente amorfo,
ele espera que um ruminante, um herbvoro, um
bicho passe sob o galho, e ento ele se deixa
cair, a uma espcie de excitante olfativo. O
carrapato sente o cheiro do bicho que passa sob
o galho, este o segundo excitante, luz, e depois
odor, e ento, quando ele cai nas costas do pobre
bicho, ele procura a regio com menos plos, um
excitante ttil, e se mete sob a pele. Ao resto, se se
pode dizer, ele no d a mnima. Em uma natureza
formigante, ele extrai, seleciona trs coisas.
CP: este seu sonho de vida? isso que lhe
interessa nos animais?
GD: isso que faz um mundo.
CP: Da sua relao animal-escrita. O escritor,
para voc, , tambm, algum que tem um
mundo?
GD: No sei, porque h outros aspectos, no
basta ter um mundo para ser um animal. O
que me fascina completamente so as questes
de territrio e acho que Flix e eu criamos um
conceito que se pode dizer que flosfco, com
a idia de territrio. Os animais de territrio,
h animais sem territrio, mas os animais de
territrio so prodigiosos, porque constituir
um territrio, para mim, quase o nascimento
da arte. Quando vemos como um animal marca
seu territrio, todo mundo sabe, todo mundo
invoca sempre... as histrias de glndulas
anais, de urina, com as quais eles marcam as
fronteiras de seu territrio. O que intervm na
marcao , tambm, uma srie de posturas,
por exemplo, se abaixar, se levantar. Uma srie
de cores, os macacos, por exemplo, as cores
das ndegas dos macacos, que eles manifestam
na fronteira do territrio... Cor, canto, postura,
so as trs determinaes da arte, quero dizer, a
cor, as linhas, as posturas animais so, s vezes,
verdadeiras linhas. Cor, linha, canto. a arte
em estado puro. E, ento, eu me digo, quando
eles saem de seu territrio ou quando voltam
para ele, seu comportamento... O territrio o
domnio do ter. curioso que seja no ter, isto
, minhas propriedades, minhas propriedades
maneira de Beckett ou de Michaux. O territrio
so as propriedades do animal, e sair do territrio
se aventurar. H bichos que reconhecem seu
cnjuge, o reconhecem no territrio, mas no
fora dele.
14
CP: Quais?
GD: uma maravilha. No sei mais que
pssaro, tem de acreditar em mim. E ento,
com Flix, saio do animal, coloco, de imediato,
um problema flosfco, porque... misturamos
um pouco de tudo no abecedrio. Digo para
mim, criticam os flsofos por criarem palavras
brbaras, mas eu, ponha-se no meu lugar, por
determinadas razes, fao questo de refetir
sobre essa noo de territrio. E o territrio s
vale em relao a um movimento atravs do
qual se sai dele. preciso reunir isso. Preciso
de uma palavra, aparentemente brbara. Ento,
Flix e eu construmos um conceito de que
gosto muito, o de desterritorializao. Sobre
isso nos dizem: uma palavra dura, e o que
quer dizer, qual a necessidade disso? Aqui, um
conceito flosfco s pode ser designado por
uma palavra que ainda no existe. Mesmo se
se descobre, depois, um equivalente em outras
lnguas. Por exemplo, depois percebi que em
Melville, sempre aparecia a palavra: outlandish,
e outlandish, pronuncio mal, voc corrige,
outlandish , exatamente, o desterritorializado.
Palavra por palavra. Penso que, para a flosofa,
antes de voltar aos animais, para a flosofa
surpreendente. Precisamos, s vezes, inventar
uma palavra brbara para dar conta de uma noo
com pretenso nova. A noo com pretenso
nova que no h territrio sem um vetor de
sada do territrio e no h sada do territrio,
ou seja, desterritorializao, sem, ao mesmo
tempo, um esforo para se reterritorializar em
outra parte. Tudo isso acontece nos animais.
isso que me fascina, todo o domnio dos signos.
Os animais emitem signos, no param de emitir
signos, produzem signos no duplo sentido:
reagem a signos, por exemplo, uma aranha:
tudo o que toca sua tela, ela reage a qualquer
coisa, ela reage a signos. E eles produzem
signos, por exemplo, os famosos signos... Isso
um signo de lobo? um lobo ou outra coisa?
Admiro muito quem sabe reconhecer, como os
verdadeiros caadores, no os de sociedades de
caa, mas os que sabem reconhecer o animal
que passou por ali, a eles so animais, tm, com
o animal, uma relao animal. isso ter uma
relao animal com o animal. formidvel.
CP: essa emisso de signos, essa recepo de
signos que aproxima o animal da escrita e do
escritor?
GD: . Se me perguntassem o que um animal,
eu responderia: o ser espreita, um ser,
fundamentalmente, espreita.
CP: Como o escritor?
GD: O escritor est espreita, o flsofo est
espreita. evidente que estamos espreita.
O animal ... observe as orelhas de um animal,
ele no faz nada sem estar espreita, nunca est
tranqilo.
Ele come, deve vigiar se no h algum atrs
dele, se acontece algo atrs dele, a seu lado.
terrvel essa existncia espreita. Voc faz a
aproximao entre o escritor e o animal.
CP: Voc a fez antes de mim.
GD: verdade, enfm... Seria preciso dizer que,
no limite, um escritor escreve para os leitores,
ou seja, "para uso de", "dirigido a". Um escritor
escreve "para uso dos leitores". Mas o escritor
tambm escreve pelos no-leitores, ou seja, "no
lugar de" e no "para uso de". Escreve-se pois
"para uso de" e "no lugar de". Artaud escreveu
pginas que todo mundo conhece. "Escrevo pelos
analfabetos, pelos idiotas". Faulkner escreve
pelos idiotas. Ou seja, no para os idiotas, os
analfabetos, para que os idiotas, os analfabetos o
leiam, mas no lugar dos analfabetos, dos idiotas.
"Escrevo no lugar dos selvagens, escrevo no
lugar dos bichos". O que isso quer dizer? Por que
se diz uma coisa dessas? "Escrevo no lugar dos
analfabetos, dos idiotas, dos bichos". isso que
se faz, literalmente, quando se escreve. Quando
se escreve, no se trata de histria privada.
So realmente uns imbecis. a abominao, a
mediocridade literria de todos as pocas, mas,
em particular, atualmente, que faz com que se
acredite que para fazer um romance, basta uma
historinha privada, sua historinha privada, sua
av que morreu de cncer, sua histria de amor, e
ento se faz um romance. uma vergonha dizer
coisas desse tipo. Escrever no assunto privado
15
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
de algum. se lanar, realmente, em uma
histria universal e seja o romance ou a flosofa,
e o que isso quer dizer...
CP: escrever "para" e "pelo", ou seja, "para uso
de" e "no lugar de". o que disse em Mil plats,
sobre Chandos e Hofmannsthal: "O escritor
um bruxo, pois vive o animal como a nica
populao frente qual responsvel".
GD: isso. por uma razo simples, acredito que
seja bem simples. No uma declarao literria
a que voc leu de Hofmannsthal. outra coisa.
Escrever , necessariamente, forar a linguagem,
a sintaxe, porque a linguagem a sintaxe, forar
a sintaxe at um certo limite, limite que se pode
exprimir de vrias maneiras. tanto o limite que
separa a linguagem do silncio, quanto o limite
que separa a linguagem da msica, que separa
a linguagem de algo que seria... o piar, o piar
doloroso.
CP: Mas de jeito algum o latido?
GD: No, o latido no. E, quem sabe, poderia
haver um escritor que conseguisse. O piar
doloroso, todos dizem, bem, sim, Kafka. Kafka
A metamorfose, o gerente que grita: "Ouviram,
parece um animal". Piar doloroso de Gregor ou
o povo dos camundongos, Kafka escreveu pelo
povo dos camundongos, pelo povo dos ratos que
morrem. No so os homens que sabem morrer,
so os bichos, e os homens, quando morrem,
morrem como bichos. A voltamos ao gato e, com
muito respeito, tive, entre os vrios gatos que se
sucederam aqui, um gatinho que morreu logo,
ou seja, vi o que muita gente tambm viu, como
um bicho procura um canto para morrer. H um
territrio para a morte tambm, h uma procura
do territrio da morte, onde se pode morrer. E
esse gatinho que tentava se enfar em um canto,
como se para ele fosse o lugar certo para morrer.
Nesse sentido, se o escritor algum que fora
a linguagem at um limite, limite que separa a
linguagem da animalidade, do grito, do canto,
deve-se ento dizer que o escritor responsvel
pelos animais que morrem, e ser responsvel
pelos animais que morrem, responder por eles...
escrever no para eles, no vou escrever para meu
gato, meu cachorro. Mas escrever no lugar dos
animais que morrem levar a linguagem a esse
limite. No h literatura que no leve a linguagem
a esse limite que separa o homem do animal.
Deve-se estar nesse limite. Mesmo quando
se faz flosofa. Fica-se no limite que separa o
pensamento do no-pensamento. Deve-se estar
sempre no limite que o separa da animalidade,
mas de modo que no se fque separado dela. H
uma inumanidade prpria ao corpo humano, e
ao esprito humano, h relaes animais com o
animal. Seria bom se terminssemos com o A.
ABECEDRIO de Gilles Deleuze: Srie de entrevistas - feita por Claire Parnet - flmada nos anos 1988-1989.
16
A OVELHA NEGRA & OUTRAS FBULAS | Augusto Monterroso
Traduo: Nonato Cardoso
A Ovelha Negra
Em um pas remoto, existiu h muitos anos uma Ovelha negra. Foi fuzilada.
Um sculo depois, o rebanho arrependido lhe ergueu uma esttua equestre que fcou muito bem no
parque.
Assim, no futuro, cada vez que apareciam ovelhas negras eram rapidamente fuziladas para que as
futuras geraes de ovelhas comuns e normais pudessem tambm exercitar-se na arte da escultura.
O Burro e a Flauta
Jogada no campo por um longo tempo havia uma Flauta que nada tocava, at que um dia um Burro
que passeava por ali bufou forte sobre ela fazendo-a produzir o som mais doce de sua vida, ou seja,
da vida do Burro e da Flauta.
Incapazes de compreender o que havia acontecido, porque a racionalidade no era o seu forte e ambos
acreditavam na racionalidade, se separaram apressados, envergonhados do melhor que um e o outro
haviam feito durante sua triste existncia.
O Fabulista e Seus Crticos
Na selva vivia h muito tempo um Fabulista cujos crticos se reuniram um dia e o visitaram para
queixar-se dele (fngindo alegremente que no falavam por eles, mas pelos outros), sobre a base de
que suas fbulas no nasciam de boas intenes, mas do dio.
Como ele concordou, eles se retiraram s pressas, como a vez que a Cigarra se decidiu e disse a
Formiga tudo o que tinha a dizer.
Augusto Monterroso, nasceu em Honduras, 1921. Em 1944 exila-se no Mxico, pas onde publica Obras Completas (y otros cuentos).
Considerado um dos mestres das narrativas breves, escreveu o famoso conto Dinossauro, considerado o mais curto da histria da
literatura. Autor das obras Oveja Negra y dems fbulas, Movimiento Perpetuo e Viaje al centro de la fbula.
17
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
SABERES ANIMAIS | Maria Esther Maciel
Mas at que ponto se pode falar de uma
subjetividade animal? A percepo do mundo
pelo olhar, a capacidade de sofrer e de construir
seu prprio espao vital seriam ndices bastantes
de que os animais, alm de seres complexos, so
tambm capazes de sentir, criar, se comunicar e
at mesmo de pensar?
Montaigne, em Apologia de Raymond Sebond,
j chamava a ateno para a complexidade animal,
ao mostrar que os bichos, dotados de variadas
faculdades, fazem coisas que ultrapassam de
muito aquilo de que somos capazes, coisas que
no conseguimos imitar e que nossa imaginao
no nos permite sequer conceber. Interessante
que tais consideraes s muito recentemente
encontraram amparo cientfco graas, sobretudo,
s descobertas da etologia contempornea.
Dominique Lestel, em As origens animais da
cultura, aponta a extraordinria diversidade de
comportamentos e competncias dos bichos, que
vo da habilidade esttica at formas elaboradas
de comunicao. No que se refere habilidade
das aves na construo de ninhos, por exemplo,
o estudioso lembra que para faz-los, as
aves tecem, colam, sobrepem, entrecruzam,
empilham, escavam, enlaam, enrolam, assentam,
cosem e atapetam, valendo-se no apenas de
folhas e ramos, como tambm de musgo, erva,
terra, excrementos, saliva, plos, flamentos de
teias de aranha, fbras de algodo, pedaos de l,
ramos espinhosos e sementes, cuidadosamente
separados e combinados. J no que tange
comunicao, ele explica que uma ave canora
dos pntanos europeus revela-se capaz de imitar
setenta e oito outras espcies de aves (108), que a
vocalizao de certos animais apresenta distines
individuais ou regionais, e que os gritos de um
sagi podem obedecer a uma semntica bastante
precisa. Para no mencionar o rico repertrio de
silvos dos golfnhos, que inclui alguns capazes
de caracterizar o indivduo que os produz, como
se fosse uma espcie de assinatura capaz de
declinar a identidade do golfnho do grupo. Ou
as peculiaridades do canto das baleias, visto que
elas empregam ritmos musicais e seqncias
emocionais, utilizando frases cujo comprimento
se aproxima das frases humanas.
Giorgio Agamben, na descrio que faz no
ensaio O fm do pensamentode uma paisagem
cheia de inauditas vozes animais (silvos, trilos,
chilros, assobios, cochichos, cicios, etc.), diz
que, enquanto cada animal tem seu som, nascido
imediatamente de si, ns (os humanos) os nicos
sem voz no coro infnito das vozes animais
provamos do falar, do pensar. Colocando
em contraponto voz e fala, phon e logos, por
considerar que o pensamento a pendncia da
voz na linguagem, ele lana uma frase quase-
verso: Em seu trilo, claro: o grilo no pensa
(56). Por vias oblquas, o flsofo confrma com
tal imagem a j referida assertiva heideggeriana
de que o animal desprovido de linguagem e,
portanto, pobre de mundo, situando-se fora do
ser, numa zona de no-conhecimento.
Porm, diante dos estudos etolgicos
contemporneos, quem garante que os animais
esto impedidos de pensar, ainda que de uma
forma muito diferente da nossa, e ter uma voz que
se inscreve na linguagem? Estar, como indaga
Lestel, a nossa racionalidade sufcientemente
desenvolvida para explicar uma racionalidade
que lhe estranha, caso esta realmente exista?
Emblemtica, neste contexto, a clebre frase de
Wittgenstein: se o leo pudesse falar, ns no o
18
entenderamos variao do dizer de Ovdio,
segundo o qual, se o animal falasse, nada diria.
Isso porque, como o flsofo sugere, a lgica que
nortearia essa fala seria radicalmente outra e,
certamente, nos despertaria para o conhecimento
imediato de nossa prpria ignorncia. Do que
se pode depreender que a linguagem no
sufciente para responder a questo da diferena
entre humano e no-humano. Ao contrrio,
como afrma Wolfe, ela mantm a questo viva
e aberta.
Vale, neste contexto, evocar um divertido
poema de Jacques Roubaud, no qual o autor de
Os animais de todo mundo parece brincar com
a frase de Wittgenstein, ao dar voz a um porco
falante que diz, entre outras coisas:
Quando falo, disse o porco,
eu gosto de dizer porqarias:
graxa goela gripe grunhido
paspalho pax luxao
resmungo munheca migalho camelo
chuchu brejo chiqueiro
Roubaud, nesse poema organizado com palavras
sem aparente conexo umas com as outras, mas
plenas de sonoridade e humor, esvazia a fala de
seu porco da sintaxe que se espera de um dizer
inteligvel. No jogo da linguagem, o porco encena
uma lgica que, embora estando a servio de
vocbulos identifcveis (na verdade, palavras
porcas, contaminadas pela carga semntica
que o senso comum atribuiu existncia suna),
no se confna inteiramente nos limites do
entendimento imediato e previsvel. V-se que
o saber que o porco detm sobre si mesmo se
manifesta atravs de um eu desajeitado dentro
de uma lngua que no lhe pertence. O desafo
que essa brincadeira representa para o leitor
se repete em outros momentos do livro e se
radicaliza nas ltimas pginas, atravs do poema
O asno, cuja autoria atribuda ao prprio
animal. um soneto feito totalmente de zurros,
em que o asno fala no registro onomatopico que
imaginamos ser o dele. Ao contrrio de Um boi
v homens, de Drummond, o poema encena
uma voz animal sem palavras, mas que tambm
no passa de um exerccio de criatividade do
poeta que o cria. Ou seja, no registro simblico,
o animal s possvel de ser capturado enquanto
um it. Sua subjetividade, ou o que quer que seja
que chamemos de subjetividade animal, no se
inscreve na linguagem humana.
Assim, no esforo de sondar pelos poderes
da imaginao a subjetividade desse
completamente outro que o animal, e
estabelecer com ela uma relao de cumplicidade
ou de devir, cada um dos escritores mencionados
constri o seu bestirio particular. Sejam as feras
enjauladas nos zoolgicos do mundo, sejam os
bichos domsticos, as espcies em extino, os
animais que nos alimentam ou os que fomentam
as experincias acadmicas no campo da biologia
e da gentica, todos ao entrarem na esfera do
potico acabam por nos ensinar muito mais
do que os escritores sabem sobre eles. Abrem,
dessa forma, um campo frtil para os escritores
deste novo milnio que, agora, tm a tarefa de
repensar a questo dos animais sob o prisma
da lamentvel situao de barbrie do mundo.
Cabe, cada vez mais, aos zooescritores do
presente assumirem a responsabilidade tica e
esttica de escrever sob o impacto da certeza de
que vivemos hoje num tempo em que as espcies
entraram em estado de irremedivel extino,
tempo em que uma refexo incisiva sobre
o as prticas de crueldade contra os animais
torna-se cada vez mais necessria e urgente
no mundo contemporneo. O que no garante
necessariamente que tal literatura possa, algum
dia, fechar os matadouros.
Maria Esther Maciel, nasceu em Patos de Minas, 1963. Professora de Teoria Literria na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Poeta e crtica literria, publicou: Dos Haveres do Corpo (poesia, 1985); As vertigens da Lucidez: Poesia e Crtica em
Octavio Paz (ensaio, 1995), A Lio do Fogo (ensaio, 1998), Triz (poesia, 1998),Vo Transverso (ensaio, 1999), A memria das coisas
(ensaio, 2004) e O Livro de Zenbia (prosa potica, 2004).
19
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
POEMAS |Annita Costa Malufe
o mundo comea a funcionar so
primeiro os nibus que se
intensifcam e depois os passos
no andar de cima o chuveiro a reforma
os gatos as buzinas o mundo
comea cedo olho pela terceira
vez o relgio ao lado tudo comea
muito cedo tudo comea e um dia
termina
o que eles dizem eles te enganam eles
costumavam dizer o avesso de uma
frase e depois romp-la pelo meio
voc acreditou era um
pacto foi isto um pacto muito bem feito
a voz de uma adolescente rompia
a vedao da janela anti-rudos mas tudo
era incompreensvel
faz tempo sim
que no te escrevo
tudo incompreensvel passos
no escuro do corredor longo
corredor de hospital madrugada
quartos desativados a escada de
granito pedra de cemitrio como
no poema de Baudelaire que fala de
vagas ou vagar entre lpides de pessoas
desconhecidas descer as escadas
sem fazer barulho eu vim apenas
cumprir minha parte isto tudo tem
uma atmosfera azul-gua as prateleiras
no cho eu no pude te chamar mais
cedo no antes de verifcar as portas a
resistncia dos materiais no antes
de me assegurar eram anos e anos sem
resposta nem uma nica vez
estive aqui prometo sair e tudo fca
sem resposta ou continuao prometo
sair sem explicar
no esta a voz que
ouo preciso conseguir
alcanar o volume
e depois a vida comezinha
a vidinha de todo dia pegar
20
o nibus naquele horrio caminhar
at o servio dizer bom dia
mesmo sem querer ter sempre
a hora de voltar para casa voltar
para casa sem querer os fns
de semana a repetio a
repetio tudo poderia mudar de um
instante para o outro mas logo
sabemos que iluso um rpido
lampejo um copo a mais antes de
dormir depois tudo recomea
nada muito mais adiante nada muito
diferente de hoje e sempre para
frente o pior ou o normal o muito
pouco o comum a semana que vem os fns
de semana a refeio a disciplina a vidinha
o pagamento a flha dele tinha o mesmo
nome o flho era parecido a tia nunca mais
foi a mesma depois de
faz tempo sim
que no te escrevo
Annita Costa Malufe, nasceu em So Paulo, 1975. Autora de Poticas da imanncia: Ana Cristina Cesar e Marcos Siscar (7Letras/
Fapesp, 2011) e Quando no estou por perto (7Letras, 2012).
no quero ouvi-los falar me
afasto o corpo impulsiona mais
velocidade e imprime um rudo interno
muito barulho no quero ouvi-los
a rua larga os problemas
so todos refeitos os confitos
cotidianos ela comprou um tnis
s para caminhar ela parou na esquina
por causa dos calos no quero
ouvi-los me afasto o quanto
posso so confitos cotidianos a
venda do apartamento a frequncia
dos exerccios semanais a cara
que ela fez ao chegar em casa
a bisbilhotice da vida alheia a rua
larga imprimo um rudo interno e sempre
as conversas recomeam
21
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
SELVAGENS | Luiz Bras
Somos jovens. Somos voluntrios.
Estamos numa sala branca com uma cama no centro.
Estamos nus, deitados na cama branca da sala branca.
O chefe da equipe de engenheiros pede que eu beije minha namorada.
Eu sinto minha lngua tocando a dela. Ento comeo a sentir minha lngua tocando minha prpria
lngua. engraado.
O chefe da equipe de engenheiros pede que faamos sexo.
Eu comeo abraando minha namorada. como se eu abraasse outra pessoa e ao mesmo tempo me
abraasse. como se eu penetrasse outra pessoa e ao mesmo tempo me penetrasse.
Eu gozo.
Minha namorada goza comigo. O meu gozo tambm o seu gozo.
No dia seguinte a sala branca est vazia, tiraram a cama branca.
Eu e minha namorada temos companhia: dois outros casais. Todos nus.
Somos jovens. Somos voluntrios.
A equipe de engenheiros traz uma mesa e seis cadeiras.
Passamos a tarde jogando cartas.
Jogo inslito. Meus olhos veem minhas cartas e as cartas dos meus colegas de experincia. Eu vejo
tudo pelos meus olhos e pelos olhos dos outros e os outros veem tudo pelos prprios olhos e pelos
olhos dos colegas de experincia.
No dia seguinte no encontramos o engenheiro-chefe nem sua equipe.
O prdio est branco e vazio.
Foram embora e levaram com eles todo o equipamento branco.
Menos os seis implantes neurolgicos: um em cada um de ns.
No h gua nem comida. As portas e as janelas foram lacradas.
Sede. Fome.
No dia seguinte um de ns urina num copinho de plstico e bebe a prpria urina.
Sinto a boca cheia. Todos ns sentimos a boca cheia. Engolimos. No to ruim quanto parece.
No dia seguinte minha namorada morde meu antebrao. Eu sinto a dor da mordida e a sensao de
estar mordendo. Todos os seis sentimos a mesma coisa.
Minha namorada no consegue parar de morder e ser mordida.
Eu soco seu queixo e recebo na hora meu prprio soco.
Sinto meus dedos tentando abrir meu couro cabeludo. No so meus dedos, no realmente meu
couro cabeludo. Um de ns, muito desesperado, est tentando tirar o prprio implante.
Um de ns chora e todos ns choramos.
Somos jovens. Somos voluntrios.
Um de ns encontra uma faca numa gaveta qualquer.
Sinto a lmina penetrar meu abdome. Todos os seis sentimos a mesma coisa. Somos o assassino e a
vtima.
O vermelho tinge o branco, o branco tinge minhas retinas, nossas retinas, eu perco a conscincia,
todos ns perdemos a conscincia.
No dia seguinte chegam novos voluntrios, todos jovens.
Luiz Bras, nasceu em Cobra Norato-MS, 1968. Doutor em Letras pela USP e sempre morou no terceiro planeta do sistema solar.
de leo e, no horscopo chins, cavalo. Na infncia ouvia vozes misteriosas que lhe contavam histrias secretas. Adora flmes de
animao, histrias em quadrinhos e gatos. Com os felinos aprendeu a acreditar em telepatia e universos paralelos. J publicou diversos
livros, entre eles a coletnea de contos Paraso lquido, a coletnea de crnicas Muitas peles, os romances juvenis Sonho, sombras e
super-heris e Babel Hotel e, em parceria com Tereza Yamashita, os infantis A menina vermelha, A ltima guerra e Dias incrveis.
Mantm uma pgina mensal no jornal Rascunho, de Curitiba, intitulada Rudo Branco. Tambm mantm o blogue Cobra Norato: http://
luizbras.wordpress.com.
22
A LAGARTIXA UM XAM | Nonato Cardoso
Por esta estrada fui eu levado,
Por este caminho os sensatos animais me transportaram.
Parmnides
Uma lagartixa, dessas que no so negras, nem brancas, que parecem um eterno descamar, caiu em um
lago. Completamente imvel, como se o lago fosse um piso de vidro futuante, a lagartixa deslizou,
inclume, at a margem. O mesmo aconteceu com umas formigas, que ao contrrio da lagartixa, se
debateram, afundaram e pereceram.
Uma artista da seduo inveja as lagartixas, pois essas copulam at na parede lisa e no teto frio, nicos
lugares da alcova que a amante ainda no conseguiu exercitar as lies do Kama Sutra.
Uma lenda esquecida por squilo nos d conta que Prometeu, castigado por Zeus a ter o fgado
todos os dias devorado por uma guia, para se livrar da tortura alimentava a ave com uma cauda de
lagartixa, que todos os dias se regenerava. Em Antenas, na regio do Kerameikos, foi erguido um
santurio em honra a Prometeu, onde chamava a ateno o excesso de lagartixas, no se sabe se elas
ali habitavam para reverenciar a lagartixa prometeica ou apenas se aqueciam prximas as inmeras
tochas que decoravam o local.
Nonato Cardoso, autor do livro O Estrangeiro e outros Andarilhos, prmio IAP de Literatura 2012. Belm-PA.
23
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
PENSAMENTO SELVAGEM, PENSAMENTO DO OUTRO:
O IMPOSSVEL DILOGO COM MONTEZUMA
| Maria Elisa Rodrigues Moreira
A relao com o outro e sua selvageria
inscreve suas marcas no texto literrio de
formas variadas: uma delas diz da dominao
cultural, da imposio que se deseja sobre esse
selvagem, fgura que deve ser eliminada por sua
diversidade. nesse sentido que nos propomos a
pensar o conto Montezuma, de Italo Calvino,
no qual a destruio dos astecas mediante seu
contato com os espanhis, que descobriam
as terras americanas, abordada fccionalmente
por meio de uma entrevista imaginria com o
imperador, na qual se apresenta o pensamento
selvagem deste e uma interessante refexo
sobre a violncia que pode marcar o contato
entre os diversos.
Montezuma uma das entrevistas que
compem o projeto Dilogos histricos, livro
que Calvino pretendia publicar e que no chegou
a ser concludo, o qual consiste em uma srie
de entrevistas impossveis em razo de seu
anacronismo (e no s dele, como procuraremos
apontar ao longo deste texto). Desse possvel
livro foram escritos apenas trs textos: O
homem de Neandertal e Montezuma, ambos
produzidos em 1974 para uma srie radiofnica
da Radiotelevisione Italiana (RAI), e publicados
em 1975 no livro Le interviste impossibili;
e Henry Ford, escrito em 1982 para a TV
(mas nunca gravado), publicado em 1993
na compilao Prima Che tu dica pronto
(MILANINI, 2004b).
Neste dilogo, um personagem em primeira
pessoa eu conversa com Montezuma
num tempo indefnido acerca do contato entre
este e Hernn Corts e sobre as consequncias
desse encontro para os mexicanos, para os
europeus, para a histria da humanidade da
decorrente. Toda a conversa marcada por uma
intransponvel diferena cultural, que assinala os
lugares de onde falam um e outro personagem,
e que cria entre eles um abismo: o outro em
questo to estrangeiro que quase se duvida
de que sejam integrantes de uma mesma espcie
(TODOROV, 1991). A prpria situao narrada
a descoberta dos americanos pelos europeus,
contexto no qual se inserem as personagens de
Montezuma e Corts exemplar para que se
pense tanto no encontro com uma alteridade
radical quanto na violncia extrema que pode
advir desse contato, colocando em perspectiva
os prprios termos selvagem e selvageria.
Em seu A conquista da Amrica, cujo subttulo
justamente A questo do outro, Tzvetan
Todorov assim justifca ter escolhido essa histria
como ponto de partida para sua refexo sobre a
descoberta que o eu faz do outro:
[...] a descoberta da Amrica, ou melhor, a dos
americanos, sem dvida o encontro mais
surpreendente de nossa histria. Na descoberta
dos outros continentes e dos outros homens
no existe, realmente, esse sentimento radical
de estranheza. [...] O encontro nunca mais
atingir tal intensidade, se que esta a palavra
adequada. O sculo XVI veria perpetrar-se o
maior genocdio da histria da humanidade
(TODOROV, 1991, p. 4-6).
justamente esse encontro que se narra no
conto calviniano, o qual procurar tanto dar voz
24
queles outros (selvagens?) representados por
Montezuma que foram destrudos e destitudos
de sua cultura de forma extremamente violenta
(selvageria?) quanto coloc-los em dilogo
com o eu descobridor, o europeu encarnado no
entrevistador. Num movimento arqueolgico-
etnogrfco, Calvino procura visitar o passado e
abrir espaos para as possibilidades fccionais de
identifcao de uma voz qual o acesso direto
impossvel, fazendo desse encontro improvvel
espao para o selvagem pensamento do outro.
Esse encontro marca-se ainda, incisivamente,
pela escolha do dilogo como a forma do conto,
aspecto em relao ao qual retomamos tambm
Todorov: o contato entre o eu e o outro
sempre relacional, seja numa perspectiva de
aproximao ou de afastamento, e s assim
pode converter-se em encontro efetivo, apenas
como relao pode se estabelecer: Mas cada
um dos outros um eu tambm, sujeito como
eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual
todos esto l e s eu estou aqui, pode realmente
separ-los e distingui-los de mim (TODOROV,
1991, p. 3).
A perspectiva dialgica de Calvino, entretanto,
em lugar de aparecer como forma de aplainar a
diferena e promover um contato consensual
ainda que fccional e a posteriori entre o eu e
o outro, demonstra justamente o contrrio: que
a diferena se perpetua, mesmo aps o decurso
de um perodo to longo. Continua-se, assim, a
se repetir esse encontro de alteridades, ainda que
agora o outro emudecido encontre no espao
narrativo um caminho que possibilita que sua
voz ecoe com maior facilidade, e diga inclusive
da violncia que sobre ela incidiu, no apenas
aquela de carter blico mas, principalmente, a
de tipo simblico.
A conversa comea justamente com o
entrevistador informando uma dvida que o
assola: ele no sabe como se dirigir ao entrevistado,
no consegue encontrar na linguagem a forma
adequada para transpor a diferena histrica,
cultural, geogrfca e lingustica existente
entre ambos, no encontra modos para nomear
o que lhe to distinto: No sei como vos
chamar, sou obrigado a recorrer a termos que
s em parte transmitem as atribuies de vosso
cargo, apelativos que na minha lngua de hoje
perderam muito de sua autoridade, soam como
ecos de poderes desaparecidos (CALVINO,
2001a, p. 177), diz o entrevistador. A resposta
que o entrevistador recebe chega desconexa,
destoando da questo apresentada, parecendo
no se encaixar ao roteiro daquele dilogo:
O fm... O dia rola para o poente... O vero
apodrece num outono barrento. Assim cada dia...
cada vero... Nada garante que voltaro a cada
vez. Por isso o homem deve cair nas boas graas
dos deuses. Para que o sol e as estrelas continuem
a girar sobre os campos de milho... mais um dia...
mais um ano... (CALVINO, 2001a, p. 177-178).
J nesse momento fcam claros os lugares histricos,
culturais e simblicos distintos que se apresentam
nessa conversa, de onde falam o eu e o outro
que ali tentam se colocar em relao. Mas essa
relao s pode se constituir no esteio da relao
histrica j estabelecida, marcada pela conquista,
pela violncia, pela selvageria que de algum modo
os conectou e cujas marcas ressoam nessa conversa
impossvel, assombrada e assombrosa, que paira
sobre a histria moderna ocidental.
Falando do lugar do conquistador, o entrevistador
replica a viso de que Montezuma havia
enxergado em Corts um de seus deuses e de
que acabara, com isso, cedendo a ele muito
mais do que poderia. Tu tambm falas como se
estivesses lendo um livro j escrito (CALVINO,
2001a, p. 183), diz Montezuma a seu interlocutor,
que o questiona tendo como referencial a histria
europeia da colonizao mexicana. E realmente
acreditastes que o deus Quetzacoatl estivesse
desembarcando frente dos conquistadores
espanhis, reconhecestes a Serpente Emplumada
sob o elmo de ferro e a barba preta de Hernn
Corts?, perguntara o entrevistador.
Entretanto, a cada colocao do entrevistador
Montezuma responde com uma posio outra,
revela um pensamento diferenciado, apresenta
uma viso distinta daquela histria: Chega... Essa
histria foi contada demasiadas vezes, afrma,
no to simples (CALVINO, 2001a, p. 178). O
Montezuma de Calvino refuta, aqui, a posio de
diversos estudos sobre o assunto que, como aponta
Todorov, procuram explicar a vitria de Corts por
duas possibilidades principais: a primeira imputa
25
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
ao comportamento ambguo de Montezuma a
responsabilidade pela derrota devastadora, ainda
que os mexicanos fossem numericamente muito
superiores aos espanhis; a segunda trata de
uma relao simblica, afrmando que os astecas
consideraram como deuses os espanhis.
Se o eu entrevistador fala desse lugar
marcado pela viso da histria dos vencedores,
a questionar essa posio que se dedica
Montezuma durante grande parte do dilogo
travado. Tomemos, por exemplo, a questo da
crena dos astecas na divindade dos espanhis,
cuja afrmao pelo entrevistador foi citada h
pouco. Montezuma desmonta esse discurso,
complexifcando a questo e procurando indicar
as questes que marcaram esse momento de
encontro entre civilizaes e entre pensamentos
to distintos:
Chega... Essa histria foi contada demasiadas
vezes. Que esse deus na nossa tradio era
representado com o rosto plido e barbudo, e que
vendo (solta um gemido) Corts plido e barbudo
o teramos reconhecido como o deus... No, no
to simples. As correspondncias entre os
sinais nunca so exatas. Tudo interpretado: a
escrita transmitida por nossos sacerdotes no
feita de letras como a vossa, mas de fguras.
[...] Nas fguras dos livros sagrados, nos baixos-
relevos dos templos, nos mosaicos de plumas,
cada linha, cada friso, cada lista colorida pode
ter um signifcado... E nos fatos que ocorrem,
nos acontecimentos que se desenrolam diante
dos nossos olhos, cada mnimo detalhe pode ter
um signifcado que adverte das intenes dos
deuses: o esvoaar de um vestido, uma sombra
que se desenha na poeira... (CALVINO, 2001a,
p. 178-179)
Traa-se, assim, a arena de batalha principal
onde se dar a conquista do Mxico: o campo
simblico. A ambiguidade de Montezuma resulta,
pois, nesse relato, no de uma falta de atitude
ou confuso ingnua, mas daquela tentativa
de deciframento do outro que ali chegava,
estrangeiro, selvagem e incompreensvel:
O que podamos fazer, o que podia eu fazer, eu
que tanto estudara a arte de interpretar as antigas
fguras dos templos e as vises dos sonhos, seno
tentar interpretar essas novas aparies? No que
estas se assemelhassem quelas: mas as perguntas
que eu podia me fazer diante do inexplicvel que
eu vivia eram as mesmas que me fazia olhando os
deuses de dentes arreganhados nos pergaminhos
pintados, ou esculpidos em blocos de cobre
revestidos de lminas de ouro e incrustados de
esmeraldas (CALVINO, 2001a, p. 179)
desse mundo regido por outra ordem que
Calvino procura fazer falar Montezuma, e
com isso cria para o personagem um lugar de
resistncia, um lugar para dar voz histria
dos vencidos. Ambos os homens, ambas as
civilizaes, viam-se no momento daquele
encontro diante de um novo mundo, com o
qual podiam se relacionar de distintas formas,
dialogicamente ou violentamente. Preservar
o outro ou tentar, a qualquer preo, torna-
lo semelhante ao eu, reduzi-lo a uma coisa
distinta, sacrifc-lo. No havia ali um territrio
comum, no havia relao possvel:
Sabia que no ramos iguais, mas no como
tu, homem branco, dizes, a diferena que me
paralisava no podia ser pesada, avaliada...
No era o mesmo que duas tribos do altiplano
ou duas naes do vosso continente , quando
uma quer dominar a outra, e a coragem e a
fora no combate que decidem a sorte. Para
lutar contra um inimigo preciso mover-se no
mesmo espao que ele, existir no mesmo tempo
que ele. E ns nos escrutvamos a partir de
dimenses diferentes, sem nos tocar. Quando o
recebi pela primeira vez, Corts, violando todas
as regras sagradas, me abraou. Os sacerdotes e
os dignitrios de minha corte cobriram o rosto
diante do escndalo. Mas me parece que nossos
corpos no se tocaram. No porque o meu cargo
me colocava mais acima de qualquer contato
estrangeiro, mas porque pertencamos a dois
mundos que nunca tinham se encontrado nem
podiam se encontrar (CALVINO, 2001a, p. 182).
Mas, para que essa relao se estabelecesse,
ambos iniciam um jogo de foras de compreenso,
uma disputa pelo acesso ao mundo simblico do
outro. Eram dois olhares estrangeiros tentando
26
um contato, mas esse contato regeu-se pela
imposio da semelhana, pela sobreposio
ao que era distinto, pela conquista: o europeu
desejava fazer do estrangeiro o prprio,
extinguir qualquer trao de alteridade que lhe
pudesse subsistir, apoderar-se do universo
no qual aquele outro vivia. Para Corts isso
signifcava, no encontro com uma alteridade to
radical, compreend-la e explorar seu universo
para ento tomar posse daquilo que ali havia que
poderia merecer a preservao o ouro:
Vs vos apropriais das coisas; a ordem que rege
o vosso mundo a da apropriao; tudo o que
tnheis de entender era que possuamos uma coisa
que, para vs, era digna de apropriao, mais que
qualquer outra, e que para ns era apenas uma
matria bonita para as joias e os ornamentos: o
ouro. Vossos olhos procuravam ouro, ouro, ouro;
e vossos pensamentos giravam como abutres em
torno desse nico objeto de desejo. Para ns, ao
contrrio, a ordem do mundo consistia em doar.
Doar para que os dons dos deuses continuassem
a nos cumular, para que o sol continuasse a se
levantar toda manh abeberando-se do sangue
que jorra... (CALVINO, 2001a, p. 184).
Mas se apropriar do que do outro, muitas vezes,
denota na apropriao do prprio outro: mais que
possuir o ouro, o ato de violncia da conquista se
afrmava pela tentativa de subjugar o outro, de
extirpar a diferena, de eliminar qualquer sombra
de alteridade que pudesse persistir. ordem do
mundo que se regia pela apropriao equivalia
uma outra, a da conquista, que implicava
necessariamente em destruio: Talvez ainda
estivsseis em tempo de extirpar das cabeas
europeias a planta maligna que estava apenas
brotando: a convico de ter direito de destruir
tudo o que diferente, de pilhar as riquezas do
mundo, de expandir pelos continentes a mancha
uniforme de uma triste misria (CALVINO,
2001a, p. 183).
A essa situao de violncia extrema, Calvino
responde com a persistncia da diferena,
indicando que aquilo que resta como rasura e
incompreenso tambm o lugar mesmo da
resistncia. Essa relao entre selvagens ecoa
na narrativa calviniana, que abre espaos para o
encontro com o outro. Montezuma afrma que o
queria no era matar os homens brancos, e sim
fazer algo muito mais importante: pens-los. Que
conseguir pensar o outro seria a nica maneira
para com eles se relacionar, fazendo-os aliados
ou inimigos, perseguidores ou vtimas. E
quando o entrevistador afrma que esse problema
no se colocava para Corts, o imperador asteca
responde que, ao contrrio, era tambm isso o
que ele buscava, pensar Montezuma, o que no
conseguiu:
Pode parecer que tenha feito de mim o que quis:
enganou-me muitas vezes, pilhou meus tesouros,
usou minha autoridade como escudo, enviou-me
para morrer apedrejado por meus sditos; mas
no conseguiu ter a mim. O que eu era fcou fora
do alcance de seus pensamentos, inatingvel. Sua
razo no conseguiu envolver minha razo em
sua rede (CALVINO, 2001a, p. 185-186).
Uniformizar o mundo, riscar as diferenas,
extinguir o que como selvagem se apresenta ao
outro: se a histria moderna tem como um de seus
possveis marcos fundadores um evento pautado
pela violncia, cujas narrativas histricas e
etnogrfcas so, como bem aponta Todorov, j
resultados dessa violncia (pois que pautadas
pelo discurso do conquistador), Italo Calvino
aponta uma linha de fuga a esse panorama
que permite que se rasurem, na literatura, as
marcas dessa violncia: seu Montezuma abre
imaginao a voz silenciada, e invade como um
fantasma o pensamento eurocntrico, fazendo
voltar cena a relao dialgica entre o eu e
o outro, constituindo-se como espao para um
pensamento selvagem.
Maria Elisa Rodrigues Moreira, Doutora em Literatura Comparada (UFMG).
27
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
SELVAGEM | Solange Rebuzzi
Solange Rebuzzi, nasceu no Rio de Janeiro. Autora, entre outros, de: O idioma pedra de Joo Cabral (Perspectiva, 2010), Estrangeira
e Quase sem palavras (7Letras, 2010 e 2011).
Do outro lado do mundo (dito distante e cruel)
observo rostos obscuros de homens do nosso
tempo; em um recproco no-saber. As
mulheres, envolvidas em burkas (from Arabic:
burqu' or burqa) ou em vus, s deixam
ver os olhos. E as horas no criam espao.
Hoje, faz sol no Rio de Janeiro. Em Londres neva.
E no cinema e na TV, a pelcula incendiada pelas
guerras brota fumaa e intoxica. Os jornalistas
temem no retornar cada vez que a barbrie
exige matria.
Eu me aproximo das feridas das crianas e dos
jovens mortos de repente nos massacres da Sria,
por exemplo. Miro o olhar dos supostos inimigos.
O pensamento se abre na diferena.
No minsculo intervalo
entre os tiros
escuto as telas
Noites quentes
ligada naufrago
no horror das mortes em Homs.
Do outro lado do mundo
observo rostos
temerrios ao dia e noite
Desvendo sob as burkas...
o clamor de mulheres
que precisam alimentar seus pequenos.
No se acredita:
h montes de corpos feridos
nas ruas (poucos mdicos
supostos hospitais
ou quase).
H oraes em movimento
do outro lado
... um rio-vermelho
C
R
U
E
L
S
E
L
V
A
G
E
M
(e a faca no est na lngua).
28
O CRNIO FALANTE | Conto Nupe
Este um Conto Nupe, registrado pelo antroplogo, etnlogo e explorador alemo Leo Frobenius (1873-1938).
Um caador vai para a mata. Encontra um crnio humano antigo. O caador pergunta:
O que trouxe voc aqui?
Falar o que me trouxe aqui responde o crnio. O caador sai correndo. Vai procurar o rei. Depois
de o encontrar, diz:
Encontrei um crnio humano na mata. Ele pergunta como esto seu pai e sua me.
Nunca, desde que minha me me deu luz, ouvi falar de um crnio morto capaz de falar diz o rei.
O rei manda chamar o lcali, o saba e o degi (juiz mulumano) e pergunta-lhes se j ouviram falar de
algo parecido.
Nenhum dos sbios tinha ouvido falar naquilo, e eles resolvem mandar um guarda com o caador
mata para descobrir se a histria era verdadeira e, se fosse, saber qual a explicao para ela. O
guarda acompanha o caador mata com ordem de mat-lo ali mesmo se tivesse mentido. Os dois
encontram o crnio. O caador dirige-se ao crnio:
Fale, crnio.
O crnio mantm-se em silncio. O caador faz a mesma pergunta de antes:
O que trouxe voc aqui?
O crnio no responde. Durante todo o dia, o caador implora ao crnio que fale, mas ele no responde.
noite o guarda pede ao caador que faa o crnio falar e, como ele no consegue, o mata de acordo
com a ordem do rei. Depois que o guarda vai embora, o crnio abre as mandbulas e pergunta
cabea do caador morto:
O que trouxe voc aqui?
Falar o que me trouxe aqui responde a cabea do caador morto.
29
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
O INFANTE SELVAGEM: PEQUENO TRATADO SOBRE
LINGUAGEM E INFNCIA | Luciano Bedin da Costa & Larisa da
Veiga Vieira Bandeira
Moa descuidada
com a janela escancarada
quer dormir impunemente.
Noiva da cidade, acalanto popular
1.
O infante selvagem parece ser isto que adormece para o ''dia desconhecido'' de que Homero falava.
Seu sono a concesso do intelecto ao mundus imaginabilis, solido de se estar entregue a um outro
do qual pouco ou quase nada se sabe.
2.
Ns envolvemos de panos uma nudez sonora extremamente ferida, infantil, que permanece sem
expresso no fundo de ns mesmos. Esses panos so de trs espcies: as cantatas, as sonatas, os
poemas. O que canta, o que soa, o que fala (QUIGNARD, 1999, p. 9).
3.
O infante selvagem aquilo que canta, que soa e que fala num canto, num som e numa fala. Entretanto,
ele parece no coincidir com a fgura do cantor, do musicista e do falante. Diante destes seu saldo
sempre negativo.
4.
Somos to acostumados a representar-nos o sujeito como uma realidade substancial, isto , como
uma conscincia considerada como lugar de processos psquicos, que nos esquecemos de que, em
seu surgimento, o carter 'psquico' e substancial do novo sujeito no era uma coisa bvia (Agamben,
2005, p. 31).
5.
O infante selvagem no se reduz a um sujeito (emprico, psicolgico, transcendental) embora no seja
possvel fora deste. Seu princpio o da coextensividade.
30
6.
O infante selvagem a protoinfncia da prpria infncia. At mesmo a criana necessita de um
contorcionismo todo especial para toc-lo.
7.
O infante selvagem situa-se numa espcie de fundo sonoro da loucura. No a lingua dos loucos
nenhum estrato lhe estimado (a fgura do louco estratifcada). algo a que Quignard (1997, p. 464)
se refere, uma lingua sob todas as linguas, o som de um fragmento de medo comum, alguma coisa
que, sem dvida, todo mundo emite, cada qual sua maneira. O infante selvagem erra mais ou menos
de lbios em lbios, a protuso quase sexual e sempre desnuda dos rostos no curso dos milnios.
Um terror quase elementar, selvageria a-histrica, sem referentes e, por tal razo, permanentemente
viva na expresso daquilo que vive, seja isto um homem, uma mulher, um grupo, uma cano ou at
mesmo uma criana.
8.
O sujeito psicolgico no tem muitas escolhas. Ele o sempre em relao a uma substncia: um ego,
uma vontade, um desejo, uma conscincia. Na perspectiva de uma psicologia do desenvolvimento, a
criana j nasce adulta. Ela no perdeu a infncia pelo fato de nunca t-la possudo.
9.
Infncia: uma experincia 'muda' no sentido literal do termo, uma in/fncia do homem, da qual a
linguagem deveria, precisamente, assinalar o limite (AGAMBEN, 2005, p. 59). O infante selvagem
age primeiramente sobre a linguagem. na linguagem que ele mina o sujeito musculoso e confante
naquilo que diz.
10.
O infante selvagem involuciona o homem enquanto forma priori. Neste sentido, o homem sempre
uma imagem a ser conquistada. O selvagem isto que fora esta permanente constatao.
11.
No aristotelismo medieval, a imaginao era tida como medium, o mediador disjuntivo entre o intelecto
e o sensvel. Era preciso que as coisas adquirissem uma certa vidncia, que fossem sonhadas, deliradas
ou imaginadas para que existissem. Imaginar no era um ato subjetivo mas a prpria experincia do
delrio, o ato de apagar o homem delir na imagem do mundo que se fez presente por intermdio
deste mesmo homem. O mundus imaginabilis, embora coextensivo quele que o imagina, sempre
um passo atrs ou frente do imaginador. A imagem, antes de explicar (mundus intellegibilis) ou de
fazer sentir (mundus sensibilis), o choque entre a mnima fagulha de inteligibilidade e a poro mais
aforma de sensao.
12.
Fratura (o crack-up de Fitzgerald) entre os regimes semitico (estado de signos mundanos) e o
semntico (estado do discurso do sujeito mundano). A infncia do homem no o retorno a uma
condio protoanimal de no fala at porque os animais esto desde sempre ancorados na lngua
(fatalismo biolgico) mas experincia do sentido propriamente dito, do apagamento da confana
linguageira no corao mesmo da linguagem. justamente porque se v assediado por infncias (o
compossvel de uma no-realizao linguageira) que o homem reiteradamente diz e se inscreve na
histria. Sem infncia seria apenas um estar-sendo, um selvagem.
31
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
13.
A experincia selvagem de infncia no algo que vem antes do sujeito e que precede cronologicamente
a linguagem. aquilo que nunca acaba de acabar e que no se encerra com a aquisio da palavra.
No o paraso perdido que abandonamos para que possamos enfm falar. Ela coexiste originalmente
com a linguagem produzindo fraturas na sujeio do sujeito em relao a si mesmo.
14.
A cada lance de pio o infante selvagem produz o homem como um sujeito. Na medida em que
o estado de infncia o assedia, o homem corre para conquistar algo que garanta para si uma certa
permanncia. Entretanto, ele nunca a conquista plenamente.
15.
Na medida em que possui uma infncia, em que no desde sempre um de/signador do mundo,
o homem no pode entrar na lngua como sistema de signos sem transform-la radicalmente, sem
constitu-la como discurso (AGAMBEN, 2005. p. 68). Mesmo o cartesianismo-em-ns, radicalmente
confante e apolneo, somente conquista a si-mesmo no ato sujo da enunciao. Ele , antes de
efetivamente pensar ou existir, aquele que diz ser isto que pensa.
16.
A criana por vezes brinca e pode at se sujar. O infante selvagem sempre um tanto sujo.
17.
O infante selvagem garatuja signos. o balbucio possvel a tudo que designa, a toda vontade de indicar,
apontar, marcar e mostrar. Neste sentido, o infante selvagem o agente designador de contraefetuaes
histricas. Ao invs de catar ou de fazer uso de signos disponveis, o infante selvagem os alquimiza
em nome de uma certa magia. Ele os trabalha no interior de sua prpria substncia. Ele no toca o
mundo mas aquilo com o qual se cr tocar o mundo, ou seja, a linguagem.
19.
O mgico e a feiticeira necessitam de gestos e de palavras para consumar sua magia. Eles no so e
no tm a magia. necessrio que eles a chamem e a realizem por intermdio daquilo que dizem as
palavras mgicas e daquilo que fazem.
20.
De acordo com Agamben (2007, p. 23), provvel que a experincia da adultez surja da invencvel
tristeza que s vezes toma conta das crianas ao se perceberem incapazes de acreditar em algum tipo
de magia. Este estado de magia o gnio da garrafa que realiza do desejo, a varinha que faz aparecer,
a fada que transporta a um outro mundo antes um excesso do que uma regresso. Trata-se de uma
prepotncia da imagem em relao objetividade. '' uma desgraa sermos amamos por uma mulher
porque justamente o merecemos'' (Kant apud Agamben, 2005, p. 24). A felicidade, ou o gosto de
felicidade, parece-nos maior quando somos arrebatados de surpresa, surrupiados do nosso destino,
atingindo o ponto onde ela no nos estava destinada.
20a.
Amar sempre amar algum, ter algum diante de ns, olhar somente para ele e no para alm dele, a
no ser por inadvertncia, no salto da paixo sem objetivo, de modo que o amor, em ltima instncia,
nos desvia, mais do que nos faz voltar sobre os nossos passos (Blanchot, 2003, p. 146).
32
20b.
Em matria de amor, o infante selvagem nos pega sempre pelo rabo da inteno e nos fora a dizer
que 'no era bem isto'.
21.
A criana experimenta o mundo dos adultos quando se percebe incapaz de acreditar em signos
enfeitiados. Ela se torna confante nos signos, naquilo que do mundo estes designam. Ela passa a
constatar coisas. Da vidncia mgica ao pr/visvel dos signos. A verdadeira castrao no a entrada
mas perda da lei do feitio. O homem se torna adulto em gererosas doses de previsibilidade e a passos
cansados.
22.
E que rosto ter uma infncia do cansao? Podemos a nos iludir que o cansao queira nos mostrar seu
rosto, imaginamos talvez um rosto envelhecido nos vincos precoces e nos cabelos brancos na fronte
de um infante. O cansao, em sua infncia, ainda nos quer de p, combativos, ele ainda reconhece,
aqui e al, sopros de vida, um pulso, um flego viril. Mostrar o rosto cansado no espelho de nossos
dias seria um deslize.
23.
O infante fareja o que farejvel, no para saber de seus lugares, mas para no retornar onde j esteve.
24.
O infante selvagem arranca os pelos que crescem nas narinas envelhecidas dos que sabem (com
certeza absoluta) onde devem colocar o nariz.
25.
Deixa-se enfeitiar o infante, feitio e feiticeiro. Quando sabe disso no pode mais ele enfeitiar-se.
Saber-se todo, o faz (apenas) parte.
26.
O infante selvagem, o fora de si (e no um fora da lei), toma-nos de assalto, pula em nossas costas
sem hesitaes. No nomeia. Ressoa, reverbera em tudo que toca e v. incompatvel e inconcilivel
com o tempo e as coisas que j tem um nome.
27.
Sua intimidade com o exterior, com o extico, e, ainda l, o intruso, o errante.
28.
O infante selvagem no termina ou encerra o que inicia. Por onde ele passa: incios, indcios, incndios
que abrem clareiras onde se movimenta.
29.
Seus constantes incios so apelos do que ainda se tem por fazer, interrogaes sobre o que se apresenta
como certezas, nascimentos do que est por vir.
30.
No arriscado de viver, cria vidas no ritmo da selvageria. A selvageria a forma de se movimentar do
infante, daquilo que se aventura na noite do pensamento e adormece para o dia. O infante selvagem
evita a luz que tudo ilumina e que potencialmente expe tudo ao olhar. Durante a iluminao diurna
33
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
o infante recolhe-se, da fruta o seu caroo. pelo sol aquecido e para ele invisvel. E justamente
o que o aquece e no o v, que o impulsiona no romper da polpa e da pele que o acolhe.
31.
Alimenta-se de murmrios, fragilidades, da aridez e do que se parece, por que grita, e forte,
proliferante, por no se parecer com nada e ainda assim ser.
32.
Na escola, o infante selvagem no responde chamada. Mesmo sentado em seus bancos est ausente.
No impaciente, excessivo, incabvel no que tenta domestic-lo.
33.
Em frente folha branca, o infante nos faz roer as extremidades de nossos dedos. Se queremos
escrever, ele quer a tinta sangunea para selar a morte das palavras.
34.
Exige o silncio, o vazio, a distncia. No recusa o pavor, os abismos e as intensidades. Mesmo
noturno, o infante selvagem aloca-se no branco.
35.
No se anuncia ou apresenta-se, no se situa ou deixa-se capturar. Apodera-se e abandona.
36.
Quando se decide a maternidade do infante pode-se parti-lo ao meio como se a ele a dor no afigisse
e como se sua morte fosse a soluo. O selvagem morre sem pertencer a ningum.
Luciano Bedin da Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Autor de Estratgias Biogrfcas:
biografema com Barthes, Deleuze, Nietzsche e Henry Miller (Sulina, 2011) e Vidas do Fora: habitantes do silncio (UFRGS, 2009).
Larisa da Veiga Vieira Bandeira, mestranda na linha da Filosofa da Diferena na Faculdade de Educao da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Ilustrao: Luciano Bedin da Costa.
34
DOIS FRAGMENTOS | Dalcidio Jurandir
Dalcdio Jurandir. Fragmento de Chove nos Campos de Cachoeira, paginas 39 e 40.. Rio de Janeiro: Editora Sete Letras, 2011.
Eutanzio abria a boca, enfastiado. No podia mais esperar o caf com bola-cha-maria. Se pudesse
escrever um soneto! Aprenderia com os japuns a fazer um soneto. D. Eponina trazia o caf com
bolacha-maria e a manteigueira. O marido de tia Eponina devorava trs bolachas duma vez com os
olhos no seu carro de sena que no saa.
Depois, s tardes, divertia-se armando navios de miriti, de papel, couraados de papelo, com uma
pacincia que talvez fosse feita dos tdios, dos contnuos bocejos, do mal-estar frequente, das bruscas
melancolias, dos inteis e indefnidos desejos de viagens, das leituras do Conde de Monte Cristo, da
incapacidade para a poesia. Da crescente amargura que mais tarde teria de lev-lo para a casa de seu
Cristvo, para o riso de Irene, para aquelas horas em que tenta retirar de seu passado alguma coisa
que o reanime, alguma coisa a descobrir. Para aquelas horas de nuseas de si mesmo, vendo ossadas
entulhando o seu passado, risos sobre risos de Irene fermentando dentro de sua angstia.
O vento dos campos vinha dos outros campos, de outras luzes tranquilas e ignoradas, dos vaqueiros
esquecidos, dos lagos mortos, dos horizontes que queria ter no seu destino. Os campos levavam-no
para o riso de Irene, para aqueles olhos densos de feiticeira estupidez e nojo. Cada marcha daquela era
uma dupla marcha, a dos ps fatigados, dos rins doendo, dos tecidos castigados. Era uma caminhada
de meia hora, e dura, todos os dias, para o seu corpo. A outra marcha era a obsesso, a das sensaes
confusas, dos confitos que s lhe deixavam na cabea cinza e sombra. Mas lhe vem a lembrana
dos charutos de Raquel. Comprar os charutos para Raquel, aonde? Percebe em Raquel uma estima
meio oblqua para o lado dele. Uma amizade cheia de perspectivas. Costumava trocar a pronncia
da palavra: perspectiva... Se habituara a colher certas palavras mais ou menos difceis para o seu uso
ntimo. Ningum o surpreendia soltando essas palavras de que tinha talvez pudor como de largar
palavres. Raquel lhe pedira charutos. preciso de qualquer modo dar sempre presentes na casa
de seu Cristvo. Pelo menos manteria alguma autoridade moral. A sua presso moral em cima das
velhas, das moas. Irene mesmo no podia fazer uma hostilidade contnua porque era tolhida pelo
desejo de umas chinelas, duns sapatos, num corte, que sua me arranjaria por intermdio dele.
Ouve um grito de moleque, um pssaro noturno voa na frente, um latido, vozes indistintas. A casa de
seu Cristvo se aproxima. Mas o problema dos charutos? No sabe por que lhe vem agora de novo a
compreenso de quanto lhe bem trgica a sua incapacidade para a poesia. A natureza m, sdica,
imoral. Dava a uns uma excessiva capacidade potica e a ele deu a tragdia de guardar um material
bruto de poesia e no poder conquistar um pensamento potico nem a linguagem potica. Tinha a
substncia potica, mas enterrada no que havia de mais profundo e inviolvel de sua inquietao. Era
como um homem mudo. Um cachorro tem a expresso potica muitas vezes nos olhos. Ele no tem
seno nas infnitas profundidades de sua conscincia, do caos que rola dentro de si. Tinha dentro de
si uns trgicos motivos para merecer o dom da poesia. Dentro dele se agitava um caos e s a poesia
daria ordem a esse caos. Mas o instante de sua compreenso desaparece. Caminha no rumo da casa de
Irene. As grandes marchas noturnas. As mesmas marchas solitrias. O caminho nos campos estreito
e sinuoso. O vento quase frio. O olhar de Irene o envenena todo. Mas como comprar os charutos
de Raquel? Seria bom bater na porta de Felcia e lhe pedir dois mil-ris. Ela devia fcar sumida na
sombra do crucifxo e os arranha-cus avanariam sobre ele. No tem dinheiro. Sempre marcado por
esse epitfo:
NO TEM DINHEIRO
35
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
NOVAS REVELAES DO PRNCIPE DO FOGO | Marcelo Ariel
[poema inacabado comentado]
Para Febrnio ndio do Brasil
Primeira parte: Melancholia
Eu sou a rvore,
feche os olhos,
primeiro voc v as armas
do Sol: As manhs
e eis a beleza terrvel se movendo
na pele do antisonho
e na do mar tambm,
eis as nuvens de sangue,
cavalos selvagens da luz
cavalgados pelo vento,
este corpo do esprito geral,
eis o cu
que jamais ser
como os campos
porque incorruptvel,
apesar do rugido dos avies,
evocando a raiva dos pssaros,
depois voc ver o espetculo
das montanhas de ossadas,
quase tocando o cu,
isso jamais ter seu poder nomeado,
ser como o Sol.
Um Poder que estava em ns,
mas no pertencia a ningum.
Agora, voc ver a escurido dourada,
no um grito do cu
como o indecifrvel canto das mnadas
caindo em ondas
imperceptveis, humilhando
todos os msticos
que iro correr em sonho por cima do mar
at chegar na frica Geral,
eles e nos, anestesiados
36
pela conversa silenciosa das ossadas,
que sussurram na hora do despertar:
" No basta voc futuar por a,
na margem etrea do sonho, meu Irmo!"
e depois comeam a cantar...
E eis que Ele retorna das fricas Reunidas,
a beleza das chacinas
como a das exploses solares,
Ele pensa
A expanso solar rindo por ltimo
e depois a gargalhada dos mangues e das forestas
e a dos pases ocenicos tambm,
diz a Estrla-do-Mar.
O desaparecimento da tua infncia
te sada atravs do desaparecimento das manhs.
O desossamento dos bebs de oito meses
te sada, atravs do fogo dos espinhos.
A rosa congelada cantar o nome de todas as coisas.
Tudo cantar o triunfo imaginrio do p humano,
antigas simulaes e distraes
at a esperada extino, j sem nenhum peso na memria
das coisas.
Os insetos demonacos em trgua com os insetos anglicos
Os grandes blocos de granito, sonolentos
se espreguiando, como os msticos,
vomitando abismos.
De nada adiantou
o lamento da msca,
intil a confsso das poas de sangue
secando debaixo do Sol.
Intil o riso das sementes
futuando na brisa,
intil o riso do dente de Leo saudando o p
ajoelhado diante do olho d' gua,
como Robespierre,
como Gandhi,
como Voltaire.
Ah, a eternidade se contorcendo de tdio
dentro das pedras,
se afastando violentamente de ns.
37
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
E sculos antes a prmide de livros
refetida no riso de Mona Lisa de todos os mortos.
Ah, as equaes da harmonia
anuladas pelo bal das guas-vivas.
Ah, os cavalos marinhose as abelhas
sem nenhuma saudade
do p humano.
Ah, agora podemos sentir o Sol
cansado de nossas fces
ftando a clula comos e ela fosse caro.
E eis que as nuvens mergulham no mar
e os peixes devoram os pssaros.
E agora, Centauros sem a parte humana
correm em todas as direes.
Sereias sem a parte mulher
nadando em crculos como seus neurnios,
Sr. Dante.
Fim da primeira parte.
Comentrio: A mais profunda selvageria o desejo perptuo do fm do mundo, comum nas crianas
de dez anos do sculo 21 e 22. O amor este vrus espacial inoculado pelas exploses solares atravs
da corrente eltrica em nossos neurnios, pode ser imensamente sonhado pelos ciborgues do sculo
21 e 22, estes hiperseres que certamente conseguiro manter o rastro harmnico da poesia. A mais
profunda selvageria ser a comparao entre um ciborgue e um humano, em detrimento do humano,
os ciborgues sero extraordinariamente superiores, como o Rosa Real feita de matria reciclada de
cadveres fabricada pelos laboratrios do Google Biologic, Rosa que dura mais de mil anos sem
perder jamais seu perfume. Este no meu melhor poema, o melhor poema de um poeta seu corpo
explodindo no fundo do mar, um bloco de gelo pegando fogo, uma pilha de cachimbos de crack do
tamanho de um arranha-cu pegando fogo com dez mil crianas danando em volta e etc...
Marcelo Ariel, poeta e performer. Autor de Tratado dos anjos afogados (Letra Selvagem, 2008), O cu no fundo do mar (Dulcinia
Catadora, 2009) entre outros.
38
A MINHA LITERATURA SELVAGEM | Paulo Nunes
O romancista brasileiro ainda se encontra em plena ebulio de uma ascendente vida nacional. Est muito diretamente plantado no
lodo criador, no grosso hmus da gnese e tem de estar assim ainda na pia batismal, cheio da rica impureza da terra em que se
entranhou muito local, sem ser to crucialmente brasileiro, desigual, informe, s vezes, perplexo, s vezes, romntico, pueril e simplista
em muitos momentos, primitivo e pesado demais por excesso de fora e de inconscincia dessa fora, no dominada*
Dalcdio Jurandir | O Romance e o Romancista.
Ilustrao de Rugendas: a viso do extico selvagem?
A provocao paira sobre a pgina em branco:
por uma literatura selvagem, convoca-me ou te
devoro!, ouvira Nilson Oliveira, poeteditor, voz
que clama na selva, encalhada, na pedra. Aceito,
receito a provocao. E inicio por dizer: poucas
palavras em lngua portuguesa so to sugestivas,
cido-polissmicas, como selvagem. Ademais,
escreverei da porta de uma cidade que um dia
houe-se selva e que se des-inscreveu do fto
forestal numa atitude de desmonte colonial:
afnal, calculara o colonizador: eliminando-se
o corpus silvcola teremos uma terra abenoada
pela cruz. Antes, entretanto, de avanarmos na
seara desta refexo, recorramos ao dicionrio
Houaiss de Lngua Portuguesa para desfraldar-
se selvagem, palavra-emblema. E naquele
conceituado livro que lemos que o verbete
referido adjetivo de dois gneros, que
se manifesta numa natureza no civilizada;
prprio das selvas; agreste ou ainda que no
serve ou no foi usado para o cultivo (diz-se de
terreno, solo); estril, inculto e numa terceira
acepo: que habita as selvas, que vive longe
dos aglomerados de pessoas civilizadas. Estril,
inculto, que habita as selvas... signifcados que
confuem para a devast(ao) ou acossamento de
algo a uma camisa de foras.
No processo colonial a que fomos os brasileiros
submetidos: brasa escura a ser clareada (pela cruz
e/ou pela espada), fomos considerados selvagens,
tanto que precisamos ser cristianizados para
existirmos luz das instituies de ento: o
Estado portugus e a Igreja Crist do Ocidente.
Os equvocos laceraram nossa carne vasta,
vastafala a fazer-se reprimida por uma poltica
colonialista. De 5 milhes de aborgenes, de
vrias etnias, que habitavam a ento Terra de
Vera Cruz, quantos, afnal, restam hoje neste
sculo XXI?
39
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
Falo isso porque para nos fazermos plenos e
merecedores da mo pater/maternal que nos
redimiria, bichos desalmados, foi preciso uma
ao intensa para desselvatizar-nos. E, lgico,
a violncia foi um prato servido a torto e a dire(i)
to na terra brasilis e em todo o Novo Mundo
(vejamos que o prprio signifcante novo abre
espao para as mais diversas manifestaes de
estranhamento etnocntrico por parte do EUropeu).
Houve, entretanto, aquele que, mesmo expressando
algum preconceito, andou na contramo do esprito
de seu tempo, tempos bicudos e intolerantes. E a
voz dissonante de que falo ade Michel Montaigne,
que viveu em Frana do sculo XVI. No captulo
XXXI de seus Ensaios, Montaigne, desenvolveu
uma tese que serve como uma luva para este meu
roteiro de literatura:
No vejo nada de brbaro ou selvagem no eu
dizem daqueles povos [do Novo Mundo]; e, na
verdade, cada qual considera brbaro o que no se
pratica em sua terra. E natural porque s pudemos
julgar da verdade e da razo de ser das coisas
pelo exemplo e pela ideia dos usos e costumes do
pas em que vivemos. Neste a religio sempre
a melhor, a administrao excelente, e tudo o
mais perfeito. A essa gente chamamos selvagens
como denominamos selvagens os frutos que a
natureza produz sem interveno do homem (...)
(Montaigne: 1980: 101).
Ou seja, a expresso selvagem, segundo
Montaigne, usada equivocadamente pelo senso
comum europeu. O flsofo, lcido, aponta que
o signifcante selvagem usado, em seu tempo,
inadvertidamente a tudo aquilo que diferente
de si, onde se encontra o eu enunciador: o
EUrocentrismo. Isso porque ao empregar a
palavra selvagem, devidamente adjetivada,
para referir-se aos habitantes da Amrica, o senso
comum europeu de ento (penso que este ponto
de vista talvez no tenha modifcado quase nada
nos dias de hoje) queria justifcar como barbrie
o ato de canibalismo praticado por algumas etnias
de aborgenes americanos. E Montaigne, mais
adiante diz: as guerras fratricidas da Europa, sim,
que so brbaras. At hoje, salvo engano, nos
pomos a achar que eu (e os de minha casta) somos
sempre superiores aos outros. Pensamento que
justifca, muitas vezes, atos de profunda violncia,
intolerncia, racismo, homofobia, entre outros
(pre)conceitos.
Arraigados de algumas vicissitudes europeias em
nossa formao, que necessitamos do discurso
da arte para estremecer valores e implodir
preconceitos. Da que no h como no trazer
para esta conversa o movimento modernista
brasileiro, exatamente neste momento em que a
Semana de Arte Moderna de 1922 faz 90 anos. E
nesta diversa experincia que, salvo engano, por
via da Antropofagia oswaldiana, veremos a mais
radical expresso de deglutio cultural dos valores
culturais do estrangeiro (neste bojo o europeu,
quando a Europa era para ns ainda uma referncia
expressiva). Oswald de Andrade quem, polmico
como ele s, cutuca a ona com vara curta, ao
escrever no Manifesto Antropfago: Antes dos
portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha
descoberto a felicidade.
Quero crer que aqui no se trata de celebrar o fato de
que no se fazem nacionais com subtrao. Mas
das inmeras leituras que este poema pode suscitar
est a ideia de que o den existia antes de sermos
enquadrados na cultura lusitana, ou no europesmo
cultural, religioso, enfm, tico-tnico. E que
perdida a pureza (no sentido da no-crioulizao
cultural) nada restava alm de reapropriar os
valores que recebemos de Portugal e re-aclimat-
los ao tropicalismo selvagem. Assumirmos nosso
lado nativo-ancestral, com doses de criatividade
e irreverncia, passa a ser, depois da vivncia
na Antropofagia modernista, sinal positivo e de
autoacompreenso. Ou seja, o que era desvantagem
passou a ser no s vantajoso como necessrio. E
Oswald, com seu estilo doutrinante e irreverente,
fez escola: tanto que Chacal, em um poema escrito
nos anos 70 do sc. XX, registrou, guisa de
homenagem:
Papo de ndio Chacal
Veiu uns mi di saia preta
cheiu di caixinha e p branco
qui eles disserum qui chamava aucri
a eles falarum e ns fechamu a cara
depois eles arrepitirum e ns fechamu o corpo
a eles insistirum e ns comemu eles.
como se Chacal (o nome do escritor j em
si selvagem por natureza), poeta de hoje,
relembrasse-nos que socialmente a Antropofagia
[oswaldiana] no somente no se tornou anacrnica
como deve ser reinserida no cotidiano brasileiro,
no momento em que os discursos religiosos mais
40
conservadores reinstituem uma tica intolerante
(e muitas vezes sectria, e diga-se de passagem
em dias de ditadura militar), contra tudo aquilo
que representa a anseio do novo que no era
facilmente enquadrvel.
Em leitura da Antropofagia nacional seculovinteana,
Caetano Veloso, o poeta superastro, assumido
canibal, em sua tropicalista trajetria, vaticinou:
Essa viso [a da Antropofagia] a grande herana
deixada pelo modernista Oswald de Andrade.
Oswald foi, juntamente com Mrio de Andrade,
a liderana intelectual do movimento modernista
brasileiro, lanado escandalosamente em So Paulo
em 22, com uma semana de recitais e exposies que
suscitaram admirao, susto e horror e lanaram
as bases de uma cultura nacional... (Veloso: 1998:
241). Neste mesmo artigo, Caetano ressalta a
fora intuitiva de Oswald que est registrada em
parte signifcativa de sua obra literria. Intuio
antropofgica? Intuio, acrescento eu, que teve
muito de amaznico, dado que o autor de O Rei da
Vela, sobrinho do obidense Ingls de Sousa, fora,
muito provavelmente, formado por sua me com
os mitos e lendas amaznicas, afnal bidos , por
excelncia, um dos beros mtico da Amaznia.
E, disse eu acerca do que observara na FLIP do
passado, que homenageou Oswald, que falta ainda
desvendar a infuncia formadora amaznica na
selvageria canibal de Oswald. Intuo a respeito
disso principalmente depois de reler o que Raul
Bopp (que infuenciar Manuel Bandeira, Mrio
de Andrade e depois o prprio casal antropfago
Tarsival) escreveu acerca de sua experincia em
So Paulo nos fns de 20 e inicio da dcada de 30,
na qual os nacionalistas antropfagos mostravam
curiosidade acerca da experincia amaznica,
vivida por Bopp a partir de Belm do Par.
Bopp afrma, sem rodeios, no inventrio da
Antropofagia: A chefa do movimento era Tarsila.
Oswald ia na vanguarda, irreverente, naquele
solecismo social de So Paulo. Foi elemento e
resistncia e agresso. Ps a antropofagia no
cartaz, com uma tcnica de valorizao.
Tarsila, na sua simplicidade, semeava ideias. Queria
um retorno ao Brasil, sua ternura primitiva. A
fecha antropofgica indicava uma nova direo
(Bopp: 2006: 99). A ternura primitiva, sabe-se,
era a contribuio da Amaznia para esta nova
esttica, afnal a literatura paranasiana estava j em
descompasso com a confuncia das mquinas e o
rush-rush das fabricas e reivindicao dos operrios
emergentes.
Da que Raul Bopp evidencia sua compreenso: o
romanceiro amaznico, de uma substncia potica
fabulosa, com o mato cheio de rudos, misturado
com a pulsao das forestas insones, no podia
se acomodar num permetro de composies
medidas. Os moldes mtricos fracionados serviam
para dar expresso s coisas do universo clssico.
Mas deformam ou so insufcientes para refetir
com sensibilidade um mundo misterioso e obscuro
em vivncias pr-lgicas (...) A estada de pouco
mais de um ano na Amaznia deixou em mim
assinaladas infuncias (Bopp: 2006: 22)**.
Raul Bopp, graas s suas origens germnicas,
experimentou at as ltimas consequncias uma
alteridade verdadeira e inventiva. Teoria que fez
com que, ousadamente, o autor de Cobra Norato,
se inscrevesse para sempre na literatura brasileira
de expresso amaznica. Selvagem literatura,
literatura que hoje minha, eu que tomo a bena
da Cobra Norato, ao mesmo tempo em que beijo o
manto de Nossa Senhora de Belm. Aps este rito,
rio socapa da cobra que tem a cabea aprisionada
sob os ps da Santa (a cobra, cinicamente, pisca um
olho para mim). Aparentemente, porque Belm,
com seus delrios serpentrios , sem dvida, a
partir do Modernismo, um dos beros simblicos
da literatura nacional, bero de uma literatura
selvagem. Minha literatura. Assim eu acredito
porque a minha alegria prova dos nove.
A meus alunos de Cultura e Literatura Amaznica da Unama.
Notas:
* Grifos meus.
** Grifos meus.
Paulo Nunes, poeta, autor de: Ba de bem-querer (Paulinas). Doutor em Letras pela PUC-MG e professor da Universidade da
Amaznia, Belm-PA.
41
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
Pier Paolo Pasolini, poeta e cineastra.
NOITE ROMANA | Pier Paolo Pasolini
Sexo, consolo da misria!
A puta uma rainha, o seu trono
so runas, a sua terra um naco
de prado merdoso, o seu cetro
uma bolsa de verniz vermelho:
ladra na noite, porca e feroz
como uma me antiga: defende
o seu territrio e a sua vida.
Os chulos, em redor, em bandos,
soberbos e plidos, com bigodes
brindesianos ou eslavos, so
chefes, regentes: tramam,
nas trevas, os seus negcios de cem liras,
pestanejando em silncio, trocando
palavras de ordem: o mundo, excludo, cala-se
volta deles, que dele esto excludos,
carcaas silenciosas de aves de rapina.
Mas nos destroos do mundo, nasce
um novo mundo, nascem leis novas
onde no h lei; nasce uma nova
honra onde a honra desonra
Nascem poderes e nobrezas,
ferozes, nos montes de tugrios,
nos lugares perdidos onde se julga
que a cidade acaba, mas onde
recomea, inimiga, recomea
por milhares de vezes, com pontes
e labirintos, estaleiros e aterros,
atrs de vagas de arranha-cus
que velam horizontes inteiros.
Na facilidade do amor
o miservel sente-se homem:
frma tanto a f na vida, que
despreza quem outra vida tem.
Os flhos lanam-se aventura,
certos de estarem num mundo
que os teme, a eles e ao seu sexo.
A sua piedade no terem piedade,
a sua fora no terem cuidados,
a sua esperana no terem esperana.
42
O NEGRO E AS CERCANIAS
DO NEGRO | Haroldo Maranho
Maria Elisa G.
43
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
O negro era um negro que se deslocava como
se pisasse em molas. Dele emigrava vento
de pobreza, foi no que ela pensou, vento de
pobreza, de homem que usa os braos, sua a
camisa. Bem que se esforou para desviar os
olhos, mas no conseguia, um im sujeitando-a.
O negro ia em frente feito navio que gingando
avanasse na manh. A qumica das glndulas
repunha na linha da aragem a cerveja da vspera,
sardinhas, cebolas, salsichas. A brisa nele
gerada causava desconforto na mulher, como
se houvesse destampado lata de carne de porco
em decomposio, embaixo mesmo do nariz.
Poderia ter interrompido a caminhada, sentando-
se no meio-fo para aspirar cheiros que carregam
alegria, como os vindos do mar por exemplo. No
obstante prosseguia, e at acelerava a marcha,
que as passadas frente eram passadas de mais
de um metro. A camisa de malha estampava
escandalosamente esta inscrio: MAKE YOUR
MOVE e aderia ao tronco de onde o suor
despencava em bagas. A malha esgarara-se do
uso e desbotara. Possivelmente vestira outra
pessoa que a ps fora ou ter sido um marinheiro
que lhe deu, aps a noite de lcool e mulheres
na Praa Mau: MAKE YOUR MOVE. Ela
sorriu enchendo os pulmes: MAKE YOUR
LLLLLOVE. Se ela isso lhe dissesse, no
entenderia. Sentia cansao mas sustentava o
passo nas imediaes das espduas do negro, no
seu vcuo. E os olhos rolavam da coxa para a
meia laranja das ndegas, para a placa dos rins.
Cintura de bandolim da Andaluzia, imaginou, e
de novo sorriu. Ardia-se por avanar as mos nas
carnes de osso. Mas como?, como? Se ousasse,
colidiria na carnadura que eram chapas que se
superpunham e atritavam-se. O negro cambiava,
cambiava sim. Ou seria alucinao? Agora, era
uma prancha de navio, verticalmente movendo-
se, que logo se mudava em contraforte de castelo.
Sbito, o negro estancou. Estancou tambm
distncia de centmetros. como se houvesse
roado o dorso de uma caldeira de siderurgia
vazando calor. Simultaneamente ela caminhou
para a borda da calada, o limite da areia.
Procedeu como se tivesse querido simplesmente
mirar as guas, o cu ou as pessoas que se
deitavam buscando no mais que nirvana e sol.
Angustiava-se a mulher. Temia voltar-se e o
negro haver ido embora. Quis proceder como as
rainhas procedem, ou as da sua classe e condio,
que se afundam na paina das almofadas e apenas
giram a cabea, os olhos comandam sem pressa
porque no tm pressa, o copeiro espera as
ordens, a cozinheira ferver a gua para o ch
quando isso lhe for dito, servos h para trazer o
gato, para levar o gato, para depilar-lhe as pernas,
especialista para rnassage-la a leo de amndoas
regado no corpo, abrindo-lhe as pernas como se
abre o compasso e deixando o lubrifcante verter
para o sumidouro, a polpa do dedo pressionando
para cima, para baixo, para cima, para baixo, o
leo expandindo-se e os dedos seguindo-lhe o
trajeto enquanto ela se abandona e fnge dormir.
Voltou-se fazendo circular o tnis de pluma. A
trs metros o negro exercitava-se, dez fexes,
cem fexes, mil fexes, suportando o corpo pela
extremidade dos artelhos e pela palma das mos.
Os braos elevavam e baixavam ritmadamente
o tombadilho de granito que subia, descia, o
couro roando o betume, apenas roando. Tentou
contar as fexes porm o animal resfolegando
mais a perturbava. Em transe como se sentia,
em transe. Os lingotes de ferro, fectindo-se,
fundamentavam a laje de ardsia, que desidratava
molhando a pedra.
Iam e vinham pessoas, arrastavam-se como
podiam arrastar-se, as peles!, as artrias
difcultando o sangue circular: a caquexia a
passeios. Desafadoramente sentou-se. Que
lhe importaria que se supusesse que parara
porque o negro parara? Sem mais recato nele
agora se detinha, testemunha das crispaes
do homem mexendo-se sem hesitar no ritmo,
faiscando de suor como se o houvessem untado
de claras de ovos. Velhos, velhas impunham-
se andar e passavam. O costume de assisti-los
transitar condicionava-a a um ver sem ver, mais
pressentindo a procisso para a morte, enquanto
ela quase tangia a vida - ali - ostentando
arrogncias. Os que passavam consumiam restos
de foras, logo iriam parar, deitar, teriam juntados
mos e ps. Ela talvez recordasse o das pernas
em arco, o que de chinelos mal avanava entre
7h e 8h, antes de 7 nunca depois das 8. Imprimia
velocidade, as que lhe consentiam as pernas,
44
parntesis abarcando a genitlia sem mais uso h
muitos anos; o das pernas em arco veio hoje, vir
amanh?, no vir nunca mais? Entre cem, mais
de noventa fnaro antes do outono, ela estimou.
Pelo menos estaro sem mais aptido de andar, a
famlia os reter na cama ou na poltrona. Ento,
por que tem-los, recear-lhes o reparo? Qual a
importncia de lhe adivinharem o temor e o
calor, o querer doar-se?, o submeter-se ao deus
que a ignorava e cujo fanco queimava de tanto
adorar sem mais pudor? A mulher considerou o
acaso de andar em viagem o dono e senhor da
carne que ora se ofertava. Seria seu homem, o
ausente, e ela a mulher dele?, ou o costume, o s
costume?
Sabonetes, leos, espumas, mil frascos, mil
aromas, todo um mundo os esperava e bastaria
ousar: vamos? Simples, uma palavra, cinco
letras: vamos? A casa era uma casa a librar entre
montanhas, como se crescesse mata de eucaliptos
nas salas, nos quartos, impregnando de essncias
os linhos, as paredes, o colcho de plumas. Assim
vivia, entre cheiros que erram e logo substituem-
se, perfumes obtidos das magnlias, do alecrim,
do cedro, do jasmim-do-cabo.
Estremeceu quando o negro saltou como
se acionado por trampolim que o repusesse
verticalmente: promontrio a pique. Precisou
mirar o infnito para abranger-lhe a cabea na
peanha do pescoo, pelo qual guas desciam
perdendo-se em touceiras a jusante. O olhar da
espectadora subia, descia, parou no trax, lpide
de ao e couro, couro e ao sob tenses que
ameaavam romp-lo em tiras. Vacilanternente o
olhar elevava-se, desabava. Fixou-se na sunga:
onde urna enguia se enovelava, enovelavam-
se enguias, acmulo de rpteis. O batimento
do corao entrou d'ri descompasso, como se
fosse parar e quase pra. Coxas. O abdmen que
pulsava. Pernas. Tudo parecia suportar foras
que no havia como subjugar. Os ps, duas
alvarengas.
O negro surpreendeu o olhar que lhe arrancava
a sunga causando-lhe comiches, e logo as
enguias engordavam. Dvida no teve: minha,
agora se quiser agora, minha. A mulher teria
cinqenta? Nela entretanto pulsavam energias,
latejavam. O negro adiantou um passo em sua
direo e o passo acuou-a. Ela intimidava-se
e mesmo que desejasse escapar no lograria
mais. Uma cumplicidade estabelecera-se. Ele
captou intensidades e urgncias e tambm
compreendeu que ela lhe temia a brutalidade,
o medo envolvendo-a cm bolha de vidro no
interior da qual perdera o poder de decidir. Ou a
deciso era uma deciso como a morte a morte,
e todas as inevitabilidades que ningum muda.
Acintosamente o negro sentou-se a seu lado e
ela tremia, ao avaliar ter ido alm de todas as
medidas, mas afastou a idia de fugir. Encolheu-
se como os animaizinhos se encolhem, mais
apequenando-se, quase enjeitando-se. Pelos
orifcios do corpo entravam-lhe o azedo da
cerveja, o fermentado da comida engolida em p
no bar horas atrs. Recebeu no rosto a afronta
das cebolas.
Se na vspera houvesse algum idealizado
semelhante encenao, repeliria como se repelem
disparates, ela! Ali!, a haver-se com um negro!,
aqueles bafos! O suor tudo circundava porque a
brisa cessara, o mormao, aumentava o fartum,
fartum dos que destilam merda pelos sovacos. O
olhai do negro bolinava-lhe os peitos. Ela sentia
deslizar gosmas pelas coxas. Em momento
nenhum o negro temeu malogro, porque sua
ascendncia impusera-se. Especulava-a como
se examinasse um ser de outra estrela e que
ele magnetizava feito a lagartixa magnetizando
a mariposa, com ela brincaria como os gatos
brincam de rolar e desenrolar novelos de l.
Imaginou carrega-la nos braos, entrar no
botequim e ordenar-lhe; bebe isto, come aquele
croquete de mosca, enquanto passeava-lhe a mo
pela bunda, metia-lhe o dedo por cima do vestido
e ela fechando os olhos, gostando.
A mulher queria ir embora e queria fcar. Puxou
a respirao e recebeu o vento de sal que a
encorajou. Ela agora publicava energias, jbilos
que a remoavam. O homem nela prestara ateno.
Olhava-a. E ela intua a fome de carne que os olhos
entornavam. Muitas vezes mirava-se no espelho
quando saa da banheira e achava-se a mulher de
trinta anos, o perfl no mudara, o rosto, enfm,
cobrira-se de traos do estar sempre s ao lado de
um homem que dormia todas as noites, todas as
noites, todas as noites, que a enxergaria corno irm,
45
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
amiga, agastarem-se no se agastavam, amigos,
irmos que se estimam, que se amam, se admiram
e se respeitam. Ele nunca lhe mostrara os nervos e
a carne da paixo, nunca, e ela resignara-se. Mas
o demnio assaltava-a e acutilava-a e ela saa em
demanda do prazer, quantas vezes ao lado mesmo
do homem a ressonar, gastando-se como um
crio. Meses podiam passar, mas sbito chegava a
intimao queimando-a de exigncias s quais se
submetia, ela mesma premiando-se e fraudando-se.
Pela primeira vez ela o rosto elevou, diretamente
mirando o negro: nos olhos. E ansiou por que
ele a guiasse, pousando em sua mo a mo de
granito, amassando-lhe os rins, aliciando-a e
ela cedendo, caminhando sem necessidade de
se falarem. Temeu sugerir-lhe que lavasse o
corpo. Os brutos ofendem-se. Poderia dar-lhe
as costas, sumir. Jamais ela o vira antes. Por
acaso ele surgira na calada. Saltara do nibus,
amanh seria noutra praia ou em praia nenhuma,
viajaria para outro pas se fosse embarcadio,
ou mecnico de automveis que havia acabado
um servio ali defronte e antes de ir embora
resolvera andar, mergulhar, fazer fexes. Ela
no se via a si mesma de novo o encontrando,
no, no, seria agora ou nunca mais, aquele negro
era um negro que comia ovos e cebolas e tomava
cerveja, e da pele escorria suor que o vento
secava, mas permanecia o cheiro das salsichas,
para ele bastaria um banho por ms, para que
escovar os dentes? Ela arrepiou-se recordando o
endodontista: colnia de bactrias, ele avisou, e a
designao incomodou-a, ela nem podia admitir,
colnia de bactrias, o corpo reagia a calafrios e
a s idia de bactrias movendo-se nas gengivas,
nas paredes da boca, atingia-a como perdigotos,
hlito de gente que no usa dentifrcios, guas
para bochechar, fos e ftas para a assepsia
dos interstcios no alcanados pelas cerdas
da escova, frices, bochechos, mesmo que
comesse uma fruta no meio da manh. Seu hlito
era hlito de menina de quinze anos que parece
que mastiga todas as horas talos de cedrinho, de
ptalas de rosas, de bogaris.
A impresso que a cabea rolava no pescoo,
era a vertigem, e despencava pelo escuro da
morte. Relutou em abrir os olhos, no desejava
abri-los, tinha medo de abrir os olhos para a
luz, temia a luz, foras faltavam-lhe. A primeira
manh depois de haver deixado o sanatrio fora
assim, queria dormir, dormir, no acordar nunca.
Encolhia-se como os recm-nascidos, a postura
dava-lhe conforto e calma.
Recordou o negro que tocava trompete sobre si
mesmo dobrando-se, ele recurvava-se, a cabea
parece que aproximando-se dos ps: a posio de
feto no centro do palco. No encarava a platia,
no porque no suportasse encar-la, sem dar-se
conta de que desejava tomar ao tero de onde
no teria querido sair.
Ela apequenava-se mais e mais quando sentiu que
levemente a tocavam no ombro. Atemorizava-se
de abrir os olhos, a cama era o seu espao e nele
gozava segurana. O travesseiro de penugem de
passarinhos, milhes e
milhes deles, milhes, talvez nem meio quilo
de penugem, em que o rosto agradavelmente
afundava. Escutou seu nome e a voz vinha em
conduto que decompunha o chamamento e o
deformava, a freqncia que apenas lembrava a
em que se entendia, a voz parecia-lhe voz de casa
e ao mesmo tempo voz de pessoa que ouvisse pela
primeira vez. Abriu as plpebras devagar, relaxou
as pernas, cedeu a tenso dos braos, soltou-se
na cama. As mos roavam em gros de areia,
estranhou a areia nos lenis, por que esta areia
nos lenis?, esta areia me irrita, me coa, me
afige. O marido sossegou-a, calma, calma, voc
caminhou na praia mais do que devia, fatigou-se,
deitou-se e dormiu, foi assim. O homem em p
diante dela afrouxando a gravata, mirava-a com
curiosidade. Ela pressionou um boto ordenando
que trocassem os lenis enquanto corria para
a banheira de gua fumegando. Ela nauseava-
se, podia ser iluso, as narinas impregnadas de
cheiro de cebolas, que subiu quando destampou
o frasco de sais.
Haroudo Maranho, nasceu em Belm. Romancista, autor, entre outros, de: A Estranha Xcara, Cabelos no Corao e Memorial do Fim.
46
20 FANTASIAS PARA ESCREVER, LER E CRITICAR O TEXTO
(DE PREFERNCIA, SELVAGEM) | Sandra Mara Corazza
1.
O bom interessante, prazeroso, instigante, importante, novo texto no apropriado facilmente,
no de rpida digesto, no palatvel para qualquer um. No existem critrios preexistentes,
exteriores e transcendentes a ele, que forneam qualquer chave explicativa para a sua avaliao,
leitura ou escritura. Os critrios so imanentes, j que o prprio texto um caso de imanncia pura.
Por seu carter singular e nico, cada texto reinventa o exerccio da escritura, da leitura e da avaliao.
(Esta fantasia nmero 1 e todas as 19 fantasias que a seguem so pensadas em funo de textos j
vindos. Tais fantasias que encarnam critrios so bastante perigosas porque podem sobrecodifcar,
padronizar e engessar todos os textos por vir. Ento, cuidado! Devemos us-las com moderao! Por
sua natureza, preciso que, alm de moventes, areas e plurais, elas sejam produzidas na medida em
que cada texto for escrito, lido e avaliado.)
2.
O prazer. Escutar Barthes, em O prazer do texto (p.19-20): Se aceito julgar um texto segundo o prazer,
no posso ser levado a dizer: este bom, aquele mau. No h quadro de honra. No posso dosar,
imaginar que o texto seja perfectvel, que est pronto a entrar num jogo de predicados normativos:
demasiado isto, no bastante aquilo; o texto (o mesmo sucede com a voz que canta) s pode me
arrancar este juzo, de modo algum adjetivo: isso! E mais ainda: isso para mim! Este para mim
no nem subjetivo, nem existencial, mas nietzschiano (no fundo, sempre a mesma questo: O que
que para mim?...).
3.
Gosto, no gosto. Sobre este critrio, ler Roland Barthes por Roland Barthes (p.133): Gosto, no
gosto: isso no tem a mnima importncia para ningum, isso, aparentemente, no tem sentido. E,
no entanto, tudo isso quer dizer: meu corpo no igual ao seu. Assim, nessa espuma anrquica dos
gostos e dos desgostos, espcie de picadinho distrado, desenha-se pouco a pouco a fgura de um
enigma corporal, atraindo cumplicidade ou irritao.
4.
O texto ento se condena a uma profunda solido, em dois sentidos: fcar isolado dos demais textos
ou obras, mesmo que a eles se refra; negar-se a emprestar sua voz a qualquer causa. assim que grita
no deserto.
5.
O texto abala e desloca fronteiras de contedo e de expresso, no campo do saber ou plano do
pensamento com o qual opera. O seu mrito artstico ou literrio somente aprecivel nas variaes
contnuas, na metaestabilidade de cada conjunto de textos (chamado obra) que integra. Um mrito
que nunca est imediatamente presente e tem de ser encontrado (ou inventado), nas condies de
visibilidade e de dizibilidade de cada escritura, leitura, avaliao.
6.
O texto um acontecimento; por isso, est sujeito indeterminao, que permite pensar a diferena
que o ilimita. Nele, no h nenhuma caverna, nicho, fundo falso, cripta subterrnea ou mapa do
tesouro. Numa transparncia irrepreensvel, o texto passa-nos um sentimento de necessidade que
ramifca o acaso. Afrma o amor fati (amor do destino). Esgara ou rompe a identidade, a experincia
47
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
utilitria e o ilimitado do conhecimento. No oferece razes ao mundo; pergunta sobre as suas
condies de funcionamento. No remete aos modelos das causas e efeitos, dos meios e fns, da moral
do Bem e do Mal ou do Melhor e Pior. S pode ser sentido como no-senso, realidade inconsciente
do pensamento e involuntrio da vontade. O texto carrega como mistrio o seu prprio desenrolar:
demasiado fosforescente, para ser verdadeiro. uma prova da inocncia de quem o escreve, l e
avalia.
7.
O texto descarrega: o pesadume da vida; as formas doentias, reativas, escravas e acusatrias do
pensamento; as foras secundrias de adaptao e de regulao: memria, dinheiro, lucro, proveito,
honras, reconhecimento, ostentao, poder, vaidade, orgulho, amor-prprio. Combate toda maneira
medocre de escrever, ler e avaliar um texto, todas as burocracias intelectuais, tudo aquilo que diminui,
reduz e avilta a vida.
8.
O texto no faz crtica como se fosse um Juiz de Paz, de modo conciliatrio ou apologtico, com
pretenses ao conhecimento e verdade. O texto avalia, como um Filsofo-Legislador, por meio
de foras ativas e reativas, numa leitura afrmativa de destruio e na escrita agressiva de um nobre
criador.
9.
O texto no sublima, no cura, no suspende a vontade, o querer, o desejo. Desmonta e transmuta o
atual. Afrma a Terra, o Mltiplo, o Devir. Trabalha com o que estranho e problemtico, com tudo
o que, at ele, foi varrido da Grande Literatura. o mais dissimulado dentre todos os dissimulados.
Ama a mscara. Recusa-se a sacrifcar os conceitos fora da Vida e universalidade do Logos. L
signos heterogneos: mundanos, amorosos, sensveis, artsticos. Aligeira, adianta as potncias do
futuro, cria valores ainda no reconhecidos, estimula e inventa novas possibilidades de vida. Ao jogar
com Zaratustra, gera uma estrela-danarina com os ps do caos que traz em si.
10.
O texto funciona como um atrator catico. Por suas cores apaixonadas, brilho, sons, jouissance,
vidncias mergulhadas no corao do vivido, artistagens linguageiras, estilo revogvel e reversvel,
pujante e provocante, forte e sadio, prazer em sacudir e aturdir, produz efeitos de inspirao e abre os
campos e pensamentos de que trata, para que possam continuar sendo terrenos de criao.
11.
O texto no nos aborrece ou entedia, nem transmite a sensao de dj vu. No nunca um memorial
descritivo nem um dirio. No conta lembranas de infncia nem histrias de juventude ou da vida
adulta. o mais descodifcado diante dos valores estabelecidos: a-sinttico, a-gramatical, a-semntico.
O depois do texto diferente do antes do texto. Ele deixa que alguma coisa de si seja partilhvel. E se
abandona, se desapega, se distrai, se dispersa. ento que passamos do Prazer de ler ao Desejo de
escrever (Roland Barthes, A preparao do romance II, p.12).
12.
O texto no explcito, como sexo explcito. No grosseiro ou mecanicamente repetitivo, como um
flme pornogrfco. No banal, como uma conversa de bar. (O problema com esse tipo de conversa
s quando tem a pretenso de se tornar literatura). No um oba-oba, mesmo criativo. No um
vale-tudo, um subjetivo intocvel, um gozo numa boa, um deslumbramento de pavo, um prazer
destrambelhado, uma seduo que se esgota nela mesma. um texto marginal e maldito, sim; mas
marginal e maldito de um jeito quase indizvel, que j passou ordem literria. Assinala um respeito
minucioso por outros textos. fruto de muito estudo. (E estudo no diz apenas, como no latim de
Ccero, aplicao zelosa, mas tambm um situar-se nas articulaes, nas juntas, nos espaos-entre a
Literatura, a Filosofa, a Pedagogia, etc.) Delira no num vazio, mas debruado sobre uma histria,
um arquivo, um repertrio, um enredo, uma circunstncia, uma data, uma tradio. Da, carrega
fantasias de escritura e seus ardores de desejo.
48
13.
Atenta para o que escreve Leyla Perrone-Moiss, no Prefcio ao O rumor da lngua de Roland Barthes
(p.XVI-XVIII): A libertao da linguagem, na escritura, no se alcana num espontanesmo. O
espontneo, contrariamente ao que acreditam os defensores da criatividade solta, o domnio do
esteretipo, o campo do j-dito (Jovens pesquisadores). A liberdade supe escolha e crtica, sem o
que o prprio conceito de liberdade no faz sentido. Ao contestar o discurso do cientista, a escritura
no dispensa em nada as regras do trabalho cientfco (Jovens pesquisadores). A pluralidade de
cdigos que a escritura pe em jogo exige, do sujeito, um vasto saber. A escritura desconstruo
desse saber, e s se desconstri o que se conhece como construdo. Aqui no Brasil muita gente pensa
[ser barthesiano] desaprender sem nunca ter aprendido, e parte para a desconstruo de um discurso
cultural ainda extremamente frgil, no particular e no coletivo. Ora, o prazer da escritura [barthesiana]
se sustenta de um saber (plural, disseminado) e se alcana num trabalho de linguagem. A escritura
pratica o imaginrio com pleno conhecimento de causa.
14.
O texto o que , no est no lugar de outra coisa. vitalista, no sistemtico; naturalista, no romntico;
terrestre, no de outro mundo. Como a vida, primeiro, em relao morte, ao repouso, s formas
estratifcadas. fuidez e mobilidade do criativo. potncia de inovao e plano de variao: recusa
as constantes, a homogeneidade. um doador universal: d o que ler e escrever, o que pensar e avaliar.
um mordedor: crava os dentes e, quando solta, deixa marca, ferida visvel, cicatriz. um pegador:
agarra, e no se tem vontade de ser solto. um propagador de ondas (curtas, mdias e longas): suas
vibraes transmitem alegria por se estar vivo e saudvel, de modo a poder estar com ele. um viveiro
ao ar livre: a gente fornece comida, gua e um lugar para os ninhos, mas no prende os passarinhos.
15.
Produzido por movimentos a-subjetivos, distantes da imposio de um sentido corrente ou de um
sistema estabelecido, o texto no escrito, nem lido, nem avaliado por ningum: nem Eu, Ele,
Ela, Ns, Conscincia, Razo. O texto annimo. Um burburinho. Um discurso indireto livre. Um
indeterminado Escreve-se, L-se, Avalia-se. o reino das individuaes sem sujeito. No que o
autor, o leitor ou o avaliador se escondam nele; que a fora criadora do texto, sua atmosfera, seu
acontecimento apagam a presena do autor, do leitor, do avaliador. o texto que se escreve, se l, se
avalia; ou, no mximo, ele escrito, lido e avaliado por uma mquina literria, desejante.
16.
O texto no segue um vetor que vai do contedo expresso, como na Literatura Maior (ou estabelecida),
qual seja: dado um contedo, em uma forma determinada, encontrar, descobrir ou ver a forma de
expresso que lhe convm. Ao contrrio, o texto (de uma Literatura Menor ou revolucionria) enuncia
e s v ou s concebe depois: A palavra, eu no a vejo, eu a invento. Ele possui um ser-luz e um
ser-linguagem que no param nos indivduos nem nas coisas, mas vo aos acontecimentos puros e aos
devires sempre presentes. Assim, a expresso do texto despedaa as formas, marca as ramifcaes
novas, reconstri o seu contedo, em ruptura com a ordem das coisas e o estado dos corpos, antecipa,
adianta a matria (o estado informe, indiferenciado). O texto um composto de matria e forma; sem
forma, a matria do texto amorfa, nebulosa, crua; e, sem matria, a forma do texto, o seu feitio,
arcabouo, aramado no existe. A substncia do texto a matria integrada forma; da qual deriva a
sua essncia que permanece a mesma.
17.
O texto no custodiado por nenhuma polcia noolgica chamada Histria seja da Filosofa,
Literatura, Psicologia, Cinema, Pedagogia, Msica, etc. , calcada em restries de ordem sistemtico-
classifcatria (tais como escolas ou tendncias), ou de ordem gentico-evolutiva (cada ideia como
superao das precedentes e embrio das sucessoras, numa linha de progresso desde os balbucios
iniciais). Ele desfaz e se desfaz das epopias dessas histrias totalitrias, evolucionistas, teleolgicas
e grandiloquentes.
49
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
18.
Sem que a sua potncia seja reduzida, o texto no produz nem estimula alguma coisa chamada
deleuzianismo (ou qualquer outro ismo). Assim, ele expressa em ato a impossibilidade de se
fazer uma monografa, tese ou dissertao sobre a flosofa (etc.) deleuziana (etc.). Ele no se integra
a nenhuma tradio, que interprete ou comente Deleuze (etc.). O texto sabe que ningum fala melhor
da obra de um flsofo (literato, msico, teatrlogo, pedagogo, etc.) do que o flsofo (etc.) mesmo;
sob pena de se codifcar as linhas de fuga que ele criou, os encontros que promoveu, os conceitos que
infexionou.
19.
O texto escrito sempre com Deleuze (ou com Foucault, com Barthes, com Blanchot, com Bataille,
com Flaubert, com Lautramont, com Mann, com Beckett, etc.), naquele belo movimento: no mais
Faz assim; mas Faz comigo. O texto percorre os labirintos do pensamento de cada autor. Irrita-se com
suas difculdades e limites. Convive com seus amores, gostos e desgostos. Sabe que as difculdades
para compreender e tratar seu pensamento consistem nas difculdades prprias ao abandono da leitura,
escritura e avaliao dogmticas da representao.
20.
Escrito no Aberto, de maneira quase imperceptvel, o texto (o artigo, a monografa, a tese, a
dissertao) um estudo subversivo e falso. sempre do tipo Gilles Deleuze (ou Michel Foucault,
Maurice Blanchot, Roland Barthes, Michel Tournier, etc.): Tel que je limagine (como eu o imagino).
Pe o pensamento escolhido em perspectiva e o falsifca (ou inventa). Escreve sobre aquilo que o
apaixonou, sobre as linhas mais desconcertantes, perturbadoras e enigmticas de cada pensamento.
Por isso, o texto fala pela boca deles. E sempre um duplo ou um ventrloquo. Leva-nos a perguntar,
insistentemente: Trata-se do verdadeiro Spinoza (ou do verdadeiro Nietzsche, Hume, Kant, Proust,
Melville, Artaud, Sacher-Masoch, Francis Bacon, Carmelo Bene, etc.) ou do Spinoza (etc.) de Deleuze
(etc.)?
Sandra Mara Corazza, Professora Associada da Faculdade de Educao da UFRGS. Trabalha com a flosofa da diferena. Coordena
o Grupo de Pesquisa DIF artistagens, fabulaes, variaes. Pesquisadora em currculo e infncia contempornea, junto ao CNPq.
Autora de: Para uma flosofa do inferno na educao: Nietzsche, Deleuze e outros malditos afns (2002) e Artistagens: flosofa da
diferena e educao (2006).
50
LVI-STRAUSS | Marcia Tiburi
(agosto, 2012)
O av tinha morrido na primavera, da que andasse
vestido de frsias, uns frmios ao comprido das
pernas, folhas verdes, outras secas pelos braos e
mos. Todo arcimboldo, todo rendilhado, ipomias
surgindo no meio da pele armada aos grandes
pedaos de cascas de rvores, tiras de couro coladas
na quase invisvel terra vermelha sob o palet. Das
costuras do casaco saam uns brotos clarinhos,
sutis dobras barrocas, inforescncias branco-
azuladas, galhos midos, capins cinzentos. Uma
for na lapela, desmedida no fgurino em si mesmo
exagerado. Montada a dentadura com marfm, aros
de tartaruga nos culos sem lentes desnecessrias a
quem usa olhos de vidro. Os cabelos, fos de espiga
de milho. Como no poderia faltar, no lugar da
orelha esquerda, uma concha pequena, imitativa da
funo coclear, e onde fguraria a direita, um buraco
causando o efeito de falta, o espao de qualquer
coisa propriamente dita, a sensao de ausncia
e essncia ao mesmo tempo. Mesmo assim via e
ouvia perfeitamente como pudemos comprovar.
Parecia, verdade, um espantalho, um ttere recm
sado de uma caixa de brinquedos velhos, um
boneco surrado, enquanto, de fato, era homem,
mesmo velho como estava, mesmo todo arranjado,
mas ainda inteiro com aquilo que se podia colher
da natureza.
Agnes tinha trinta anos naquela poca. Faz uns dez
anos, pouco menos, pouco mais. Tempo para ter se
acostumado com a ausncia do av. A vida depois
da morte seguia como a mais corriqueira das etapas
da existncia, inclusa a incompreenso do seu
mistrio, para ela que, meia-sombra dos muros
universitrios, menos ensinava antropologia, como
sempre fzera seu av, do que se escondia, fngindo-
se mais uma pea no grande muro entijolado
das inteligncias educadoras. Desde que o velho
resolvera voltar universidade ela abandonara a
pesquisa com grupos de jovens de periferia que
levava a srio desde a concluso do doutorado e,
entre a pena e o dever, de braos e ombros sempre
a postos, conduzia o av pelo campus.
Pode nos parecer, a cada um de ns que a
observamos, que ela alucina. Conduz pacientemente
o velho pelos atalhos que levam biblioteca onde
ele vasculha os livros sem toc-los, ao restaurante
onde olha com espanto para as bandejas dos
estudantes, fotocopiadora onde pede todos os dias
que imprimam a imagem de sua prpria mo posta
vagarosamente sob a luz focada dentro da luva que
lhe organiza as falanges, ao guich do departamento
de pessoal onde do informaes aos professores
e, no entanto, desnecessrias para ele que j no
pertence ao quadro dos ativos ou inativos.
Pode parecer a cada um de ns que ela alucina,
ainda que o objeto de sua iluso tambm seja
nosso. E saibamos no estar enganados. Ou que,
muito antes, fnja, usando as supostas necessidades
do velho professor assim exposto nesta incrvel
forma de Golem, para esquivar-se aos deveres
burocrticos do dia a dia acadmico. Aqueles de
preencher formulrios como quem enche caixes
de ossos, ou cestos de papel reciclvel como quem
pe os olhos no lixo, ou plataformas virtuais,
esses crematrios de ideias, das quais todos, pelo
menos os que no desesperaram, queremos, sem
dvida, fugir. Mas tambm ns que simplesmente
olhamos, sem ter o que fazer alm de seguir na
direo de nosso objetivo, podemos recolher as
fores e as folhas que caem pelo caminho por onde
passam os dois andarilhos carregando uma vida
de encantamento. Ou mesmo guardar ao bolso um
pequeno besouro que ora se desprende do senhor
to estranhamente apessoado. Com um pouco
de pacincia, podemos observar o trabalho dos
marimbondos no organizado ninho que o velho
leva nuca, e pensar um pouco na vida, coisa que
no temos feito por motivos que escapam ao que
cabe expr na forma desse relatrio.
De todos os fatos que cuidadosamente anotamos
neste ano de observao acurada em que no
medimos esforos na inteno da neutralidade,
podemos dizer que o momento culminante da
pesquisa deu-se quando esse av todo avariado e
todavia resistente que o prprio Lvi-Strauss
nome cuja numinosa apario no de anotar sem
medo - proferiu sua aula inaugural no curso de
zoologia. Tudo o que tnhamos observado caiu por
51
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
terra resumido quando de sua conferncia. Sinto um
pouco de vergonha, e talvez meus colegas tambm,
porque aquilo que eu e eles, que toda a nossa equipe
podera tentar compreender levando algumas
vidas, ele o explicou em minutos, menos de quinze,
logo passando a falar de aspectos curiosos da vida
de animais como moscas e cobras, colepteros e
moluscos. Foi no momento dos comentrios, ao
incluir a questo central que, como uma bomba,
acabou com nossas intenes, que ele revelou o
ncleo capital de sua mais nova teoria - ainda que
pstuma, bom lembrar - e que reza simplesmente:
a zoologia a nica cincia humana.
Depois de aplausos desmesurados dos estudantes
presentes, vi uma moa tatuada no rosto ser levada
pela polcia ao gritar seus sentimentos. Um rapaz
com a camiseta inteiramente furada atirou-se na
direo do plpito aos prantos. Percebendo que
as emoes encandeciam, achei melhor tomar
providncias. Ofereci dupla familiar uma carona
ao hotel onde o velho estava hospedado desde que
voltou vida. No era minha obrigao ser gentil, de
qualquer modo no atrapalharia o que eu porventura
tivesse a fazer, tal era a sensao estupefaciente
em que me encontrava e que me impediria de
concentrar-me nos dados matemticos dos relatrios
a cujo trabalho eu destinaria o resto da noite. Agnes
preferiu entrar com o av, os sensores da porta
automtica no se acionavam com a presena do
velho, do mesmo modo como ele no conseguia
andar sem o amparo da neta. No caminho, pude
perceber o orgulho que Agnes sentia pelo velho
av que mesmo morto resolveu, segundo palavras
que me soaram um pouco singelas demais, voltar
vida para nos ajudar a entender o mundo. Com o
cuidado de no ofend-lo e tampouco mentir sobre
a verdade dos fatos, Agnes explicou-me que o av
estava para transformar-se em papel, fato inevitvel
na tanatografa de certas pessoas, mas que preferiu
esforar-se um pouco mais sentindo-se ainda til
sociedade humana e, por isso, com este jeito meio
estranho que nos faz lembrar um zumbi, elegante
verdade, mas ainda um zumbi, ele voltou ao mundo
assemelhando-se a um arranjo foral rstico.
Voltei pelo caminho de pltanos que levava
universidade, convicto com o fato de que o
vagar de ambos pelo campus no problema to
grande desde que no os percamos de vista, o
que atrapalharia a metodologia que, com tanto
custo, conseguimos justifcar perante a comisso
cientfca que aprovou esta investigao. No
podemos interferir em sua liberdade de ir e vir, no
podemos fundamentar a escolha de Agnes, menos
ainda julgar sua conduta. Tampouco est em nosso
poder mandar o velho Lvi-Strauss de volta ao
seu mundo, pois um dos limites de nossa pesquisa
que no conseguimos entender do que se trata
exatamente quando aplicamos o quesito mundo.
Temos apenas que cuidar de seus passos esperando
que no perturbem a vida do ensino e da pesquisa
no campus, correndo o risco de serem convidados
a retirarem-se pelos administradores do espao.
Assim, cada um na sua, cada macaco no seu
galho, cada rato em sua toca, poderemos continuar
a observao cujo objetivo no outro que o
mero visar, o contar por contar. E, por fm, com a
declarao pura e simples do carter nico de tudo
o que h, providenciar o retorno s coisas mesmas,
a saber, ao intento mimtico de nos tornarmos
iguais a eles, seguindo a regra mais do que antiga,
e sempre cientifcamente desaprovada, de que cada
um se torna aquilo que contempla.
E por que faramos isso se, no fundo, no fundo,
reprovamos o que fazem? que temos inveja
ao mesmo tempo que amor, misturamos nosso
ressentimento ao desejo de vida, nosso niilismo
ao senso de justia e, assim, meio prepotentes,
meio atrapalhados, s o que buscamos uma
ocasio para chorar. Suspeitamos, eu e meu grupo
de pesquisa, do qual no me separo desde aquela
perigosa carona, que poderemos chorar muito
olhando para Agnes acompanhando Lvi-Strauss
no xtase que, com ele, ela tambm compartilha,
at que o mistrio das coisas mortas e vivas se torne
insuportvel e nos leve para fora de ns mesmos.
Marcia Tiburi, flsofa e escritora. Autora de diversos livros de flosofa, entre eles Filosofa em comum, Filosofa brincante, e dos
romances Magnlia, A mulher de costas e O manto. colunista da Revista Cult.
52
CONFIANA | Suely Rolnik
Confana uma sucesso de planos do cotidiano
de existncias rigorosamente ordinrias, no
universo suburbano de uma cidadezinha norte-
americana. Poderiam pertencer a qualquer
universo urbano ou suburbano, em qualquer
lugar do mundo, pois o que est em foco aqui
no tanto o tipo de cidade ou de universo dentro
da cidade, mas a banalidade em sua expresso
urbana contempornea - uma esttica da
banalidade, como declara seu autor, o cineasta
Hal Hartley.
Um mapa de vidas ordinrias, para delas extrair
as linhas extra-ordinrias que iro sacud-las
e arranc-las do senso-comum. E isso desde o
incio do flme. J na primeira sequncia uma
dissonncia na banalidade nos pega de surpresa:
Maria, uma garota de dezessete anos que mora
com a famlia, avisa o pai que est grvida;
furioso, o pai a chama de puta; ela d um tapa na
cara dele; ele cai duro no cho, e morre.
Essa a cena que inaugura o flme. Nela
anunciam-se os crditos e o tom do que nos
espera: da primeira ltima imagem, estaremos
no plano achatado do senso comum; e, durante
todo o flme, esse plano ir sofrer rachaduras,
pela presso de linhas de fuga que aos poucos
tomam corpo na tela e formam outros planos. E
veremos delinear-se uma coreografa de corpos
e atitudes, movida pela tenso entre diversos
campos de fora. Num extremo, um plo de
captura pelo senso comum, que se expressa
numa massa de corpos e atitudes pilotados por
uma fora de homogeneizao, compondo na
tela um plano uniforme e chapado. No outro
extremo, um plo de reao: reao contra o
aprisionamento no plano, expresso em corpos e
atitudes que desenham linhas de fuga pilotadas
ora por uma fora de destruio, ora por uma
fora de singularizao. E o flme vai se fazendo
do desenrolar da guerra entre esses diferentes
tipos de fora e da variao de sua composio
na vida de cada um dos personagens.
todo um povo que compe o plano homogneo:
homens de cara sem graa e assustada, de
pasta, cachimbo, capa e chapu, que todos os
dias saem do trabalho, pegam o trem e chegam
pontualmente s cinco e quinze da tarde ou ento
homens perversos que s desejam desqualifcar,
humilhar, dominar, derrubar, especialmente
aqueles que ousaram abandonar a cara sem graa
e assustada; mulheres casadas que odeiam seus
maridos sem nunca ter pensado em no se casar
ou ento mulheres szinhas que vagam como
zumbis pelo nada, espera de encontrar um
marido; mes que odeiam seus flhos ( uma
tortura , chega a dizer uma delas), mas que
fcam sonhando em engravidar; pais e mes que
escravizam seus flhos enquanto, com gestos
dissociados, reproduzem clichs de amor paterno
e materno ( voc j comeu? , perguntam,
mecnicamente, ao longo do flme); pais
ressentidos que despejam sua culpa nos flhos
(pai que obriga o flho a repetir inmeras vezes:
a culpa minha! ; me que aponta um faco
para a flha e lhe diz: nunca vou te perdoar!
); esposas ressentidas que despejam sua culpa
nos maridos; me ressentida que despeja sua
culpa no namorado da flha; pai ressentido
que despeja sua culpa na namorada do flho;
gente que envenena e envenenada pela culpa,
gente intoxicada de ressentimento; histricas
mascando chicletes, vestidas sedutoramente para
atrair seus perversos, na esperana de que o olhar
desse suposto super-outro lhes assegure que
valem alguma coisa; perversos sequiosos de um
punhado de fascinao histrica que lhes atribua
esse suposto lugar de super-outro. , enfm, uma
paisagem-telo initerrupta, formada por telas e
mais telas de TV ( h TVs por toda parte, no
tem escapatria... , diz um dos personagens),
pontuada por adesivos de Cape Holiday, um
daqueles ressorts iguais no mundo inteiro, que
se v em todos os carros, de todas as famlias, de
todas as frias.
53
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
A dana do plo da captura perigosa: uma
estranha coreografa feita para brincar de
eternidade, tentando conjurar a diferena,
supostamente mortfera, que se engendra nas
misturas do mundo. Mas o preo alto: sem
possibilidade de metabolizao - criao de
sentido, de modos de ser - comum que se acabe
caindo. A queda pode ser fatal. Dana macabra.
No limite da captura, portanto, paira no ar a
ameaa de uma queda: o plano homogneo pode
despencar a qualquer momento.
H no flme uma verdadeira coreografa das
quedas. De quando em quando algum cai,
sucumbe ao medo do desabamento da cena -
desabamento do mundo, desabamento de si - que
uma minscula linha de fuga, um punhadinho
de caos, perfurando o compacto muro do senso
comum, pode vir a provocar; medo de no
conseguir mais sustentar o plano ou sustentar-
se no plano. Um exemplo disso a queda e a
morte do pai na cena inaugural, mas vrios
outros se sucedem ao longo do flme: queda do
estudante bobalho que ao ouvir de Maria que a
engravidou, teme no vencer no rugby e na vida,
se casar com me solteira expulsa da escola;
queda de um daqueles homens de cara sem graa
e assustada, de pasta, cachimbo, capa e chapu,
que, interpelado na rua por Maria, morre de
medo do que pode lhe acontecer e, desconfado,
desaba; queda da me e da irm de Maria, que
diante da exploso da fbrica provocada por
Matthew, namorado de Maria, sentem seu
mundinho ameaado de desabamento e, pasmas,
despencam juntas no cho. O perigo ronda por
toda parte, perigo de ser o prximo a tombar.
Mas a coreografa das quedas no feita s de
pessoas; tambm as coisas caem ou so jogadas
no cho (leite, panela, roupa...). Matthew, por
exemplo, derruba aparelhos de TV por onde passa,
como se os arrancasse do plano homogneo e
fzesse rasges nesse monnoto telo.
No plano do senso comum, ningum se sustenta
na queda e ningum sustenta a queda de ningum.
Ao contrrio, h um prazer em ver o outro cair,
perder seu valor. H um dio ao outro, ou melhor
um dio a toda ameaa, por mais discreta que
seja, uniformidade do plano. Assim o pai de
Matthew o derruba no cho, lhe d socos no
estmago, o pega pelos cabelos e lhe pergunta:
quem voc pensa que ? , dizendo-lhe, aos
berros, que est cansado de conhecer sua laia,
uma gente que pensa que caga cheiroso, que tem
a pretenso de ser especial .
Mas o plo da captura no soberano: outras
foras esto em jogo, e de tempos em tempos
acabam furando o plano achatado do senso
comum. Essas foras vo gerando um outro
plo: o plo da reao captura, feito de um
traado que oscila entre dois tipos de linhas de
fuga, dependendo da fora que os pilota, vontade
de destruio ou potncia de heterogeneizao.
Uma granada circula de mo em mo ao longo
do flme: nela concentra-se todo o potencial de
exploso do plano achatado da banalidade, que
pode ser acionado a qualquer momento e em
qualquer direo; basta uma simples deciso, a
deciso de reagir - no caso, destrutivamente -
violncia da fora de homogeneizao.
A granada comea nas mos do pai de Matthew:
o trofu que ele trouxe da guerra da Coria.
Emblema do triunfo de uma raa, que no
apenas o triunfo da raa americana sobre a
coreana, ou da raa do mundo rico sobre a do
mundo pobre, mas o triunfo da raa das foras
de homogeneizao sobre todo e qualquer
estrangeiro ao senso comum, essa laia, essa
gente que pensa que caga cheiroso, que tem
a pretenso de ser especial . Mas quando
tomamos contacto com a granada ela j passou
para as mos de Matthew e, com isso, passou
tambm do plo da captura ao plo da reao,
e a permanecer at o fnal do flme. Matthew
guarda a granada em seu bolso para utiliz-la,
como dir a Maria, em caso de necessidade .
Necessidade de reagir ao massacre da diferena,
caso esse massacre venha a ultrapassar um certo
limiar de suportabilidade.
A vontade de destruio, no flme, vacila entre
dois modos de efetuao: matar aquele que
encarna a fora de homogeneizao ou matar-se
para destruir em si o triunfo dessa fora, quando
essa parece ser a nica sada para escapar a seu
poder de imobilizao (poder que se impe,
bsicamente, atravs da culpa). Alis, uma
das primeiras vezes que a granada aparece no
flme exatamente no momento em que um
dos personagens est no meio dessa hesitao,
54
tomado pela dvida: momento em que Maria diz
a Matthew que no sabe se ela deve se considerar
assassina ou se quer se matar. (Mais adiante uma
terceira alternativa lhe ocorrer: virar freira para
no sentir mais nada, numa tentativa talvez de
anestesiar os efeitos da culpa. Esta alternativa,
Matthew contesta como severa demais,
argumentando que freiras tambm sentem e
que s mortos que no sentem mais nada. E
para dissuadi-la lhe pergunta se ela gostaria de
ser como um morto...). Na cena em que Maria
confessa que hesita entre sentir-se assassina
ou querer se matar, Matthew lhe diz que sabe
do que ela est falando - e, para lhe provar,
mostra a granada que guarda em segredo. Este
alis um dos primeiros atos da aliana entre
Matthew e Maria. Por ser uma aliana marcada
pela potncia de reagir, ela facilitar a virada,
que inclusive acaba extrapolando a vontade
de destruir, abrindo bifurcaes inditas na
existncia de cada um deles.
Um pouco depois desse episdio, a granada passa
para as mos de Maria. Talvez porque tambm
ela quer poder utiliz-la em caso de necessidade,
ou porque no quer que Matthew se destrua.
Mas a granada no fnal acaba voltando para as
mos de Matthew: ele a retoma de Maria no
momento em que ela lhe anuncia que no quer
mais se casar. que ao ver ameaado o campo
de possvel que conseguiu criar no encontro
com Maria - campo que por enquanto Matthew
confunde com o prprio encontro - identifca
ali um ponto de infexo em que o tal limiar foi
ultrapassado. Matthew toma sua deciso; ele vai
destruir tudo, inclusive a si mesmo. Puxa o pino
da granada e s no explode junto com a fbrica
porque Maria chega a tempo de atirar a granada
para longe. Matthew preso.
Mas o flme no pra por a, neste suposto triunfo
da vontade de destruio. H ainda uma ltima
cena: Maria observa Matthew indo embora num
camburo. O curioso que h em seu olhar uma
espcie de serenidade. O que estamos vendo, na
verdade, o efeito em seu corpo de um outro
tipo de fora: a vontade de singularizao. a
fora que traa no flme o segundo tipo de linha
de fuga, que ao lado da fora de destruio vai
formar o plo da reao e que, desde o incio,
vai se destacando do plano uniforme perverso,
ocupando na tela um espao cada vez maior.
Como esta a linha mais rara, e como dela
a meu ver que Hartley traa seu retrato mais
original, proponho rever o flme inteiro e mais
minunciosamente, da perspectiva traada por
essa linha. Vamos acompanh-la atravs de seus
efeitos na vida de Maria, especialmente em sua
relao com Matthew.
Maria aparece no incio, como tantas outras,
vestida de histrica, movida pela necessidade
de atrair o olhar dos perversos, de atrair tambm
o olhar de mulheres com quem compete pelo
trofu da seduo. Seduzir sem parar, fngindo
displicentemente no se interessar pelo olhar
de ningum. Seu rosto mostra tdio e desprezo.
Como tantas outras danarinas do homogneo
em sua verso histrica, a nica coisa que
parece despertar seu olhar perdido no desvalor
de tudo a imagem do casamento, espcie de
alucinao salvadora, arma anti-queda. Mas uma
circunstncia vai arranc-la dessa posio em
que s tem como opo o tdio ou a alucinao:
Maria engravida. A famlia a expulsa de casa e
o namorado no quer mais saber. Diante disso,
num primeiro momento, antes de Maria se
dar conta de que o limiar de tolerabilidade foi
ultrapassado, como se nada tivesse acontecido
ela vai a uma boutique se entulhar de apetrechos
para seu guarda-roupa de histrica, tentando
reconstituir algo daquele corpo em que at h
pouco se reconhecia.
Mas aqui comeam a aparecer as primeiras
linhas de fuga no corpo, na voz e nas atitudes
de Maria. No provador da boutique, ela se olha
no espelho, toca seu ventre e se estranha. Daqui
para a frente acompanharemos a gnese de uma
outra Maria, pontuada e favorecida por uma srie
de encontros.
Primeiro, o encontro com uma enfermeira numa
clnica de aborto. Maria experimenta mover-
se, embora ainda tmidamente, numa outra
cena que no mais a do drama; com um outro
personagem, que no mais o da vtima; com
um tom de voz que no mais o da lamentao;
com uma atitude que no tem mais demanda
alguma de comiserao. Algo nela comea a
suspeitar que sua queda pode no ser fatal, que
o mundo no desmorona necessariamente com
55
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
o desmoronamento de sua existncia histrica
e que h outros modos de existncia possveis.
A escuta da enfermeira sustenta em Maria essa
crena e lhe permite comear a entregar-se
queda.
Maria perambula pelas ruas e, meio que
imperceptivelmente (espcie de transformao
incorporal que o cinema permite captar), vemos
seu corpo de histrica comeando a desmanchar-
se e seu ar de seduo diluir-se aos poucos.
Logo em seguida, quando uma daquelas mulheres
de olhar entediado e perdido, sentada ao seu
lado num ponto de nibus, lhe dirige a palavra
num meloso tom de piedade, Maria d mais um
passo em seu aprendizado da desdramatizao:
ela experimenta reagir com indiferena a essa
tentativa de cumplicidade pela comiserao. E
ntido que sua indiferena no como a que
impera no plo da captura - indiferena feita de
um corpo anestesiado que nega o desejo, ou pior,
um corpo movido pelo desejo de desqualifcar
e o cinismo de um gozo perverso que essa
desqualifcao proporciona. A indiferena que
comea a esboar-se em Maria, pelo contrrio,
feita de um desinteresse por aquilo que, no outro,
quer se anestesiar. Maria j sabe sem saber que
o apoio na queda no se faz por um ter pena
de ou de um tudo vai dar certo, prprios de
um corpo anestesiado que insiste na iluso de
completude; mas sim por um sofrer com, como
lhe confrmar mais tarde Matthew. Um sofrer
com feito ao mesmo tempo de indiferena e
cumplicidade: indiferena em relao a tudo
o que cheira captura (por exemplo, viver a
queda como vtima, como se fosse possvel no
cair), mas cumplicidade com todo e qualquer
movimento de entrega e diferenciao.
Pouco depois, ser o acaso do encontro com
Matthew. Os dois esto totalmente perdidos.
Demitiram-se do emprego, da escola, da
famlia - em suma, demitiram-se de seu modo
de existncia. Correm o risco de demitir-se da
vida. A queda pode ser fatal. de dentro dessa
queda e desse risco que eles iro encontrar-se
num velho vago abandonado. Como qualquer
encontro que se d no plano homogneo do tipo
de mundo em que vivem, o seu tambm comea
por uma competio para ver quem mais duro,
quem vai derrubar quem: lanam-se mutuamente
palavras e atitudes como se lanassem pedras
para defender-se de um ataque que pode
acontecer a qualquer momento. Do fundo de sua
desconfana, Maria arrisca perguntar a Matthew
o que ele quer. Para seu espanto, ele responde
que no quer nada, e que de qualquer modo, nada
adianta. A experincia para Maria indita; esse
homem no quer nem seduz-la, nem destru-la,
nem qualquer outra coisa do gnero.
Aqui, de novo, como que imperceptivelmente
(a tal magia do cinema), uma sutil mudana de
atitude vai operar-se nos dois. Matthew, com
uma espcie de delicadeza sbria, aproxima-
se de Maria e, como que disposto a ouvir sua
queda, agacha-se ao seu lado e lhe diz: Fala .
A confana que se esboa em Maria lhe permite
pedir a Matthew um lugar para dormir.
Matthew a leva para a triste casa onde mora
com seu pai. Oferece-lhe sua cama e dorme no
cho: no tenta possu-la em troca da guarida.
Confrma-se assim que um outro lugar de
homem que se anuncia na vida de Maria, um lugar
que no o do personagem perverso parceiro
de sua cena histrica. Ao acordar, ela conversa
com Matthew descabelada e com a maquilagem
toda borrada, sem se incomodar com isso. Um
campo de confana est se constituindo diante
de ns, no qual possvel expor-se ao outro com
as marcas de linhas de fuga no corpo e na alma,
sem sentir-se ou ser tachado de louco, fraco ou
perdedor.
Maria logo em seguida abandona de vez sua
vestimenta de histrica: coloca um vestido
azulzinho da me de Matthew que morreu no
parto e vai embora de cara e cabelos lavados.
Depois de aguentar mais uma cena de violncia
de seu pai, Matthew tambm vai embora. Leva
consigo a granada.
Na cena seguinte, vemos Matthew entrando
num bar onde aparecem todos os homens
que humilharam Matthew e tambm todos os
parceiros perversos das cenas histricas de
Maria. Matthew golpeia um a um, varrendo
todos de cena. Eles so expulsos do flme, de
sua existncia e da existncia de Maria. Neste
momento, ela o convida para morar na casa de
sua me.
Chegando em casa, vemos Maria desfazendo-
se de objetos do cenrio que est abandonando:
56
arranca os posters de dolos que forram as
paredes de seu quarto, joga fora um monte de
bugigangas que lotam sua penteadeira. Deixa o
mnimo possvel, como de resto em seu corpo,
em seu rosto, em seus cabelos.
Mais adiante, numa cena memorvel, Maria
ir se jogar de costas do alto de um muro,
atirando-se nos braos de Matthew numa atitude
totalmente inesperada. Ele consegue apar-
la. Ela agradece e diz: Confo em voc . O
que ela quer experimentar sua confana em
Matthew, e se lhe agradece por ter conquistado
essa confana. Maria vai propor a Matthew que
faa a mesma experincia; ela lhe assegura que,
apesar de seu peso, poder apar-lo na queda. Ela
quer que tambm ele experimente a confana.
Nesse momento do flme, pode-se dizer que
Hartley praticamente j delineou o retrato da
idia que parece pretender traar, a idia de
confana. um momento em que as foras de
diferenciao esto por cima, o que engendra
um novo tipo de relao feito de respeito,
admirao e confana , como o defne Matthew,
para evitar cham-lo de amor. que, segundo
ele, quando se ama se faz todo tipo de loucura:
fcar ciumento, mentir, trapacear, matar-se, matar
o outro... . Pois a palavra amor, tal como
usada no plano homogneo - e isto, Matthew
sabe muito bem -, quase sempre pilotada por
um desejo de completude e de eternidade. Ela
implica justamente naquela espcie de anestesia
aos efeitos das misturas do mundo, num faz de
conta de uma existncia estvel, sem quedas.
Matthew sente que o que est acontecendo em
seu encontro com Maria um outro tipo de
relao, um outro modo de subjetivao, um
outro mundo neste mundo. Amparar o outro na
queda: no para evitar que caia, nem para que
fnja que a queda no existe ou tente anestesiar
seus efeitos, mas sim para que possa entregar-
se ao caos e dele extrair uma nova existncia.
Amparar o outro na queda confar nessa
potncia, desejar que ela se manifeste. Essa
confana fortalece, no outro e em si mesmo, a
coragem da entrega.
Mais adiante, Matthew ir inclinar-se, por um
momento, para o plo da captura. Quer, diz
ele, os benefcios sociais como toda pessoa
normal. Est disposto a anestesiar seu ntimo
atravs da televiso, que considera boa para
isso. Assim poder reprimir seus princpios e
suportar continuar trabalhando na fbrica, sem
incomodar-se com as trambicagens. Maria se
decepciona. Mas depois de uma conversa com a
enfermeira, que ela reencontra por acaso num bar,
reconhece que a fora de singularizao nunca
vencedora de uma vez por todas, e que, alis,
neste campo nenhuma composio eterna, no
h garantia de espcie alguma. Maria se d conta
de que h algo em Matthew que ela gosta, esse
algo que ele perigoso e sincero . E fca
claro para ela que o fato dele ser sincero traz um
risco permanente de instabilidade, pois isso o faz
agir de acordo com os efeitos das misturas do
mundo em seu corpo, o que o leva a constantes
mudanas. Ao fm dessa conversa, Maria tomar
a deciso de acolher Matthew em sua recada.
Logo em seguida, porm, a me de Maria ir
armar-lhe uma arapuca para quebrar sua confana
em Matthew. que, para aquela mulher, conviver
com esse modo de subjetivao exposto
alteridade, que a relao dos dois instaurou perto
dela, coloca em perigo seu mundinho capturado,
que s se sustenta na mesmice. por isso que,
em nome da sobrevivncia de seu mundinho, e
portanto de si mesma, a me ir mobilizar todas
as suas foras para destruir a relao: tentar
contaminar a flha de ressentimento contra o
namorado. Num primeiro momento, ela consegue
o que quer: Maria de fato desiste de Matthew.
aqui que, desesperado, ele vencido pela vontade
de destruio, pega a granada na gaveta de Maria
e se dirige fbrica. Desconfada, Maria procura
a granada. Ao perceber que desapareceu, ela
volta imediatamente a si e ao territrio vital que
construiu com Matthew e sai correndo ao seu
encontro.
Quanto granada, sabemos, tarde demais.
Matthew j havia puxado o pino quando Maria
chega. No d mais para evitar a exploso, s d
para evitar que sejam atingidos. Matthew preso,
Maria fca. No sabemos o que vai acontecer com
sua relao, s sabemos do campo de confana que
seu encontro propiciou para cada um deles e isso o
que importa: sua existncia deixou de ser dominada
pela alternncia entre a vontade de completude, que
implica a captura pelo senso comum e a vontade
de destruio, como nica sada. H agora uma
57
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
terceira fora em jogo nesta guerra permanente que
s se interrompe com a morte. E a cena fnal feita
do corpo de Maria suave e frmemente erguido na
tela pela fora da confana que se introduziu em
sua vida. A luz do semforo verde e o camburo
desaparece no horizonte.
Hartley faz um cinema duplamente independente:
um cinema no capturado pelos cdigos de
representao e de produo de Hollywood e
que, alm disso, retrata modos de subjetivao
igualmente independentes, ou seja no capturados
pelo senso comum. O que seu flme traz
existncia no so identidades alternativas: nem
a do marginal ideologizado em revolta contra a
sociedade capitalista, industrial ou de consumo,
ou em revolta contra o modo dominante de existir
e de amar, nem a do marginal desideologizado
transgridindo a lei em pequenas ou grandes
delinquncias diferentes verses da fora de
destruio. O que o flme retrata so modos de
existncia singulares que se criam a partir da
escuta dos estados inditos que se produzem no
corpo quando se tem a audcia de abandonar a
pele do senso comum. Essas formas singulares
de existir no so em momento algum investidas
de um valor em si-mesmas: seu valor est
exclusivamente no fato de se constituirem como
efeito de uma problematizao do que constrange
e de uma afrmao de diferenas emergentes.
Por isso no so modelos alternativos a serem
reproduzidos, mas formas contextualizadas,
contingentes e efmeras por natureza.
Foi sugerido, no incio, que o que o flme retrata
no um certo universo suburbano mas, atravs
dele, algo que acontece em qualquer universo
social da cidade contempornea, seja qual for
seu tamanho, seu desenvolvimento econmico e
sua localizao. Pode ser dito agora que o que
est sendo retratado aqui uma micropoltica,
que por defnio se trava no invisvel: o atrito
entre diferentes espcies de homem, modos de
subjetivao ou estratgias do desejo, delineando
diferentes composies e gerando diferentes
fguras que podem ser encontradas hoje em
qualquer ponto do planeta.
claro que se pode encontrar uma fliao de
Hartley ao cinema dos anos 60 que fazia do
marginal seu principal personagem. Mas Hartley
vai mais longe. Ele puxa linhas de fuga da trama
dessa tradio que ele leva para direes inditas:
em seu cinema no h qualquer resqucio de
glorifcao do marginal. No se trata de mais
uma saga dos vencidos contra os vencedores,
nem da sociedade contra o sistema, nem do
homem contra a sociedade. Se h clichs no flme,
elementos destinados a um reconhecimento
imediato, eles no esto a para facilitar sua
digesto, mas para contracenar com as linhas de
fuga, numa guerra que constitui a prpria essncia
do flme. Os personagens marginais so aqueles
que cavalgam as linhas de fuga em luta contra
as foras de homogeneizao, montadas pelos
clichs. No so personagens que se constroem
por oposio a um inimigo - homens, sociedade
ou sistema -, mas no desenrolar de sua existncia,
homens, sociedade e sistema derivam para
outro lugar. s quando embarcam na direo
granada que os personagens tomam como alvo
de luta no mais a fora de homogeneizao, e
sim a sociedade ou o sistema. Os marginais de
Hartley no tem o perfl do clich (nem quando
se decidem pela granada): no h glamour
algum em sua no-adaptao nem o encanto de
qualquer ingnua esperana o que os move; e no
entanto eles tampouco so desencantados...
Aqui me parece necessrio fazer uma distino
entre f e crena. O objeto da f a utopia,
uma representao de futuro que implica a idia
de completude, de estabilidade, possvel num
alm deste mundo, esteja esse alm aqui na Terra,
ou em outro lugar qualquer. J o objeto da crena
o devir. Examinar o flme da perspectiva dessa
distino, pode trazer maior nitidez aos trs tipos
de fora que, em seu entrelaamento varivel,
compem o flme.
No plo da captura, onde os personagens so
pilotados pela fora de homogeneizao, a
f que os move. No plo da reao, quando
a fora de destruio que comanda, que os
personagens se tornaram niilistas, perderam a
f (no alm, no futuro) sem ter conquistado a
crena (no devir), e por isso confundem fm de
um mundo, com o fm do mundo. J quando,
no plo da reao, a fora de singularizao
que predomina, a crena move os personagens e
dela que nasce a confana.
58
Se as linhas de fuga - tanto a do niilismo como
a da confana - so movidas por uma perda
da f, ou seja pelo desencanto com tudo que
da ordem da idealizao, da comiserao, da
esperana, tambm a partir daqui que elas se
distinguem. Para o desencanto da linha niilista
no h outro mundo neste mundo, no h sentido
possvel para alm do senso comum: o reino
de uma vontade de nada que pode eventualmente
tornar-se ativa e destruir tudo. J o desencanto
da linha da confana engendra a crena num
mundo que no estaria alm deste mundo,
mas sim alm do senso comum. O desencanto
com as foras da homogeneizao; e esse
desencanto ser justamente a nascente das foras
da diferenciao: perdeu-se a f, acabou-se
com as utopias, mas para conquistar a crena.
essa crena que sustenta a coragem de reagir:
afrmar o ser em sua heterognese. Esta a fora
que impera nessa linha e ela que Hartley tem
especial interesse em retratar.
O prprio cineasta declara que em seus flmes
a tica to importante quanto a esttica e,
acresenta, todos os meus flmes falam de
pessoas tomando decises . Pudemos constatar
que a esttica da banalidade de Hartley nada tem
a ver com estetizao do banal (como nos flmes
ditos cult); uma esttica que tem a ver com um
sentido que toma corpo a partir de signos que
se consegue escutar quando se tem fora para
reagir contra a violncia da captura pelo senso
comum. Ora, isso indissocivel de uma tica.
Da porque Hartley declara que em seu cinema a
tica to essencial quanto a esttica.
Hartley faz uma tica do trgico: em seus
flmes se cai toda hora, e a queda inevitvel.
D at para captar diferentes movimentos
de seus personagens, de acordo com o modo
como vo vivendo a queda. s vezes a vivem
como vtimas porque acreditam ser possvel
evitar de cair; neste caso, quando caem, ou se
paralisam de terror ou se destroem. o modo
dramtico. Outras vezes, conseguem entregar-
se queda e problematiz-la, porque sabem
que cair inevitvel e que de dentro da queda
possvel reerguer-se transmutado, embora no
haja qualquer garantia de que isso v de fato
acontecer. o modo trgico. Hartley confessa
numa entrevista que acha engraado gente
caindo, que gosta dessa imagem. De fato, em
seu flme no se faz drama com a queda, mas
sim humor, a ponto dele ser confundido com
uma comdia nas video-locadoras. O cineasta
completa sua idia, dizendo que gosta da idia
da mais completa entrega, momentos em que os
personagens optam pelo trgico. exatamente
para viabilizar sua tica do trgico que Hartley
precisa da idia de confana e da crena que a
sustenta.
Segundo Hartley, Trust retrata uma idia:
sabemos agora que esta idia a de confana.
E ele acrescenta: retratar uma idia, muito mais
do que tentar forjar um naturalismo, o que
constitui o verdadeiro realismo.
Por que considerar que o naturalismo s pode
ser forjado? O flme nos indica que para Hartley
fazer naturalismo adotar a perspectiva do
senso comum, com ele confundir-se, tom-lo
como a natureza das coisas. Diferentemente
disso, fazer realismo justamente descolar-se
do senso comum, por-se escuta da dissonncia
dos signos que o excedem e buscar incarn-los
numa idia - sob a forma de flme, msica, texto
ou outra linguagem qualquer. neste sentido
que possvel dizer que o verdadeiro realismo
aquele que retrata uma idia. S que aqui
retratar no tem ver com ilustrar, e sim com
encarnar, trazer existncia: um realismo do
acontecimento, daquilo que, embora impalpvel,
j produziu uma rachadura no falso naturalismo
da realidade visvel e pressiona para que algo
venha lhe dar corpo. Hartley faz um realismo do
invisvel.
Suely Rolnik, professora titular da PUC-SP. Autora, entre outros, de: Micropoltica. Cartografas do desejo em co-autoria com Felix
Guattari (Vozes, 1986).
59
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
DEITADO SOBRE O RIO | Evandro Nascimento
Em uma dessas tardes de perodo chuvoso, como
que levado pela fora do instinto, desloquei-
me at uma parte remota da margem do rio que
circunda a Cidade.
Creio que ali ansiava por uma fuga dos
incmodos rudos automotivos que rodeavam
o meu aposento urbano, buscando assim uma
permuta saudvel com a cadenciada sonoridade
que, sob a regncia de uma maestrina sem
memria, sempre me pareceu modular o mpeto
das guas fuviais.
Embora envolvido por um certo grau de
nebulosidade, percebi ao longe, no meio das
guas, o movimento de um desses tapetes de
capim (na verdade, manufaturas tecidas com a
urdidura de mos celestiais) que, durante ou logo
aps a cada das chuvas, costumam se desprender
das margens e correr infrenes rio abaixo como
minsculas ilhas em aquosa migrao.
Entretanto, a cobertura do tapete no se mostrava
bem defnida, posto que acompanhava os
movimentos ondulatrios da superfcie fuvial
em que graciosamente se sustentava. Com isso,
ao que inicialmente parecia apenas uma manta
ondulada de capim, logo aps se somava uma
outra massa orgnica, dando-se assim um outro
perfl imagem inicialmente percebida.
Bem, algum j teria dito um dia que todas as
formas constantemente se mudam, de tal modo
que cada ser ter sempre pela frente aquilo que
circunstancialmente esteja inclinado a ver.
Seno, o que dizer das desafortunadas nuvens
brancas que deslizam pelos frmamentos tropicais,
as quais nunca sentiram o prazer, mesmo na
efemeridade, de assumir uma forma prpria,
pois que sempre merc de uma infnidade de
olhares annimos, geralmente provindo dos mais
extravagantes visionrios, que teimam em dar
os formatos mais grotescos a essas indefesas e
graciosas formaes gasosas?
E ento, com efeito, brotando pela superfcie
do tapete, surgia o rosto de um homem. Sim,
to somente o rosto, como se o resto do corpo,
disposto horizontalmente, se mantivesse futuando
por baixo do manto esverdeado de capim.
Escoriaes abertas pela face e uma atadura
envolta pela cabea essa avanando parcialmente
pela testa - eram sinais que impressionavam a
quem se aproximasse da cena. E, ao inquirir um
transeunte que ali passava, foi-me assegurado
que o homem viera de uma batalha area que
comeara a 15.000 ps de altura e que aquelas
feridas nada mais eram do que refexos naturais
da extrema dureza do embate.
De repente, uma manada de bfalos selvagens
irrompe no local e comea a nadar vigorosamente
em volta do tapete, lembrando os movimentos
circulares de uma ldica coreografa circence
bem ao gosto das longnquas platias da Infncia.
As narinas bubalinas, em resflegos convulsivos,
expeliam um jato vaporoso, tornando o ar em
volta clido e de matiz acinzentada. Contudo,
com o nvel das guas j em fase de baixa-mar,
os movimentos natatrios das patas aos poucos
se transformavam em vigorosas pisadas que
atingiam com furor as camadas argilosas da
calha fuvial, abrindo ali sulcos de grande monta,
em cujo redor se formavam toscas paredes de
argila, as quais paulatinamente iam se mostrando
como os limites de um sereno lago com contorno
circular.
A partir da, naquela rea arredondada a atmosfera
sombria de um caf gauguiniano dava lugar ao
brilho apartado das retinas de Caravaggio. A
superfcie lmpida do lago, como uma lmina de
brilho espelhante, remetia o cenrio a um ato de
orao silenciosa. E em seu centro geogrfco
mantinha-se a pea esverdeada de manufatura
divina com o seu estendido ocupante ainda em
estado de impassvel repouso futuante.
Com a clareza repentina do ambiente,
observavam-se mais detalhes no rosto do
60
homem. Alm das laceraes mostra, percebia-
se agora um rubor excessivo em sua face,
como se aquele ser tivesse passado h pouco
pelo Centro Afogueado da Terra, atravessando
destemidamente seus mantos e crostas. Pelos
vincos que se espalhavam desordenadamente
pelo rosto percebia-se um tortuoso trajeto por
mares estelares, a rendio sideral ao canto de
sereias e a reteno duradoura e libidinosa em
recintos calypsianos...
De um determinado ngulo, as feies do rosto
transmitiam sinais de contrariedades e at de
profunda angstia, detalhe acentuado pelos
sulcos rugosos que lhe saiam das laterais das
narinas e iam at os cantos da boca, conquanto,
de outra perspectiva, sua fsionomia emanava um
ar de extrema ternura e at de aprazimento, como
numa demonstrao distante da pluralidade
dos sentimentos experimentados ao curso da
existncia.
Agora, a chuva caia em toda sua essncia, tal
como afadas lanas prateadas, perfurando com
agressividade a quietude da superfcie lacustre
e provocando laceraes adicionais no rosto do
homem, como que o incitando a mais uma dura
batalha.
Mas, aquela face incandescente, j bastante
judiada, revelava ainda as contores sinuosas de
um exmio esgrimista, que circunstancialmente
se lanava em furiosas investidas anticlericais,
ceifando com ardor ritos e dogmas estabelecidos.
Sim, percebia-se que aquele espadachim j
manejara com impetuosidade espadas, sabres,
punhais e outras cintilantes armas brancas em
busca de coisas sem fm.
E assim, logo ao virar as costas, saindo dali,
j chegava aos meus ouvidos o tilintar de seus
reluzentes instrumentos de combate.
Evandro Nascimento, nasceu em Belm. Tradutor e contista.
61
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
FAVOS | Arturo Gamero
Dentro da palavra brilha esse abismo
frutuoso, uma orgia branca
esculpindo a luz vazia da
desordem com a prontido
silenciosa de um im,
falo da invisibilidade corporifcada
pelas vozes mergulhadas
manamente no amarelo.
eu me dediquei a descrever a
regio desses tremores
invisivelmente redigidos na
respirao, as passagens em
que a vida intensifca o drama
da palavra cuja inexistncia no
podemos saciar, pois a escrita
no apenas o quadrante da
determinao de uma coisa
na palavra
com a espantosa
verticalizao da luz cortante
que atravessa a grande massa
das sutis abstraes
Arturo Gamero, poeta, autor de Cermica Noturna (2008), e do ainda indito Favos (2006-2012).
A palavra um
reduto de beleza cuja durao
intraduzvel, por si mesma, nos
devolve a ameaa que
perdemos. A palavra deve
colocar a ocasio das
parturientes leves e das
parturientes ensombrecidas
(Rilke) que desmancham o
fogo errante(Mandelstam)
numa constelao invertebrada
de arvores plantadas na
desordem da estao.
A palavra deve se manter nesta tenso
entre a vertigem lgica e a sutil
enfermidade de um olho
perseguindo o itinerrio da
viso extraviada pelo grito
ecoando na garganta, ela deve
ser este umbral em que manobra
um altitude decadente em cujo
salto percebemos a existncia
insupervel de uma coisa
perecendo.
62
HERA DE MAX MARTINS | Paulo Vieira
Talvez no exatamente como preconizava Roland
Barthes ao enunciar a morte do autor - por meio de
suas construes textuais que tanto somariam para
uma almejada cincia da literatura - atravs de um
aglutinamento de contrrios no centro do olhar crtico
para a escritura, o surto mimtico de Max Martins no
seu terceiro livro, Hera (1971), para muitos sua obra
prima, no mataria, antes assombraria, pelo vis do
encantamento, o outro Max do livro anterior, Anti-
Retrato (1960), e deixaria atnito o Max mais moo,
autor de O Estranho (1952); at porque os jovens se
espantam mais.
notvel nos poemas de Hera a tentativa ainda
maior de abandono das marcas biogrfcas,
tentativa frustrada, quem sabe pelo arraigamento
do autor ao seu hmus primordial o sexo = o
dfcit (Lawrence Durrell), mas de alguma forma
efciente por funcionar, em nossa opinio, como um
fltro impiedoso para os excessos dos sentimentos
e do discurso.
Ateno muito oportuna, especialmente por tratar-se
de um dos poetas de maior comprometimento com
a sntese que a literatura brasileira do sculo XX nos
legou. Mas se a origem, ou o aparecimento da obra
no est no autor, que deve pagar com a morte o
nascimento do leitor (novamente Barthes), e sim na
prpria escritura, Max Martins consegue ser alm
de autntico camaleon poet, pssaro incomum,
fenix, no olhar de quem / alm / a gente amava
ave (Hera). Seus ressurgimentos so a marca
de sua permanncia fundada, ironicamente, numa
selvagem impermanncia. E no exatamente das
cinzas que ele ressurge, mas de pouco antes delas,
este pssaro volta do apodrecimento de suas asas
arbreas, de seus galhos, que esvoaam na distncia
eKOdo (Koan) na leitura, bem na hora do to
almejado nascimento do leitor, nesse cada vez mais
conturbado encontro de vozes, busco-te em mim
dentro dum lago.
A insistncia no apagamento da fala, na evaporao
do verso, portanto, a iluminao desta poesia
que se nutre de frialdades, obscuros, solides em
crateras, regao nos sexos, Cavo esta terra busco
num fosso / FODO-A / agudo osso / oco / fauta de
barro / so?. Hera foi lanado em 1971, quase
duas dcadas separam, portanto, este Max daquele
da estreia com O Estranho. Move-se no conjunto do
livro de um poeta ao mesmo tempo ertico e aqutico
o poema-embracao em quatro partes Travessia
I (1926/1966), que por fora da datao sugere
quarenta anos vividos, quarenta anos de travessia
daquele que sobrevive - piapitum no rio defunto /
impaludado. A fora deste poema-ub, Travessia,
dentro do livro-rio, Hera, remata, pelo jogo das
ambiguidades e movimentao imagtica, sua
verve de poeta acompanhado e incorporado na bem
construda trama das citaes, referncias clssicas
(Le bateau ivre de Rimbaud, Odisseia de Homero,
Hamlet de Shakespeare), aluses do autor-leitor, do
mestre-aprendiz, aos seus estudos, mas no somente,
alude tambm essa voz lancinante aos traos
biogrfcos que sua renovao irretocvel condenou
pela escrita, a mesma escrita que, mais do que
tudo, o reescreve (paul de cobras, impaludado,
panis, pnis, piapitum, aqua-dor, Janana,
mnstruo verde, sagitrio intil, doenas do
mar, feno duro).
Contraditoriamente, neste livro de escapes, a
fecundidade da enunciao arrasta o autor para o
centro da prpria vida que as imagens turvam para
iluminar, como em A casa, pea talvez mais
biogrfca de toda a obra de Max Martins, bem
como em Ver-O-Peso, construindo, de modo
extraordinrio, o poema longo e ao mesmo tempo
de fala silente, ou ainda em Negro e taciturno, o
touro de voz aliciada e lirismo aliciante Negro
e taciturno, o touro, / outubro arqueja, e o seu
sistema / se dissolve e no resolve / a questo de
amar / e no amar. E j se reagrupa o exrcito
de palavras em defesa dos arcanos na fuga do real.
Comprometidas, as palavras desse livro, com uma
verdade isenta de certezas e solues fceis, pois
na poesia de Max Martins a palavra rebela-se no
momento mais decisivo para integrar-se natureza
e dissolver / resolver o corpo,A tarde era um
problema / (emblema) / a / re / (sol) / VER.
Paulo Vieira, poeta e doutorando em Literatura Brasileira da USP.
63
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
COMO SE NASCE NUMA ILHA DESERTA? | Eduardo Pellejero
o esprito constitui uma ilha, pequena mas segura, no centro de um mar de misria e desolao.
Margarete Buber-Neumann
Esta a hora de escrever. a manh. Do
outro lado do mundo me consta existem
escritores notmbulos que habitam esta hora
mpar de costas para o dia. No poderamos
ser mais diferentes. Posso imagin-los em seus
stos fnisseculares, com suas queridas e seus
samovares, vivendo uma vida anacrnica, mas
real, porque a noite intemporal, como a bebida.
Se gabam de que Paris uma festa, celebram o
sol mediterrneo, rebentam de tuberculose. Li-
os como um insone nas horas do sonho. Pode-se
dizer que os sonhei, que me sonhei entre eles,
ainda que nunca tenha abandonado esta terra
sem sombra. No nos une o mar que se estende
perante mim, no nos separa. O mar a nica
realidade, a realidade a distncia. J preparei
a garrafa, que ainda me queima a garganta. Em
qualquer momento comear a descer a mar,
mas no tenho nenhuma mensagem para enviar.
A enviarei de qualquer forma. Como se nasce
numa ilha deserta?
Evidentemente, difcil no pensar no destino
das garrafas que atiro cada tarde, quando comea
a descer a mar, e por vezes j entrada a noite,
quando a lua me obriga a aventurar-me entre as
rochas da costa para cumprir com meu propsito.
O rudo do vidro cortando a gua, quando no o
afogado arranhar do lpis sobre o papel, desperta
em mim evocaes de praias longnquas, de
encontros improvveis, que do sentido (um
sentido necessariamente diferente) s mensagens
que escrevo. Mas so as garrafas que vm dar a
mim as que desvelam minhas noites. Dia aps dia
vm dar a esta costa. Por que a esta costa e no a
outra? que todas as correntes do oceano passam
por este lugar? que existem tantas ilhas desertas
no mar, tantos nufragos? Comeo a recolh-las
de madrugada, com as primeiras luzes, enquanto
exploro os despojos que se acumulam do outro
lado do rio. Costumam aparecer onde uma vez
ao ano vm desovar as tartarugas, e h dias que
so duas e at trs. uma loucura pensar que
(com uma nica exceo) nunca dei com duas
garrafas atiradas ao mar pela mesma pessoa.
Chegam de lugares sempre diferentes, das
pocas mais diversas que possam imaginar, em
lnguas que muitas vezes superam largamente
minha competncia lingustica. Consomem meu
tempo na ilha e j abandonei a escrita muitas
manhs para tratar de dar conta de todas (passei
fome, negligenciei inclusive as tarefas dirias
das que depende minha sobrevivncia). Vo se
acumulando a um lado da cabana e j temi que
seu refexo delate alguma vez minha presena na
ilha (o que signifcaria isso para mim?). Mesmo
quando lhes dedico todo o tempo que me resta,
a pilha no deixa de crescer. Acontecer isso
s comigo? extremadamente improvvel que
todas as mars confuam numa nica ilha, mas
no encontro outra explicao e comeo a achar
que a prpria ilha o resultado das correntes.
As garrafas que vm dar na costa so tantas
que j cheguei a fantasiar que a terra que piso
no seja to frme como parece, e que debaixo
do cho arenoso da ilha no exista outra coisa
que uma enorme massa de garrafas entreveradas
pelas algas, que nestas guas so praga. Seria
uma ironia que esta ilha deserta no fosse seno
o resultado da negligncia de uma comunidade
64
dispersa de nufragos, mas quem riria disso?
Se leio todas as mensagens que me chegam
porque j no posso rir. Abro com cuidado as
garrafas (que mais tarde reutilizarei) e extraio
as mensagens com a ajuda de uma afada agulha
de madeira de buriti, para o qual desenvolvi
uma grande habilidade. luz da nica lmpada
que ainda funciona neste lugar, leio pela noite
dentro. melhor assim, porque se o fzesse luz
do dia contaminaria de irrealidade a totalidade
da ilha, e como poderia viver ento? Nunca
respondi a essas mensagens (com uma nica
exceo), porque no ignoro que as correntes
no so circulares e que a comunicao entre ns
(mas quem somos ns?) impossvel. Como
possvel dialogar numa ilha deserta?
No outono a baa se enche de baleias. Durante
algumas semanas deixo de atirar garrafas ao mar,
desbordado por esse espetculo inumano. Vejo
as amplas caudas se agitarem sobre a superfcie
das guas ao ritmo do quase inaudvel canto dos
machos, que ensurdece as aves, que se precipitam
contra as falsias. Nada sei disso. Ningum nesta
ilha (mas nesta ilha estou sozinho) capaz de
dizer uma nica coisa com sentido sobre esse raro
fenmeno. Se tentasse pensar sobre o assunto,
acho que enlouqueceria. Como um imperativo de
prudncia, me probo aventurar-me muito alm
da minha cabea, do que acontece em minha
cabea, do que penso. Escrever sobre o universo
seria to insensato como atirar pedras ao mar.
Diro: que outra coisa se pode fazer numa ilha
deserta?
No desconheo as emoes s quais um homem
est exposto. A ausncia de qualquer contato me
queima a pele como a qualquer besta. O peso
morto do meu corpo sobre a areia a nica
sensao de alteridade fsica que me depara a
ilha. Anulado pelo estrondo do mar, costumo
deixar-me estar durante horas, at fcar coberto de
areia pelo vento do sul; uma sensao intensa,
mas incmoda, que me incomoda durante dias
depois de que a experimento. Os animais que
nos meses mais quentes do ano se adentram na
selva procuram o mesmo que eu, mas eu no
estou feito para a selva, e permaneo entre os
homens (s que no h homens, apenas uma ilha
deserta). Quando o desespero me ganha, prefro
correr pela costa at cair esgotado, ou adentrar-
me nas guas at linha da rompente, ainda a
conscincia de que apenas uma onda poderia
arrastar-me para sempre. Cheguei a imaginar no
entressonho (e no me envergonho) que outros
corpos se confundiam com o meu, mas medida
que passa o tempo esses devaneios so cada vez
mais abstratos, uma fria geometria de corpos no
espao, e no so sequer capazes de mover minha
mo at a entreperna. Que mais pode sentir um
homem numa ilha deserta?
certo que disponho de todas as comodidades
imaginveis da vida moderna. No me falta
a minha dose diria de aguardente nem um
punhado de tabaco. Sentado no meu cadeiro
Voltaire posso ler mensagens durante horas
sem consequncias fsicas para minhas costas,
que por outra parte ressentem cada vez mais a
umidade do ambiente. A fauna autctone mansa
e diversa, e sacia largamente meu frugal apetite.
Se estivesse ao meu alcance um mercado, poderia
me agenciar o sufciente para uma semana com
um punhado de moedas; em lugar disso devo
caminhar diariamente longas distncias para
fornecer-me de tudo o que necessito. O papel
escasso, e talvez por isso meo tanto as minhas
palavras, mesmo quando h dias que tenho
vontade de escrever como se gritasse (quem
poderia ouvir-me, de qualquer modo?). Um catre
de ferro forjado (enferrujado at ao ponto de ter
perdido toda e qualquer aparncia metlica),
uma mesa de madeira nobre e uma desengonada
cadeira de cnhamo completam meu patrimnio.
Acredito que seria capaz de defender cada um
desses objetos com a minha vida (exceo feita
ao catre, dado que prefro dormir na rede que
pende entre os tirantes do beiral), mas no posso
dizer que encontre um gosto especial em seu
trato, em sua possesso ou em seu desfrute. De
que servem todas essas coisas numa ilha deserta?
A princpio escrevia para salvar-me. Procurava
ajuda. Me movia a saudade de um continente
que desconheo, mas que apesar de tudo consigo
imaginar com alguma riqueza de detalhes: urbes
agitadas pela oscilao dos mercados, multides
levantadas em protesto ou mobilizadas para a
65
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
guerra, causas perdidas e empresas pelo bem
comum. No ignoro o encanto desses mundos
compartilhados, mesmo se no foi deles que
naufraguei (meu naufrgio mais universal e mais
ntimo). Deixei de procurar a salvao, de pedir
socorro. S ento comecei a escrever em sentido
prprio, o que se diz escrever. Quem encontrasse
uma de minhas garrafas no poderia fazer nada por
mim e seria injusto que eu se o exigisse. Prefro
pensar a revelao modesta de minhas palavras
como uma interrupo, um parntese, uma brecha.
Sei que representam isso para mim. A fantasia
de um mundo compartilhado enganosa. Nesses
desertos sobrepovoados eu seria um estranho, um
estranho para mim mesmo. Me conformo por ser
essa estranheza para os demais. Quem poderia
deixar atrs uma ilha deserta?
Nunca consegui dar a volta ilha. Dez, quinze,
trinta jornadas de intensa marcha seguindo a
linha da costa no me devolveram s paisagens
conhecidas, no denunciaram sequer a
curvatura mnima que se espera destes acidentes
geogrfcos. Rigorosamente o sol se pe no
mesmo lugar do mar, vinte graus ao norte da
praia, rigorosamente nasce entre as montanhas
que velam desde o alto o sonho da ilha. Tenho
dado mil voltas a esse fenmeno sem encontrar
uma explicao lgica. Como pode ser que esteja
certo de que se trata de uma ilha deserta quando
nem sequer sou capaz de explorar uma poro
mnima do seu territrio? Porm, tenho a certeza
absoluta de que estou s. Se fosse de outra forma,
e existissem outros nufragos sobre esta mesma
terra que piso, deveria assumir que no estou s,
mas maldito, e no acredito ter foras para viver
com isso. No com isso. Com isso no.
Que livros levaria com voc a uma ilha deserta? A
pergunta estpida porque desconhece que no
se faz turismo numa ilha deserta, no se prepara
uma mala, no se marca uma data para a partida
(nem muito menos para o regresso: ningum
regressa nunca). Somos idiotas, mas no at esse
ponto. Qualquer ilha deserta o produto de um
naufrgio. Qualquer naufrgio uma sucesso de
desencontros, de mal-entendidos e de indecises.
Os livros podem formar parte disso, ser um
lastro ou uma tormenta; em todo o caso, algo que
inevitavelmente carregamos conosco. Ningum
escolhe seus livros numa ilha deserta. Vo dar
com voc praia e com o tempo passam a formar
parte da ilha, como os recifes e as palmeiras (a
minha ilha tem coqueiros, no palmeiras).
uma experincia difcil essa dos livros numa
ilha deserta. Um homem se desconhece neles,
se pergunta: por que estes livros e no outros?
Em vo repassei as pginas das quinze ou vinte
dezenas de volumes que conseguira resgatar
entre os despojos procura de respostas. Os
livros so parte do naufrgio, no um plano de
evaso. Lendo me perco cada dia um pouco mais,
como se o naufrgio no tivesse terminado ainda
e a prpria ilha se encontrasse deriva. Por que
estes livros e no outros? Que que dizem estes
livros daquilo que sou? possvel que tenha
fantasiado que meu destino teria sido outro se a
mar tivesse me deparado outros livros. Acaso
no estaria aqui, pelo menos no deste modo. Ou
melhor: nenhum livro. Transfgurado pela bebida
posso ter queimado no poucas pginas num
frenesi purifcador. S que a memria elusiva
de um livro pode assombrar um homem mais
do que a experincia diurna de sua estudiosa
leitura. Qualquer ilha deserta est povoada
desses fantasmas. Nos falam continuamente, e
algumas vezes, algumas raras vezes, nos ouvem.
No lhes deem ouvidos, no se confem: esto
to perdidos como todos. Que livros atiraria pela
borda antes de naufragar numa ilha deserta?
No h tesouros nesta ilha. No existem
tesouros, s mapas do tesouro. Guardo comigo
dzias dessas cartas fraguadas para a iluso.
Chegam com mais frequncia que nenhuma
outra coisa em garrafas adornadas com signos
que esto cheios de pressgios. No conduzem
a parte nenhuma. claro que h muita gente
que espera ser descoberta desse modo. Perdem
o tempo: os piratas e os aventureiros so homens
gregrios, que no reconheceriam a solido nem
que a tivessem frente. A mim, que desconheo
voluntariosamente a geografa da minha ilha, o
esforo de fazer esse levantamento excede em
muito as minhas foras. A ilha se estende perante
mim (se oculta nas minhas contas) como uma
verdadeira terra incgnita. Nem os resplendores
que ritmam a noite, nem os tambores que
66
iluminam o silncio, comovem meu esprito, que
se mantm indiferente ao seu corao secreto.
Nada de valor se esconde numa ilha deserta.
Quem, em seu perfeito juzo, esconderia um
tesouro numa ilha deserta?
a hora de escrever. a manh. O bonde das
seis j passou e agora se suceder como uma
premonio cada quinze minutos. A natureza
e a humanidade no so to diferentes, mas a
humanidade muito mais predizvel. Quando
saia rua poderei evitar qualquer encontro com
a facilidade com que se evitam os carros numa
corrida de videojogo jogada vezes demais. S
a solido impredizvel. Chegarei praia antes
dos turistas e poderei atirar minha garrafa sem
ser incomodado (h dias em que me incomodam
com suas fotos, alborotados por minha presena,
que os arranca dos seus rituais sazonais. A solido
s possvel entre os outros e no conhece outras
formas humanas. Se pudesse toc-los de alguma
forma, no estaria s, mas se no pudesse toc-
los de nenhum modo, que sentido teria falar
de solido? Os turistas olham para mim com
incredulidade, mesmo quando cuido de manter
o rosto limpo de qualquer sombra de barba e
minhas roupas se encontram em impecvel
estado. Acompanham com a vista o breve arco
que traa a garrafa no ar, e uma ou outra vez
um deles se adentra ao mar tentando apanh-la.
Me preocupa que arrisquem suas vidas dessa
forma. Ainda quando o mar tranquilo nestas
latitudes, aqueles que alcanam uma garrafa
antes de que seja arrastada pela corrente esto
preparando, sem compreend-lo, seus prprios
naufrgios. Sei que nunca voltarei a v-los
entre os turistas que povoam a costa e que no
poderei reconhec-los se alguma vez der entre as
rochas com uma de suas garrafas atiradas ao mar.
Mudaria alguma coisa se quebrssemos a regras
e intercambissemos uma que outra palavra
antes de desaparecer? J no procuro respostas
s perguntas que fao. Cansado, distante, mas
sobretudo indiferente, os vejo nadar mar adentro
com uma vitalidade que alguma vez conheci
na intensidade dos meus punhos fechados, e
pescar a garrafa entre as ondas e, por vezes, dar
um grito de triunfo e olhar atrs, procurando a
minha fgura entre as rochas da costa. Ento j
no estou a. Est o vazio. Com mais ou menos
esforo empreendem seu regresso praia. No
compreendem. Quanto abrirem a garrafa, estaro
ss. Como se importar com isso numa ilha
deserta?
Traduo: Susana Guerra.
Eduardo Pellejero, nasceu na Argentina. Professor de Esttica na Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN). Autor, entre outros,
de: A postulao da realidade: flosofa, literatura, politica (Lisboa: Vendaval. 2009) e Deleuze y la redefnicin de la flosofa (Mxico:
Jitanjfora, 2007).
67
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
FBULA | Jos Kozer
Traduo: Eclair Antnio Almeida Filho.
Kafka est de parabns.
Acaba de devorar um suculento almoo
vegetariano.
Anoite sonhou com Goethe, essa mesma
manh visitou com guia
turstico a casa de Lenz.
Estamos de parabns: a tuberculose j
no existe; de Lenz
encontra-se tambm o
livro de Bchner
que releu uma
vez por ano (a
Kafka apenas o
releu, me corta a
respirao): ligeiras
taquicardias, s
duas trs pginas se
me manifesta o
ardor de estmago,
eu quero igual
a Kafka estar
de parabns (ao
evitar l-lo consigo).
Kafka me abarrota a cabea, com a cabea
cheia no posso beber uma
infuso de camomila
com mel de urze, ver
as abelhas esvaziar-se nas
colmeias, e ao alar
68
o brao com a taa sem
asas (negra porcelana)
sorver lento, no fazer
rudo, s escutar
o zumbido das
abelhas adentrando
no favo: a, Kafka
no entra, no saberia
sair do labirinto
(s capaz de
imagin-lo): est
imerso demais
sonhando com Goethe,
consumindo seus
dois pratos (preo nico)
vegetarianos: sopa de
abbora um pouco
aguada com cebolinha;
favas do Barco de
vila com pimento:
gua, gua, que
nos afoga Kafka.
Ainda preciso um
tempo para ver a
casa de Lenz (Lenz
no est de parabns)
acaba de arremessar-se
abrasado desde o
segundo piso da
casa, nem Lenz nem Kafka
voltaro a recuperar
sus cabales, como se
estivessem tocados por
esse estado de seca
saturao na
opulncia.
Jos Koser, nasceu em Cuba, 1940. Publicou: Y asi tomaron posessin en las ciudades (1996), Jarrn de las abreviaturas (1980), La
rueca de los semblantes (1980), Bajo este cien (1983), La garza sin sombras (1985), Prjimos. Intimitantes (1990), et mutabile (1996)
e Farndula (2000). No Brasil foram publicados bis amarelo sobre fundo negro (2006, Travessa dos Editores) e Atividade do Azougue
(2011). Lumme).
69
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
ANOTAES PARA UMA FBULA | Afonso Henriques Neto
A coisa mais insensata me parecia mais provvel que a sensata e particularmente fecunda para minhas investigaes.
Franz Kafka
Porque eu era um gavio e hoje sou gente que
busco essa dana-de-gavio para celebrar uma
talvez memria de quando era somente bicho.
Essa dana me faz planar sobre a cidade, para de
repente mergulhar de cabea rodopiando o corpo
igual a um pio doido, para depois me aprumar
outra vez e voltar a planar j bastante perto do
cho. Trata-se de uma brincadeira idiota, mas
que me enche de uma ingnua, gratuita alegria, e
assim prossigo sem ter nenhuma razo especial,
fora essa revigorante emoo feita de jogos
simples dentro do vento. Dizia de quando era
apenas bicho, mas claro que permaneo bicho,
s que, em momento para mim impreciso e desde
sempre absurdo, comecei a pensar igual a um ser
humano. O fenmeno se acentuou, e mesmo
tornou-se incrivelmente ntido, quando, em noite
de tempestade, um galho de rvore se desprendeu
e me atingiu de raspo a cabea. Como disse,
sinto que j de alguma forma pensava antes desse
evento doloroso minha cabea ardeu por dias
seguidos , s que aps tal acidente passei a ter
aguda conscincia de que pensava sobre o que
estava pensando, o que foi algo indito para mim
e provocou, sem dvida, uma aproximao de
maneira mais vigorosa de tudo quanto se costuma
chamar de comportamento ou maneira de ser
humano, ou ao menos assim me parecia. Recordo
que foi nesse ponto que me invadiu pela primeira
vez uma angstia espessa, a cabea a latejar com
o percebimento de que me transformara em
priso para uma razo que no tinha como se
manifestar a no ser por essa contnua torrente de
pensamentos desordenados, o que me angustiava,
repito, alm de me confundir por inteiro. J
muito se disse que toda fbula em que algum
bicho comea a falar quer signifcar que o animal
se transmuda em homem, ou seja, que o homem
se iguala a um irracional. Discorre-se, dessa
maneira, sobre a bestialidade do ser humano ou
algo do gnero, em ltima anlise em torno de
uma desumanizao em todos os sentidos.
Contudo, no meu caso, no consigo articular
nenhuma palavra e continuo to-somente a emitir
os sons prprios de um gavio. A diferena,
repito, que passei a pensar igual a qualquer
pessoa, mesmo que essa pessoa seja a menos
capaz delas, porm disso no poderei jamais ter
certeza, e penso assim s porque possuo uma
cabea dez vezes menor que a de um ser humano
normal, mas talvez por isso mesmo possa refetir
de modo bastante original e, quem sabe, me
tornar mais capaz do que a maioria deles, o que
aparentemente um paradoxo. A verdade que
penso, e basta. Tal fato , de maneira absoluta,
extraordinrio e conduz a desdobramentos que
considero bastante interessantes. De toda
maneira, fundamental deixar claro que essa
narrativa no aponta para nenhuma espcie de
originalidade, pois poderia de uma assentada
citar pelo menos meia dzia de histrias de
bichos que pensam e no falam, no se expressam
igual a humanos, mantendo todas as conformaes
prprias ao animal irracional, o que pode
conduzir muitas vezes a narrativa para a incerteza
sobre o que seja de fato um bicho pensante.
Desse jeito, o que posso afrmar que se no falo
e to-s penso de maneira prxima a qualquer
70
humano, ser fatal que todos perguntem quem
est afnal narrando esta histria sobre um bicho
que refete, mas no fala e muito menos escreve.
Esse autor que tenta se ocultar na sombra, mas
que no passa de um esgar espantoso com todos
os dentes de fora ao sol do mais transparente
meio-dia, esse autor se contorce ao sentir, tal
uma atroz punhalada, que o animal no caso
um gavio de negro penacho se infltrou por
seu peito para ento abrir de sbito as amplas
asas, as garras e o bico, ocupando todo o espao
do corpo acima das pernas, o que ir provocar
desconforto indescritvel, espcie de violenta
nusea, de extenso rasgo indolor no mais
profundo das vsceras. Pode-se dizer, assim, de
um narrador-gavio, ou de um gavio que se
retirou de seu espao selvagem para respirar
novos ares, mesmo que tudo possa acontecer no
interior de atmosferas fccionais. Na verdade,
nada disso importa muito, pois o gavio
continuar a pensar independente de tantas
contores semnticas ou estilsticas, ele prprio
a se tornar a cada passo, ou a cada voo, uma
fabulao que a si mesmo prossegue desenhando,
o que j o afasta at mesmo da possibilidade da
existncia de um narrador independente, ou algo
semelhante. Isto posto, a coisa mais importante
agora talvez seja explicar a razo porque escolhi
viver sozinho, eu que sou um gavio macho e
deixei de lado de maneira consciente a busca de
uma companheira com todos os desdobramentos
de ninho e criao de flhotes que tal coisa
pressupe. No que me tenha cansado das
fmeas, no bem isso; o que preciso explicar
que a ltima experincia que tive foi trgica, fato
que me levou a considerar com intensa seriedade
o destino de me transformar em um pssaro
solitrio, sem pouso fxo, a viver em permanente
migrao sempre em busca de climas mais
amenos e espaos onde a caa exista com
abundncia e plena segurana. Essa ideia de
plena segurana est diretamente ligada ao que
ocorreu com minha ltima companheira.
Vivamos em um bosque prximo de abertos,
planos campos de plantaes de soja, que, de
modo geral, se expandem por extenses imensas,
horizonte a horizonte. Para manter isentas de
pragas essas imensides verdes, os produtores
cobrem todo o espao com poderosos agrotxicos
que acabam por envenenar qualquer forma de
vida animal por todos esses muitos quilmetros
quadrados. Com o tempo no h de se encontrar
nenhum passarinho ou inseto na regio, assim
como nenhum bicho rastejante. Tudo passa a ser
luminoso, silencioso deserto esverdeado. Por
pousar em rvores prximas aos barraces dos
trabalhadores rurais, logo pude ouvi-los
conversar abertamente sobre o uso desses
pesticidas para proteo das plantaes contra
qualquer tipo de praga bom dizer que possuo
audio superprivilegiada, podendo captar sons
produzidos a grandes distncias , o que tornava
toda aquela enorme regio em um pasto
venenoso, que deveria ser evitado por ns
gavies de negros penachos. Contudo, como
passar essa informao para a minha companheira,
que no pensava e se deixava conduzir de acordo
com o mais puro instinto animal? Para simplifcar
devo dizer que ela conseguiu caar alguns
pssaros j envenenados, ao lado de lagartos,
sapos e outros bichos ainda vivos, mas que mal
conseguiam se mover em razo da disseminada
intoxicao. Por consequncia minha
companheira tambm se intoxicou (e essa
concluso era por demais plausvel), acabando
por cair entontecida, ou quem sabe sem sentidos,
do galho da alta rvore onde dormamos, sendo
atacada e comida durante a noite por uma
serpente, o que me levou a tecer longas
consideraes sobre as antigas histrias humanas
em torno de mitos demonacos e da minha
situao particular frente s aves de meu gnero,
sem poder me esquecer dos inumerveis
malefcios que os alimentos poludos por todos
esses venenos iro enfm provocar na prpria
humanidade. (Na realidade, se penso j no
posso ser por completo meus semelhantes; se
penso, mas no me comunico com os humanos,
no sou de modo absoluto um deles. Portanto, h
que se permanecer neste inslito girar em ser um
completo nada ser em busca de improvvel
identidade, antes, agora, depois.) Resolvi,
portanto, a partir da, manter-me solitrio. Em
seguida, acabei por deixar de lado meu
comportamento migratrio e passei a morar
prximo a uma grande cidade, pois as populaes
humanas me atraam com uma fora que no
podia mais controlar, eu que, ao menos de certa
71
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
forma, tambm era um desses homindeos que
vagam como que perdidos pelas extensas ruas e
avenidas da estupenda cidade iluminada de modo
to intenso. Aos poucos fui emagrecendo e me
sentindo fraco, pois a perda do instinto de caa
veio a se instalar em mim na mesma medida em
que aumentava a minha curiosidade por tudo o
que interessava ao universo humano, ou melhor,
na medida em que aproveitava o tempo no para
buscar alimentao apropriada, e sim para
analisar com prazer sempre crescente o
comportamento das variadas tribos humanas,
dos variados grupos sociais que se juntavam a
partir de ideias e interesses comuns, grupos que
normalmente entravam em srios embates entre
si, o que resultava em confitos de toda ordem,
no interior dos quais reinavam injustias, traies
e violncias abominveis, fatos que passaram a
me angustiar bastante, pois para mim signifcavam
o trmino de uma ingnua crena a vir dos
primeiros tempos da instalao do pensamento
em minha vida de gavio e que me levava ento
a crer que pensar, ou seja, me aproximar da
condio humana, era algo de tanta importncia
que fazia com que o meu peito infasse sob a
fora de um orgulho sem possvel limitao.
Dizia, pois, que fui emagrecendo e perdendo o
instinto de caa. Quando a fome apertava com
intensidade maior, ainda me concentrava e partia
para o ataque em busca de algum alimento, mas
tal coisa j se fazia cada vez mais difcil, pois
sempre algum pensamento se interpunha no
momento do bote fnal e eu acabava por deixar,
na maior parte das vezes, a presa escapar. Quando
no campeava em cimos de impossvel:
conseguira caar, por exemplo, um gordo rato-
do-mato, outrora manjar dos deuses, e agora,
aps a primeira bicada, o engolir naco de carne
com restos de angustiosa pelagem a roar,
arranhar garganta abaixo, provocava rude arrepio
novo, nusea to funda a me fazer abandonar
enojado aquela comida toda. Minha sobrevivncia
passou, assim, a se resumir a ovos de outros
pssaros, pois era coisa mais fcil de obter, alm
de possuir paladar mais agradvel; porm, por
outro lado, mesmo a busca de ninhos tambm
pressupunha refnada ateno (afnal os pssaros
defendem seus domnios com fria), um estado
de alerta que aos poucos ia me abandonando, o
que me conduzia a pensar que no se pode ser
humano impunemente, o que era, convenhamos,
refexo bastante absurda para um gavio,
selvagem caador que no foi feito para guardar
em si tamanhos disparates. Pelo que se pode
notar pensei entre tantos temores , aqui j
se encaminhava o meu fm, apesar de perceber
com dolorosa clareza ser coisa normal e sem
nenhum sentido aparente os humanos morrerem
e nascerem sem cessar, iguais a gotas de luz a se
acenderem e apagarem em bela e intil
intermitncia, por todas essas ruas e avenidas da
cidade estupendamente iluminada e como eu
amava futuar noite acima de toda aquela
fantasmagrica, alucinada iluminao! , o que
de certa maneira acalmava o meu corao de
gavio emagrecido (gavies que tambm nascem
e morrem sem cessar, apesar da minha espcie
estar, segundo tenho escutado, em rpida corrida
rumo extino em razo da barbrie humana,
fato que me tem provocado engulhos em pleno
voo), enquanto meus olhos perdiam a antiga
acuidade, se cobrindo de nvoa que dizia a mim
prprio, para usar imagem que s vezes at
mesmo me agrada, ser estranha forma de miopia
constelada. (No entremeio, devastador silncio
no ar, o de areo estarrecer, forma do desenhar o
invivel, tempo cogulo, oco mouco, mas o rio
luzente outra vez, por lentido, a se mover em
sonho de felicidade, forao em nsia escarlate,
sempre escuro vermelhecer.) Exploses,
radincias excessivas para um gavio que sem
muitas razes para existir mergulhava de ponta-
cabea a rodopiar e rodopiar, aguda dana-de-
gavio entre gargalhadas mudas.
Afonso Henriques Neto, nasceu em Belo Horizonte, 1944. Participou da antologia 26 Poetas Hoje, 1976. Autor, entre outros, de: Ser
Infnitas Palavras: poemas escolhidos e versos inditos (Azougue Editorial, 2001), Restos & estrelas & fraturas (7 Letras 2004) e Uma
Cerveja no Dilvio (7 Letras (2011).
72
POEMAS | Contador Borges
CASTRATO
Ao gato Lui
Ele vem da inocncia, idioma primeiro,
enrodilhado em sua bola de pelos
tal uma cobra andina, sem defesa,
sequer conhecedora do veneno,
elixir dos rpidos acertos ;
deleita-se em roar o queixo felpudo
na tigela de leite e lamber o sal
dos apetrechos que prolongam a vida,
talism do tempo, em louvor ao esquecimento,
como se o delicado motor de seu corpo
pudesse calar o furor dos desejos
e adormecer na raiz o pior dos tormentos.
DA ARTE DA GUERRA
A luta mltipla, selvagem deleite. O corpo mais do que corpo quando se projeta no tempo:
agora ou nunca, senhor da seta sem direo alguma, apenas suspensa como o gosto rarefeito de um beijo.
O alvo de fato o desvario mais pleno,
pois conceb-lo a metade
do feito, sua face clara e perfeita
contemplando o disparo:
que o vento se encarregue das mortes
e do gozo efmero deste lance supremo.
ALIMENTO
O que guardar de tudo seno o que vinga
como um decreto do corpo
macio entre as mos, sobrevivendo
a toda perda, a toda exploso armada pelo gozo?
No desta vez que voc me chama
por um nome maior que o meu,
um nome nocivo a qualquer linguagem;
No entanto voc me faz sentir seu alimento,
o sangue que nomeia e torna a carne
maior que o silncio.
Contador Borges, poeta, ensasta e dramaturgo, publicou as obras: Angelolatria (1997), O Reino da Pele (2003), Wittgenstein!(teatro,
2007), A Morte dos Olhos (2007), Insnia ou A Sombra da Lua (Lumme), A cicatriz de Marilyn Monroe (Iluminuras, 2012).
73
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
74
O POEMA COMO NORTE OU A DESESPERAO DO
HOMEM QUE NO EST NA CIDADE | Andr Queiroz
para Ferreira Gullar
Mas onde est a fnisterra que me prometeste, alm das ilhas idiotas e dos mitos corrodos pela maresia?
Ldo Ivo
1
O que pode um corpo? O que pode um homem? Evadir-se das agruras do agora no qual ele se mostra
empedernido? Furtar-se a destinao na que o desastre se lhe impe? Reverter a paisagem rida,
a terra inspita e desrtica, revolver as pedras entrepostas at que lhe fosse o aude? Abnegar dos
passos, os prprios passos, os mesmos com que fora (ser ele o artfce?) na direo ao precipcio?
Pois sem que o perceba no o homem aquele que caminha at o desastre ou ainda mais, talvez ele
seja quem o precipite a si (ser ele o artfce?), aquele que em lugar de lhe conjurar ele o anuncia aos
cimos da desesperao? Talvez, talvez. Todavia h aqui de se insistir questo sobre o que pode um
homem e o que ser este poder, os seus modos, o seu como, uma vez a fatalidade que o toma ao
arrasto desde o entorno que o atravessa, que o avassala, que o trespassa dos humores desta vizinhana
- tempo e lugar - a lhe parecer o claustro, o encerro, o vazio de tudo.
O que pode o homem, o que pode o corpo se do olhar o que lhe resta o bao da viso que nada
descortina? Arrastar de si a trava que lhe est aos olhos ser isto o que resta ao homem? A trava a
tranca o cisco as carnes da catarata que o oblitera - e de sua ao o que seria era o vislumbre do que
lhe estivera interdito? Porm o que lhe adianta isto? Ser assim o presente se revelar desnudo, ser
assim? Desnudo, sem vestes, fagrado s vergonhas to logo os traos de um seu testemunho o
notrio a escrevinhar as agruras de que se padece? Ser estaria a o presente ileso - de sob a reverso
do que lhe fora a histria de uma sua catstrofe? O presente ntegro total antiqssimo espcie de
presente em recuo nos quandos de seu giro, espcie de presente em reserva aos tantos do processo
histrico no que se est como que ao claustro? O presente no que caminha se caminhasse o homem que
est nele embargado? Seria o presente, num seu desgoverno, a sua desprega o que emergiria em salva
quele que est ao desespero tendo a si to somente a possibilidade de suicdio uma vez o encerro, o
hiato de tudo, o movimento contido? Seria o presente o que totalizaria a conscincia cindida que a
do homem sob o grilho inequvoco das horas nas que no se danou, nas que no se riu, nas que no
se pode o gesto mnimo, a nuana, o detalhe para l do prescrito? Ser ele o envelopado guardado s
sete chaves, espcie de presente ocluso, este tempo mtico, este tempo imemorial, ele mesmo fora do
tempo que no cessa de passar? Qual a capa a este presente o sobretudo de seu torpor, qual camada
do mesmo que se lhe reservara por trs do que era o claustro, a experincia dele, as motivaes do
homem? Ser h um horizonte de aes l onde seria o seu recuo e reserva resguardo ntico e
ontolgico? Ser h o mar, a baa, as barcaas que a trafegam soltas inclumes por trs da parede de
alvenaria na que se equilibram molduras de nufragos, os aturdidos? Ser h a cidade que no h -
ela como que aos arquivos de que se fzesse o uso balsmico ela despregada s paredes como num
regurgito, ela banhada nas guas quentes de um ch de boldo, ela a embebida s mezinhas com que se
atrofam as tosses que eram desde os brnquios, ela as suas vielas e as suas largas avenidas ao melao
da cana, a cidade que no h ser ela est aos possveis que do se plasma ao barro quente que s
75
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
olarias so os tijolos de sua construo, pedra a pedra, uma a outra o sobreposto, desde os alicerces at
a sutileza dos instantes como quando de um olhar o que se vislumbra o decote generoso da mulher
que se amou e de quem o nome ele se perdeu ele se nos perdeu ele est perdido em alguma gaveta?
Onde o nome seno s vontades do agora, seno s urgncias nas que o homem ele est contido?
Onde o nome e para qu o nome se ele havendo no lhe haveria o rosto para um seu decalque? Onde
o presente ser isto o presente, o bolor de outrora subsumido mquina de acelerao das horas,
fora motriz na tessitura de cacos de enredo para to logo o seu uso dirio? Onde a cidade ser que
de um sopro se lha expedem as misses e o seu marco de fundao? Onde o blsamo, se para l da
agonia e tudo somado nome presente cidade, e tudo arranjado em festa e fria para o quando da
congesto das narinas? Ser se desta torrente se mantm de p aquele muro, a parede o entrave? Ser
que deste sopro-sussurro, cismo-tremor, persistir em sendo o presente apenas a clave na que gora o
homem que no est na cidade?
O homem o poeta diz ele dir turvo turvo a turva mo do sopro contra o muro escuro. Mas ser
do estar diante ao muro o de que se padece? Um muro de chapiscos irregulares e alteados no que as
costas sangram a um seu arremesso a ele? Um muro de pontas de faca contra o qual o soco da mo
cerrada nada que pode um golpe que no se lhe volte pela culatra? O muro das lamentaes onde se
equilibra praguejo e lstima? O muro das alucinaes no que se deita jogado o corpo embebido em
rumores lisrgicos? Poucas as pistas seno aquela que nos indica o seu tom temeroso. O temor da
morte que lhe chega, o temor da morte como numa ronda, o espectro ao escrutnio do que lhe sirva
um algo, um corpo de homem a carapua na que, perfeito perfeita, se acople cabea e capuz. Ser se
est diante do muro e ao homem ele est ao tanto da mira do peloto a lhe fabricar a morte de uma
saraivada de balaos? Um seu assassnio ali? O muro ele de pedra e de perdas bem mais do que de
pontarias e de acertos. No o muro que ele no lhe ser o defnitivo o derradeiro como quando de
um muro sem voltas ou ricochetes. No o muro que ele no lhe ser fatal e impermevel e ltimo e
inquebrantvel como se lhe fosse o invlucro no qual coubesse dentro e to somente dentro o homem
que se . No o muro. Ainda que ele. No o seu escuro. Ainda que.
2
Porque talvez no seja o caso o muro a parede de concreto e grades, a algema agarrada ao pulso. O
grilho a ele empedrado. Talvez no fosse a hora. Talvez no. Talvez que ainda coubesse o surto o
espasmo o instante o esperma. Talvez que ainda coubesse o assobio a gesta o clamor a convocatria.
Todavia quela hora como seria fosse ela a das bravatas quando o que se enuncia cabe aos tanto do
deslize o lapso o esquecimento? Todavia quela hora como seria fosse ela a hora da sesta o desmaio
do corpo na rede aos balouos, e fosse a tarde esticada at que a noite, e fosse a noite a insnia do
corpo que escreve? Talvez que no fosse o poema. Talvez que fosse o bloco dos afazeres e contas, as
cartas lavanderia na encomenda dos trajes para a sexta-feira. Talvez que se estivesse imerso e ao
regozijo o homem quele presente. Talvez que o presente no lhe soasse a pequena forma de nenhuma
fortuna na que no se atravessa sobremaneira o crculo de giz e fogo. Como se do aprumar de tudo
tudo estivesse ao equilbrio. Mas no. No era a hora defnitiva. Ainda que fosse aos modos do
homem a um seu experimento. No era a hora gratuita a hora no-grave na que a visita da morte to
somente fortuita e casual. Hora na que se se morre por descaso, ou por capricho, ou pelo cansao.
Nada para l disto. Mas no e no. O poeta o homem ele dir da iminncia parda de sua morte porque
certo que ela lhe chega mais dia, menos dia. Mas no era a hora da morte. No era o infortnio
o que se lhe seguiria. No era a feuma curva vergada s infeces. No era a hora solene. No era
a morte a iniciar-se desde dentro - os rgos conspurcados, o corpo anunciando as chagas de um
complexo cncer na tomada de espaos disformes mltiplos enxovalhados. No era hora ao cncer
chegado de um diagnstico que trouxesse consigo as datas a descrena de que lhe fosse o milagre.
No era o encerro. Ao menos no desde os dentros que ele se o armava s emboscadas. A morte
que espreita ao homem -lhe (seria) toda exterior a si. Fosse o caso a morte. Ela lhe vem de fora. Ela
76
lhe viria. Ela vem de longe, ela vem de perto, ela rpida, ela estacionria, ela permeia a ambincia,
ela escamoteia um plano de aes. Fosse o caso ela ter se dado. Ela no se deu. Talvez o fantasma. O
ancinho largado aos quintais. Quem sabe se ao aviso, ela mesma, a morte, ela em denncia de si, de
sua chegana, ela a antecipada como quando do pouso da Paloma de uma sua encomenda. Ela vem
de fora ela vem de trem ela busca o porto ela arremete urgncia da metereologia. Exterioridade
do assalto aos cus, exterioridade de corsrios, exterioridade das ofensivas a cavalaria montada. Da
praa pblica sob a sirena do recolhimento. Do mercado vazio e de suas portas arriadas s correrias.
Do exlio e da suspenso dos direitos. Da delao e da injria. Do corredor que dos passos de botina
que se inicia o seqestro, o desaparecido, o crcere, o recolhido e nada que ali ser estaria carregado
de vozes. No h ningum a ouvir. No haveria ningum. Fosse o caso a morte que no foi. Todavia,
o poema.
3
E falar. Gritar. E dizer. s carradas, aos contratempos. Enunciar ao modo que se tem o que urge desde
a desesperao. Falar a falta de que se oua. Falar at que as palavras elas se prestem ao trabalho
insano de inventar o mundo. Espcie de deus que do vernculo que ele se ajeita num seu milagre.
Inventar o mundo. Outro que este. Tempo lugar. Tem frente o muro escuro das horas suspensas.
Tem frente o clculo controle das horas de no mais. Tem aos lados o grampo ao telefone das fteis
conversas de domingo. No mais. Est-se companhia do paisana que de entre os homens se lhe
empresta a sordidez do vigiar, e do descrever, e do aoitar mas como descobrir de entre homens
quem ser o paisana se parece que todos os homens se arranjam em ser, vez ou outra, o paisana?
No mais o deixar-se solta como os pssaros que cruzam oceanos. No mais o deslocar-se de aqui
ali em desaviso. As lambanas de quando a madrugada encarquilhada de cheiros. No mais o ir e vir
de enclave a enclave numa visitao eivada de fotografas. As pernas longas o salto de elas por sobre
os territrios da exceo. No mais. Ou nunca que isso. O passaporte est vencido. Nele as folhas
trazem carimbos de tom vermelho. Ser se compreende o que signifca isto? A aduana tem o teu rosto
estampado s vidraas na que se pode perceber o que est subscrito ao retrato que o do homem o
procura-se e at o homem esta injuno sua caa, ronda do que for dele, patrulha na que ele
seja o desvendado. Est-se a. Esteve o homem. Embora no fosse o caso a morte que ele pensara que
lhe seria.
Ainda assim falar. Escrever. Falar escrever que no mais. No h ningum. Insiste-se o homem insiste.
Ao entorno os vizinhos se calam na noite angustiada. Noite de homens empedernidos. Noite que
sobretudo a do homem a pensar a morte que lhe seria. E quede que lhe acercam os vizinhos? Vizinhos
da Corrientes os teatros as livrarias os cines. Os tropeos multido. A batida da carteira s mos
mgicas de prestidigitadores entregues a prpria sorte. Vizinhos de Palermo o passeio pblico o zo
o jardim botnico. O caf sentado s mesas dispostas s caladas. Vizinhos da Florida as compras
s lojas populares os ambulantes as casas de cmbio. O tango danado ao ar livre. O chapu caa
das moedas. Vizinhos de San Telmo a feira os artesanatos as quinquilharias. O Largo no que se bebe
uma cerveja avermelhada. Vizinhos de La Boca o porto a balbrdia que do estdio o mercado de
peixes. A parrilla espalhada sobre a grelha lambida de leo e gordura. Vizinhos de quando ao Subte
as linhas na costura da cidade que est no homem que est na cidade. No mais. Tudo submerso.
Como se se estivesse plantado em defnitivo aos vages que para nenhum lugar eles levariam. To
somente eles se demorassem de um ponto a outro no esticar da demora at no mais poder. Como se
as horas fossem gordas. Como se as horas se fzesse de um conjunto interminvel delas como de um
leque que se abre mas que no se descola as partes do todo, as hlices-duplas e triplas aos mecanismos
que lhe fzessem girar a durao e nada fosse o que se desprendesse de ali. E ento o que restasse
fosse o esconder-se em cada vago. Em meio turba que segue ao trabalho. Todos cegos surdos
mudos. E arriscar as corridas de vago a vago saltar por sobre as emendas sanfonadas do comboio. E
tornar-se annimo a fuar as bancas de revistas, buscar nelas e por meio delas a desfaatez do fneur
77
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
que nada ele busca, que nada lhe urgente, que nada o comprime direo de um tempo aturdido.
Como se fora o tempo avesso s escanses. E for o caso tu ires s compras, cuida-te, haver sempre
o sopro de um olhar tua espreita. Ainda que sob os disfarces, o teu, o de todos. Evite as compras.
Se te demorares em sebos entre as pginas de um livro a encomendar tua ateno, cuida-te, haver
sempre o testemunho ao encalo de tuas digitais no vasculho do que vasculhaste, na anotao dos teus
interesses. No v aos alfarrabistas! Mister que se abandone os livros o subte as bancas as pistas os
argumentos a narrativa do mundo. Tudo est suspenso. O tempo o presente a cidade o homem. Parece
ergueu-se revelia um muro escuro que turva a viso obstinada em atravessar-lhe as alturas. O outro
lado do muro no mais existe.
4
Ainda assim as palavras. Palavras ainda. Palavras para ento? Palavras sacadas ao carteado
bem mais do que ao alfabeto. Mas ao qu se prestam as palavras se suspenso o muro, se interdita
a fala, se est ao abandono ofcinas grfcas impresses? Se h a delao, a presumida delao que
tambm de palavras que ela se forja! E ento palavras, ainda assim palavras? No estaro elas
povoadas de riscos? No estaro elas intoxicadas da descrena? No estaro elas apascentadas de
toda volpia? Ainda resta a boca de palavras a bocarra cheia de vento e de saliva, condio na que
vagueia o mpeto de que elas se faam, de que elas se lancem, de que elas se projetem como que de
um esforo a fmbria da palavra ela se forma entre restos de comida e cheiros arrancados aos bocejos
e paralisia. Ainda a boca o megafone a caixa de ressonncia o amplifcador a matraca? O homem
diz no. Alis, ele sequer diz no. Ele todo este no que sequer ele diz para que vigore intenso o
seu efeito de negao.
Ainda assim as palavras. Vez mais elas. Como se fora o ltimo objeto de serventia o que se
encontra s valises e se lhas retira de ali. Porque se diz delas elas podem o mundo o subverter dele,
o reinventar dos dias, alvorada sacada aos bolsos de nenhuma prata. Elas, as palavras a fabricam at
a comoo alimento que so da alma aturdida e emparedada. Tempo lugar. Escritura de ms, de
meses, de dias subsumidos em contagem regressiva. Tecer o poema como norte ao homem que no
est na cidade que est no homem. Fazer os volteios que as palavras fornecem. Relocar palavra e
coisa. Faz-las singrar at que lhe seja o porto o pouso o estio. Faz-las vazar dos sentidos que no
esto nelas. Sentido que se lhas imprime por sobre a sua superfcie translcida que nelas delas nada
conduz seno o que se lhas decalca o homem que houve ali ao instantneo de sua feitura. Promover
junturas imenso dspares o homem a. Ele o seu artfce. Fazer que caiba na palavra a cidade de no
mais. O presente que se adultera. O passado que se o inventa. Desligar-se do ao redor no que parece
turvo turva a visada o horizonte a baa como quando ao homem apenas lhe restara o beco. Inventar
epilepsias de ocasio, paragens, personagens, sorvedouros. Fazer os volteios, giros e rodopios a ver
se se cai do tempo. Se se o deforma nos tornos da fbrica onde outros homens ensaiam a sua pequena
cota de morte lenta. Se se o esquece de entre as peas de roupa deixadas aos fundos das gavetas. A
ver se se desgruda do presente na que se estava de todo como se ele fosse o charco e os ps a ele o
mevedio. A ver se se ala ao xtase ele mesmo este de fora do tempo, estranha rabeca desde onde
se sobreleva ao Absoluto, ao Sublime e to logo dele se se perde porque nunca que fora o caso o
remanso a qualquer transcendncia. A ver se se descola a rtmica das horas e revert-las como se se
retroagisse os fatos s encruzilhadas nas que foram homens os aqueles que o ensejaram a srdidos
interesses. Ser se est aos prumos no que se apagam digitais, rastos e fatalismos? Ser para onde
que se volta a evocao? Ser at onde retorna ao homem o que um dia lhe fora? O que um dia
outrora lhe seria? Ser at onde era o descarrilo das pernas e dos passos como quando lhe era a sua
infncia de nunca? Ir at a quitanda situada ao vrtice de duas ruas, a dos Afogados, a da Alegria, l
mesmo onde gastava a vida o Sr. Newton Ferreira que ningum mais dele se lembra, ele que fora ex-
center-forward da seleo maranhense, que dez vezes faliu e que era conhecido de todos na zona do
comrcio? Cutucar as coisas a ver se as coisas elas se mexem no fundo falso onde suposto repousam?
Abrir as portas todas as portas e janelas da casa que havia? Escancarar a casa que houvera. Talvez
78
que nela penetre a luz e com ela o movimento que parece l se dava. Movimento que distinto no seu
mover quando ao dia, ou no quando da noite. Movimento que e que seria o dos olhos inertes daquele
que se pe viglia. Bater as palmas das mos como que num susto ao p das orelhas de todos que no
mais. Traz-los soleira das portas. Como se fora um jogo de esconder e de revelar. Fazer que volta o
que no volta e fazer voltar at a reverso toda a impossibilidade conspirada nos livros dos Sbios, os
seus mistrios. Como se fossem tirinhas de papis cortados estes vultos e o signo sinal que parecem
nos emitem, ensac-los um a um, os espectros que de palavras eles, ensac-los um a um, apenas
e to somente depois de neles fazer o rascunho de alguns nomes. Nomes de logradouros, nomes de
gentes, nomes de afetaes orgnicas, e de estabelecimentos, e de pssaros de que se lembre, e de
frutas nas que se se lambuzava os beios. Fazer com que permaneam cada qual ao espao que lhe
fosse aleatrio e embaralh-los, e bagun-los de forma irresponsvel, e remex-los no dentro do
saco no que se encontram lado a lado tal como nunca antes um dia aquilo aqueles: Rua da Palma,
Rua Alecrim, jirau de plantas, Camboa, Matadouro, Bizuza, Academia Maranhense de Letras, praia
do Jenipapeiro, Helena, sargento Gonzaga, Jos Ribamar Ferreira, siriema, nhambu, Teresa, Rua do
Alecrim, o riso claro de Lucinha, arroz-de-toucinho, Avenida Beira-Mar, Costela do Diabo, Isabel,
Poema Sujo, Rdio Timbira, Botequim do Castro, Maria do Carmo, as palaftas da Baixinha, Centro
Cultural Gonalves Dias, a noite proletria, Penso da Maroca, Rua das Hortas, Josias o enfermeiro,
os matos da Maioba ou da Jordoa, a Quitanda do pai, o corao batendo forte, o Desterro, o tanque do
Caga-Osso, a tina dgua, as noites de sbado, Alcntara, a me, a Movelaria, tudo agora em sendo
feito de palavras, tudo to somente isto, palavras, signo sintoma de que to logo se evola, ainda assim
palavras, tudo em sendo palavras, elas evocao do que nada ningum pode o vislumbre, o delineio.
Povoar o tempo. Destrancar os lugares desnortear os trincos retidos s ferrugens de um tempo suposto
amortalhado. Tempo de outrora? Onde este tempo? Cabe ele ao saco de embrulho? Cabe ele a taa
de um ch de boldo? Tempo mtico de um nunca no que se lhe colhe o que for de ser? Tempo s
fabulaes? Ser h este vis esta viela, esta passagem curta e soturna na que uma vez se penetre
desde Buenos Aires, entre maio e outubro de 1975, e se destile os ares da So Lus do Maranho, ela
inteira ali como quando aos anos 30? Ser que h esta travessa na que atravs dela tempo lugar modo
se recolham e se renovem e tudo junto, e tudo somado, seja a festa seja a fria seja o brado seja o grito
seja o excesso seja a embriaguez seja o tornado, seja o abismo dos cheiros, seja o espantoso pensar
que talvez seja o poema contnuo que extrapola, em desatino, para fora do tempo.
Andr Queiroz, nasceu no Rio de Janeiro. Autor, entre outros, de: O Presente, o Intolervel Foucault e a histria do presente (2003),
Em direo a Ingmar Bergman (2007), Antonin Artaud, meu prximo (2007), Apenas Blanchot (2009).
79
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
DE GRAFIES INCISIONS | Joan Navarro
[4]
Paredes de pedra seca onde se abriga e pateja o gado. Aro de vazio fundo. Infnitude fendida. Pegadas
de cascos. Feixes de saras entre a ondulao das rochas. Ramos de zambujeiro. Ossos brancos e
plumas: Leveza da lembrana.
Traduo: Elisa Andrade Buzzo.
Pinturas: Pere Salinas.
80
[5]
Sou o olhar onde se dobra a tela de luz, o lrio do cerrado, o corpo da casa e a casa, o antlope e a fecha
rutilante, o fruto globular do coentro que se desdiz para fazer-se: A raiz: A desnudez dos incios: A lia.
81
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
[6]
Pedregal despenteado: Pontada: Cinzel com mossas na hora ausente. Constelaes despencadas.
Entre seus braos, o corpo do desconsolo: Os lbios da sutura: Os ps desnudos: Sono de urtiga e
madressilva: O no lugar. Descida.
82
[8]
Aquele frio, aquele imperceptvel movimento do glaciar: Pedras e barro: Eroso e estrias: O vale: O
clice rtico. Esta larva de elipse: Corola escavada. Este som de argila branca dentro da palavra que
nos conforma.
Pere Salinas, Barcelona, 1957. Pintor. Exps na ustria, Espanha, Alemanha, Finlndia, Holanda, Frana, Israel, Sua e em sales
internacionais de arte contempornea como ARCO-Madrid, Art-Frankfurt, Lineart-Gante, Art-Innsbruck e Kunstmark Dresden.
Trabalhou sries sobre o Rquiem de Mozart e os Gurre Lieder de Schnberg, e sobre textos de Hlderlin, Goethe, Eliot, Auden e
Juarroz. Autor, entre outros, de: La vida lenta de Manuel Crespo, Magrana de Joan Navarro, Llibre dels minuts de Gemma Gorga e
NO ON Rquiem de Vctor Sunyol. Publicou, 2008, pela Tnden Atlas (Correspondncia 2005-2007), com o poeta Joan Navarro.
Joan Navarro, Oliva, Pas Valenciano, 1951. Autor, entre outros, de: Magrana (2004), Sauvage! (2007), edio francesa de A. Salvador
e A. Gato, Atlas (Correspondncia 2005-2007), 2008 com o pintor Pere Salinas e traduo para o espanhol de Lola Andrs. Tradutor de
Amado mio, Pier Paolo Pasolini (1986), Esfera. Una antologia de Orides Fontela (2010), e, com Octavi Monsons, de Ossos de spia,
de Eugenio Montale (1988). Traduziu para o espanhol a poeta brasileira Elisa Andrade Buzzo, Noticias de ninguna parte (Mxico,
2009) e Cancin retrctil (Mxico, 2010). Editor da revista digital srieAlfa. art i literatura.
83
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
A morte precoce de Ana Cristina Cesar, poeta carioca cuja obra foi elaborada na virada dos anos
70 para os 80, tornou ainda mais problemtica a recepo de sua obra, que j sofria de molstias
biograflicas advindas da interpretao, na poca dominante, da vida do autor como explicao da
obra. Vide as numerosas reportagens pstumas ao suicdio que enfatizavam a beleza, jovialidade
e inteligncia da musa dos poetas marginais. Porm, essa intensifcao ps-trauma da imagem da
poeta, que sem dvida interps obstculos a uma leitura plural da obra, ambiguamente joga luz sobre
um dos principais problemas postos por ela das complexas relaes entre vida e obra.
A bibliografa crtica clssica da obra de Ana Cristina Cesar, apesar de reconhecer este problema, fxa
terreno muito mais sobre o esquadrinhamento da tcnica de escrita (estilizao do dirio ntimo e da
carta, a fragmentao, a citao, a interlocuo etc.). Podemos encontrar estratgias diferenciadas em
algumas obras, como na biografa feita por talo Moriconi, que tenta a juno entre as duas frentes, e
nas selees pstumas de inditos que, se por um lado ajudaram a construir uma imagem mtica da
autora, tocaram na contradio a partir da qual sua obra se faz.
Enfm, a leitura que se tem hoje da obra de Ana Cristina Cesar perpassada pelo evento de seu
suicdio, seja por uma espcie de interdio da biografa ou um por interesse motivado pela biografa.
Logo, pensar este salto para o no-literrio, para o abismo e o indefnido dentro da obra, um perigo
que no cessa de atrair e enviar convites.
SONETO
Pergunto aqui se sou louca
Quem quem saber dizer
Pergunto mais, se sou s
E ainda mais, se sou eu
Que uso o vis pra amar
e fnjo fngir que fnjo
Adorar o fngimento
Fingindo que sou fngida
Pergunto aqui meus senhores
Quem a loura donzela
Que se chama Ana Cristina
E que se diz ser algum
um fenmeno mor
Ou um lapso sutil?
Inconfsses 31.10.68
CAIO DAS PGINAS NOS TEUS BRAOS | Heleine Fernandes
84
No poema de Inditos e Dispersos, Ana Cristina personagem. Na obra de publicao pstuma, a
autorreferncia se faz muito mais evidente, tanto quanto a mistura da escrita privada do dirio, da
carta, do caderno teraputico com a dimenso pblica da literatura. Em A teus ps, a presena quase
constante de uma annima personagem feminina, em primeira pessoa, que chama para a esfera da
intimidade coloca essa mesma ambiguidade, entre o cotidiano e o esttico, o intuitivo e a tcnica.
O poema Soneto faz parte de uma srie nomeada DIRIO no dirio INCONFISSES, que,
apesar das negativas, afrma a escrita pessoal do dirio. Ento, de algum modo, a possibilidade do
dirio s se faz pela negao do mesmo, ou do imaginrio em torno do mesmo. Em resenha s Cartas
de lvares de Azevedo, Ana Cristina Cesar remete a esse lugar comum acerca da escrita da intimidade,
de que diante do papel fno da carta, seramos ns mesmos, com toda a possvel sinceridade verbal:
o eu da carta corresponderia, por princpio, ao eu verdadeiro, espera de correspondente rplica,
vaticinando: A limpidez da sinceridade nos engana, como nos engana a superfcie tranquila do eu.
Em Soneto, que j nega a ideia de dirio pelo anncio da tcnica do texto, o nome Ana Cristina
(Cesar) um questionamento labirntico que no encontra paradeiro em uma identidade fxada pelo
nome, ao contrrio, age como uma mquina geradora de discursos que abre o cho das certezas.
A pergunta pela identidade produz fuxo, sequncia de imagens (da louca, da s, da donzela loura,
da argumentao de defesa em um possvel tribunal), j sendo esboado um dos signos recorrentes
no A teus ps, o dos meios de transporte. Transporte no sentido do translado, do deslizamento para
outras realidades possveis no aqui do poema. Na segunda estrofe, o inqurito sobre a verdade de si
mesma desliza para um mise en abyme
e fnjo fngir que fnjo
Adorar o fngimento
Fingindo que sou fngida
A estrutura de desdobramentos lingusticos que cria uma vertigem semntica retoma a outra ponta
desencapada da questo da sinceridade: a poesia fca mais fraca quando o poeta trabalha em cima do
que no conhece, e mais forte quando seus medos e pudores recalcados emergem da fora do texto, a
despeito de seu controle consciente., a volta do parafuso que faz de Mrio de Andrade um bom leitor
das cartas de lvares de Azevedo. Consciente e inconsciente, loucura e sanidade conjugados numa
escrita em que literrio e no-literrio no se pem em cotejamento simplrio, sendo dos limiares e
das zonas de contato o lugar do texto.
No poema, as fguras clssicas consolidadas pela tradio, o soneto e o mise en abyme, servem
de andaime dissoluo do eu. A conjugao de ideias to opostas quanto a medida e a perda de
referencial, a fliao tradio e o ocultamento do sobrenome (que associa o sujeito a uma linhagem)
parecem apontar para o uso o vis para amar, um estabelecer relaes pelo vis, pela negativa, que
detona o fngimento. No abismo de espelhos da 2a estrofe, a estratgia da sinceridade se faz pela
negao do discurso sincero, atravs da fco.
Em outro poema do Inconfsses, aps o eu deliberar o desejo de se conjugar ao espao exterior, em
uma espcie de comunho romntica com o todo, a ltima estrofe conclui
Eu no sabia
que virar do avesso
era uma experincia mortal
Inconfsses novembro/68
Aqui, amar pelo vis, virar do avesso que encontra lugar no poema, desemboca em uma experincia
de contato com a morte. O erotismo presente na quase totalidade da obra de Ana Cristina Cesar,
o desejo de continuidade (unidade) entre os seres, dito j desde a capa do nico volume de poemas
85
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
publicado pela poeta, A teus ps, em letras minsculas brancas sobre fundo vermelho e rosa choque.
Para Georges Bataille, o erotismo o desejo de continuidade que no pode se realizar de todo, pois
as relaes se do entre seres descontnuos, fragmentrios, que fatalmente teriam sua diferena
anulada pela integrao total na continuidade. Desse modo, o desejado mergulho na continuidade
para os seres descontnuos se liga morte da alteridade, s sendo possvel experimentar sutis lapsos
de continuidade. Perdi um trem. No consigo contar a histria completa. Em Ana Cristina Cesar,
a alteridade , sobretudo, afrmada, sobrando, como ocasio continuidade, a apropriao, pelos
leitores, dos sucessivos vazios de um discurso intercalado de saltos e cortes. A experincia da morte,
assim, se converte na experincia da criao de sentido, de diferenas. Felicidade se chama meios de
transporte. Meios de Transporte foi um dos ttulos imaginados para o A teus ps, o que nos permite
uma correspondncia entre felicidade, meios de transporte e estar aos ps de outrem, ganhando a
despersonalizao uma perspectiva vital e solar.
A escrita obcecada , a paixo segundo Ana C., interpe sempre um outro, criando uma esttica da
seduo, da alegria, sem reduzir o choque da alteridade, fazendo a performance do erotismo, do que
escapa. Baudelaire, cujo erotismo da passante norteou toda obra, pensou o suicdio como imagem
para a modernidade, sendo o heri moderno aquele que se destri para mudar de pele.
A interlocuo um dos vieses desse erotismo da dissoluo do eu, ocorrendo no somente atravs
do apelo a um leitor, mas tambm pelo dilogo com obras de outros autores, mediado pela traduo.
No Fogo do Final, vemos a apropriao do ltimo verso de Ao Leitor, para voc que escrevo,
hipcrita. No poema de Ana Cristina Cesar, a sentena irnica do verso de Baudelaire, de igualdade
e irmandade entre autor e leitor ( Hipcrita leitor, meu igual, meu irmo!, na traduo de Ivan
Junqueira), cumprida risca, pondo a autoria em abismo, perdendo-se de vista uma origem do texto
em prol das infnitas possibilidades de experincia de criao de sentido, das infnitas possibilidades
de morte, das infnitas possibilidades de leitura e traduo. A traduo o lugar da metalinguagem da
leitura, sendo um dos principais mecanismos da construo dessa escrita da alteridade ou do suicdio,
no seu sentido moderno. Diversos poemas tematizam o ato da leitura e da traduo, sendo mais
emblemtico o trecho de Luvas de Pelica
Recito WW pra voc: Amor, isto no um livro, sou eu, sou eu que voc segura e sou eu que te
seguro ( de noite? estivemos juntos e sozinhos?), caio das pginas nos teus braos, teus dedos
me entorpecem.
O eu l Walt Whitman. Traduo e leitura aqui se sobrepem, novamente sendo evocado o efeito de
fuso entre autor e leitor. A escrita passa a ser encarada como suporte para uma relao amorosa que
se d pelo vis, pelo obstculo e pela interrupo, j que pela queda (ou pelo salto) que autor e leitor
se abraam e o poema ganha corpo, caio das pginas nos teus braos. Assim, a escrita se faz atravs
de e por uma experincia: de leitura, de abertura, fatalmente.
Heleine Fernandes, poeta, professora e mestranda em teoria literria na UFRJ.
86
MORTE-RESSURREIO DE LADY LAZARUS | Ney Ferraz Paiva
Ney Ferraz Paiva, nasceu em Belm, poeta, autor de no era suicdio sobre a relva, 2000, nave do nada, 2004, val-de-ces, 2008 e a
plaquete eu queria estar com vocs hoje, 2012. Curador do projeto Sendas: pontos e fugas da linguagem.
o frio o gs os barbitricos falharam
a arte de morrer interminvel
mar onde manobras de novo
fazes correr a linguagem entre Boston & Londres
guas antigas que envenenam
como um amplo pomar ou a lua
o mal chega ao fm j recomea
um aborto uma apendicite
torrente cada vez mais profunda
nada que te fzesse adoecer mais do que todos
claro a dor o dom era teu a maior parte
esse negcio de viver a irracionalidade
chega-se l estanca & se est de volta
uma mulher que morre abelha rgida
outrora rpida sarcstica imprevisvel
87
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
ENTRE MUITOS | Wislawa Zsymbrska
Sou quem sou.
Inconcebvel acaso
como todos os acasos
Fossem outros
os meus antepassados
e de outro ninho
eu voaria
ou de sob outro tronco
coberta de escamas eu rastejaria.
No guarda-roupa da natureza
h trajes de sobra.
O traje da aranha, da gaivota, do rato do campo.
Cada um cai como uma luva
e usado sem reclamar
at se gastar.
Eu tambm no tive escolha
mas no me queixo.
Poderia ter sido algum
muito menos individual.
Algum do formigueiro, do cardume, zunindo no enxame,
uma fatia de paisagem fustigada pelo vento.
Algum muito menos feliz,
criado para uso da pele,
para a mesa da festa,
algo que nada debaixo da lente.
Uma rvore presa terra
da qual se aproxima o fogo.
Uma palha esmagada
pela marcha de inconcebveis eventos.
Um sujeito com uma negra sina
que para os outros se ilumina.
E se eu despertasse nas pessoas o medo,
ou s averso,
ou s pena?
Se eu no tivesse nascido
na tribo adequada
e diante de mim se fechassem os caminhos?
A sorte at agora
me tem sido favorvel.
Poderia no me ser dada
a lembrana dos bons momentos.
Poderia me ser tirada
a propenso para comparaes.
Poderia ser eu mesma mas sem o espanto,
e isso signifcaria
algum totalmente diferente.
Traduo: Regina Przybycien
88
WISLAWA. FEVEREIRO, 2012 | Antnio Moura
Ao ouvir falar de tua partida, um curioso
silncio envolveu o cenrio da vida no
o silncio formal de uma grave solenidade, mas
o que antecede rufar de tambores o salto
do palhao numa tina dgua, o breve silncio
que separa a anedota e sua sonora gargalhada,
no que tua morte seja uma piada, mas porque
tua arte ria mesmo no instante em que chorava.
No instante em que a lmpada de tua janela
apagou-se numa rua no sei bela ou medonha,
pensei, no tenho mais motivo para ir Polnia,
tomar ch com uma velha sei l alegre ou chata.
Quando agora a brasa de teu cigarro se apaga,
aquele que na capa do livro envolve tua face
de anjo saltimbanco numa nuvem de fumaa,
outra nuvem, de leve tristeza, nubla meu rosto,
mas ao mesmo tempo pressinto a morte
atrs de mim, fazendo caretas palhaada,
fazendo pouco da excessiva grandiosidade que
evitavas tomasse conta das palavras, fazendo
a tragdia parecer engraada, assim do jeito
que tu gostavas que tu gostas Szymbrska
Antnio Moura, nasceu em Belm, poeta, autor de Rio Silncio, 2004 (Lumme), Sombra da Ausncia, 2011 (Lumme).
89
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
O SACRIFCIO | Giselda Leirner
Maria Rita e Rita Maria so irms. Para no
confundir, uma morena, era chamada de Maria, e
a outra, loira, de Rita.
Nasceram no dcimo dia do stimo ms, no
Brasil, de pais imigrantes vindos da Blgica no
tempo da Segunda Guerra Mundial.
Por que estes nomes? No foram escolhidos
pelo pai, que no conhecia bem a lngua nem os
costumes do novo pas. Foi no cartrio que se
deu a confuso. Seja porque no tinha entendido
que as meninas eram gmeas, seja porque o
ofcial que atendeu o aturdido jovem, que no
sabia o que fazer com duas flhas, resolveu por
conta prpria facilitar o caso. E, assim receberam
nome as flhas de Moiss e Sara Lambert, cujo
sobrenome original era Lambergen.
As meninas cresceram saudveis, em uma velha
casa com quintal, onde vicejavam rvores de
abacate e mamo, alm de uma bananeira da qual
nenhum cacho pendia, mas que deixaram fcar,
pois era um sinal de brasilidade para a famlia
que deixara na Europa a idia de que a banana
era fruta nobre, s servida quando havia algum
doente, ou quando trazida por uma visita em vez
de fores ou bombons.
O pai trabalhou em uma fbrica, a me fazia
costuras para fora e a av cuidava da casa e
preparava a comida. Falavam idiche, lngua de
seus antepassados, mas aprenderam o portugus
que era usado com os estranhos e as flhas.
A me engravidou. Perdeu o flho de sete meses
nas mos de uma parteira.
Foi uma noite de gritos e panos ensanguentados.
Pela primeira, mas no a ltima vez, as gmeas
se deitaram apertadas em abrao sob as cobertas,
tampando os ouvidos uma da outra com as
pequenas mos.
Em poucos dias morreu a me. O pai fechou-
se no quarto, e a av andava de um lado para o
outro da casa, gritando e chorando.
Nesses dias as meninas brincavam na rua o
tempo todo. s vezes iam comer na casa de
uma vizinha que lhes dava pastis de palmito
deliciosos e outras guloseimas. Os pastis
fcaram na memria junto s lembranas dos
flhos da vizinha, anotadas por Maria em seu
dirio. Sempre escreveu. J adulta tornou-se
escritora.
Apesar do ambiente tenebroso em casa, aqueles
foram momentos em que mais gozaram da alegria
que lhes proporcionou a liberdade de fazer o que
quisessem. A morte lhes dera a oportunidade de
viver.
Poucas semanas depois foram acordadas por um
tiro e, novamente os desesperados gritos da av.
O pai, trancado no banheiro, suicidou-se com um
tiro de revlver. Nesses dias confusos, com toque
de melodrama, as meninas foram recolhidas
casa da boa vizinha, onde fcaram por um tempo.
No sei quanto.
Quando voltaram para casa, sem pai nem me,
encontraram um lugar suspenso, espcie de no-
lugar, onde as coisas aconteciam sem que as duas
irms fossem incomodadas.
A av, lenta e acabrunhada, passou a fazer aquilo
que sempre fzera.
Maria e Rita no perguntavam sobre o acontecido.
Era como se nunca tivessem tido pai ou me, e
no lhes dizia respeito a tristeza da av, cada vez
mais velha e doente.
Foram introduzidas em um mundo sombrio e
assustador quando matriculadas em um colgio,
velho casaro no bairro dos Campos Elseos.
Tinham ento seis anos, mas frequ entavam
classes diferentes. S se encontravam na hora do
recreio. Ficavam sentadas. Duas meninas com seus
90
uniformes escuros, sempre fazendo fla para tudo.
No participavam das brincadeiras das colegas.
A menina loira e a morena olhavam tudo o que
acontecia sua volta, e eram estranhas para as
outras e para elas mesmas. Ainda no sabiam o
que era o desejo, mas eram levadas por algo que
sentiam ser uma vontade. No sabiam de qu.
Em uma vida cabem muitas vidas.
Por que a av as tira daquele colgio, no saberia
dizer. Sei que passam para outra escola, ainda
maior, no centro da cidade, para onde vo de
bonde todos os dias.
Ali, caminham por longos corredores com suas
lancheiras penduradas no ombro, cujo cheiro de
couro cru, quando abertas, as invade e ao seu
lanche de po com mortadela.
O prdio, enorme e assustador, em cujo ptio
encontra-se uma pequena piscina redonda com
esguicho no centro, do qual nada escorre,
assunto de comentrios medrosos, de fantasmas
das meninas que ali tinham se afogado.
Maria e Rita viviam assim rodeadas de horrores
desconhecidos que apareciam em frutas
venenosas, guas poludas, afogamentos e
fantasmas cobertos de lenis brancos.
Os horrores imaginrios eram mais vivos do que
aqueles que aconteciam sua volta.
A av morreu. Maria e Rita foram separadas.
Uma foi criada pelo dono da tecelagem onde o
pai trabalhava. Tanto pai como flha, usados de
maneiras diferentes, foram sempre servidores do
desejo de consumir, ingerir e deglutir do patro,
que reinava na enorme manso rodeada por
jardins, que a isolavam de tudo o que acontecia
fora de seus portes.
Johannes Von Fustenberg era enorme assim
como sua fortuna. Imenso, assustador pelo
tamanho, o olhar brilhante sob espessas e escuras
sobrancelhas.
Possua uma coleo de arte, que s era apresentada
a convidados que chegavam de fora do pas, em
um evento que de cultural nada tinha alm do
nome. Jantares faustosos eram servidos a pessoas
que ali vinham sem ao menos conhecerem o seu
anftrio, e de onde partiam bbadas e encantadas
com a generosidade oferecida.
Maria, vestida de escuro, com gola e avental
brancos, circulava com as bandejas onde eram
servidas caipirinhas, cerveja e champanhe.
Ao terminar o festival das artes, tudo voltava ao
silncio. O senhor retirava-se, o olhar pesado de
ressaca. Nada havia que realmente o satisfzesse.
Vivia s. Os flhos raramente vinham v-lo.
Maria, sempre tmida e assustada, deixava-se
conduzir pela governanta, que lhe ensinava,
sobretudo, como se manter ausente e servidora
ao mesmo tempo.
Era frgil, muito magra e plida apesar de comer
bem os pratos cheios dos restos, que lhe eram
servidos na cozinha.
O medo era o mesmo. S desaparecia nas raras
vezes em que encontrava a irm.
Rita tinha sido recolhida em um convento. A
madre superiora era uma mulher especial. Judia,
tinha se convertido ao catolicismo.
Estudiosa, saa pouco de sua cela repleta de
livros. Conversava pouco. S quando uma das
jovens vinha procur-la para conselhos.
As irms encontravam-se uma ou outra vez nos
jardins da manso. Quase no falavam. Rita
tinha enorme admirao pela madre, que dizia
ser belssima e serena em seu retiro. Seu nome
era Edith.
Maria gostava de ler, e aproveitava as horas
livres para se encerrar na imensa biblioteca do
patro, cujos livros empoeirados pareciam jamais
terem sido abertos. Mesmo assim, algum tinha
organizado a biblioteca de maneira primorosa.
Havia de tudo para o deleite de Maria. Desde os
flsofos gregos at os msticos da Idade Mdia.
Alm de romances, poesia, tambm eram muitos
os livros de histria, astrologia e mitologia.
Quando perguntou governanta sobre quem tinha
feito tal escolha, com olhar triste, disse ter sido
a patroa, j falecida. No quis dizer nada, alm
disso. Um ar de mistrio reinava na biblioteca
assombrada por seus fantasmas e a mulher que
ali vivera. Seu nome, Simone.
Ambas, Edith e Simone, foram as mulheres que
povoaram os sonhos de Maria e Rita.
Um dia em que Johannes passeava com seus
cachorros pelos jardins, avistou as duas jovens
sentadas em um caramancho. Apesar de serem
uma loira e a outra morena, eram idnticas em
sua beleza transparente, os cabelos lisos presos
com uma fvela, as mos fnas pousadas no colo.
Eram uma nica e longilnea imagem de virgem
romnica. Se algum pudesse v-las realmente,
91
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
com olhar claro, veria ali em seu percurso a vida,
o esprito materializado em singularidade.
Conversavam pouco, mas quando falavam, suas
vozes pareciam seguir direes contrrias. Sendo
o corpo e mesmo, era a este que se dirigia o afeto
no qual se encontravam. No eram um ser e seu
duplo. O duplo parte sempre do princpio de um
modelo original do qual se separa a cpia. Aqui
no havia cpia. Eram Um nico ser, apesar de
levarem vidas separadas.
Esse Um, mesmo quando se apartavam indo cada
uma a seu destino, continuava Um. No havia
ainda o amor, pois o amor aparece na diversidade.
Esta s surgiu atravs da experincia pela qual
passaram mais tarde quando tornaram-se seres
abertos um para o outro.
Ao v-las ali sentadas, Johannes parou, tomado
por uma fraqueza que o obrigou a recostar-se em
uma rvore, de onde fcou observando.
As duas irms se despediram, e ele retirou-se
para o seu suntuoso quarto de dormir. Ficou
sentado durantes horas, com um copo de brandy
que esvaziava enquanto ia sendo tomado por um
sentimento de fria, desejo, uma enorme vontade
de possuir para depois destruir. Era inexplicvel
o que sentia, mas de uma coisa estava certo.
Possuiria as duas jovens. Seriam suas, faria delas
o que desejasse. Queria as duas. Juntas. Em sua
cama, ou onde quisesse.
Atravessando por uma mistura de dio e
selvageria at ento desconhecida, caminhava
pelo quarto, batendo nas paredes com a bengala.
No dia seguinte, resolveu. Vestiu-se com esmero.
No deixava de ser impressionante fgura de
homem, com os cabelos grisalhos e um ar de
dignidade.
No convento, recebido pela Madre Superiora,
convenceu-a de que se ocuparia da educao de
Rita e que, estando as duas irms juntas, seria
bom para ambas. No s isso, prometeu uma
vultuosa doao em dinheiro, para que fosse
usado nas reformas do prdio que se encontrava
bastante deteriorado.
Mandaria buscar a menina, com o motorista e a
governanta. Despediu-se com seu ar de dignidade
e poder, deixando a madre convencida de que
fazia a coisa certa.
Em casa, fez algumas modifcaes,
transformando toda a parte superior no nico
lugar a ser usado como moradia. Apenas a cozinha
escura permaneceria no andar de baixo, junto aos
quartos dos empregados, que se movimentavam
pela casa atravs de corredores, sem incomodar
o patro.
Ao lado do seu quarto, arrumou um outro tambm
vasto e confortvel, onde fcariam as duas jovens.
A imensa biblioteca continuaria no andar de cima.
Ali instalou, ao lado da janela, uma mesa redonda
coberta por uma toalha de damasco branco, um
candelabro de prata e trs cadeiras.
As refeies subiam da cozinha at a biblioteca
por um pequeno elevador.
Dessa forma, montou o cenrio para o que
imaginava seria sua vida particular, sem intruses
nem rudos. Seus ces de caa continuariam ao
seu lado, e os levaria para passear todos os dias
nos jardins que rodeavam a manso. Como vivia
da renda dos aluguis de suas propriedades, que
ocupavam quase toda a vila, alm da tecelagem,
seu trabalho maior se reduzia a visitar seus
arrendatrios todos os fnais de ms.
Quando chegaram, Maria e Rita foram levadas ao
seu quarto pintado de branco, onde altas janelas
davam para o jardim. Havia fores brancas em
vasos de cristal, e as duas camas cobertas por
colchas, tambm brancas, transmitiam um ar de
limpeza e harmonia.
Johannes chamou a governanta e disse que no
iria mais precisar de seus servios. Deu-lhes uma
boa indenizao e no permitiu que se despedisse
das jovens que, sentadas no quarto, diante das
janelas, olhavam para fora em silncio. No
sabiam bem qual era seu papel ali. Perceberam
que no seriam domsticas. Temerosas, no
diziam uma palavra.
Assim comeou uma longa espera, s
interrompida quando eram chamadas para comer
em companhia do senhor, ou quando ele as trazia
para seu quarto onde fcavam sentadas olhando
para o nada. Os ces fcavam ali deitados no
mesmo silncio.
Johannes continuava sua vida de sempre, com a
nica diferena de que agora no recebia mais
visita alguma. Saa de manh com os cachorros,
tarde ia cuidar dos negcios, s voltando ao
cair da noite.
Ficava ento em seu quarto, fumando e bebendo
o brandy que aquecia com as grandes mos. s
92
vezes mandava que lhe trouxessem uma garrafa
de champanhe gelada que ele partilhava com
Maria e Rita. S lhes dirigia monosslabos, mas
era gentil e delicado. Fazia com que sentassem
aos seus ps. Gostava de lhes passar a mo na
cabea, da mesma forma como agia com os
animais.
Numa das tardes em que voltou da cidade para
onde tinha ido de manh bem cedo, trouxe dois
quimonos brancos e deu-os a Maria e Rita. Eram
idnticos na alvura e no tecido de seda pesada.
As irms passaram a andar pelos quartos como
gueixas graciosas e transparentes, s os ps
descalos e as mos aparecendo debaixo de
espesso tecido. Tiveram permisso para fcar na
biblioteca, e assim passavam seus dias, lendo e
escrevendo. Maria aos poucos foi se interessando
mais e mais pelos livros de novelas gticas. Tinha
um especial fascnio pelo horror desta literatura.
Lia tudo, desde Edgar Allan Poe, Hoffman, at
as trs irms Bront, De Quincey, Mary Shelley,
Wilde, Ann Radcliffe, e muitos outros.
Tomava notas para um romance que j comeava
a se delinear em sonhos de desdobramentos e
mortes. Esses provocavam-lhe sobressaltos no
muito diferentes daqueles de sua infncia, com
seus desejos primitivos e pavor... Vida e morte,
realidade e irrealidade para ela no tinha mais
limites claros.
O mesmo se passava com Rita, mas de forma
diferente, Lia com fervor religioso os grandes
msticos, obras de Meister Eckhart, So Joo
da cruz, Santa Teresa e Edith Stein, que lhe
recordava a Madre Superiora do convento.
Ambas sua maneira trilhavam o fantstico,
vivendo dentro de si a oposio entre esprito e
alma em sua unio csmica.
Decorreram alguns meses em que nada parecia
acontecer, a no ser as mudanas de clima, os
sons que vinham de longe, de pssaros, vozes
de homens ou crianas. Mudanas existiam,
mas nada se percebia, pois o que vinha, crescia
vagarosamente, de maneira sutil, at que um dia
irrompeu.
Johannes passou de amorosa e delicada fgura
paterna a rude e brbaro algoz, com alternncias
de humor. Comeou a aparecer uma crespa
rusticidade nos gestos. Os cabelos e barba
densos cresciam na mesma medida. Passava
repentinamente da tranquilidade agitao.
Ficou encerrado no quarto vrios dias, at que
resolveu levar Maria, Rita e os cachorros para
passear no jardim. Com cuidado ps longas
coleiras com longas correntes nos pescoos das
jovens e dos animais.
As irms, felizes de estar pela primeira vez fora
de casa, respirando o perfume e sentindo na
pele o sol que j desaparecia aos poucos, no
se incomodaram em estar presas por correntes.
Andavam tranquilas, atadas a uma mo forte, que
as mantinha assim, como duas brancas garas
presas para no voar. Mesmo se pudessem, no
teriam voado naquele momento, tal era a doura
que sentiam no ar e a paz que lhes vinha com
a brisa suave e calma que aos poucos foi se
transformando.
Um vento seguido de fortes rajadas trouxe
repentinamente a tempestade e o rumor do mar
distante que se fazia ouvir.
O cu tornou-se rapidamente negro, iluminado
por raios que cortavam. Caa uma forte chuva.
Apesar de encharcados e dos ganidos e puxes
dos ces assustados, caminharam vagarosamente
at a casa.
No havia empregados neste domingo. Subiram
aos quartos onde Johannes, removendo-lhes
as coleiras, ordenou que tirassem as roupas
molhadas. No se moveram. Tomado pela fria
que o acometia nos ltimos tempos, arrancou-
lhes a roupa do corpo. Quando as viu nuas
pela primeira vez, absolutamente idnticas,
foi tomado por uma vertigem que o obrigou a
sentar-se, olhando para as mos trmulas como
se as visse tambm nuas e pela primeira vez.
As duas jovens continuaram em p, olhando
para fora, onde a tormenta aumentava. Estavam
calmas e esperavam. Johannes mandou que se
deitassem na imensa cama e, sentado frente
lareira, ali fcou por muito tempo, at amainar o
temporal.
Maria e Rita j dormiam, de mos dadas.
Chegou-se cama e olhou longamente os corpos
deitados. Eram magras, muito brancas, s se
diferenciavam pela cor dos cabelos. Cobriu-as e
deitou-se no sof, onde fcou bebendo at dormir.
Ao amanhecer teve um sonho curto e violento.
Sua mulher o olhava e ria. Um riso luciferino.
Subiu em seu corpo e, ainda rindo, cavalgou
93
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
sobre ele e fez com que a penetrasse. Quando
olhou para o rosto da mulher, eram as duas
cabeas gmeas, assim como Janus, viradas para
lados opostos. Acordou com seu prprio grito de
terror.
Foi at a cama e, com inusitada selvageria,
possuiu primeiro uma, depois a outra, e assim
continuou at chegar ao ponto de exausto,
quando adormeceu pesadamente.
Sem pronunciar palavra, trancaram os ces
no banheiro, vestiram os quimonos brancos e
muito vagarosamente, sem nenhum sobressalto,
cobriram com um travesseiro o rosto do homem
que agora era s um corpo.
Enquanto Rita segurava com fora o travesseiro,
Maria, com uma navalha retirada da sala de banho,
cortou, num golpe certeiro, a jugular de lado a
lado do pescoo. No houve muita luta. Ficou ali
sangrando, feito imenso boi esquartejado.
Movimentando-se como em cmara lenta,
retiraram os quimonos encharcados de sangue,
os deitaram sobre o corpo, onde foram se
transformando em pesado vermelho, que agora
inundava a cama inteira.
Lavaram-se e vestiram suas velhas roupas.
Desceram a longa escadaria sem fazer rudo e em
poucos segundos j estavam do lado de fora, onde
o dia comeava a clarear, lmpido e fresco depois
da tormenta da noite passada. Caminharam em
direo ao convento, que no era longe dali. Ao
chegarem, perguntaram por Madre Edith, e lhe
contaram tudo em poucas palavras. A Madre nada
disse, s aproximou-se do crucifxo, ajoelhou-se,
e assim fcou por longo tempo.
As irms permaneceram de p. Esperando.
Sempre esperando. Depois, encaminhadas a uma
cela, dormiram longamente.
Foram acordadas pela Madre, que lhes deu
dinheiro e instrues para chegar at o lugar
que ela escolhera. Deu-lhes tambm bilhetes de
nibus e as passagens areas que as levariam para
o pas de onde tinham vindo seus pais. Beijou-
lhes na testa, abenoou-as, e as acompanhou at
as pesadas portas, por onde saram sem nada
dizer.
Estavam livres, e assim se sentiram. No incio,
acanhadas, foram aos poucos trocando palavras
simples e ternas como se estivessem falando e
vendo tudo pela primeira vez.
Sempre de mos dadas, partiram silenciosamente
atravs da grossa neblina e desapareceram aos
poucos a caminho de uma nova vida.
Entre o sagrado e o profano no h diferena.
O profano pode-se tornar sagrado.
E o sagrado, desaparecer e ressurgir sempre.
Nada est longe do sagrado,
que nunca deixa de existir.
Giselda Leirner, nasceu em So Paulo, escritora e artista plstica. Frequentou cursos de arte com Di Cavalcanti, Yolanda Mohalyi e
Poty Lazzarotto. Estudou na Art Students League e na Parsons The New School of Design, em Nova York. Participou das Bienais de
So Paulo de 1953 e 1955, alm da grande mostra Tradio e Ruptura em 1984. Suas obras integram os acervos do MASP, Museu de
Jerusalm, MAM-RJ, MAC-USP e Pinacoteca do Estado de So Paulo, entre outros. Publicou A flha de Kafka (contos, Massao Ono,
1999 traduzido para o francs e editado pela Gallimard em 2005), Nas guas do mesmo rio (romance, Ateli, 2005) e O nono ms
(romance, Perspectiva, 2008).
94
ANNE OF AMY DEAD HEART? | Juliete Oliveira
Juliete Oliveira, nasceu em Palestina-PA, poeta e ensasta.
morres excepcionalmente
o rio enganoso da felicidade
no mesmo um curso vivel
guiada pela senhora destruio
rude egosta o olhar negro
autntica inimiga de deus
de todas as farsas
morres agora pelo excesso
o excesso foi teu modo de vida
teu perde-e-ganha tua anarquia
alma insone pele acetinada
no perdias como chatterton
para a stira improvisada do dia
a loucura tambm tem seus xtases
prmios & recordes secretos
virada ao avesso levitas ao redor do fogo
sem qualquer possibilidade de ajuda
sem msica nem meteoros
95
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
E QUEM CONSIDERA ALGO DE SBITO | Mario Arteca
Traduo: Dirlen Loyolla & Fabrcio Gabriel de Souza
Mario Arteca, nasceu na Argentina, 1960. Public: "Guatamb" (Ts- Ts, 2003), "La impresin de un folleto" (Siesta, 2003), "Bestiario
blgaro" (Vox, 2004), "Cinco por uno" (Vox, 2008), "Horno" (Al Margen, 2009), "Cuando sal de La Plata" (CILC, 2009), "Nuevas
impresiones" (La Calabaza del Diablo, Santiago de Chile, 2010) y "La orquesta de bronces" (Goles Rosas, Mar del Plata, 2010) e Vinil,
Lumme 2012. (Mario Arteca ha sido incluido en las antologas de poesa argentina, latinoamericana y europea).
E quem considera algo de sbito
nem sempre suplanta as questes mais banais
para os outros. Incio de frase e resduos,
sintomas, por estigma move um azulejo,
do norte. Mailica, por entre a cermica vejo-te
agora em teu lugar, entre a metade e um quarto de caminho,
selva-selvaggia. A referncia estirpe,
matiz e passo, pois que logo tiraro a mscara.
D-me-a, outra vez, que com a passagem de uma nota
sugere a cortina em favor do media res: sucumbiste.
Irs querer menos: fazer no realizar.
Este tempo incute um repouso de charcos
e certa garoa que no cessa.
Diz-se edema onde se deveria dizer paroxismo,
agora e para sempre, indcil; taxar aquilo
como imperturbvel, no sonoro, tratando-se
de uma vida cujo mobilirio apenas purgatrio
ou ante-sala de permutaes. Que vida
em contraste, que maisculo escambo
de retratos-falados, entre servos e irmos de leite.
A certa altura, restaurar o olhar ser
indcio de uma luta desigual, nenhuma guerra
resume suas marcas e acomoda o leito
e rios cujas almas carecem do mnimo balbucio.
No ameaa, a sara ardente. De propsito?
No, esse no Deniz, certo demiurgo, braso
que reduz o porttil imbricao duchampiana.
E outra vez o acessrio que incrusta, a bicadas,
a arte em privilgio. De novo o roar
da mochila. Pesada remessa, no? No entanto,
descreve, defende utilidade onde antes
adivinhava o cancro de crebros para nada.
Dedos depilados encimando uma falha de galxias
Algo bem heterogneo, todo teu, corresponde.
O espelho de Kane solido elevada a ene. Ser verdade:
rplicas de efgies travam comrcio por complacncia;
so os limites do tdio no instante de retribuir,
e indivisvel, nico visvel.
96
QUELLO CHE TU VUOI | Claudio Oliveira
minha ltima noite na Itlia. Minha ltima
noite em Cefal, na Siclia. Estamos todos
reunidos numa casa noturna que fca, como
tantas outras, beira do mar mediterrneo,
construda sobre a areia da praia. Convidei
muitos amigos da escola de italiano, professoras
e tambm alguns amigos das professoras vieram
para esta minha ltima noite em Cefal. Mas
para mim h apenas duas pessoas ali: Liliana e
Keneth. Desde o primeiro momento em que vi
Liliana, desde o primeiro momento em que vi
Keneth, no consigo mais me interessar por
ningum na Siclia. Liliana a mulher com quem
eu gostaria de me casar: linda, inteligente, de
humor veloz e demolidor. Pequena, belas formas,
lindos cabelos, que escorrem como uma seda
sobre seus ombros. Belos e grandes seios, um
rabo maravilhoso. Uma donna siciliana, que nas
formas se assemelha tanto a uma garota carioca.
impossvel no fcar olhando para ela durante a
aula. Keneth um prncipe irlands, cabelos e
plos muito louros, pele clara, agora bronzeada
pelo sol da Siclia, tornando-se ora rosada ora
dourada, e olhos ultra-azuis. Silencioso, lacnico,
enigmtico. E muito, muito tmido. Tento falar
mais longamente com Liliana durante a noite.
Ela ainda est muito desconfada. minha
professora na escola. Veio minha despedida, o
que, certamente, no comum, no seu caso.
Volto-me para Keneth, conversamos ao p do
ouvido. Conto a ele o que estava falando com
Liliana. Ele tambm est, como eu, apaixonado
por ela. E o que ele sente por mim, talvez nem
mesmo ele saiba. De algum modo somos um
threesome. Liliane e Keneth ocuparam os meus
dias e as minhas noites, desde que cheguei a
Cefal. Agora, devo partir, deix-los, sem saber
se um dia os reencontrarei. Liliana fnalmente
parece comear a acreditar em mim. Talvez no
acredite mais que eu seja apenas mais um turista
estrangeiro querendo me dar bem. Pergunto a
ela, no nosso momento mais intenso na noite,
por que ela est na Itlia e no no Brasil. Ela me
responde: porque nasci aqui! Eu insisto,
perguntando por que ela nasceu ali. Pergunta
para a qual no h resposta. Ela simplesmente
sorri, porque sorrir a nica resposta possvel.
Eu digo: no justo! Ela olha para o cho.
Chega a hora de ela partir. J devem ser umas
duas horas da manh e ela trabalha no dia
seguinte. Depois de um beijo e de um longo
abrao, ela se vai. Resta Keneth, que, nesta noite,
deixou seu habitual grupo de amigos austracos e
eslovenos e veio para a minha despedida. Eu lhe
agradeo por ter vindo, ao que ele me responde:
my pleasure. Eu estou embriagado, depois de
ter bebido trs cervejas e trs drinks de vodca
(incentivado por Keneth a acompanh-lo). Creio
que ele tambm esteja embriagado, mesmo que o
negue, quando pergunto. Eu tinha dito a ele, mais
cedo, que ele e Liliana tinha sido as pessoas mais
especiais que eu tinha conhecido ali e ele quis
saber por qu. Eu consigo explicar, com rapidez,
por que Liliana era to especial para mim: porque
ela o tipo de garota que poderia ser a mulher da
minha vida. Quanto a ele, digo simplesmente:
te direi mais tarde, quem sabe. Na festa, na
casa noturna, nesses meus ltimos momentos na
Siclia, ele volta ao assunto. Quer saber. Eu digo
que talvez seja melhor eu no falar. Ele insiste.
Eu pergunto: do you really want to know? Ele
responde: yes. Eu insisto: Are you sure? Ele
97
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
diz: yes. Eu ento tento comear, sabendo que
o que direi poder mudar tudo entre ns, que de
certo modo desmedido insistir. Mas no sou uma
amante das medidas e os abismos me atraem
como um canto de sereia. Comeo: I like you
as.... Algum do grupo de amigos chega e
interrompe nossa conversa. claro que Keneth
entende que no podemos continuar. Daqui a
vinte minutos, terei que partir para casa, onde
um carro alugado pela escola chegar, s quatro
da manh, para me levar ao aeroporto. Ficamos
ali esperando que o nosso interlocutor parta, que
v embora, que nos deixe terminar nossa
conversa. Mas, ao contrrio, outros chegam
depois dele. E Keneth nunca saber o que tenho
a dizer a ele. E eu mesmo nunca saberei o que
teria dito. Num pequeno instante em que os
outros comeam a conversar entre si, digo a ele
que, talvez, a chegada dessas pessoas tenha sido
um sinal. Talvez eu no devesse dizer o que tinha
a dizer. Ele me pergunta se eu acho que as coisas
mudariam entre ns, caso eu o dissesse. Digo
que sim. Para melhor ou pior, me pergunta ele.
Eu digo apenas: I dont know. Os minutos
passam e chega a hora de partir. Depois de sete
semanas na Itlia, devo retornar. Estou muito
triste. Despeo-me de todos, dou um grande
abrao em Keneth que me diz, consolando-me:
nos veremos de novo, voc vai ver! Saio
sozinho da casa noturna onde todos continuam e
caminho pelo calado beira-mar de Cefal.
Tenho uma enorme vontade de chorar. Saudades
antecipadas da Itlia, de Liliana, de Keneth.
Deixando pra trs as melhores coisas que me
aconteceram nos ltimos tempos, no espao
concentrado de algumas semanas. So trs da
manh, e no h mais quase ningum pelas ruas
de Cefal. Vou andando sozinho, com o corao
apertado. Do meu lado esquerdo, andando sobre
o calado, passa um rapaz numa motoneta, uma
skooter. Olha-me fxamente. No h nada mais
italiano do que um rapaz passando numa
motoneta. O rapaz segue um pouco mais frente,
do outro lado do canteiro de plantas do calado,
sempre me encarando. Pra num ponto mais
frente, desce da moto e se senta num banco. Eu
entendo imediatamente a situao. Sigo
caminhando, olhando tambm para ele, que
continua com o olhar fxo em mim. Passo por ele
a uma distncia de alguns metros. No h
ningum na praia, que, a esta hora, est escura e
o calado est deserto. Fao um movimento de
retorno at ele, mas recuo. Penso que isso seria
uma loucura. Tenho apenas uns quarenta minutos
para retornar at a casa e esperar o motorista que
ir me pegar. Sigo em frente. Mas olho de novo
para trs. Vejo ento que o rapaz caminha na
minha direo com um olhar fxo sobre mim.
Ento, num momento de puro impulso,
embriagado, pergunto a ele se ele pode me levar
em casa. Ele diz: yes. Vou at a ele que me
pergunta se sou americano. Digo que no, que
sou brasileiro. Subimos na moto e partimos. Sigo
pelas ruas de Cefal completamente embriagado,
pensando na loucura que estou fazendo. O vento
quente do vero da Siclia bate em meu rosto.
Sinto o corpo daquele menino junto ao meu. Vou
partir daqui a alguns minutos e estou ali indo em
direo a no sei o qu. O que eu diria a esse
garoto quando chegasse em casa? Que temos
apenas meia hora, que precisamos ser rpidos?
Seguimos pelas ruas de Cefal e em menos de
cinco minutos estamos em casa. Descemos da
moto e eu pergunto, apontando para a porta de
entrada, se ele quer entrar. Misturamos um pouco
de ingls e de italiano na conversao que
quase nenhuma. um encontro feito de silncio.
Ele entra na sala, v as malas feitas no cho e
vem comigo para o quarto. Assim que entramos,
ele me agarra e comea a me abraar, sem dizer
nada. Deitamos na cama e ele segura no meu pau
imediatamente. Antes, pergunto como ele se
chama: Salvo, ele diz. Eu pergunto: Salmo?.
Ele responde: no, Salvo. Horas depois irei me
perguntar: Salvo de qu, salvo de quem?. Ele
levanta da cama e comea a tirar a roupa. Parece
muito excitado. Talvez estivesse rodando a noite
toda em sua motoneta procurando algum.
Pergunto a ele onde se encontram em Cefal
rapazes como ele e ele me responde: in giro, o
que quer dizer por a, rodando por a. Eu tiro a
minha roupa e embora esteja excitado com a
situao no tenho propriamente uma ereo.
Sinto-me confuso, pensando que a qualquer
momento o homem do carro pode chegar e sem
saber direito o que estou fazendo ali com aquele
garoto italiano, depois de minha despedida com
Liliana e Keneth. Por outro lado, parece-me que
98
agora estou num flme de Pasolini enquanto at
ento alternava entre um flme de Antonioni e
um de Visconti, entre um flme com Liliana e um
flme com Keneth. O paradoxo que toda a
situao envolve me deixa confuso, mas, ao
mesmo tempo, a experincia na Itlia me convida
a jogar-me no abismo. O garoto (ele me dissera
antes, quando entramos na casa, que tinha 22
anos), enquanto me abraa com sofreguido, me
diz uma frase em italiano que eu nunca mais
esquecerei: fa quello che tu vuoi com me (faz
o que voc quiser comigo). um apelo que ele
repete, com uma excitao crescente: quello
che tu vuoi, quello che tu voi!. Eu comeo a
acarici-lo, a toc-lo e ele geme como uma
comporta que se abre. Abraa-me intensamente
enquanto eu afago os seus cabelos com todo o
carinho de que sou capaz. H um misto de ternura
e promiscuidade em toda a situao, uma
decadncia pia, que resume o paganismo cristo
que vi por toda a Itlia. O garoto comea a me
chupar, muito, sedento. Enquanto me chupa, d
em si mesmo um pequeno tapa no rosto. Eu
entendo que um pedido e comeo a esbofete-
lo enquanto ele me chupa. Ele adora. Eu pergunto:
ti piace, ti piace? Ele diz: s, s. Viro o garoto
e dou muitas palmadas na sua bunda, uma bunda
grande, musculosa. Ele fca ainda mais excitado
e comea a gemer. Ele me pergunta se tenho
preservativo. Digo que est dentro da mala, na
sala. Vamos at l, abro a mala, abro a necessaire,
pego o preservativo e voltamos. Estou bbado,
muito bbado. E cansado. Ele parece entender e
comeamos a nos masturbar. Enquanto o
masturbo, ele chega muito rpido a um ponto de
excitao em que me diz: sto quasi a venire, o
que quer dizer que est quase gozando. Em meus
ltimos instantes em Cefal esse garoto italiano
me ensina o vocabulrio do sexo e do amor. Ele
goza e pouco depois se levanta buscando papel
para se limpar. Eu digo que tem papel higinico
sobre a mesa de cabeceira. Ele se limpa enquanto
eu continuo a me masturbar. Ele me pergunta se
eu vou gozar. Percebo que ele est doido para ir
embora. Peo para ele voltar para a cama. E logo
depois gozo. Enquanto me limpo com o papel,
ele se veste, apressado. E aps terminar, me
pergunta: Voc est partindo? Eu digo: sim. Ele
ento sorri um sorriso de pura gentileza e diz:
Bon viaggio. Sai do quarto me deixando ainda
nu. No o vejo ir embora. Levanto-me, visto-me
tambm. Vou para a sala, termino de fechar a
mala, carrego-a para fora e fco no ptio em
frente casa esperando o motorista chegar,
experimentando ao mesmo tempo a intensidade
quase incompreensvel de tudo aquilo que estava
acontecendo naquela noite. O motorista chega.
um senhor de Cefal. Colocamos as malas no
carro e partimos. Ele me diz que devemos parar
antes num lugar para tomar um caf. Descemos
alguns minutos depois num bar que fca aberto a
noite toda. Tomo meu ltimo caf em Cefal.
Entramos no carro e pegamos a estrada. O senhor
calado, quase no fala. Fumamos juntos no
carro enquanto a paisagem de Cefal noite se
torna cada vez mais distante. Em minha cabea,
as lembranas de Liliana e Keneth se embaralham
s palavras do garoto italiano: quello che tu vuoi,
quello che tu vuoi.
Claudio Oliveira, flsofo e ensasta, professor da Universidade Federal Fluminense.
99
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
100
DO OUTRO LADO DA PAREDE
DO SONHO | Delfn Nicasio Prats
Traduo: Fbio Aristimunho Vargas
Del otro lado de la pared del sueo
Sobre ideas de Howard Lovecraft
101
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
Sobre ideas de Howard Lovecraft
Afundam-se oh flho meu afundam-se
os ciclpicos monlitos de basalto do Leste
do outro lado da parede do sonho
que amassamos nas tardes deste aparente
inverno das ilhas
Vamos atravessando a baa teu p
faz pegada na areia eu vou
brincando com tua imagem no com teus anos
Vou situando fragmentos de ambos em outras
latitudes
livres do olho rigoroso do shoggoth
Afundam-se oh flho meu afundam-se
os ciclpicos monlitos
Oh reinos de insondvel horror
reinos de inconcebvel anormalidade
crebros cativos por uma idade de sombras
que dramaticamente agora se derruba
dramaticamente o muro se derruba
do outro lado da parede do sonho
e uma multido de ondas
vai imprimindo sobre a areia apetecida
os sinais de novidade
Que negra cantiga de ninar oh flho meu
nos cantaram durante anos que negra cantiga de ninar
a da eternidade dos monlitos
que agora se afundam irremediavelmente que
negra cantiga de ninar
para dormir o flho de Lavinia Whateley no
humano
agonizando sobre o livro
Yog-Sothoth conhecers a porta?
Yog-Sothoth ser a porta?
Yog-Sothoth ser a chave e o guardio
da porta?
Vou situando minutos de ambos teus e
meus
em latitudes livres do Olho rigoroso: espelhos
onde se incendeiam nossos rostos espadas
cruzadas na noite teu riso
onde gravita puro o arco da aliana
Oh flho meu sobre as praias do mentido
inverno
E a beleza do mundo irritante fora
nas provncias e nas ilhas
e nos febris campos oh flho meu
sobre a erva que a gente jovem est pisando
agora
raivosamente
Delfn Nicasio Prats Pupo, nasceu em Cuba. Poeta, narrador e tradutor cubano. Graduado em Filologia e Lngua Russa pela Universidade
de Moscou, 1965. Autor de diversos livros. Sua obra foi reunida e republicada em diversas antologias cubanas e estrangeiras. A
antologia O sonho da insularidade, organizada e traduzida por Fbio Aristimunho Vargas, foi lanada no Brasil pela Lumme.
102
ATRAVESSANDO OS OLHOS DE UM MORTO | Marcilio Costa
Marclio Costa, poeta, curador do projeto Sendas: pontos e fuga da linguagem, autor de celina (Editora Paka-Tatu, 2010) e Depois da
sede (Premio Dalcdio Jurandir de 2012).
possvel ouvir o odor se anunciar,
derradeiro selo entre vida e memria.
no, no a voz de seu pai
o que voc escuta agora,
a musica das moscas.
sempre leve, h essa sutileza
que te confunde entre o mar e o vento.
e, acredite, sempre til, compreensvel
procurar um porto nessa textura lquida
onde agora o seu corpo parece futuar.
deriva, voc imagina, melhor, voc
anseia por alguma possvel chegada.
uma praia, ilha, uma sensao qualquer de ancorar-se.
no, no sua me chamando do fundo
(afnal, assim que o som reverbera, parece distante,
vindo debaixo como que abafado por essa gua
( o que voc imagina que seja, gua)).
no, no ela. h tambm esse timbre,
uma agudeza no que se pensa voz.
h quem, como voc, ouvia a me,
a sensao de que voc, dentro de um bero,
parece voltar infncia,
mas consciente da aspereza dessa vida.
outros se imaginam ulisses, da essa imobilidade
que voc sente agora, era por estarem atados,
frmes, ao mastro. acreditavam.
intensifca-se o odor, no so algas
no h nada ao redor.
voc uma ilha para sempre perdida.
em pouco tempo:
a margem do silncio,
a geografa do nada,
a areia movedia do esquecimento
lhe entregando a ningum.
103
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
DOS SEGREDOS DE SER LNGUA ENCANTADA | Giselle Ribeiro
Eu devo dizer que tomei emprestado de Cornelia
Funke, em seu livro Corao de Tinta, o nome de
Lngua Encantada, para assim chamar o Contador
de Histrias e, nessas linhas, ele ir ganhar foras
sufcientes para lhes fazer entender, a razo da
minha escolha.
Se me perguntassem, que sentido tem falar de
uma causa perdida? Falar de tradies que foram
inundadas, devastadas pela ps-modernidade
que v nascer imaginao nas crianas sem
nunca, a bem dizer, examinar como ela morre
na generalidade dos homens? (Bachelard.
2009.p.2)
Eu lhes responderia, que trago o sentido de
algum que ainda respira sem aparelhos, sem
protetores nasais, porque aprendeu a maravilhar-
se pela imagem potica. E, de repente, o meu
gosto pela literatura, se tornou hbito. Foi assim,
que eu cheguei s margens da Literatura Oral e
da Literatura Escrita e mergulho, vez por outra,
nas profundezas desse mar.
E assim que vejo o Lngua Encantada, ele para
mim um leitor em potencial, um leitor que se
lanou, ou vive a se lanar no mar das histrias
que ouviu, ou leu, e desde ento, viver para ele,
representa estar permanentemente inundado por
essas guas. Mas, um leitor literrio, ou leitor-
lince, assim uma vez em outro texto, chamei o
nosso bom leitor literrio, e ele assim chamado
porque ultrapassa o limite das linhas a ele
expostas, e parte para a grande aventura das
imagens ali criadas para esse fm.
Esclareo, ainda, que o Lngua Encantada quando
toma emprestado um texto, uma histria, gera em
mim a impresso de estar de roupa nova. Como
quem passou em uma loja e comprou uma roupa
para vesti-la naquele dia. Mas a roupa precisa
ser experimentada e deve lhe caber muito bem
para que ela fale dele, e de quem ele , naquele
momento. Para esse exerccio de troca de roupa,
ou de pele a cada novo encontro com os ouvintes,
o Lngua Encantada precisar manter a memria
em constante exerccio.
Eu sei, e no segredo, que o fo da memria
humana se rompe gradativamente pelo tempo.
Eu sei, tambm, que esse fo se rompe em tempo
muito mais veloz quando no exercitamos a
memria. E mais ainda, eu sei, no por acaso,
que a imagem simblica, ou imaginao criante,
assim chamada por Bachelard, age em nossa
memria como um heri que se lana para vencer
o tempo marcado pelas leis da cincia.
E cabe a ele, o Lngua Encantada, nosso heri,
avanar cada vez que a memria nutrida por
imagens criadas no momento de ouvir ou de
contar histrias, no momento preciso e precioso
de chamarmos de volta a nossa imaginao
simblica. E esse momento acontece quando
ouvimos os sons e vemos o corpo do Lngua
Encantada em movimento, sendo lanados para
bem dentro de alguma histria, e depois, talvez,
para bem dentro de cada um de ns.
quando somos pegos pela emboscada de certas
palavras que dormem nos livros. E, apesar de
tantos esforos para tentar fugir, a literatura nos
pega em uma das esquinas desta vida e nos diz
da cegueira branca da qual, em tempos de ps-
modernidade, somos prisioneiros por vontade e,
estupidamente abatidos, nos deixamos levar por
ela, como nos prevenia o mago Saramago.
Mas se, por acaso, ou destino, fzermos da
literatura nossa irm e com ela permitimos
uma boa convivncia, Clo Busatto anuncia
o prximo ato, quando as cortinas no mais se
fecham e a cegueira se faz curada, a literatura,
diz Busatto: Acaricia e acolhe. Quando se leva
a palavra para ouvintes disponveis a receb-la,
ela se torna palavra-fora (2010.p.18).
104
Devo dizer que esse estado possvel, desde que
o encontro seja marcado pela identifcao do
ouvinte com a histria contada, ouvida ou lida, e
quando o ouvinte ou leitor se diz:
Ah, quem dera essa imagem que acaba de me
ser dada fosse minha, verdadeiramente minha,
que ela se tornasse apogeu de um orgulho
de leitor obra minha! E que glria de leitura
se eu pudesse, ajudado pelo poeta, viver a
intencionalidade potica (Bachelard, 2009).
Estando diante de um devir, o Lngua Encantada,
o ouvinte, ou leitor, quando pescado pela histria,
atinge, neste momento, um estado de crescimento
da conscincia, ou de auto-conhecimento, e
esse ser o momento em que ele far acordar as
imagens poticas que dormiam nos livros.
H ento, e isso certo, benefcios atribudos
aos dois, histria e ouvinte, pois quando
marcados pelo encantamento, os dois acordam
de um indefnido sono e voltam a se lembrar dos
segredos de estarem vivos novamente.
O sono se desfaz quando o devir se realiza. Para
tanto, antes de entrar na histria, o ouvinte ou
leitor, no deixar que as interferncias dos
valores impostos pela sociedade ganhem fora
maior; ele permitir que a concepo de si, possa
ser alterada, modifcada, caso necessrio, depois
do contato com a histria; e talvez, por fm,
viver a experincia da histria no mais como
leitor ou ouvinte passivo, mas como algum que
ativamente faz parte dela.
Podemos arriscar dizer que o ouvinte, ou leitor
em estado de devir, contraiu o que Pennac chama
de direito ao bovarismo. Para o autor, esse termo
seria uma doena textualmente transmissvel, e
que contagia o ouvinte ou, leitor. Explica Pennac:
assim, grosso modo, o bovarismo, esta
satisfao imediata e exclusiva de nossas
sensaes: a imaginao infa, os nervos
vibram, o corao se embala, a adrenalina
jorra, a identifcao opera em todas as direes
e o crebro troca (momentaneamente) os bales
do cotidiano pelas lanternas do romanesco.
nosso primeiro estado de leitor, comum a todos.
Delicioso (2008. p.141).
E relembrando as lies de Michel Foucault,
esse estado acontece quando o autor da histria
tende a desaparecer para dar lugar ao receptor.
E a histria ouvida ou lida se sobrepe ao seu
criador, ganha fora, uma nova vida, ou diramos
mais uma vez, quando as palavras que dormiam
nos livros, acordam. Ensinou Foucault:
Na escrita, no se trata de manifestao ou de
exaltao do gesto de escrever, nem da fxao
de um sujeito numa linguagem; uma questo
de abertura de um espao onde o sujeito da
escrita est sempre a desaparecer (2009. p.35).
Esse seria um momento favorvel para a nossa
imaginao simblica, seria o momento em que o
pouso na vida do autor para vencer as ansiedades
dos leitores, seria desprezado, uma vez que h o
chamado da literatura para ser libertada do seu
autor e ganhar vida prpria.
E, se assim fosse, em tempos de no parar para
conversar, no parar para se olhar, no parar para
respirar, no parar para cantar e se escutar, talvez
nosso heri recuperasse mais facilmente o objeto
mgico e hoje vivssemos felizes como nos
prope os tradicionais contos de fadas. Mas antes
do pretendido repouso na histria da humanidade:
O tempo foi passando... passando e as pessoas
se distanciaram um pouco do imaginrio e dos
momentos de oralidade ao redor da fogueira ou,
ainda, com as cadeiras na beira da calada. A
imaginao to exercitada foi perdendo lugar e
as pessoas foram esquecendo das histrias e dos
valores e ensinamentos por elas transmitidas
(SANTOS. 2010.p.119).
Eis que um novo obstculo criado para fazer
com que o Lngua Encantada, nosso heri, entre,
mais uma vez, no campo de batalha. E no
ser diferente dos contos de fadas. Haver luta
com guerreiros muito bem armados e a nossa
imaginao simblica, ter que sobreviver ao
tempo da pressa, da desumanizao, da corrida
pelo ouro, ainda que o ouro encontrado no
signifque quase nada para o verdadeiro sentido
de viver. Lano, mais uma vez, a minha escuta
para o que nos diz Clo Busato:
105
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
Esse estado de esprito, o ouvir, que pede quietura
interna, qualidade seminal para a audio plena
foi substitudo pela pressa e pelo agastamento
tpico de quem j detm a informao sufciente
para viver (2007. p..20).
dentro deste cenrio que se encontra hoje o
Lngua Encantada. Os obstculos se fortalecem
pelo avano tecnolgico. E as cadeiras de
balano, so apagadas da memria. O que antes
servia para balanar a nossa existncia e fazer o
tempo da memria acordar e se manter vivo, em
uma relao de troca entre quem conta e quem
ouve as histrias ali contadas, tudo isso parece,
agora, querer desaparecer, por completo, do
conhecimento humano.
E se nosso heri se mantm heri, dentro desta
histria de encantamento, que por hora lhes
conto, posso lhes afrmar que, assim como Jesus
convocou Pedro para ser pescador de homens, o
Lngua Encantada foi convocado pela oralidade
para ser pescador de ouvintes, e assim, ele se
far pescador de homens, mulheres e crianas.
Porque ele entende que:
Uma palavra falada como uma fecha lanada
que s para ao atingir seu alvo, a alma de quem
ouve. Histrias so como essas fechas que
quando lanadas atingem os alvos, cada um
sua maneira, sem ferir, mas marcando a alma
que a acolheu (Santos. 2010. p.110).
Como pescar e multiplicar homens, mulheres e
crianas?
Com a isca certa, o corao. Ento, o Lngua
Encantada foi pescado tambm pela oralidade,
porque as histrias ouvidas, lhes abriram os
olhos e depois o corao.
E construindo laos com as histrias, que o
atingiram em cheio, ele se fez a prpria histria e,
naturalmente assim, se far pescador de homens,
mulheres e crianas.
Mas essa relao de envolvimento amoroso com
a literatura oral, no permanece no plano nico da
ideia, ela de fato acontece, e tecida para quem
se permite ser a pesca fcil, ou s vezes relutante,
da literatura oral ou escrita, porque para alm da
palavra, h os seus mistrios envoltos no todo
que a humanidade e seus complementos.
Por isso, tambm avano nesta histria acreditando
em nosso heri vencendo os obstculos, porque
ele fez da literatura o seu sangue, a sua cor, a sua
pele, pois a ela se permitiu a entrega total.
Isto posto, pelo fato de acreditar fortemente que a
literatura no tem fronteiras, oral, ou escrita, nela
cabe o ser na sua totalidade: social, psicolgica,
moral, religiosa e todos os outros aspectos
possveis e imaginveis.
E se isso tudo no que acreditamos, no podemos
perder as crenas mais valorosas que temos, do
que o objeto artstico pode nos oferecer. Pois, um
dia, nos segredou Nietzsche:
A arte assume acessoriamente a tarefa de
conservar o ser, at mesmo de dar um pouco de
cor a representaes extintas e empalidecidas,
quando cumpre essa tarefa, tece um lao em
volta de diferentes sculos e faz reaparecer os
espritos [...], mas pelo menos por instantes
desperta mais uma vez o velho sentimento e, o
corao bate a uma cadncia de outro modo
esquecida (2005. p. 65).
Agora volto meu pensamento ao heri da nossa
histria, Lngua Encantada, o guardador de
segredos. Mas o que um segredo seno
aquilo que se conta, ou se ouve no p do ouvido
e que se deseja manter em perfeito sigilo?
assim o nosso heri, aquele que sabe guardar
os segredos, que ouviu dos pais, dos avs, dos
professores, dos vizinhos, ou que um dia ouviu
bem de dentro de algum livro. E tudo fca
guardado, l dentro dele. Porque pelas histrias
ele foi pescado e depois se fez pescador. Pescador
de homens, mulheres e crianas, como Pedro.
Nosso heri, ento, aprendeu a guardar alguns
encantamentos para depois sopr-los aos quatro
cantos do mundo, afnal ele sabe fazer uso
dos segredos seus, porque est intimamente
envolvido, preso, por vontade na trama ouvida,
ou lida, e ele agora sabe que:
ao narrar enquanto ao que se liga a recordare,
re-cordar (cor, cordis: corao, em latim) trazer
para o corao o que estava na memria, e fazer
da memria um corao, numa relao com a
narrao original no sentido de narrao que
se ouviu primeiro, a que primeiro despertou
106
no imaginrio. Quando conto uma histria
a histria que se narra atravs de mim. Eu me
torno a histria. Eu me torno a minha prpria
histria (BUSATTO, 2007. p.13).
sabido que a Literatura Oral me da Literatura
Escrita e que delas nascem alguns seguidores.
Mas o cenrio atual parece querer apag-las e,
assim, podemos arriscar dizer que haver um
embate entre nosso heri, o Lngua Encantada, e
a tropa armada da ps-modernidade que avana
vorazmente.
Mas, haver um tempo em que me e flha
tero que se encontrar e juntas com o Lngua
Encantada, no mesmo espao, uma contribuir
para a existncia e permanncia da outra. E esse
tempo, parece ter chegado.
Por isso, seria de bom tom dizer que, essa histria
que lhes conto baseada em fatos reais. E,
portanto, o heri aqui vivido por uma mulher,
j conhecida por ns, e que por amor s histrias
ouvidas, entrou no campo da guerra tecnolgica
em defesa da nossa imaginao simblica e, fez
os Formosos Monstros acordarem para o mundo
novo, do qual antes tnhamos tanto medo.
"Sejam bem-vindos entre ns, vs que chegais
enfm ao prazer da literatura." Assim Roland
Barthes convoca os verdadeiros leitores, no seu
Prazer do texto, assim tambm, nosso heri,
que agora posso revelar o nome, Clo Busatto
convoca os seus ouvintes para acordar, e fazer
acordar, as palavras que dormem nos livros.
Para tanto, Clo Busatto prope uma nova
simetria entre a tecnologia e a nossa imaginao
simblica.
A antiga tradio do Lngua Encantada ou
Contador de Histria, ainda respira, tem vida e
graa, porque nem mesmo a velocidade da ps-
modernidade rompeu o elo que a mantinha na
escuta afetiva e efetiva, porque sempre favoreceu
o bom desenvolvimento humano, e assim sempre
ser.
Giselle Ribeiro, poeta, professora da UFPA, autora, entre outros, de: 69.
107
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
A ASCENSO DE LAURA | Jos Cardona-Lpez
Traduo: Eclair Antonio Almeida Filho
La ascensin de Laura
Era domingo y todos vean a Laura que haba empezado a ascender hacia un cielo muy azul, sin
nubes. Muchos ms bien miraban sus piernas hermosas, que suban y suban muy despacio. Y no
faltaban unas voces que dijeran que aquella mujer deba taparse las piernas mientras suba al cielo,
otras respondan que para qu, si al fn y al cabo la mujer cada vez iba a verse ms pequea. Hagan
de cuenta que ustedes miran un paraguas o un hongo ascendiendo al cielo, terci un seor ya de edad
mientras se acomodaba los anteojos. Y yo nunca he visto un paraguas o un hongo con dos piernas,
agreg.
Despus de casi una hora ya nadie discuta y Laura era un punto que se mova en el cielo. A todos,
includo el hombre de edad, ya empezaba a dolerles la nuca y, con el tono y el porte de quien acaba
de descubrir el origen de la vida o algo por el estilo, con los ojos puestos en el suelo comentaban
que lo mejor para no verse pequeos era quedarse en la tierra. Un vagabundo que por ah estaba
rascndole la cabeza a su perro, al perro le dijo que a los otros les faltaba un tornillo porque se
sentan tan flsofos al ver muy pequea a Laura, mientras sta se elevaba.
A ascenso de Laura
Era domingo e todos viam Laura que havia comeado a ascender rumo a um cu muito azul, sem
nuvens. Muitos mais bem olhavam suas pernas formosas, que subiam e subiam muito rpidoo. E
no faltavam umas vozes que disseram que aquela mulher devia tapar as pernas enquanto subia ao
cu, outras respondiam que para qu, se ao fm e ao cabo a mulher ia se ver cada vez menor. Faam
de conta que vocs olham um guarda-chuvas ou um chapu-coco ascendendo ao cu, interveio um
senhor j de idade enquanto ajeitava os binculos. Eu nunca tinha visto um guarda-chuvas ou um
chapu-coco com duas pernas, acrescentou.
Depois de quase uma hora j ningum discutia e Laura era um ponto que se movia no cu. Em todos,
incluindo o homem de idade, j comeava a doer a nuca e, com o tom e o porte de quem acaba de
descobrir a origem da vida ou algo pelo estilo, com os olhos postos no cho comentavam que o melhor
para no se ver pequenos era fcar na terra. Um vagabundo que por ali estava coando a cabea de seu
cachorro, disse ao cachorro que aos outros faltava um parafuso porque se sentiam to flsofos ao ver
Laura muito pequena, enquanto esta se elevaba.
Jos Cardona-Lpez, nasceu na Colmbia. Publicou o romance Sueos para una siesta (1986), e os livros de contos La puerta del
espejo (1983), Siete y tres nueve (2003), Todo es adrede (1993, 2009), e o livro acadmico Teora y prctica de la nouvelle (2003). No
Brasil publicou Al otro lado del acaso, Lumme, 2012.
108
2 POEMAS | e. e. cummings
Traduo: Ronald Augusto e Denise Freitas
youful
larger
of smallish
Humble a
rosily
,nimblest;
c-urlin-g
noword
Silent is
blue
(sleep! new
girlgold
*
plenitu
de larga
pequenez
Humlima
roseazinha
,gil;
es-pira-lada
nomundo
Silente s
azul
(dorme! nova
jovemjaune
silence
.is
a
looking
bird:the
turn
ing;edge,of
life
(inquiry before snow
*
silncio
.
um
olhar
ave:o
torn
eio;giro,da
vida
(indagao antes que neve
Denise Freitas, nasceu em Rio Grande (RS). Autora entre outros, de: Misturando Memrias (2007), Mares inversos (2010).
Ronald Augusto, poeta, msico, e crtico de poesia. Autor, entre outros, de: Homem ao Rubro (1983), Puya (1987), Knhamo (1987),
V de Valha (1992), Confsses Aplicadas (2004) e No Assoalho Duro (2007).
109
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
BREVES NARRATIVAS | Henry Burnett
O Rio
Hesitou diante do rio lmpido. Com certeza
algo estava errado naquela perfeio. Podia ver
o fundo com tamanha clareza que lhe pareceu
iluso. Nem sequer seu refexo se movia e os
seres que habitavam ali eram to ntidos quando o
encaravam que era preciso desviar a vista; como
era possvel intimidar com olhos to solares? Foi
um tempo curto, pouco mais que um minuto.
Apesar da viso atenta, aquilo no se resolvia
por existir ou desaparecer; cabia a ele defnir e
parecia necessrio negar o rio de alguma forma.
Resolveu entrar e provar que aquela calma era
uma coincidncia natural. Pisou numa espcie
de plasma, mas continuou entrando, certo do
absurdo. Seu corpo estava quase todo imerso
quando tentou retornar, mas j descia sem
comando em direo ao fundo. Olhou para trs
e viu o sol e isso o libertou instantaneamente do
medo e da iluso; conta a luz refratada, pensou
ainda ver um homem que o encarava com
curiosidade e espanto, parecendo no acreditar
que ele era to real no fundo ntido.
Vertigem
De cima do telhado era como se estivesse no
alto de um prdio de muitos andares. Olhava em
direo ao horizonte todo o tempo, para evitar
o cho. Faltava pouco para que casse e lutava
contra aquela sensao com todas as foras.
Mantinha as pernas rijas, os msculos tensos
de dor e frio. Na margem da vista podia ver
outras pessoas passando quase a deslizar, mas
no conseguia baixar o olhar por nada. O fm do
cu era seu nico antdoto, como uma corda fxa
onde podia se apoiar com os olhos. Mal pde
perceber quando o primeiro jorro da onda d'gua
lambeu suavemente seu ps. Enquanto isso, e
enquanto pensava numa forma de voar, a casa j
inundava e os parentes gritavam desesperados da
outra margem; em vo.
Rudo
O som fno e seco bateu longe, sem que se pudesse
distinguir a que distncia. Quando acordou, j
no estava certo se ouviu o estalo em sonho ou se
o som lhe trouxe viglia obrigado. Permaneceu
na cama por alguns poucos instantes, supondo
uma repetio que no acontecia, mas que podia
confrmar a fonte. Nessa, o sono se restaurou.
Os olhos se fechavam sem controle, enquanto
mal podia ouvir um rudo branco, numa gama
de vozes desconexas e desesperadas. Mal pode
ouvir o segundo estalo, agora misturado s
vozes e mais longo; quando tornou ou se sups
acordado mal viu ainda perto do rosto o teto a
meio palmo.
Chuva de noite
Nasci numa cidade famosa pela rigorosa chuva da
tarde. Vivo numa cidade que, dizem, no chove
mais; ou talvez no garoe, como dizem. Mas hoje
choveu todo o dia e uma lembrana boa veio de
longe (j conto). A diferena que quando chove
na minha terra se desprende um cheiro de cho,
um que no posso distinguir aqui. Os sons da
chuva de l no so diferentes, uma infnidade
de estalos que podemos ouvir dormindo. Tenho
muitas memrias de chuva. Conto uma: nas
frias costumava passar alguns dias no interior,
na casa de um tio; era uma casa de madeira,
sem forro, suspensa do cho, coberta com telhas
de barro. Eu dormia na sala e era meu tio que
sempre arrumava meu abrigo - duas poltronas de
courino que, viradas uma diante da outra, davam
uma cama enorme. No inverno chovia muito
noite e eu dormia s. Chuvas torrenciais davam
metade medo e vontade de dormir logo, metade
curiosidade pra nunca dormir. Adorava deixar
que os respingos d'gua que varavam as telhas
cassem no meu rosto refrescando o calor do
corpo.
Henry Burnett, Professor da Universidade Federal de So Paulo (UNIFESP).
110
111
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
PEDRAS DESCALSAS | Jair Cortez
Traduo: Adriana Zapparoli
PEDRAS DESCALSAS
TUDO comea com o pai: irradiam luz lbios que o clama. Os
cmodos existem porque ele os guarda. Como suas feies a
mesa se dispem. Na nvoa obscurece a janela. Sua viso penetra
as trevas como uma lana de claridade, apesar de sua mo quase pedra,que
golpeia com amor e infnita violncia os corpos intumescidos dos flhos
TODAS AS PALAVRAS que em meu corao ressoam
hoje se quebram e fazem de sua queda a mais silenciosa das quedas
paredes que em sonho surdo se desabam
Todas as palavras ditas, hoje nos dizem:
a bondade Divina
nos fzera,
o que faremos com essa bondade ?
O vento do destino sopra, lobo atroz,
e o teto vem abaixo
medo que de seu mistrio se despoja
112
AGORA O MAR abandona a praia
como alguma vez a praia abandonou o mar.
O farol insiste em nos guiarmos.
Caminho em crculos nessa paisagem vazia.
Trao.
Quatro paredes que foram uma praia, um mar,
um retrato de famlia vislumbrando o amanhecer.
ALGUEM SUPERIOR a ns
fogo sem nome, eterno,
nos odeia
Odeia-nos ao amanhecer
e nos leva ao abate a noite
Algo ou algum
est odiando-nos,
aqui mesmo;
caso contrrio
no se explica esse sofrimento
PENSO NO QUE PODERIA odiar
e ainda assim eu te amei
Meio esse dcil enrolar de suas frases
seus olhos silenciosos distrados pelo mar
Amei sua carne
essa pressa interna
que nos faz amar a qualquer preo.
Tambm amei
a forma aflada da unha em tua carcia
amei a pedra do pecado
e a zombaria de sues gestos.
Penso no que poderia odiar
E, no entanto
113
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
TUDO comea com o pai?
e a msica onde comea?
A gua do rio toca para mim,
improvisa folhas e espuma entre as pedras
Houve um momento em que a aparncia era a sacralidade das coisas. Portanto
nos machucamos. Lana em mo, buscamos. De casa em casa. Meu corao
fruto agro por aqueles dias, sozinho, no gemido das trevas
ERA uma vez a palavra:
a mulher que lia as linhas na palma da mo
trocou seu rosto pela gua
como vimos nossas caras,
pedras que sem remdio
com a corrente do rio se separam.
Os MUROS nos tornamos
Aqui construdo um: MURO
Outro: AMOR
COMO UM ESCORPIO de gua descendo por teu rosto
um signo no muro
que crescera at converter-se na penumbra
e o vaticnio da morte
Como uma gota de leite negro
espreita por o mamilo escarnecido de rocha
o dio inicia
e sobre o mundo se derrama
Jair Cortez, nasceu no Mxico, 1977. Poeta, tradutor e ensasta. Traduziu poetas brasileiros como Haroldo de Campos, Orides Fontela,
Virna Teixeira, Adriana Zapparoli, Eduardo Jorge, entre outros. Autor de A la Luz de la sangre (1999), Tormental (2001), Contramor
(2003) e Caza, 2006.
114
LCIFER NO CU, COM DIAMANTES | Andria Carvalho
Ave, dia do meu sculo virtuose, suspende-nos em tua arcada corts. Teu bruxismo maniqueista
mastiga o po ruminante que minha alma contempornea. Caricato, tagarela, irisado. Feldspato,
feldspato. Teus olhos imperiais desmatam minha aldeia. Os selvagens de minha noite cobrem o sexo
com folhas surradas de papel moeda. Mmias, teus antepassados. Eis-me, sobretudo em ti.
s um senhor aerodinmico, com casaco verde pasto e caninos rastreadores de lebres. Repetindo o
tempo todo: quantas horas ainda tm?
Feito torres de acar, vejo as pineais apressadamente mergulhadas no lquido negro de tuas manhs
mazelas. Ave, teu caf, o evangelho venenoso para o sonho profundo.
Depois, a assepsia e o espelho, varal de naipes, para a correta vestimenta. Pintamos a cara e negando a
origem primitiva, desflamos, rsticos, pelas avenidas. As vitrines nos ditam como estaremos salvos.
A fome de uma vida inteira no ritual matinal, padecendo o jejum dos catequistas. Sobra a cabea de
um deus intoxicado pelas bandejas ofertadas.
Sou-te Salom com bandagens frias em tua febre decepada.
Ave, dia do juzo fnal, tu nos tira frceps o pijama dos fetos notvagos. E vamos pingando pela rua,
cabides vazios em bizarros gabinetes. Decibis, androides, tabloides. Homem objeto de hospitais e
prises, criatura bomba. Basta uma dose morna de leite, e adocicado retorna ao bero. Manso, manso
cadavrico.
Antes de ti, bem vestido dia, os monstros eram puros como as bestas livres nas forestas, sem
especiarias importadas. Eram contos de benzedeiras, sem versculos de correntes.
Haver mesmo a vida ultrauterina, fora teu marcapasso?
Ilumina-te, meteorito. O apocalipse agora.
Andria Carvalho, Autora de A Cortes do Infnito Transparente (Lumme, 2011) e Camafeu Escarlate (Lumme, 2012).
115
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
ESQUECIMENTO | Maxine Kumin
Traduo: Ney Ferraz Paiva
H dzias de maneiras de se fazer isso
de uma ponte, da traseira de um barco,
plulas, cabea no forno ou
embrulhada no velho casaco Mink da me,
na garagem, uma pisada no acelerador,
o motor do Cougar rangendo
enquanto ela acelera.
O que elas deixaram pra trs
o esboo de um romance protelado, dirios,
seus melhores poemas, o bilhete que termina em
agora voc acreditar em mim,
descendncia de vrias pocas, cnjuges
que se preocupavam e ainda choram ou
admitem alvio agora que isso acabou.
Como elas infamam, os velhos detalhes
expostos luz com um cone de vidro colorido a espingarda na boca,
o barbante do dedo do p ao gatilho; a lngua
uma ameixa azul forada entre os lbios
quando ele se enforcou nos aposentos dela
(para ns isso nunca acaba).
que roubou a cena, cortou o nariz,
puxou a tomada da banheira na gua rsea,
quebrou janelas, fechou o gs,
passeou de ambulncia, apenas minutos depois
de carregar o corpo rebentado de ms notcias.
Estamos, cada um de ns, presos na armadilha deste enredo.
Deixado pra trs, no h esquecimento.
Maxine Kumin, nasceu na Filadlfa, 1925. Poeta e autora, entre outros, de: Procurando a sorte: poemas (1992).
116
POEMAS | Hilde Domin
Traduo: Simone Brantes
ALTERNATIVA
Eu vivia em uma nuvem
em um prato que voava
e no lia jornais
Meus ps delicados
no seguiam mais por caminhos
que no podiam seguir
A consolar um ao outro
como duas pombas
encolhiam dia aps dia
Claro que eu no servia pra nada
O prato-nuvem se espatifou
despenquei no mundo
um mundo de folhas de lixa
As palmas de minhas mos doem
os ps se odeiam
eu choro
E no sirvo pra nada
LINGUSTICA
Tu deves conversar com a fruteira.
Inventa uma nova lngua,
a lngua da cerejeira em for,
palavras da macieira em for,
palavras brancas e rosas,
que o vento
carrega
em silncio.
Confa-te fruteira
quando sobre ti recai a injustia.
Aprende a silenciar
na lngua branca
e rosa
117
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
A BALADA DO JOVEM SIENKIEWICZ | Francisco dos Santos
Pagou as fchas, bebida, cigarros, com uma nota de cinquenta novinha.
A caixa correu a unha na fta de segurana para ver se a nota no era
falsa. Agora o desconhecido no bar tem mo direita uma garrafa partida;
sob sua sombra o cantor da casa, garganta estraalhada.
Quando se est a tanto tempo na noite a gente reconhece um tipo
perigoso. Este no parecia nenhum tipo perigoso.
Pegou os cigarros e sentou-se uma mesa fora, no calamento, afastado
dos outros, de costas para o palco. Comenta a caixa.
Sangue a esguichar por entre os dedos do msico que reclina numa estranha mesura, depois deita-se ao cho.
Nunca o havia servido at este dia fatdico ouvi barulho de vidro par-
tindo-se e zaz quando acertou-o bem na garganta, fala de uma
vez o garom nervoso; e que ouvira ainda: dessa devia ser proibido cobrar couvert pssaro idiota.
Os polcias isolam a cena do crime.
Este flho da puta estragou a noite! Na confuso muita gente saiu sem
pagar. Filho da... Tenta chut-lo o dono do bar.
As pernas do msico param de mexer e uma mancha esparrama como
um mapa do lado esquerdo do seu jeans desbotado.
Mais trs frequentadores do ao Comissrio suas verses da cena trgica. Trs linhas diferentes, trs
pontos de fuga. As pessoas encolhidas
esquerda, direita.
Aparentemente o meu flho entrou em colapso no bar, depois de ouvir
uma sequncia de msicas;
Outros dizem que foi quando algum comeou a acompanhar..., diz o pai. (Depois tentou-se apurar
a sequncia correta mas houve divergncia,
o que se deduz com base nos relatos).
O jovem Sienkiewicz, este o nome do desconhecido, o sabemos agora,
levanta o banquinho e senta-se como um assombroso paquiderme, como se pesasse uma tonelada.
Sempre teve bom ouvido, balbucia a me.
Ento crava o terrvel gargalo ao ouvido uma, duas, trs vezes.
Dobra o corpo para a frente sobre o dorso, os braos desdobram-se do lado,
a arma de vidro desliza da sua mo.
Francisco dos Santos, nasceu no Mato Grosso do Sul, 1967. Publicou, entre outros: A reinveno do mesmo (2002), No american,
latins (2005), Dilogo com Goya e outros dilogos (2007), A imagem sem centro - brevssima de poesia (2009).
118
HA!HABSBURGO - UM RETORNO | Leonardo Gandolf
Enquanto me cremavam, foram servidas as
bebidas. Caminhei at os fundos do palcio.
Numa rea externa, equivalente ao depsito
de lixo, havia cinzas negras espalhadas e delas
cresciam plantas marrons, esverdeadas pelo
vero. Agucei os ouvidos e a nica coisa que
pude ouvir foi o leve som da caldeira ardente.
Neste instante voc, olhos abertos, perguntou:
________________________? Ao que respondi
que sim, impossvel, no somos egostas nem
interesseiros: por exemplo, o que voc sente agora,
tristeza, arrependimento, compaixo? viu, no h
nada exatamente mau nisso. Olhei para o cu,
ainda estvamos em Viena e havia uma chamin
vermelha de boca quadrada, cheia de fuligem.
Tive uma sensao estranha ao ver a nuvem da
incinerao subir lentamente na direo do cu.
_____________________________________
? voc insistiu. Talvez porque seja este o nico
momento em que haja alguma separao entre as
coisas, no? quando acabei de falar, fcamos por
um bom tempo parados acompanhando a fumaa
ora preta ora branca, quando acabei de falar, a
ltima poro se esvaeceu, quando acabei de
falar, senti meu corpo sei l um pouco mais vazio.
No adianta, a solido no vem do dirio e o
exemplo est noutro lugar mas ajuda. Onde
que esto os diamantes? pergunta Harrison Ford.
Ento uma loura, Jessica Lange, por exemplo,
responde: por ali. Trata-se de uma resposta, s no
temos certeza de que seja para o heri.
Sei onde estou, apesar do sono, sei onde estou,
mas e voc? Algum em algum momento iria
perguntar isso. Estou desse lado, estou deste lado.
Mas onde que fca esse lado? o lado das pessoas
que vo embora? das que traem? das que morrem?
Estou do lado do aparecimento e sentada escrevo
o mistrio. E voc que no escreve e mesmo assim
faz feio como quem escreve e muito mal.
Quero alta.
...
Mas eu j parei de espirrar!
...
Doutor?
Chances are because I wear a silly grin the
moment you come into view, chances are you
think that I'm in love with you just because you
think my heart's your valentine.
Acordei de um sonho em que algum me dizia
exatamente isto mas era outra imperatriz de sei l
qual imprio quem o sonhava: horrvel o homem
no sentir falta da costela que lhe retiraram.
Fui dormir s quatro da manh, acho que posso
me considerar progredindo, sim, progredindo.
Anotao para amanh: s escolhi o documentrio
para no ter de escolher soberanamente onde
colocar a cmera.
Enquanto me cremavam, doutor, foram servidas
as bebidas. Caminhei at os fundos do palcio.
Numa rea externa, equivalente ao depsito
de lixo, havia cinzas negras espalhadas e delas
cresciam plantas marrons, esverdeadas pelo
vero. Agucei os ouvidos e a nica coisa que
pude ouvir foi o leve som da caldeira ardente.
__________________________? No sei por
que voc est me perguntando isso. Olhei para o
cu, estvamos em Viena e havia uma chamin
vermelha de boca quadrada, cheia de fuligem.
Tive uma sensao estranha ao ver a nuvem da
incinerao subir lentamente na direo do cu.
Olha, s continuar olhando. Eu sei onde est a
nossa cmera, acho que foi o que eu lhe disse.
No sou frvola, gosto da moda e como qualquer
Habsburgo corto excessos. No sou frvola, quem
fala, fala por inveja, inveja. Se eu sou gorda, ela
feia. As mes so assim, ainda mais uma que
nem gosta do flho, flho que tambm no gosta de
mim. No sou frvola, embora ele nem tenha me
defendido, no sou frvola porque vou morrer e
quem sabe de uma coisa dessas nunca ser frvola
a ponto de ser chamada de frvola. S porque tenho
medo do Oceano Atlntico e da minha infncia
no Castelo de Schnbrunn, tenho medo de So
Cristvo, da Gamboa e at do veraneio em Santa
Cruz, tenho medo de Annony e de Lazansky e do
meu pai e da minha irm e da minha me morta, de
pudim, chocolate suo e Mozart. No sou frvola.
A receita dizia para colocar 3 litros de gua em
panela com uma colher de leo e sal a gosto, no
sou frvola, fervendo a gua pus a pasta, fcou no
119
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
fogo, 2 a 3 minutos, aqui que me compliquei, no
sou frvola, em caso da pasta ultrapassar o tempo
de cozimento, faz-se necessrio um susto com
gua fria. O ltimo a rir no quem achvamos,
pensei.
Pode deixar, j sei o que eu vou fazer.
...
Ainda d tempo.
In Vienna, I wanna be around to pick up the
pieces when somebody breaks your heart, some
somebody twice as smart as I.
Conheo isso, voc, doutor Freud?
Passeio junto ao mar, que lindo, embora nutra nojo
enorme nojo da areia e da gua em que no toco
nem morta. Galgo uns degraus at o adro da igreja
de So Francisco da Prainha, baixo a sombrinha
para a vista alcanar o que no alcanara: no
mar dois peixes saltam, uma leva de escravos
chega por navio e, quando me volto para a igreja,
enxugo o suor. Estou a po e gua e de longe ouo
o miado, aviso do peixe podre a gerar os focos de
infeco, o que me faz retornar a vista ao mar. Ao
deixar de lado a praia, volto mais uma vez o olhar
igreja no para rezar e sim para lhe ver, como
vai, querido?, voc nada diz mas quando me v
percebo que junto do cheiro peixe podre que
meu vem o cheiro detergente do seu tempo, me
d a mo, pode me dar, insisto, voc responde sim,
estamos de mos enlaadas at que, ato contnuo,
onde est o mar? Voc abre a boca e fala algo
que tem a ver com praia, aterramento, a Sacadura
Cabral. No estamos de mos enlaadas, outra vez
o miado do gato, me d a mo, pode me dar, isso
mesmo, me d a mo, pode me dar, insisto e inicio
o caminho de volta, degrau a degrau, na direo
da praia, quando chuto uma pedrinha, que por
isso a primeira a chegar l embaixo. Primeiro
o amor, depois a pedrinha e fco pensando nas
grandes causas ainda em voga neste sculo. Que
seja. No estamos mais nos registros do dirio
nem nos domnios s da insnia, mas no Jardim
Suspenso do Valongo, caminhamos um bocado,
o ano agora 1906. Desde as primeiras linhas,
que so de 1817, at esta foram 89 anos, mas eu
precisei de bem menos para saber que voc no
passa de um charlato. Pronto: mais cem anos,
hoje os dois ainda estamos exatamente no mesmo
lugar, o que est longe de ser um privilgio nosso,
h sempre quem faa do dirio agenda. Debaixo
do sol de rachar, uma placa da prefeitura falando
em revitalizao. Do que chamei jardim, pula um
gato, provvel reencarnao do anterior. Ao fugir
ele desenha um percurso por muros e telhados.
Um de ns o persegue com o olhar, distraindo-se.
_____________________________________?
Tive uma sensao estranha ao ver a nuvem da
incinerao subir lentamente na direo do cu.
Claro que sim, mas esse sapatinho de cristal no
o meu. Quando acabei de responder, fcamos
um bom tempo parados acompanhando a fumaa
ora preta ora branca e eu at j tinha comido o
macarro, sim, quando acabei de falar, a ltima
poro se esvaeceu, quando acabei de falar, doutor,
senti meu corpo sei l um pouco mais vazio.
Anteontem o senhor insistiu no tpico
transparncia, transparncia do galante vestido
no tocante pele e da airosa pele no tocante
aos msculos entranhas rgos, ateno na capa
de gordura, capa de gordura, o corao batendo
imperial e monstruosamente dentro de mim, quer
dizer, entre ns no h segredos, sem opacidade,
sem opacidade, outro lado a que falta, o que foi?
caiu? meu bao, falei, impossvel dar certo, pega
pra mim, no: pode deixar, segura isso aqui que
eu mesma abaixo e pego, como assim o nome?
pncreas, chama-se pncreas, o bao no lugar,
deixa comigo, estou sendo bem transparente,
um pouco mais voc passa atravs e ento no
sei onde parar, me d a mo, sinta, veludo, as
mais baixas temperaturas, estou me sentindo s,
o senhor tambm, mas nem me fala, da mesma
forma nada digo, ele tambm, ela tambm, eles
tambm, esperamos mais um pouco, est com
sono? e agora l, agora meu cabelo, agora
minha orelha, sim a minha orelha e o meu pescoo,
agora sua vez, depois sou eu de novo, depois o
senhor mais uma vez e em seguida a gente inverte.
Serei eu a Claudia Schiffer e voc o David
Copperfeld quando fnalmente lhe perguntarem:
Qual dos dois trespassar a grande muralha da
China sem chegar ao outro lado?
Leonardo Gandolf, nasceu no Rio de Janeiro. Publicou No entanto dgua (7letras, 2006) e A Morte de Tony Bennett (Lumme), 2010).
120
POEMAS | Ronald Augusto
Ronald Augusto, poeta, e crtico de poesia. Autor, entre outros, de: Homem ao Rubro (1983), Puya (1987), Knhamo (1987), V de
Valha (1992), Confsses Aplicadas (2004) e No Assoalho Duro (2007).
esse silncio corrompido
esse outro lugar submerge baa e
diversa a lmpada do teto
o compsito sonoro que sobe
do calamento da rua
no segundo compay segundo
surtidor mas tolerado pelo anftrio
pois de passagem (pesadumbre
de ondas que se recusam)
as palavras, quando as avana,
contam menos que sua audincia
31 de janeiro de 2012
propriedade intelectual
humores caverncolas
de supor uma insuportvel
dzia de pstulas (ed elli
avea del cul fatto trombeta)
a retro rerum rasura
escaras sob persona contra
natura
le mpris
01 de fevereiro de 2012
121
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
DO LIVRO (INDITO) GLADIS MONOGATARI | Vctor Sosa
Traduo: AntnioMoura
Victor Sosa, nasceu em Montevidu, 1956, mas reside atualmente na Cidade do Mxico. Autor, entre outros, de: Sujeto omitido (1983),
Sunyata (1992), Gerundio (1996), La fecha y el bumerang (ensaios, 1997), Decir es abisinia (2001), Los animales furiosos (2003) e
Mansin Mabuse (2003).
Cmohaceel pardal para comer el fruto y desecharlacscaracon tal delicadeza? Cmohaceelsauce
para mover sus ramas igual que adolescente bailarina? Anochellovimucho. Vestido con mi
viejooverol recorro la foresta seleccionando, para el caldo, setas. Crujeunbamb y sonro: imagino
una mariposa que, alposarse, imperceptiblementelodobl. El Sol an no se asoma pero un casal de
grullasatraviesa, endireccinal lago, la neblina. Sapos lucen escarcha. Tarda la primavera en entibiar
estos altos, inhspitosparajes. Nem os arribistasconfucianos, nilasturbulencias de la Corte, me
intimidan. Fui tribuno imperial pero hoycomparto,conuntejn, mi ermita. Ayer me visit una mujer
santa. Bebimosvinoespeso. Oriunda de Gales, dijollamarse Gladis. No descifrsulenguanidoctrina
pero por surespiracin, por susilencio pude entender que vive enarmona.
Como faz o pardal para comer a fruta e descartar a casca com tal delicadeza? Como faz o salgueiro
para mover seus ramos qual uma adolescente bailarina?A noite choveu muito. Vestindo meu velho
macaco recorro foresta, seleccionando, para o caldo, cogumelos. Chia um bambu e sorrio: imagino
uma borboleta que, ao pousar, imperceptivelmente, o dobrou. O sol no ascendeu ainda, Mas um
casal de grous atravessa, em direo ao lago, a neblina. Sapos reluzem a geada. Tarda a primavera a
apaziguar estes saltos, lugares inspitos. Nem os arrivistas confucianos, nem as turbulencias da Corte,
me intimidam. Fui tribuno imperial mas compartilho hoje, com um texugo, mina ermida. Ontem me
visitou uma mulher santa. Bebemos vino espesso. Oriunda do Pas de Gales, disse chamar-se Gladis.
No decifrei sua lngua nem doutrina, mas por sua respirao, por seu silncio pude entender que
vive em harmonia.
122
LE PETIT CHAPERON ROUGE DORME | Virna Teixeira
Virna Teixeira, nasceu em Fortaleza. Escritora, poeta e tradutora. Publicou: Visita (2000) e Distncia (7 Letras, 2005) e Trnsitos
(Lumme, 2009). Livros de traduo: Na Estao Central, do poeta escocs Edwin Morgan (Editora UnB); Ovelha Negra - uma
antologia de poesia escocesa do sculo XX (Lumme); Livro Universal, do poeta chileno Hctor Hernandez Montecinos (Demnio
Negro) e Cartas de ontem, do poeta britnico Richard Price (Lumme).
Le petit chaperon rouge dorme. O lobo mau se perdeu no bosque. Em Wimbledon Common. Mary
mary quite contrary. Meu jardim cresce sem rimas. Vejo um guarda forestal num cavalo negro,
recolhendo galhos. Vejo tenistas. Na feira anual, algum desmonta o circo. Um carrossel com um
nibus vermelho. Um trailer com palmeiras de non. No h acrobatas, nem picadeiro. s uma
tarde de vero com nuvens que se desmancham em formas, se dispersam. Entre o rastro de voo neste
equincio, que desaparece, simtrico, na direo do sol.
123
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
DO SONETARIO MATTOSIANO | Glauco Mattoso
Glauco Mattoso, nasceu em So Paulo, 1951. Poeta. Autor, entre outros, de: Poesia digesta: 1974-2004 (Editora Landy), a colleco
Bibliotheca Mattosiana (Selo Demnio Negro), e as collectaneas Callo bocca, O poeta peccaminoso e Cautos Causos (Lumme).
O CASO DE SOLANGE SCARPA (I) [de CAUTOS CAUSOS]
Familia como a minha no existe,
embora sejam varios nossos ramos.
Mas fodam-se os parentes, digo, e vamos
quillo que interessa e me pe triste:
Meus ps no so bonitos! Dedo em riste,
me aponctam como linda, e no so amos
que tentam se achegar, porem: queiramos
ou no, a escravido inda persiste.
Exacto: elles se humilham ante mim,
aquelles machos todos, mas ninguem
jamais me descalou dum escarpim!
Si querem me servir, no ser sem
sapatos que estarei na scena e sim
usando minhas botas! Fao bem?
124
POEMA | Andreev Veiga
Andreev Veiga, nasceu em Belm. Poeta. Autor do livro de poemas Letrrio.
espera mais um pouco
obedece tua criao
h pouco sonho l fora
para uma ilha indiferente
tardia em tua mutao
sente a forma que o exlio
sacia-te na lana das noites
procura atrs do peito o teu conforto
observa:
que o vento feito de nada
um nome ou um rumo
no so maiores que olhar-se no espelho
quebra teu voto de vida
125
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
DEVELAR | Juan Arabia
Traduo: AntnioMoura
Juan Arabia, nasceu na Argentina, 1983. Poeta e crtico literrio, editor da revista de poesa Buenosairespoetry.
Desvelar ao homem
que os anjos no esto no cu,
mas embaixo, no mais profundo da terra.
Desvelar-lhe, tambm,
Que ja experimentou a eternidade e a morte;
e que tudo possvel,
enquanto exista a convico e o argumento.
Desvelar-lhe que um peixe na gua
vale tanto quanto uma ave no cu,
e como uma criana que caminha, s e indefesa.
Desvelar-lhe que beber vinho,
no seno desejar novas coisas;
que o sapo e o lagarto fogem dele,
mas no o respeitam.
Que o cu celeste,
ainda que apenas eventualmente.
Que sua sombra no seno o refexo adverso de sua alma.
Desvelar ao homem que
aquele que o compreende,
se transforma emseu amo;
e que os Evangelhos Apcrifos
so to falsos como a verdade e a mentira.
Desvelar-lhe que na cidade
se distancia insistentemente de si mesmo;
e aquele a quem mais teme, s ele e ningum mais.
Desvelar-lhe que o mar
ser sinnimo de literatura;
e que um exemplo
no seno uma metfora cotidiana.
Desvelar-lhe que Schopenhauer
imortalizou o universo em vinte e cinco anos;
e que estranhar a forma
mais desinteressada de querer.
Desvelar ao homem que no h viagem mais agradvel que a de trem,
e que a manh a primeira e ltima porta do dia.
Desvelar-lhe tambm que aquilo de que escapa
no se encontra em seu caminho;
e que seus pensamentos
so s uma vaga e intil extenso do que sente.
Desvelar-lhe que uma poesa cria,
que uma lei destroi,
e que s o que permanece em quietude o seu olhar.
126
LIVRO DE ORAES | Daniel Faria
Mas ali onde eu o nego, ele quem me conhece
Ibn Arabi
Orao n. 28
Nada demais
1.
As pessoas no
Esto dormindo.
A praa, simplesmente,
Est vazia.
O eco da msica
Perdida
No se esconde no inconsciente
Das pedras o silncio
,
S isso.
2.
do espelho retrovisor
Que entrevejo a praa,
No vazio
Um girassol (anjo)
Perdido
No meio do concreto, ali
No est, na superfcie
Mineral do espelho, aqui
Onde espelho est
Na alma da praa.
3.
Inverifcvel:
A matria-prima do girassol
o espelho, mas o girassol
No est no espelho o girassol
,
No espelho.S isso.
Daniel Faria, poeta, autor de Livro de oraes, Lumme, 2012.
127
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
[LUA MBAR] [NONA SELEO] | Ana Carmen Amorim Jara Casco
A luz mbar da lua brilha na imaginao
encoberta pelos escombros do desatino. Assim
como lampejos antes de se apagarem, mostra os
contornos difusos do que impossvel imaginar,
os fragmentos que o desejo arrebanha no leilo
dos sonhos perdidos.
A lua ilumina a derriso. O desejo obscuro
e impondervel como uma prostituta vestida
de prata, que brilha sob a luz difusa da rua,
um diamante falso, um amor vadio, um batom
borrado, uma vagina esporrada, uma mentira em
forma de boia salva vidas e um nufrago morto
de esperana.
Visto o esplendor arredio que sublinha a trilha do
abismo e caminho altiva e sem eira para a beira
do precipcio, cansada dos limiares, violada pelas
bordas cortantes que no me abordam, seviciada
pelas mos que no me profanam, resta o salto
mortal da passarela perimetral, direto do vo
central, na direo da luz mbar fatal que pisca
para mim, e me acena, tenho certeza.
74. [vozes de mulheres]
Povo a casa de vozes de mulheres. o vazio que
me visita, seguido de seu fel escudeiro, o silncio.
As paredes de cores neutras me espreitam, mas
no interrogam, so plcidas como o mar que a
esta distncia uma mancha cinza escura riscada
pelas linhas brancas das espumas agitadas pelos
barcos nufragos que por ela navegam.
Mulheres falam de amores perdidos, de dores de
parto sentidas, de tramas desfeitas pelo tempo,
do novo que se avizinha medroso de entrar. Do
dio que medra nos espasmos da labuta infnda
do cotidiano, das fores murchas que a ausncia
de gozo faz brotar nas entranhas. As vozes das
mulheres so doces, graves, fortes. So vozes que
nascem na concavidade do ventre, entre o tero
e o estmago, entre parir e alimentar. Vozes que
afagam os sentidos, afastam espritos sombrios,
refazem caminhos, devolvem lembranas que o
tempo havia apagado.
Vozes so s vezes como cheiros. Apenas a
voz, sem o sentido das palavras, sem a rede
dos versos, apenas o ar que atravessa as cordas
vocais, esticadas pelo pulsar do corao. Assim
so as vozes das mulheres.
Escutai as vozes feminis que o tempo deposita
na fonte inesgotvel do mundo. Escolhei aquelas
que a cada instante mgico e fugidio melhor
acompanham a solido da tua alma. Cantarola
com ela a tua dor e alegria, o teu horror e a tua
delcia, como quem sorve e saboreia o gozo da
sua vagina embebida dos amores perdidos. Assim
as vozes sero uma doce sinfonia a embalar
os passos deste viajante que passa e ao passar
arrebata o corao vadio da mulher que canta.
76. [Vinicius de Moraes declama Orfeu]
Vinicius de Moraes declama o monlogo de Orfeu.
Ah, minha Eurdice a senha para navegar!
128
Que me talha o corpo. Navalha do sentir. Quando
ouvi este texto pela primeira vez entendi como
uma apaixonada despedida. Dolorida. E aquiesci
deixando que como um contra dom um texto sasse
de mim. Espcie de destilao da dor que eu sentia.
Uma dor sem raiva e sem rancor, uma dor de amor.
Este delicado udio rompeu os diques do meu
pranto. Como toda vez que choro, no sei de que
ou de quem eram estas lgrimas. Qual a causa,
qual o destino? Um choro sentido como o fado
dedilhado ao fundo daquela voz rouca daquele
homem (Vinicius de Moraes) que eu sempre
soube entender as mulheres. Entendia porque as
amava. Porque as amava as traa. Porque as traa
lhes escrevia versos. Porque lhes escrevia versos
lhes fazia amor como nenhum outro. Porque lhes
fazia amor como nenhum outro as abandonava.
Porque as abandonava as tinha para sempre.
Porque as tinha para sempre escrevia para
suportar a dor despossuda e celebrar o amor.
Imagino que os homens que citam Vinicius se
paream com ele nesta dessemelhana que os faz
to Orfeus e to rfos de cada mulher amada.
77.
A histria lhe cobria o corpo com o pudor da
fantasia e a desfaatez do desejo. Era um duelo
entre iguais no tatame das palavras. E ela se
agarrava s palavras como um nufrago ao
pedao de madeira que acredita o far resistir at
morrer ou ser resgatado, o que nesta situao o
mesmo apesar de no ser igual. Mar adentro ela
abocanhava a histria que s podia ser contada
se, com a arma da imaginao, fosse capaz de
invadir o mistrio do outro e fazer tal arruaa que
dele fzesse brotar um corpo sem rgos. Corpo
desorganizado e preparado para experimentar a
guerrilha da histria que pretendia lhe infigir.
Afita eu olhava a cena com a caneta na mo.
Pronta para registrar.
Por fm a histria lhe era tatuada no corpo por um
habilidoso calgrafo, capaz de provocar suspiros
e fazer escapulir o gozo, represado nos confns
da imaginao ertica, guardada a sete chaves na
gaveta do criado mudo. Sob a grafa deste arteso
ela sentia a pele se encher de prazer e tremer
levemente diante da alegria que atravessava o
ventre, os mamilos e os lbios da boca e da vagina.
Ela segurava suavemente o pincel entre
contraes ritmadas pela perda da noo de
tempo, pelo debruar-se sobre a beira do
precipcio do prazer arredio que como um cavalo
selvagem se aproximava para roubar o torro de
acar do lquido viscoso que lhe escorria entre
as pernas.
Afita eu arfava sob os lenis. Pronta para gozar.
Enquanto isso ela buscava vida a perfeio da
caligrafa e a preciso dos signifcados entre as
fligranas da escrita, tramadas como armadilhas,
para serem decifradas ou executadas no paredo
do silncio, de joelhos e com os olhos vendados.
Era o sacrifcio que preparava.
Um encontro como deparar-se com o mistrio
de um iceberg, este imenso bloco branco azulado,
escondido sob a superfcie abissal do mar. A
parte visvel sempre infnitamente menor do que
a que se oculta sob a fantasmagoria plcida e
silenciosa da superfcie corprea que se expe
como um convite a chamarmos de mar.
Ana Carmen Amorim Jara Casco, nasceu em Petrpolis, 1960, vive no Rio de Janeiro. Arquiteta, doutora em antropologia, professora
universitria, terapeuta comunitria, leitora apaixonada, escritora artes, fotografa amadora e poeta.
129
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
NO PERGUNTES POR QUE TOCO O TEU ROSTO | Mar Becker
no perguntes por que toco o teu rosto
s com a ponta dos dedos.
deixa-me redesenhar as linhas da expresso
que perdeste
quando o sol descarrilou de ti.
no perguntes por que falo baixo, como se
um ninho
- esta boca em que ainda canta um sem fm
de enxadas e hlices -
respirasse no interior do candeeiro.
s to prximo, to nu,
que s sei te amar ao modo de quem limpa
um corpo
a ser velado.
Mar Becker, publicou na antologia Desvio para o vermelho, em parceria com a Revista de Poesia e Arte Contempornea.
130
COMO NASCEM OS SEGREDOS | Roberta Tostes Daniel
Buscamos na vida
a casa dos nossos nomes,
que se ocultam
em cmodos no peito,
rangendo portas.
Perdidos, os corpos
de todas as chaves
tentam abrir o Nome.
Roberta Tostes Daniel, publicou na antologia Desvio para o vermelho, em parceria com a Revista de Poesia e Arte Contempornea.
131
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
SYLVIA QUEIMA | Anna Apolinrio
Anna Amlia Apolinrio de Almeida, nasceu em Joo Pessoa, 1986. Publicou Solfejo de Eros, pela Cmara Brasileira de Jovens
Escritores Rio de Janeiro RJ, poesia, 2010. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraba.
Vnus da alcova, Slfde messalina
Viciada em adesivos de nicotina
Insone & neurastnica, dopada e deprimida
Permita-me lamber sua iconoclastia
Mariposa de danas noturnas
Fnix ferica, Noiva da Morte
Godiva
Camlia rubra,
jorrando seu perfume que asfxia.
Me pe nos lbios o vinho
docemente nnfco
Teus versos so belos crimes
Sinfonia de gozos e guizos
Teu punhal de palavras
Fogo que dana pelo meu corpo.
132
AOS VENTOS | Vasco Cavalcante
Vasco Cavalcante, participou da Antologia da Poesia Brasileira Contempornea Coleo Poesia Viva do Centro Cultural de So
Paulo (Edio 2012 formato plaquete).
aos ventos,
sobre as cidades
moinhos
sob a pele
margens,
brisas
vo de ruas
curvas, becos, praas
um rio de asfalto
asfxia a tarde,
entorpece o mundo
mudo, resplandeo
desfao nuvens
novelos, vias
sobre a tarde
sobrevoando mundos
asfxiado(s)
133
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
SUSPENSO | Lara Amaral
Lara Amaral, nasceu em Braslia, 1986. Formada em Jornalismo. Tem poemas publicados na coletnea Maria Clara: universos
femininos (2010).
As palavras que esto
no ar
que escolheram
a altitude aguda
para fugir das meras
junes de letras
Do alto selecionam
O ponto certo de despencar
no cego
Levam em conta o vento
o tempo que indisposto para
de vagar
Como um suicida
que calcula a altura
no pensa, j :
eterna suspenso
depois de certo ponto
no h mais como
no
errar
134
A POTICA DE MANOEL DE BARROS: DEVIR CRIANA
| Silvana Ttora
Dar incio a algo novo.
Provocada pelas memrias inventadas de
Manoel de Barros, quase prximos dos seus
noventa anos, passei a frequentar sua potica.
O desafo era trazer para os estudos da cincia
poltica e da velhice este poeta to avesso a
vincular sua obra com qualquer dos dois temas.
Quando lhe foi solicitada suas memrias,
enviou, num intervalo de dois anos entre elas,
trs caixinhas de poemas em prosa e versos cujos
subttulos eram: A infncia; A segunda infncia;
A terceira infncia. E basta, diz ele: Eu s tive
infncia. Porque me abasteo na infncia e
minha palavra bem-de-raz e bebe na fonte do
ser . Aproveitando-me de Proust, que Manoel
de Barros tanto admira, a infncia a que se refere
o poeta no cronolgica, mas de uma segunda
ou terceira infncia, aquela que no se viveu,
mas uma inveno potica. Um tempo que no
o da recordao do vivido, mas redescoberto
ou recriado. No verso que serve de epgrafe das
suas memrias, expressa: tudo que no invento
falso.
Um poema no foi escrito para ser decifrado.
Os recursos da gramtica ofcial, da lingustica
e os valores predominantes nem sempre so
sufcientes, seno para detectar os desvios.
Ora, Manoel empenha-se em atrapalhar
as signifcncias at o arejamento total das
palavras. Tampouco se compreende o verso
vasculhando a biografa do autor. Nada mais
equvoco do que esse percurso. Um escritor no
escreve para se revelar, ou comunicar-se. Ele
escreve para se por fora de si, fora dos clichs
e dos lugares comuns a fm de no morrer do
tdio de si, da esclerose da lngua e do horror aos
valores predominantes do mundo. A arte uma
inveno de novos possveis. Nesse sentido toda
arte poltica. E ela reclama um povo por vir. A
saber, na potica de Manoel de Barros, um povo
criana.
Ler Manoel de Barros deixar-se afetar por
suas palavras poticas. So elas: rvore, sapo,
lesma, antro, musgo, boca, r, gua, pedra,
caracol . O jogo, o riso, a brincadeira, a falta de
qualquer correspondncia objetiva da linguagem
caracterizam sua esttica que nos conduz arte de
ser criana. preciso se misturar com as crianas,
afrma Manoel, para se desconhecer. Fala do
aprendizado de uma desordem dos sentidos.
Uma involuo primitiva, um desaprender oito
horas por dia... para pegar a cor do peixe,
apalpar o som e alcanar com as mos o cheiro
dos telhados. No nascemos, fomos ou somos
criana num tempo cronolgico, ou passado
como um presente j vivido, mas nos tornamos
criana pela potncia da inveno. Abolindo reis
e regncia: a arte criana.
Podemos remeter s trs metamorfoses de
Nietzsche que relata como o esprito se torna
camelo e o camelo, leo, e o leo, por fm, criana.
Sem uma ordem cronolgica ou sucessiva somos
camelo quando carregamos os valores da cultura
de nosso tempo. Tornamos-nos leo quando
lutamos contra esses valores, mas como leo
no somos capazes de criar. Temos, ento, que
passar por uma segunda metamorfose, tornar-se
135
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
criana. Se como camelo aderimos, como leo
nos revoltamos, como criana somos poetas.
Iniciamos, ento, um percurso de aprendizado
da arte e flosofa criana na companhia de
Nietzsche e Manoel de Barros. Ambos to
avessos academia! Por isso mesmo, estarmos
juntos resistirmos esclerose. Ao contrrio de
aprision-los na academia, somos ns que nos
livramos dela. Pego rabeira no poeta. A pesquisa
e as aulas tornam-se o mote para inventarmos
divertidas brincadeiras. Aprendemos a ser
criana somente numa idade avanada, desde
que em boas companhias. Eis, por fm, uma
afrmao da velhice sob nova perspectiva, pois
ela nos d a sabedoria de selecionarmos nossos
encontros, e dar incio a algo novo.
Da velhez que nasce a poesia
Minha velhez no tem embrio. As partes caem.
Meus dentes caem.
Cai o meu pau e no tem mais as suas funes
de entrar.
Por fm a boca dobra-se. O aparelho de falar
no emite.
E o de escutar no capta. Meus vazios no
tero mais socorro.
Perptuas vo nascer sobre os meus ossos.
Ah, o meu morrer h de fcar perto da minha
boca!
O poeta constri da velhice um retrato sombrio.
Um composto de perdas. A morte perto da
boca! Contudo preciso no esquecer de que
os poetas, em especial Manoel de Barros,
exprimem sensaes. E estas se tornariam pobres
caso elas se confundissem com algo objetivo,
designvel por observao ou descrio. Seus
versos so tecidos com as coisas imprestveis.
E nada mais imprestvel do que o velho. Numa
sociedade de descartes e reciclados, a velhice
somente aceitvel se renovada, recauchutada e
rejuvenescida por inmeras prteses.
Os signos das palavras poticas no so nem
objetivos nem subjetivos, mas puras intensidades
que no deixam subsistir o sujeito ou o
objeto. E eis o que Manoel produz com a sua
agramaticalidade, os substantivos e os adjetivos
transformam-se em verbos conjugveis de modo
anmalo, conferindo valor s coisas imprestveis.
Ele subverte os valores. E transvalorar afrmar
a velhice como ela . Longe dos modelos de
um velho atltico com uma performance de
juventude.
Em sua prosa potica, o corpo sofre tamanha
toro pelas palavras querendo escapar pela boca.
Suas partes perdem a funo e o corpo escorre
do organismo. A palavra atingida pelo prazer
sensual que faz da poesia um signo amoroso que
a sua verdade. A poesia no tem compromisso
com a verdade somente com a sensualidade.
Contudo, velhice no ressoa bem nas palavras
poticas de Manoel!
O que me chateia a velhice. Quem gosta de
escombro a solido. Nas minhas paredes
comearam a nascer urtigas. Da prpria
palavra velhice no gosto. desarmnica e
pornogrfca.
Mas que signo negativo emite a palavra velhice?
A poesia no se alimentaria dos escombros e da
solido? Sem a velhice a poesia perderia muito
de seus ingredientes. Estar toa na vida, matar
o tempo e tantas outras inutilidades que se pode
fazer na velhice, ambiente para o poetar. Ouso
afrmar que a poesia de Manoel fcou mais
saborosa, ertica e criana na sua velhice.
Uma rajada de vento forte derruba os frutos
maduros que habitam o cho. E no dos restos
e do cho que Manoel retira a sua poesia?
preciso deixar a nossa sabedoria envelhecer e
morrer para nascer algo novo. Reaprender a
errar a lngua , esvaziar-se das lembranas,
opinies, dos clichs, dos valores incorporados
para produzir o seu prprio deserto. Eis o solo
propcio para a arte. E no o poeta que insiste
na potncia de um estado larvar, primitivo e
criana em que tudo possvel?
Tendo a discordar do poeta, em relao velhice,
e redireciono o sentido do signo emitido. Ah, no
seria a velhice o momento de um estado de graa,
do simplesmente ser, livre de todas as exigncias
136
sociais! H alguma coisa de forte demais nesse
entretempo. Tempo que no passa, mas no qual
tudo muda e podemos experimentar a sensao
de sermos eternos.
E o bugre velho na tarde toca a sua fauta para
inverter o ocaso.
Uma esttica menor: a da ordinariedade
Um fundo amor pelos humilhados e ofendidos
de
nossa sociedade banha quase toda a poesia de
hoje.
Esse vcio de amar as coisas jogadas fora eis
a minha competncia.
Quase toda a poesia de Manoel de amor
aos desheris: a raa dos humilhados e
ofendidos. Insetos, moluscos, ciscos, relevos
insignifcantes, restolhos, desobjetos
so suas expresses poticas. Pois, afrma o
poeta, engrandecer as coisas menores atravs
da linguagem uma das funes da poesia.
Redimir as pobres coisas do cho o signo da
sua Esttica da Ordinariedade.
A esttica de Manuel menor , no por seus
atributos literrios e poticos, e, sim, porque
recusa um modelo que aspira a ser majoritrio,
promovendo um desvio da gramtica dominante
e de tudo que se considera produtivo e de
consumo numa sociedade de mercado. A poesia
a virtude do intil. A tagarelice da tal da
velhice ativa - entenda-se por aquela plenamente
integrada e nos conformes - esboroa nos versos
do poeta.
Ah esse velho... !
Andando devagar ele sempre atrasava o fm do
dia.
A poesia j uma subverso da linguagem,
particularmente da gramtica, mas a de Manoel
um desvario da palavra que perde a sua
funo sinttica e semntica para se tornar
matria potica. H que endoidecer a palavra
para imprimir nela o ritmo, um odor, um som.
Manoel gostaria mais de ser reparado, como
ele diz, como um inventor, um arteso menor.
Um fazedor de inutenslios. Alguns de seus
inventos: o abridor de amanhecer, uma fvela
de prender silncio.
S um poeta que se coloca fora do crculo da
comunidade dos artistas ofciais e consagrados
pode expressar outra comunidade potencial.
Manoel, segundo seu relato, por cerca de 50 anos
foi quase desconhecido. Alis, ele se diz ignorado
pela crtica profssional. Se, por um lado, seu
orgulho foi afetado, por outro, pode alimentar o
seu teso de escrever. (...) Acho [diz ele] que se
eu pegasse a glria, fcaria envaidecido, inchado,
e talvez parasse para contemplar-me.
Um poema no necessita cantar o amor, os ideais
polticos ou posicionar-se em prol dos valores
universais. Tudo isso torna os versos pesados
demais. Escrever fazer fugir os modelos
majoritrios. A escrita, segundo Deleuze,
inseparvel do devir, uma mistura entre dois
reinos, homem e bicho, homem e rvore, homem
e elementos da natureza, homem e mulher,
homem e criana. Mistura em que se furta a
prpria formulao homem.
Falar a partir de ningum faz comunho com as
rvores.
Faz comunho com as aves
Faz comunho com as chuvas...
A poesia de Manuel um caso de devir ou, em
suas palavras, de comunho com a rvore e gua
e rio e musgo e caramujo e sapo e... Escreve-
se pela vergonha de ser um homem, a saber, um
elemento dominante. Segundo Deleuze, haveria
motivo melhor para escrever? Suas palavras
poticas no representam estados objetivos ou
subjetivos, mas larvares que fazem brotar o
pensamento e as ideias. Um estado virginal da
palavra que no representa nem descreve nenhum
objeto. E no comeo era o verbo sem sujeito.
E mais no comeo, ainda, era a carne sem verbo.
Manoel refere-se ao seu poetar de uma escrita
com o corpo, e com a barriga no cho. As suas
criaes expressivas dos volteios de caracis, da
137
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
luxria das lesmas no so recursos associativos
ou metforas, mas comunho ou devir. E dessa
comunho nasceu o seu aprendizado do nfmo.
Sua escrita no comunica, mas multiplica os
eus: Antonio Ningum, Mario-pega-sapo,
Bernardo da mata, Bola-Sete, Andarilho, etc. E
um subttulo do Livro sobre o nada, os outros:
o melhor de mim sou eles , nos reenviam a
Rimbaud - eu um outro...
Fazer poemas colocar-se fora das pretenses
mercadolgicas. A poesia no consola, no formula
verdade, no enuncia universais. No presta para
nada. Afora isso a reserva de algo forte demais
que persiste sobre nosso cotidiano vivido, abalando
a sua monotonia do idntico. Manuel relata, com
humor - quando no colgio interno de padres - a
sua vocao desde menino, para as coisas inteis.
Nesta ocasio, um padre lhe disse: no presta
para nada; h de ser poeta . Aprendeu desde esse
tempo a desobedecer na escrita.
Ao ler os seus poemas me ponho a rir sem
parar com suas diabruras concupiscentes e a
desarrumao sinttica para chegar ao
crianamento das palavras. O formalismo
e a lgica so coisas de adulto. preciso um
desregramento dos nossos sentidos para se chegar
infncia. Mais uma vez uma questo de devir,
um aprendizado que no tem nada a ver com o
acmulo de informao, e tambm de formao.
Devir um caso de involuo para alcanar o
degrau da infncia .
Devir algo que nos arrasta para fora dos estratos
signifcantes, subjetivos e de um organismo
biolgico. A potica em prosa e versos de Manoel
frtil em devires, como j dito. Experimentao
anmala, porque sem funo, sem contornos
rgidos identitrios, sem cdigos morais, mas
movido por regras facultativas que mudam
segundo as exigncias da inveno potica.
Pelo exposto, podemos afrmar com base
em Deleuze que uma minoria por si uma
multiplicidade em devir. Alis, todo devir
minoritrio. Manoel destaca a sua provenincia
dos bugres, termo associado aos indgenas. Bugre
um temo que caracteriza o sentido potico de
Manoel, aquele que valoriza os desvios, o erro,
o nfmo e o desimportante. Trata-se, pois, de
um caso de devir minoritrio.
Veja que bugre s pega por desvios, no anda em
Estrada
(...)
H que apenas saber errar bem o idioma.
Acho que invento essas coisas a partir de
um atavismo bugral. O ndio, o bugre, v o
desimportante primeiro (at porque ele no sabe
o que importante). V o mido primeiro, v o
nfmo primeiro. No tem noo de grandezas.
Alis, a sua inocncia vem de no ter noo.
Bugre no sabe a foresta; ele sabe a folha.
Solido de um andarilho esttico
Caracol uma solido que anda na parede.
Aos 14 anos de idade, um padre lhe deu Antonio
Vieira para ler. Produziu-se, a partir da, seu
encanto pela palavra potica e, no, pelas
pregaes. Abalou-se na leitura dos poetas. E
experimentou sua primeira solido. Ler um
modo de nomadismo sem sair do lugar. Quem
l e quem escreve partilham da intimidade da
solido.
Seu poeta preferido, Rimbaud: o poeta do
desvirtuamento dos sentidos. E basta mudar
a letra s para x que esttico torna-se exttico:
um xtase dionisaco que rompe todas as linhas
fronteirias. Deslimite da escrita potica. E se
Deus deu a forma. Os artistas desformam , diz
ele. Manoel viciou-se nesta liberdade.
Uma herana paterna de uma fazenda no
Pantanal o liberou das preocupaes com o
ganho do sustento da famlia. Morou no Rio de
Janeiro, onde estudou Direito. E se ps torto.
Viajou para Nova York para estudar cinema e
artes plsticas. O que aprendeu do cinema foi
desfocar o universo . Seu personagem preferido,
Carlitos. Foi um fascnio assistir imagem de
um bbado numa rua capengando. Carlitos
um personagem poeta e, como Manoel, gosta de
andar torto.
138
Sempre vi nos flmes engraados de Carlitos a
maior solido.
A grande solido entortada pelo riso!
No encontro melhor expresso para defnir o
poeta Manoel de Barros do que essa: a grande
solido entortada pelo riso!.
No seu elogio palavra, Nietzsche faz Zaratustra
falar: No foram as coisas presenteadas com
nomes e sons, para que o homem se recreie com
elas? Falar uma bela doidice: com ela o homem
dana sobre todas as coisas .
Embarquemos na solido entortada pelo riso.
A solido, segundo Blanchot, aquela que
sobrevm ao escritor por intermdio da obra, a
saber, a entrega ao ser da linguagem em que
o eu cede lugar a um ele. Porm, o ele
de Manoel no a voz de um universal, ou de
um mundo mais seguro onde reinaria a verdade
do justo. Nada disso, em seu poema ganham voz
paredes corrodas cobertas de musgos, caramujo,
lesma, sapo, boca... Todos exprimem suas
invenes poticas.
Uma arte criana no carrega os valores do
tempo, no se compromete com uma justia
universal que serve de consolo para os chamados
grandes homens. Talvez seja por isso que Manoel
se diz um poeta menos cerebral e mais corpo.
com o corpo que estabelecemos relaes e somos
afetados. Um poema escrito com o corpo abre-se
para infnitas conjugaes.
Com Manoel de Barros, arte e poltica menor
combinam para compor novos possveis fora da
desptica verdade universal e do sujeito que a
enuncia.
Silvana Ttora, professora do Departamento de Poltica e dos programas de Ps-Graduao em Cincias Sociais e em Gerontologia
da PUC/SP. Pesquisadora do Ncleo de Estudos em Arte Mdia e Poltica - NEAMP/PUCSP.
139
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
O HOMEM QUE MORAVA NO DCIMO NONO ANDAR
| Roseana Nogueira
Ao Antnio
O homem no 19 andar pensava, exatamente
meia noite. Do alto, de sua janela, enxergava
o rio-mar. Nele um barco passava, calmamente,
sem a menor pressa. Nem um pinginho de luar
no cu, nem estrelas, s o rio, s o barco... E o
homem l pensando.
Em baixo, na casa trrea, uma mulher sozinha
esperava que a qualquer momento lhe chegasse
um amor. Um amor, ou mesmo o amor de
qualquer um. Qualquer um que chegasse, que
surgisse do nada, ou de qualquer outro lugar.
O homem pensou, pensou.... Pensou quem sabe
na vida, quem sabe na morte, quem sabe em
onde ir.... Sei l!
O barco devagar vagava longe, talvez at
mais longe do que os pensamentos do homem
poderiam chegar.
A mulher sentiu a sede que s sentem as mulheres
sozinhas.
Mas ele no sabia que ela estava l.
Um imenso vaso cheio de palmeiras enfeitava o
jardim do bar. O vizinho que jogava gua quando
os bbados faziam barulho, no percebia que ao
faz-lo, regava as palmeiras e elas cresciam.
O bar era realmente barulhento. Um louco
gritava sempre, religiosamente, oferecendo sua
voz ao mundo como verdadeira e nica ddiva
disponvel.
O grito do louco era alto e forte, mas a solido
da mulher no fcava atrs, era grande, muito
grande.
O homem l em cima, esse eu no sei se sentia
solido. Eu no sei, nem nunca soube o que
aquele homem sentia.
Mas a mulher , essa eu sei, queria amar. E o
louco, talvez o que ele quisesse fosse atingir
com seu grito, o 19 andar. Talvez ele quisesse
que o homem soubesse que ele ali estava. Mas
s conseguia ser ouvido pelo vizinho, que
aborrecido com o barulho jogava gua. E a gua
caa no vaso e as palmeiras cresciam, e acabaram
dando fores.
O bar era realmente barulhento.
A praa no. A Praa era calma. Nela
andarilhavam as putas, os veados, os travestis,
os michs, os drogados e um ou outro ladro.
Conviviam quase que pacifcamente.
L do alto o homem via a praa, via o rio e via
o bar. Mas no sabia que a mulher dentro da
casa trrea sentia tanta solido. E permanecia
pensando. Eu no sei em que aquele homem
pensava...
A noite passou inteira, escura.....
A mulher, coitada! Desistiu. No encontrou uma
alma sequer pra lhe amar. Foi dormir. O louco,
de tanto gritar, fcou rouco. E o vizinho, de to
irritado com o barulho, quase que fcou louco.
Isso s no aconteceu porque o ato de encher
o balde e despejar era um ato to comum, to
corriqueiro, que o prendia terra e o mantinha
em contato com uma estranha lucidez.
As palmeirinhas do vaso, ah! Essas eu j contei.
Delas brotaram lindas fores matutinas. Abriram
com o sol. E os ltimos bbados puderam antes
de ir pra casa dormir, se deliciar com sua beleza.
S no conseguiram sentir seu aroma que o
cheiro de lcool em suas narinas era mais forte.
Pronto! Agora o bar estava calmo.
Mas a praa, essa fcou agitada. Era gente
passando com pressa por todo canto. As putas,
os michs, os veados, os travestis, ih! Eles h
muito que dormiam, cansados de tanto amar.
Essa agora era outra gente. Era um povo viciado.
! Era gente que tinha mania de trabalhar.
E o sol era exatamente como essa gente. Ele no
era como a lua, que se dava ao luxo de aparecer
quando queria. O sol no! Ele estava ali, sempre!
E o homem?
Eu no sei. No tenho a menor idia do que possa
ter acontecido quele homem.
Provavelmente o que lhe aconteceu foi alguma
coisa besta. ! Porque a vida mesmo essa coisa
besta. Deliciosamente besta!
Rosana Nogeuira, sociloga e atriz.
140
CONECTURAS | Milton Meira
Navegar neste perverso e alucinado cotidiano ainda me faz remontar cenrios decadentes diante
de uma gerao de sobreviventes, rebeldes, herana de muitos destinos j consumados no tempo,
consagrao pstuma de tantos naufrgios que a humanidade celebra diante do cos globalizado na
barbrie humana. Mas tudo se decanta com novas semeaduras, o verbo ainda se contrape a uma
tocha incendiria com seus acordes silenciosos, tensos, atrelados existncia, propondo confitos no
universo dos sentidos at se consagrar como chama transcendente diante da vida. Neste cenrio, a
sensibilidade pode ser sublimada na razo.
Sangra o crrego em olhos
a cor da imagem se desfaz no barro
e a lmina se quebra...
nega o rosto e a lavra riscando pginas...
sendo partos no sopro da palavra.
O barro traz o rosto
sangria de sombras diluindo-se na cor entre o corte e a imagem
tempo de passagem na lmina dos espelhos.
Ao olho atento cabe um outro cenrio, um cu subterrneo sendo temporariamente luz, onde a linha
imaginria faz o poema diluir-se em uma lmina de sombras, tempo atravessado em rimas diante de
uma centelha imperceptvel: raio animando sinas diante da palavra enraizada, imagens perfurando
subterrneos querendo chegar a um cu plenamente azul atravs do olhar, saga de uma chama
telrica recriando matria em um spro cada vez mais rebelde nas profundezas do silncio, lavra no
consumada rompendo teias!...
Aps o lacre se desfaz o poema
apenas o lquido decanta o p...
faz do livro aberto fragmentos de rudos
no tempo da palavra
que trz um rio na lavra do olhar.
A lmina suga o sumo j entranhado em pginas quase envelhecidas, mas a dor resiste morte diante
da criao: para quem olha uma lmina se transformando em espelho, vem o dilema: acirrando a
chama diante das cinzas o sol fca sempre submerso no tempo, voz de um rio, pgina de um rosto
submerso em luas onde o livro uma rua imaginria. Quando anima-se uma lmina a sina do espelho
faz o poema! outro cenrio em construo!...
Milton Meira, nasceu em Belm, 1950. Engenheiro e poeta.
141
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
LOST DOG | Benoni Arajo
Benoni Arajo, poeta autor de No por acaso disperso (Editora Co Guia, 2010).
voc est fora h tanto tempo
ao abrigo das noites & da lua
disperso por ruas praas boulevares
no responde por seu nome
girando em torno de si sem nunca chegar
o que voc guarda de vazio
no se esvai em paisagem alguma
um abismo por cavar
seguir sem senso de direo
perdido num cenrio de roer os ossos
voc segue apenas segue
abandonado [esquecido [anestesiado
incansvel busca
por uma mo que lhe afague
este rosto amvel & desfgurado pra cachorro
jamais esqueceu o antigo lar
[quantas estaes fcaram pra trs
at que voc tenha surgido!?]
- o que h l fora?
- nada! apenas um co latindo...
142
QUANDO PSICANLISE E LITERATURA CONVERSAM TTE--TTE
| Njla Assy
No vrtice da pirmide: inconsciente e
inquietude. Em outros termos: psicanlise e
literatura. No necessariamente nesta ordem: foi
o prprio Freud quem afrmou que todo caminho
que percorria um poeta j havia passado por
ele antes. Sabemos que ambos psicanalista e
escritor trilham as mesmas veredas seguindo
os vestgios da alma humana; aventuram-se
percorrendo in totum seu subsolo. Os dois
sabem que a humanidade um rebanho nico
apascentando-se sob a orientao de uma nica
lei: da sobrevivncia; estudam o comportamento
humano. A psicanlise descobre, determina a
existncia ou ocorrncia das imperfeies do
homem; a literatura, disse Emerson com outras
palavras, o esforo do homem para indenizar-
se pelas imperfeies da condio humana. Foi
pensando assim que resolvi travar conversao
com alguns pargrafos de quatro livros de minha
preferncia.
Trecho do Niels Lyhne de Jeans Peter Jacobsen:
O senhor me julga injustamente, senhor Bigum
respondeu Edele levantando-se; Bigum
tambm se levantou. Eu no me rio. O senhor
me pergunta se h alguma esperana e eu lhe
respondo: no, no h esperana. Nisso no h
absolutamente nada de risvel. Mas deixe-me
dizer-lhe uma coisa. Desde o primeiro momento
em que o senhor comeou a pensar em mim,
devia saber qual seria a minha resposta, e o
senhor a sabia, no verdade? O senhor a sabia
todo o tempo; mas apesar disso, dirigiu todos os
pensamentos e desejos para um alvo que sabia
nunca poder atingir. Seu amor no me ofende,
senhor Bigum, mas eu o lamento. O senhor fez
o que muitos outros fazem. Fecham os olhos
realidade, no querem ouvir o no que ela
ope aos nossos desejos; esquecem o abismo
profundo que os separa do seu objeto. Desejam
realizar os seus sonhos. Mas a vida no toma em
considerao os sonhos; no h um s obstculo
real que eles possam superar, e o homem afnal
acorda gemendo no fundo do abismo, que
no mudou, o mesmo de sempre. Mas ns
que mudamos, pois os sonhos excitaram a
imaginao, exasperaram os nossos desejos at
o ltimo limite. Nem por isso o abismo se tornou
menor, e tudo em ns anseia doloridamente
por transp-lo e atingir o outro lado. Mas no,
sempre no; no muda jamais. Era s termo-
nos resguardado a tempo... mas agora tarde,
fzemos a nossa infelicidade.
H o medo de ser desejada? Ou Edele talvez,
consciente da verdade mais dolorosa, expe ao
outro a impotncia de seu desejo. Bigum, por sua
vez, entra numa dimenso imaginria do desprezo
alimentado com o deboche de seus sentimentos.
A veemncia o eco que sustenta a desesperana.
Edele no percebe que o riso est suspenso na
dor do impossvel; sente culpa por desprez-lo?
Ou a percepo da realidade externa nunca ser
atingida como tal? um saber compartido. O
ser humano espera tempo todo que o outro seja
regido por suas convices. Lamentar uma
indiferena atroz choro de uma impiedade;
a amargura da onipotncia. Edele no sabe
que a verdade, embora no seja um monstro
de corpo de serpente, tambm possui mltiplas
cabeas tal qual a Hidra de Lerna; ou quem
sabe uma nuana entre mil erros. Somos todos
iguais quando fechamos os olhos permitindo que
nossos devaneios ganhem asas vo particular
143
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
que atravessa rochedos, criados certamente pelo
medo turbulento da impossibilidade. Pequenez
humana; concernentes aos que estendem sua
realidade universalizando-a com prepotncia
as convices de seus prprios temores. fcil
atribuir o impossvel ao outro; cegueira que
queima, encerra sua realidade em evidncias
fossilizadas. Edele sentencia o senhor Bigun
ao no desejo, ao no sonhar. Chama-me
memria a tribo dos Kazares aqueles que
tinham a capacidade de entrar e interferir nos
sonhos dos outros. Mas isso mais uma vez
mitologia. Impossvel manipular os sonhos
essa regio secreta, cheia de fantasias obscuras.
Edele pertence rvore genealgica dos Bazrov
niilista obstinado do romance Pais e Filhos,
obra-prima do escritor russo Ivan Turguniev.
Ela sabe que somos descendentes do velho
Cronos esse que nos devora impiedosamente;
que ordenados pelo tempo, construmos os fatos
comuns, seqenciados numa sincronia entre seus
precursores e suas implicaes; que no h mais
viagens; que os trilhos dos trens seguem em
faixas paralelas no fuxo das horas, fazendo-se
tarde: que possivelmente foram vendidas todas
as entradas do tempo; que somos errantes; que
no temos nosso prprio lugar no tempo; que
percebemos tarde demais que estamos suspensos
no ar, desancorados, na orfandade bigumiana
por assim dizer; que de nada adianta poetar sobre
a vida se no conseguimos agarr-la.
Trecho do Sanatrio de Bruno Schulz:
Ento, a poca genial existiu ou no? difcil
responder. Sim e no. Porque h coisas que
no podem acontecer totalmente, at o fm. So
grandes e magnfcas demais para caber num
acontecimento. Elas s tentam acontecer, elas
s verifcam se o solo da realidade as agenta.
E logo recuam, com medo de perder a sua
integridade na defcincia da realizao. E se
elas enfraqueceram o seu capital, se nessas
tentativas de reencarnao perderam uma
coisa ou outra, logo, invejosas, retomam a sua
propriedade, retiram-na de novo, reintegram-
se, e depois, na nossa biografa, aparecem
aquelas manchas brancas, estigmas perfumados,
aqueles rastros prateados dos ps descalos dos
anjos, disseminados por passos gigantescos nos
nossos dias e noites, enquanto esta plenitude da
glria aumenta e completa-se incessantemente
culminando sobre ns e ultrapassando triunfante
xtase aps xtase.
H um desafo silencioso, um lugar das aspiraes
humanas como potncia da cumplicidade; h
um desejo de retardamento do tempo para se
refugiar num passado seguro e ordenado. A
poca genial poder ter existido na realizao de
momentos como aqueles da experincia de ler na
infncia de que nos falou Walter Benjamin: Por
uma semana estava-se inteiramente entregue
impulso do texto, que envolvia branda e secreta
e densa e incessante como focos de neve; ou na
Idade de Ouro, do Paraso Perdido; ou em nossas
viagens a lugares imaginrios que se situam
em lugar algum idealizao de uma vida, um
futuro, ou, aqui no caso especfco, um passado.
Utopismo mnemnico se assim podemos dizer:
voltarmos quem sabe ao Jardim das Hesprides
cheio de fontes de ambrosia e uma plantao
de mas de ouro. Ou visitarmos as casas de
iluso dos sentidos da Nova Atlntida de Francis
bacon lugar no qual reproduzem toda a sorte
de proezas de prestidigitao, falsas aparncias,
imposturas e iluses e saeus logros. Mas o nosso
autor (menos ingnuo) d uma trgua entre o
passado irrevogvel e o futuro incapaz de ser
nominado; a vida sem encontrar seu lugar no
tempo; a vida corrompendo-se no seu prprio
fundamento. So suas certezas de duvidas; a
ncora narcsica de um vir-a-ser na defcincia
da realizao; o medo arcaico de fragmentao
da sua identidade enfraquecendo seu capital
nas lacunas do tempo; elas s tentam acontecer;
s verifcam se o solo da realidade as agenta:
nada se pode tornar manifesto a si mesmo sem
resistncia. O humano possui uma natureza
de palpitante e ambgua beleza; tragado pela
certeza de sua utopia; sustentado por um
ego criador de uma realidade prpria pilar de
sua subjetividade. Freud diz que precisamos
fantasiar porque algo nos falta; uma sensao
de sermos incompletos, uma saudade sem rosto,
cujo sentimento chama-se angstia. Espcie
de insatisfao estruturante fundamentada nos
desejos irrealizveis. Desejar a fora propulsora
da fantasia; reduzir o abismo do no ser;
144
transitar entre pulso de vida pulso de morte
onde a vida se refaz. a amnsia infantil, esse
libi perfeito para refugiarmos atrs das manchas
brancas, vu difano da deslembrana.
Trecho da Casa das belas adormecidas de
Kawabata:
Era um sinal de que ele prprio havia envelhecido.
Sem dvida a garota dormia s para ganhar
dinheiro. Porm, para os velhos que pagavam
pelas jovens, o fato de poder deitar-se ao lado
de uma garota como aquela equivalia, sem
dvida, felicidade de se encontrar no paraso.
J que a menina no acordava, o cliente idoso
no precisava envergonhar-se do complexo de
senilidade, e ganhava a permisso de perseguir
livremente suas fantasias a respeito das mulheres
e mergulhar em recordaes. Talvez por isso
no hesitassem em pagar mais caro pela garota
adormecida do que por uma mulher acordada.
O fato de essas meninas jamais saberem nada
sobre os velhos proporcionava a eles maior
tranqilidade. Por sua vez, eles no sabiam
nada sobre as condies de existncia ou a
personalidade delas. Estava tudo planejado para
no deixar nenhuma pista, para que nem mesmo
se pudesse conhecer as roupas que elas usavam.
No se tratava apenas de razes banais para
evitar algum incmodo posterior aos velhos,
mas de uma luz misteriosa na profundidade das
trevas.
Essas meninas adormecidas so Aridnes
desenrolando o novelo proporo que a
solido dos velhos avana. Decrpitos que
lanam mo do auxlio de Eros para reencontrar
momentaneamente sua unidade primordial, a
felicidade enriquecida pela fantasia e pela
arte da cerimnia, neste mosteiro sexual,
como sugeriu Vargas Llosa. Tanto no texto
escolhido, quanto no romance todo, se descreve
persuasivamente essa pulso de morte
sedimentada numa natureza estrangeira que
encerra todo o ncleo de qualquer intimidade
que parece estar inevitavelmente escondida
na entranha do sexo, padro de aferimento da
insondvel complexidade da alma humana. Na
escurido do mundo est enterrada toda uma
variedade de transgresses. A pulso de morte
entranha-se de desejos insaciveis, demnios sem
atadura, apetites bestiais. A personagem central
do livro revela a tentao inata de suas fantasias
de crueldade e mortes excitantes para com suas
belas adormecidas. O erotismo regado pela
pulso de morte desejo indomvel; a liberdade
sua potencia de transgresso que culmina
em morte conotao topolgica ao limite
infranquevel nos alicerces da subjetividade.
Verdadeira fenda negra que aspira sempre a
fossilizao do sujeito, permanecendo numa
zona de conforto afitivo, numa vida inerte. As
belas adormecidas com seus olhos silenciosos
fazem com que seus clientes decrpitos esqueam
a linha do tempo, protegidos da humilhao
do olhar perverso da jovem acompanhante. Os
velhos so seduzidos pelos seus desejos mais
adormecidos, mergulhando-os numa trama
singular entre espao e tempo. O escritor nos
evoca a esse paradigma, abrindo distncia
entre as personagens, criando nova capacidade
espacial de explorar sensaes j mortas pela
decrepitude do envelhecer. Juventude impiedosa
perdida nesse hiato espao-tempo. Drama senil.
Impotncia do olhar trazendo a incapacidade do
tocar. Rima sem soluo drummondiana.
Trecho de Os passos em volta de Herberto
Helder:
Este senhor taciturno que me recebe com uma
fria gentileza parece ter viajado muito. Agora
vive na nossa cidade que no sei se tambm
a dele numa casa quase sem mveis que me
faz sentir gelada, mais gelada ainda depois de
atravessar as ruas escuras e nevoentas. Ele paga-
me bem, este senhor, e por isso venho muitas
vezes. Est sempre s, bebendo e ouvindo
discos interminveis. A casa est cheia de fumo.
horrvel. Mas pergunto: ser apenas por me
pagar bem que volto sempre? Bato de leve
porta, e ouo o disco parar bruscamente ou
descer para um sussurro. Os passos deslocam-
se pelo corredor, a porta abre-se muito devagar.
E c est a cara dele feia, triste e os olhos
frios. Sorri incrivelmente assim como quem
vai pedir desculpa, e depois fca de sbito muito
srio. Estou farta dos homens, quase nunca tenho
prazer em ir para a cama com eles. Porque
145
P
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
o
n
1
4
|
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
S
e
l
v
a
g
e
m
to degradante a insolncia dos jovens como a
devassido dos velhos. Sinto-me muito s junto
deles, acho-os absurdos com o seu sofrimento
mal oculto atrs de uma simulada virilidade. H
neles uma solido igual minha, to premente
como ela, mas a que a fatuidade tira qualquer
nobreza. Os homens imaginam, suponho, que
me sinto humilhada na minha profsso e que
existem em mim, sempre prontos, um apelo, uma
splica. Mas no. Estou s, apenas isso, e a muita
gente j tenho eu ouvido dizer o mesmo. s
vezes ele toca-me no Rosto com muita ateno
e vejo que h por detrs dos seus gestos, do
silncio, um ardor exasperado mas impaciente ou
envergonhado de si. um homem que eu deveria
socorrer. Tento mostrar-lhe que h algures, nas
nossas possibilidades humanas, uma zona onde a
vida se regenera. Eu prpria gostaria de ser mais
alegre e generosa, mas hesito nos meus impulsos.
Existe nos homens essa insuportvel fatuidade,
um orgulho estpido e, l no fundo, uma espcie
de condio prpria: inalcanvel, repugnante.
Decerto: misericrdia o que desperta em mim,
ou o desejo talvez de abrir nele um caminho
tenazmente vedado.
No, ela jamais acreditaria naquele mstico
persa que dizia ter realizado a unidade absoluta
entre o amado, o amante e o amor. A prpria
vida desta mulher (que carrega a carga pesada
dos mais torpes sinnimos) deixou-a suspeitosa,
incrdula, fechada a todos os argumentos.
Apesar de tambm ter recebido o castigo
de tentar eternamente encher de gua vasos
furados, tal qual as Danaides, e de percorrer as
profundezas do abismo, altiva, no carrega
consigo uma amargura vingativa. Tanto no
trecho acima (agora analisado) quanto noutros
contos do livro h um conjunto de pessoas
solitrias, povoadas de si mesmas. Um conjunto
de Coriolanos por assim dizer. No podemos a
priori fazer uma interpretao simples racional
da solido. Tomando conselho apenas em seu
sentido lexical: ela vai digamos um pouco alm
das colunas de Hrcules. Antes de tudo ratifca,
subscreve a tese segundo a qual o homem
no consegue agir individualmente, apenas
o consegue fazer se for apoiado e interagir
com outros participantes neste jogo coletivo.
Difcilmente conseguimos suportar in totum
nosso isolamento. Tanto a prostituta quanto este
senhor taciturno so como o duplo, um outro de
si mesmo incgnito como tal e reconhecido
pela sensao de estranhamento que ele capaz
de causar. Sabe-se que a sociedade moderna
rene os homens mais do que qualquer outra fez;
os agrupa, mas a solido fca ainda mais evidente
com isso: sente-se muito mais s no anonimato
das grandes cidades. Oportuno dizer que este
livro do qual tiramos o trecho agora analisado
tem como epgrafe a seguinte afrmao: Se eu
quisesse, enlouquecia. A narradora que vende
seu corpo poderia com toda propriedade ter dito
que o universo passa bem sem ela; e que o tdio
uma inspirao sem mcula; e que est farta
das pessoas, os falsos enigmas, as noites em que
entra e sai da cama de homens desesperados.
Iguais a ela. Duplos. Um Eu apoderando-se da
imagem do outro, provocando-nos uma sensao
de inquietante estranheza.
Najla Assy, Psicanalista, Doutorado em Psicologia Sorbonne Paris-VII e Universidad Autonoma de Madrid. Mestre em Psicologia
vertente flosofa (Universidad Complutense de Madrid); Especialista em Psicologia Clinica (Universidad de Comillas de Madrid);
Professora Universitria. Autora de diversos artigos. Pesquisadora IMS (Instituto de Medicina Social) do Programa de Estudos e
Pesquisas da Ao e do Sujeito PEPAS-UERJ. Professora do Pinel. Pesquisadora convidada a UNICAMP.
Quem tem cultura v tudo mais claro.
www.lummeeditor.com
Cultura de Paz e Incluso
You might also like
- A Estranha Morte Do Professor AntenaDocument47 pagesA Estranha Morte Do Professor AntenaJulho D'OliveiraNo ratings yet
- A Harpa do Crente: Tentativas poeticas pelo auctor da Voz do ProphetaFrom EverandA Harpa do Crente: Tentativas poeticas pelo auctor da Voz do ProphetaNo ratings yet
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasFrom EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNo ratings yet
- Associação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaFrom EverandAssociação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaNo ratings yet
- As transfigurações de RimbaudDocument5 pagesAs transfigurações de RimbaudWilliam Funes100% (3)
- O Amante, de Marguerite Duras: relacionamentos interpessoais e contradições em uma sociedade colonialFrom EverandO Amante, de Marguerite Duras: relacionamentos interpessoais e contradições em uma sociedade colonialRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- O Império e a Senhora: memória, sociedade e escravidão em José de AlencarFrom EverandO Império e a Senhora: memória, sociedade e escravidão em José de AlencarNo ratings yet
- FERRÉZ Manifesto Literatura Marginal en BrasilDocument1 pageFERRÉZ Manifesto Literatura Marginal en BrasilSamanta RodríguezNo ratings yet
- Marquard (Narrare Necesse Est)Document3 pagesMarquard (Narrare Necesse Est)Ian FonsecaNo ratings yet
- A correspondência de Fradique Mendes memórias e notasFrom EverandA correspondência de Fradique Mendes memórias e notasNo ratings yet
- Subverso FinalDocument144 pagesSubverso FinalJeff Vasques - EupassarinhoNo ratings yet
- Deserto Da Literatura MARCOS SISCARDocument11 pagesDeserto Da Literatura MARCOS SISCARDanielle MarinhoNo ratings yet
- Escrever AtravésDocument88 pagesEscrever AtravésTadeu RenatoNo ratings yet
- Trinta e tantos livros sobre a mesa: Críticas e resenhasFrom EverandTrinta e tantos livros sobre a mesa: Críticas e resenhasNo ratings yet
- Poesia erótica feminina brasileira nos inícios do século XXDocument19 pagesPoesia erótica feminina brasileira nos inícios do século XXJúlia MelloNo ratings yet
- Revisão da edição de Álvaro de CamposDocument19 pagesRevisão da edição de Álvaro de CamposRodrigo Alexandre de Carvalho Xavier100% (1)
- Dona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraFrom EverandDona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraNo ratings yet
- O Etnógrafo de BorgesDocument4 pagesO Etnógrafo de BorgesGustavo R. Chiesa100% (1)
- História e Crítica Da Literatura EspanholaDocument3 pagesHistória e Crítica Da Literatura EspanholaDiogo AugustoNo ratings yet
- Arte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaFrom EverandArte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaNo ratings yet
- Erros de escolares como indicadores linguísticosDocument8 pagesErros de escolares como indicadores linguísticosAquiles Tescari Neto100% (1)
- Camus discurso Nobel 1957Document4 pagesCamus discurso Nobel 1957MatheusMaiaNo ratings yet
- Tudo é construído! tudo é revogável!: A teoria construcionista crítica nas ciências humanasFrom EverandTudo é construído! tudo é revogável!: A teoria construcionista crítica nas ciências humanasNo ratings yet
- Literatura e nação: esboço de uma releituraDocument8 pagesLiteratura e nação: esboço de uma releituraJh SkeikaNo ratings yet
- Hofmannsthal. Carta de Lord Chandos para Francis Bacon1Document11 pagesHofmannsthal. Carta de Lord Chandos para Francis Bacon1Mario SantiagoNo ratings yet
- Antelo - La Arealidad SetentistaDocument8 pagesAntelo - La Arealidad SetentistaAnabela PilarNo ratings yet
- O Boom Latino-Americano Recepção e TraduçãoDocument14 pagesO Boom Latino-Americano Recepção e TraduçãoMarcelo da CostaNo ratings yet
- Análise da obra poética Raro Mar de Armando Freitas FilhoDocument4 pagesAnálise da obra poética Raro Mar de Armando Freitas FilhoCharles AguiarNo ratings yet
- O Emílio Como Categoria Operatória Do Pensamento RousseaunianoDocument15 pagesO Emílio Como Categoria Operatória Do Pensamento RousseaunianoHirlaAndersonNo ratings yet
- Para além das palavras: Representação e realidade em Antonio CandidoFrom EverandPara além das palavras: Representação e realidade em Antonio CandidoNo ratings yet
- O AMOR COMO A PRÁTICA DA LIBERDADEDocument9 pagesO AMOR COMO A PRÁTICA DA LIBERDADELaís CabralNo ratings yet
- Argumentacao e LinguagemDocument9 pagesArgumentacao e LinguagemHeleine FernandesNo ratings yet
- Fronteiras Da DiferencasDocument18 pagesFronteiras Da Diferencasanon_195752251No ratings yet
- Cardeno NegrosDocument262 pagesCardeno NegrosHtaleoNo ratings yet
- Entrevista NancyDocument7 pagesEntrevista NancypedrofreitasnetoNo ratings yet
- Conceição Evaristo - Chica Que Manda Ou A Mulher Que Inventou o Mar - Literatura Afro-BrasileiraDocument15 pagesConceição Evaristo - Chica Que Manda Ou A Mulher Que Inventou o Mar - Literatura Afro-BrasileiraHeleine FernandesNo ratings yet
- A Mulher Negra Nos Cadernos Negros - Fernanda Figueiredo PDFDocument128 pagesA Mulher Negra Nos Cadernos Negros - Fernanda Figueiredo PDFHeleine FernandesNo ratings yet
- A Consciência Da Mestiça - Anzaldua PDFDocument16 pagesA Consciência Da Mestiça - Anzaldua PDFFátima LimaNo ratings yet
- Espelho de Oxum - Tatiana NascimentoDocument185 pagesEspelho de Oxum - Tatiana NascimentoHeleine FernandesNo ratings yet
- Edimilson de A. Pereira-Territórios Cruzados - Relações Entre Cânone Literário e Literatura Negra E - Ou Afro-Brasileira - Literatura Afro-BrasileiraDocument24 pagesEdimilson de A. Pereira-Territórios Cruzados - Relações Entre Cânone Literário e Literatura Negra E - Ou Afro-Brasileira - Literatura Afro-BrasileiraHeleine FernandesNo ratings yet
- Mulheres negras moldando a teoria feministaDocument18 pagesMulheres negras moldando a teoria feministaDaya GomesNo ratings yet
- L Excrit Nancy PDFDocument9 pagesL Excrit Nancy PDFHeleine FernandesNo ratings yet
- A Crônica Machadiana Na Formação Da Literatura BrasileiraDocument9 pagesA Crônica Machadiana Na Formação Da Literatura BrasileirasaracccNo ratings yet
- L Excrit Nancy PDFDocument9 pagesL Excrit Nancy PDFHeleine FernandesNo ratings yet
- A poesia como acesso ao sentidoDocument9 pagesA poesia como acesso ao sentidoEllena Rizzi100% (1)
- A Escritura Do DesastreDocument98 pagesA Escritura Do DesastreHeleine Fernandes100% (1)
- Essencia Riso Charles BaudelaireDocument10 pagesEssencia Riso Charles BaudelaireTiaqo MartinsNo ratings yet
- O Homem em Farrapos - Revista Portfolio EAVDocument8 pagesO Homem em Farrapos - Revista Portfolio EAVHeleine FernandesNo ratings yet
- Deleuze A Imagem MovimentoDocument244 pagesDeleuze A Imagem MovimentoLeonardo AlvesNo ratings yet
- Duas PaixõesDocument32 pagesDuas PaixõesHeleine FernandesNo ratings yet
- Versão eletrônica do livro Que é isto - A FilosofiaDocument19 pagesVersão eletrônica do livro Que é isto - A FilosofiaMetal LifeNo ratings yet
- Saeb Língua Portuguesa Descritores 5o 9o 3aDocument4 pagesSaeb Língua Portuguesa Descritores 5o 9o 3aRosângela Lopes Da SilvaNo ratings yet
- Metodologias de ensino de línguasDocument22 pagesMetodologias de ensino de línguasWagner OliveiraNo ratings yet
- Discurso direto vs indiretoDocument3 pagesDiscurso direto vs indiretoteresamirandaNo ratings yet
- A figura do anjo na publicidade: câmbios estéticos de um mito modernoDocument160 pagesA figura do anjo na publicidade: câmbios estéticos de um mito modernoeduardoNo ratings yet
- NovoMSI6 – Expressões numéricas e potênciasDocument2 pagesNovoMSI6 – Expressões numéricas e potênciasAna Lemos100% (1)
- Organização de Um RelatórioDocument2 pagesOrganização de Um RelatórioMaria Casanova50% (2)
- O Macaco e o Coelho brincam e se vingamDocument4 pagesO Macaco e o Coelho brincam e se vingamFabyola CostaNo ratings yet
- Frases Prontas Do Inglês para o Dia A DiaDocument22 pagesFrases Prontas Do Inglês para o Dia A Diafrancisco elizardo100% (1)
- As Origens Da AlmaDocument2 pagesAs Origens Da AlmaAnala GrianNo ratings yet
- Analisando criticamente o senso crítico no dia-a-dia e nas ciências humanasDocument180 pagesAnalisando criticamente o senso crítico no dia-a-dia e nas ciências humanasvinicius0% (1)
- Japoneses ExpressõesDocument13 pagesJaponeses ExpressõesfranksteinjrNo ratings yet
- A Vida de Salazar, Primeiro Volume - FRANCO NOGUEIRADocument349 pagesA Vida de Salazar, Primeiro Volume - FRANCO NOGUEIRAruddyhorn100% (1)
- Aula 1Document5 pagesAula 1Lucas Ferreira Dantas SantosNo ratings yet
- Linguagens 2018 GratisDocument59 pagesLinguagens 2018 GratisRodrigoNo ratings yet
- Avaliação de PortuguêsDocument5 pagesAvaliação de PortuguêsGidelmo FariasNo ratings yet
- Atividade de Portugues Substantivos 4º Ou 5º AnoDocument2 pagesAtividade de Portugues Substantivos 4º Ou 5º Anomary5stela5camillato88% (8)
- Inglês Instrumental - Aula 04 - LAV FatecieDocument4 pagesInglês Instrumental - Aula 04 - LAV FateciepaulogregioperitoNo ratings yet
- Análise linguística na UEM: do estado da arte ao estatuto dialógicoDocument232 pagesAnálise linguística na UEM: do estado da arte ao estatuto dialógicoTacia RochaNo ratings yet
- Ensinando sobre formigas com músicaDocument8 pagesEnsinando sobre formigas com músicaAna DiasNo ratings yet
- Roteiro Teste PalográficoDocument4 pagesRoteiro Teste PalográficoMariana Frantz100% (1)
- 1 AnoDocument41 pages1 Anoflaviane100% (2)
- A Influência Africana No Portugues Do BrasilDocument200 pagesA Influência Africana No Portugues Do BrasilElder Fabiano da Silva100% (2)
- Peter Chen, criador do MERDocument1 pagePeter Chen, criador do MERgoratoNo ratings yet
- FLORY, Suely Fadul Villibor. O Leitor e o Labirinto PDFDocument137 pagesFLORY, Suely Fadul Villibor. O Leitor e o Labirinto PDFclaudio_faga5751No ratings yet
- O Dia Triunfal de Fernando PessoaDocument8 pagesO Dia Triunfal de Fernando Pessoareferee198032No ratings yet
- Vivendo Pela Fé PDFDocument141 pagesVivendo Pela Fé PDFAna SuelyNo ratings yet
- Gianni Vattimo. O Fim Da ModernidadeDocument10 pagesGianni Vattimo. O Fim Da ModernidadeMiguel Mutheli0% (1)
- Família de palavrasDocument5 pagesFamília de palavrasSferreiraNo ratings yet
- Funções da Linguagem em Textos LiteráriosDocument11 pagesFunções da Linguagem em Textos LiteráriosMarina GrandolphoNo ratings yet