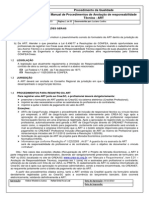Professional Documents
Culture Documents
Apostila Hidrometria FINAL
Uploaded by
Marcelle GoliniCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Apostila Hidrometria FINAL
Uploaded by
Marcelle GoliniCopyright:
Available Formats
CURSO DE CAPACITAO EM
HIDROLOGIA E HIDROMETRIA
PARA CONSERVAO DE MANANCIAIS
Percolao
Nuvem
Precipitao
Evaporao
Evapotranspirao
Evaporao
LAGO
Vazo total
Interceptao
Infiltrao
Transpirao
Evaporao
RIO
Esc. Subterrneo
ORGANIZAO:
MASATO KOBIYAMA
FERNANDO GRISON
ALINE DE ALMEIDA MOTA
HENRIQUE LUCINI ROCHA
FLORIANPOLIS, FEVEREIRO DE 2009
2
1 edio
1 impresso 2009
_______________________________________________________________________________________
Kobiyama, Masato
Curso de capacitao em hidrologia e hidrometria para conservao de mananciais Florianpolis:
UFSC/CTC/ENS/LabHidro, 2009.
211p.
Inclui bibliografia
1. Hidrologia. 2. Hidrometria. 3. Mananciais.
_________________________________________________________________________________
Impresso no Brasil
2009
3
AUTORES
Aline de Almeida Mota (Acadmica do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e Ambiental -
UFSC, aline.mota86@hotmail.com)
Antnio Augusto Alves Pereira (Professor, Departamento de Engenharia Rural (ENR) - UFSC,
aaap@cca.ufsc.br)
Catia Regina Silva de Carvalho Pinto (Ps-doutoranda, Departamento de Engenharia Sanitria e
Ambiental (ENS) - UFSC, catia@ens.ufsc.br)
Cristina Henning da Costa (Mestranda, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental
(PPGEA) - UFSC, crishcosta@yahoo.com.br)
Davide Franco (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) - UFSC,
franco@ens.ufsc.br)
Fernando Grison (Mestrando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental (PPGEA) -
UFSC, fernando@ens.ufsc.br)
Gabriela Pacheco Corra (Acadmica do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e
Ambiental - UFSC, gabrielapaco@yahoo.com.br)
Gilmar de Oliveira Gomes (Doutorando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental
(PPGEA) - UFSC, goliveirag@gmail.com)
Henrique Frasson de Souza Mrio (Doutorando, Programa de Ps-graduao em Engenharia
Ambiental (PPGEA) - UFSC, hfrasson@yahoo.com.br)
Henrique Lucini Rocha (Mestrando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental
(PPGEA) - UFSC, henrique.lucini@gmail.com)
Joana ery Giglio (Acadmica do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e Ambiental -
UFSC, Joana_n_g@yahoo.com.br)
Marcelo Seleme Matias (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e Ambiental
- UFSC, marcelosmatias@yahoo.com.br)
Masato Kobiyama (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) - UFSC,
kobiyama@ens.ufsc.br)
Pedro Guilherme de Lara (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e
Ambiental - UFSC, pedroguilherme.lara@gmail.com)
Pedro Luiz Borges Chaffe (Mestrando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental
(PPGEA) - UFSC, plbchaffe@yahoo.com.br)
Pricles Alves Medeiro (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) -
UFSC, pericles@ens.ufsc.br)
Raphael Fernando de Andrade Martins (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia
Sanitria e Ambiental - UFSC, rmartins.esa@gmail.com)
Vincius Ternero Ragghianti (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e
Ambiental - UFSC, viniciusrag@gmail.com)
William Gerson Matias (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) -
UFSC, will@ens.ufsc.br)
4
PROGRAMA DO CURSO
09/02/2009 10/02/2009 11/02/2009 12/02/2009 13/02/2009
8:00
s
12:00hs
Apresentao
Captulos 1,
2 e 3
Captulos 13
e 14
Sada de
campo:
Joinville
Captulo 8 Captulo 12
13:30
s
17:30hs
Captulos 4,
5 e 9
Captulos 6,
7 e 11
Sada de
campo:
Lagoa da
Conceio e
Jurer
Captulos 10
e 15
Encerramento
5
SUMRIO
AUTORES .................................................................................................................................... 3
SUMRIO .................................................................................................................................... 5
PREFCIO ................................................................................................................................... 6
1. INTRODUO ..................................................................................................................... 7
2. MICROBACIAS HIDROGRFICAS .................................................................................. 12
3. CICLO HIDROLGICO E PROCESSOS HIDROLGICOS .............................................. 23
4. PRECIPITAO ................................................................................................................. 26
5. INTERCEPTAO ............................................................................................................. 47
6. INFILTRAO ................................................................................................................... 58
7. PERCOLAO ................................................................................................................... 72
8. VAZO EM RIOS E CANAIS ............................................................................................ 97
9. USO DE MOLINETE E ADCP .......................................................................................... 112
10. GERAO DE VAZO NO RIO ..................................................................................... 126
11. EVAPOTRANSPIRAO ................................................................................................ 152
12. TOXICOLOGIA AMBIENTAL E QUALIDADE DE GUA ........................................... 168
13. INSTALAO E MANUTENO DE ESTAES HIDROMETEOROLGICAS DE
TELEMETRIA COM BAIXO CUSTO ............................................................................ 183
14. PROCESSOS FSICOS EM AMBIENTES ESTUARINOS ............................................... 196
15. CONCLUSES ................................................................................................................. 211
6
PREFCIO
A presente apostila foi elaborada como material didtico para a realizao do Curso de
capacitao em hidrologia e hidrometria para conservao de mananciais no perodo de 09 a 13 de
fevereiro de 2009, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa realizao faz parte
do projeto cujo ttulo o mesmo do curso, financiado pelo Edital MCT/CNPq/ CT-HIDRO n
037/2006 (Seleo Pblica de Propostas no mbito da Ao Vertical Capacitao em Hidrometria).
O objetivo deste curso tornar tcnicos da rea de recursos hdricos, capazes de monitorar, calcular
e analisar os principais processos hidrolgicos que ocorrem em microbacias hidrogrficas.
A maioria dos autores da apostila pertence ao Laboratrio de Hidrologia
(www.labhidro.ufsc.br) do Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental ENS da
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Assim, se encontram nesta apostila vrios
resultados do trabalho desse laboratrio. Como a hidrometria que serve para conservao de
mananciais possui uma abrangncia maior, houve mais apoio para a realizao, de vrios
laboratrios: Laboratrio de Agricultura Irrigada (Departamento de Engenharia Rural ENR);
Laboratrio Integrado do Meio Ambiente (ENS); Laboratrio de Toxicologia Ambiental (ENS);
Laboratrio de Hidrulica (ENS); e Laboratrio de Hidrulica Martima (ENS). Alm disso, a
Companhia guas de Joinville sempre apoiou a prtica da hidrometria no local. Ento, aqui
manifesto sincero agradecimento aos referidos laboratrios e companhia pelo enorme apoio na
realizao do curso e na elaborao da apostila.
Os integrantes do Laboratrio de Hidrologia (LabHidro) esto abertos a crticas, e a
quaisquer possveis questionamentos. Para isso, as informaes para contato esto disponveis
abaixo e tambm no site do LabHidro www.labhidro.ufsc.br. Alm disso, no site pode-se saber mais
sobre os respectivos estudos e trabalhos.
Florianpolis, 02 de fevereiro de 2009
Masato Kobiyama
Contato:
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental ENS
Laboratrio de Hidrologia LABHIDRO
Caixa postal 476 - CEP 88040-900
Florianpolis SC
Telefone: (48) 3721-7749
email: labhidro@ens.ufsc.br
7
1. ITRODUO
Masato Kobiyama
Pedro Luiz Borges Chaffe
Aline de Almeida Mota
1.1 Hidrologia
A hidrologia a cincia (logia) da gua (hidro). Segundo UNESCO (1964), Hydrology is
the science which deals with the waters of the earth, their occurrence, circulation and distribution on
the planet, their physical and chemical properties and their interactions with the physical and
biological environment, including their responses to human activity. Hydrology is a field which
covers the entire history of the cycle of water on the earth. Ento, internacionalmente a hidrologia
definida como a cincia que lida com a gua da Terra, sua ocorrncia, circulao e distribuio no
planeta, suas propriedades fsicas e qumicas e sua interao com o ambiente fsico e biolgico,
incluindo suas respostas para a atividade humana. A hidrologia o campo que cobre a inteira
histria do ciclo da gua na terra.
A hidrologia trata dos processos fsicos relacionados gua que ocorrem no meio natural. O
ser humano, por sua vez, cria tecnologias de modo a adequar sua ocupao no ambiente, por isso a
quantificao da disponibilidade hdrica utilizada para o planejamento e o gerenciamento dos
recursos hdricos. Aprimorando e possibilitando assim, atividades como, abastecimento de gua,
agricultura irrigada e a dessedentao de animais, aqicultura, navegao, gerao de energia
eltrica, recreao e lazer e preservao da fauna e flora. Essas atividades tornaram-se vitais para a
humanidade e, portanto devem ser controladas de maneira sustentvel.
O planejamento dos recursos hdricos uma atividade que visa adequar o uso, controlar e
proteger a gua s demandas sociais e/ou governamentais, fornecendo subsdios para o
gerenciamento dos mesmos (LANNA, 2004). A funo da hidrologia nesse processo auxiliar na
obteno de informaes bsicas e fundamentais como na coleta e anlise de dados hidrolgicos. A
Figura 1.1 mostra essa funo no contexto do gerenciamento dos recursos hdricos. Assim, nota-se
que a hidrologia uma cincia fundamental no gerenciamento dos recursos hdricos.
Existem dois tipos de atividades na hidrologia: monitoramento e modelagem. A observao
ou medio contnua de processos chama-se monitoramento. A diferena entre o monitoramento e o
diagnstico que o primeiro possui a atividade contnua e o segundo normalmente no. Na
natureza, os experimentos so realizados em tempo real e em escala real, e o monitoramento neste
caso busca obter e interpretar dados. Tratando-se de processos de grande complexidade, como os
encontrados em bacias hidrogrficas, podem existir srias dificuldades em criar um modelo. Neste
caso, primeiro pode-se fazer o monitoramento, e os resultados obtidos possibilitaro ou auxiliaro
na modelagem.
Os fenmenos naturais so de grande complexidade e muitas vezes existe a impossibilidade
de medir e percorrer todas as suas partes e/ou etapas. Isso acaba dificultando os estudos para sua
compreenso. Uma abordagem bsica destes fenmenos, apenas para compreend-los fisicamente e
8
de forma genrica, torna necessria a utilizao de leis empricas e de hipteses, o que requer a
aplicao da modelagem. Portanto, para estudar os fenmenos, precisa-se ter modelos. O modelo
uma apresentao do sistema (ou objeto) tanto esttico quanto dinmico. Existem dois tipos: (1)
modelo fsico e (2) modelo matemtico (analtico e/ou numrico). O primeiro usa umas formas
fsicas, enquanto o segundo linguagens matemticas.
Qualquer modelo uma aproximao realidade. Para ter melhor modelo, necessita-se
observao do sistema, ou seja, monitoramento. O modelo numrico possui vrias vantagens, como:
facilidade de execuo, baixo custo, rpida obteno dos resultados, permitindo a simulao de
experimentos inviveis na prtica. Isso facilita a previso dos fenmenos e processos naturais. O
uso deste tipo de modelo est sendo incrementado pelo desenvolvimento da tcnica computacional,
permitindo sofisticaes.
Figura 1.1. Hidrologia no contexto do gerenciamento dos recursos hdricos. (Modificao de
KUIPER, 1971).
A simulao a execuo do modelo. Nesta execuo, a calibrao do modelo
indispensvel. Pela natureza da simulao, quanto mais sofisticado o modelo, mais calibraes so
necessrias. A calibrao do modelo sempre feita com dados obtidos pelo monitoramento.
Ento fica claro que o sucesso do modelo, da modelagem e da simulao depende da
qualidade do monitoramento e que no h nenhum bom modelo sem o uso de dados obtidos do
fenmeno monitorado. Assim, a modelagem e o monitoramento no se confrontam, passando a
serem mtodos cientficos mutuamente complementares, efetuados sempre paralelamente.
9
Mais complexidade, mais dados para calibrar modelos. Modelo s til se testado com
dados reais.
1.2 Hidrometria
A hidrometria uma parte da hidrologia. Pode-se dizer que o monitoramento hidrolgico a
hidrometria feita de maneira contnua. Como a hidrometria responsvel pela coleta e fornecimento
de dados, ela pode ser considerada a base experimental da hidrologia, que uma cincia natural e
emprica. Enquanto os modelos so uma representao da realidade, podemos considerar os dados
medidos como o mundo real. O hidrometrista deve ento entender e optar por mtodos apropriados
para a medio do fenmeno em questo, saber os custos e detalhamento adequados para cada
trabalho, cuidar da qualidade da medio e verificao dos dados.
Devido hidrologia aplicada engenharia ser dependente principalmente de dados de chuva
e vazo, foi nessa rea onde houve uma maior padronizao e consolidao dos mtodos de
medio. Porm, sabemos que a gua da chuva no cai diretamente no rio, e a circulao da mesma
no continente d-se em diferentes processos e escalas (interceptao e escoamento subterrneo, por
exemplo). Ento o hidrometrista deve ter habilidades que envolvam no s a rea de hidrulica de
canal, mas tambm topografia, fsica do solo e at mesmo agronomia. Com essas habilidades ele
pode medir processos hidrolgicos que passam pelas escalas do plot e da encosta at chegar escala
da bacia hidrogrfica propriamente dita.
Um dos desafios da hidrometria gerar dados consistentes onde a variabilidade espao-
temporal dos processos grande e tem-se um nmero limitado de aparelhos de medio. O principal
exemplo como medir a chuva de maneira representativa em uma determinada bacia sendo que
existe uma variabilidade tridimensional do fenmeno. A medio de vazo outra parte bsica da
maioria dos estudos hidrolgicos, porm o uso da curva-chave nas simulaes de cheias muito
discutvel sabendo-se que a incerteza na curva-chave aumenta abruptamente na parte extrapolada.
Ainda existe muita dificuldade em verificar e confirmar dados extrapolados de curvas-chave, pois a
vazo um fenmeno natural e que a medio em eventos extremos implica em risco de vida.
A hidrologia como cincia e como engenharia, depende dos dados e de modelos para poder
entender os processos e fazer previses. Muitas vezes os modelos do respostas aparentemente
coerentes mas pelos motivos errados. Portanto, a maneira mais produtiva de se trabalhar com
hidrologia aquela em que as pessoas que trabalham com monitoramento e com modelagem
tenham um dilogo e usem suas habilidades como complemento do conhecimento do prximo. O
hidrometrista pode reconhecer e informar as mudanas e problemas ocorridos durante o
monitoramento, e.g., mudanas no local da estao, horrios de medio, mudana de equipamentos
e mudanas de equipe. Esse tipo de informao essencial para a pessoa que vai trabalhar os dados,
porm fica muitas vezes em um escritrio.
1.3 Situao atual no brasil
No Brasil, h grande carncia de dados hidrolgicos de pequenas bacias hidrogrficas. A
instalao e coleta de dados tiveram como seu principal agente o setor de gerao de energia
eltrica. Desta forma, h poucos postos em bacias com menos de 500 km. O monitoramento das
pequenas bacias reveste-se, portanto, de fundamental importncia para a complementao da rede
10
de informaes hidrolgicas, alm de sua natural vocao para o estudo do funcionamento dos
processos fsicos, qumicos e biolgicos atuantes no ciclo hidrolgico. Em funo dessas
caractersticas, as pequenas bacias hidrogrficas tm sido utilizadas com maior freqncia em
estudos de regionalizao ou como bacias experimentais ou representativas (PAIVA, 2003).
O que se faz de hidrometria no Brasil hoje relacionado a grandes rios e bacias
hidrogrficas para produo de energia nas usinas hidroeltricas. Seus principais problemas so
decorrentes da qualidade de gua (presena de sedimentos) que alteram a vida til de uma barragem
e conseqentemente da usina e da produo de energia.
Atualmente h uma carncia no monitoramento de pequenas bacias hidrogrficas. Essas
bacias so importantes, pois a captao de gua para abastecimento pblico dos municpios
brasileiros realizada nesses mananciais. A qualidade da gua um dos principais fatores para sua
possvel captao nessas pequenas bacias pela verificao da carga de poluentes existente nos rios.
Outro problema que poder ser amenizado com um maior controle hidrolgico a questo
da macrodrenagem. As pequenas bacias tambm so responsveis pela macrodrenagem no
municpio. A preocupao se torna maior pelo fato de que a precipitao est variando cada vez
mais espacial e temporalmente, deixando os problemas mais localizados.
Uma das justificativas importantes para o monitoramento em pequenas bacias a de que
elas podem servir como bacias-escola sendo utilizadas para educao ambiental de toda a
populao. Atravs do monitoramento hidrolgico bem detalhado nestas bacias-escola, a
conscientizao da populao, especialmente dos tcnicos das companhias de saneamento
municipais e estaduais, sero aperfeioadas.
Em todo o territrio nacional, em nvel estadual e municipal, programas para a avaliao da
qualidade da gua, atravs de parmetros fsico-qumicos e bacteriolgicos j foram implantados e
muitos deles com sucesso. A Resoluo 357/2005 CONAMA, estabelece ainda, a necessidade de
avaliaes toxicolgicas para classificao de corpos dgua e controle de despejos de efluentes.
Este fato demonstra uma evoluo na legislao brasileira a respeito do controle da qualidade de
gua nos mananciais.
As avaliaes qualitativas e quantitativas dos mananciais, na maioria das vezes, so
realizadas separadamente no havendo a integrao de dados. Fica evidente que esta integrao
daria mais subsdios para o gerenciamento adequado das bacias hidrogrficas. Neste projeto
estamos propondo esta integrao, formando tcnicos com esta concepo.
Como a populao brasileira concentra-se na regio litornea, muitos mananciais se
localizam em zonas estuarinas. As bacias hidrogrficas com tais condies apresentam alguns
fenmenos peculiares no respeito de bacias localizadas longe da influencia direta do mar. No
balano hdrico alem dos processos de evapotranspirao na bacia deve ser considerada
explicitamente a troca de gua com o mar. As variaes relativas entre os nveis do oceano e do
corpo lagunar promovem, alem de escoamento em um ou outro sentido, a mistura das guas de
drenagem com as do oceano.
A preocupao atual dos municpios brasileiros est voltada para a qualidade de gua e seu
abastecimento pblico, a macrodrenagem e a educao ambiental atravs das bacias-escola. Estas
esto ligadas diretamente com as pequenas bacias hidrogrficas municipais e, portanto evidente
que necessitam de um monitoramento hidrolgico adequado.
11
1.4 Estrutura da apostila
Esta apostila composta por 14 captulos complementares entre si. A leitura deve ser feita
preferencialmente na ordem em que aparecem os assuntos, j que os conceitos bsicos para
entendimento de hidrologia esto nos captulos iniciais. No captulo 2, feita uma explicao sobre
a unidade bsica para o estudo de hidrologia e conseqentemente hidrometria, que a bacia
hidrogrfica. definida bacia hidrogrfica e suas caractersticas. Em seguida, no captulo 3, feita
uma introduo sobre o ciclo hidrolgico e os processos hidrolgicos que ocorrem nas bacias.
Alguns desses processos, como: Precipitao, Interceptao, Infiltrao, Percolao e
Evapotranspirao, so abordados mais detalhadamente em separado nos captulos 4, 5, 6, 7 e 11
respectivamente.
Para realizar hidrometria necessrio alm de hidrologia, conhecimentos de hidrulica. Para
isso, o captulo 8 trata dos aspectos tericos na medio de vazo, bem como a formulao, o
modelo de distribuio de velocidade e outros. O assunto hidrometria diretamente tratado nos
captulos 9 e 13, em que obtm-se informaes detalhadas sobre equipamentos de medio e suas
especificaes de uso. Mais especificamente, so descritos o micromolinete e o ADCP no captulo 9
(utilizados para utilizar vazo).
Existem atividades imprescindveis para a sobrevivncia humana, e boa parte delas est
relacionada explorao dos mananciais. Para isso, importante que eles estejam em boas
condies de preservao. Neste caso, no se pode deixar de entender a zona ripria, ou como
mais conhecida mata ciliar. Esta rea de uma bacia tem enorme valor para preservao de
mananciais. Estes aspectos so tratados no captulo 10. Alm disso, tambm so necessrias
tcnicas de avaliao da qualidade da gua, para depois serem tomadas as decises corretas. Este
o assunto do captulo 12. A preservao das bacias costeiras de grande importncia, j que a maior
parte da populao vive nessas regies. Para isso, o captulo 14 traz uma introduo sobre
ambientes estuarinos.
As concluses dessa apostila se encontram no ltimo captulo onde discutido a importancia
da hidrologia e dos cursos de capacitao para a preservao dos recursos hdricos.
Referncias bibliogrficas
KUIPER, E. Water Resources Project Economics. London: Butterworth, 1971. 447p.
LANNA, A.E. Gesto dos Recursos Hdricos. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: cincia e
aplicao. 3 edio, Porto Alegre: Ed. da UFRGS/ ABRH/ EDUSP, 2004. p.727-768.
PAIVA, J.B.D.; PAIVA, E.M.C.D. (orgs.) Hidrologia aplicada gesto de pequenas bacias
hidrogrficas. Porto Alegre: ABRH, 2003. 628p.
UNESCO World Water Assessment Programme. 2008. Disponvel em:
<http://www.unesco.org/water/iyfw2/water_use.shtml>. Acesso em: 28 de julho de 2008.
12
2. MICROBACIAS HIDROGRFICAS
Masato Kobiyama
Joana Nery Giglio
2.1 Conceitos
A bacia hidrogrfica definida como uma rea na superfcie terrestre, sobre a qual o
escoamento superficial em qualquer ponto converge para uma nica sada, chamada exutrio. A
bacia hidrogrfica se estende at seu divisor, uma linha rgida imaginria que contorna a bacia. Essa
linha separa as precipitaes que caem em bacias hidrogrficas vizinhas, e que escoam para cada
um dos sistemas fluviais adjacentes. A Figura 2.1 indica o exutrio em uma bacia hidrogrfica.
622000 611500
611500
7057100 7057100
7066500 7066500
622000
Projeo Universal Transversa de Mercator
Meridiano Central: 51WGr Fuso: 22 S
South American Datum 1969
Curvas de nvel
Cursos de gua
Limite da bacia
Legenda
Figura 2.1 Bacia hidrogrfica do Rio do Bispo.
Do ponto de vista do gerenciamento consenso, hoje em dia, a importncia de se fazer o
Manejo Integrado da Bacia Hidrogrfica. Para esse fim, a bacia inclui corpos da gua de todos os
tipos (arroios, rios, banhados, lagos, etc.), solo, subsolo, rocha, atmosfera, fauna, flora, espao
construdo e sociedade.
O Ministrio da Agricultura (BRASIL, 1987) sugere a microbacia hidrogrfica como
unidade ideal para o planejamento integrado do manejo dos recursos naturais. O rgo define
microbacia hidrogrfica como uma rea fisiogrfica drenada por um curso da gua ou por um
13
sistema de cursos de gua conectados e que convergem, direta ou indiretamente, para um leito ou
para um espelho da gua (Programa Nacional de Microbacias Hidrogrficas).
Devido variabilidade das caractersticas das bacias hidrogrficas, difcil estabelecer um
limite universal para microbacias. Para alguns autores, bacias com tempo de concentrao inferior a
1 hora so consideradas pequenas. Para outros, so as que no superam 2,5 km de rea.
Para ROCHA e KURTZ (2001), as microbacias so menores que 20.000 ha. Isso porque a
mxima rea que uma equipe pode trabalhar em campo. Esse dado, oriundo de experincia de
campo, vlido para o sul do Brasil, Uruguai e norte da Argentina. Os mesmos autores definem
sub-bacias como aquelas com dimenses superficiais entre 20.000 ha e 300.000 ha, por ser um
tamanho compatvel com o sistema cartogrfico do sul do pas (cartas em escala 1:50.000).
Se recorrermos literatura internacional, PONCE (1989) descreve as caractersticas de uma
bacia pequena (small catchment): a precipitao pode ser considerada uniformemente distribuda no
tempo e espao; a durao da chuva em geral excede o tempo de concentrao; o escoamento
essencialmente hortoniano (overland flow); o armazenamento em canais desprezvel.
O manancial a unidade hidrogrfica utilizada quando o objetivo o abastecimento de gua.
Segundo KOBIYAMA et al. (2008), os mananciais so locais com disponibilidade de gua em
qualidade e quantidade suficientes para suprir uma demanda, e cuja captao seja permitida e
economicamente vivel. Diferentes corpos de gua podem ser mananciais, como poos, fontes,
audes, lagos, rios, etc.
Apesar do conflito entre definies e nomenclaturas, o consenso que a bacia hidrogrfica
a unidade tima para o estudo e planejamento de recursos naturais. Todas as matrias, como
solo, gua e nutrientes, so coordenadas dentro dos contornos da bacia. Tais matrias circulam na
bacia, com uma dinmica governada pelo comportamento da gua.
2.2 Delimitao de bacias
As medies em uma bacia so realizadas em intervalos de tempo predeterminados. Se estes
intervalos so suficientemente pequenos, trabalha-se com medies instantneas. Seno, trabalha-se
com intervalos de medio. A escolha do intervalo de medio depende do tempo de concentrao
da bacia. Portanto, importante conhecer a rea da bacia, assim como outras de suas caractersticas.
A anlise da bacia e o clculo de sua rea exigem, em primeiro lugar, conhecer seus limites.
Depois de delimitada a bacia, sua rea pode ser calculada, seus rios podem ser classificados e
hierarquizados e sua curva hipsomtrica pode ser traada.
H dois tipos de divisor delimitando cada bacia hidrogrfica: um divisor topogrfico ou
superficial, e um divisor fretico ou subterrneo. O primeiro condicionado pela topografia e
delimita a rea do escoamento superficial da bacia. O ltimo condicionado principalmente pela
geologia do terreno, influenciado ou no pela topografia, e delimita os reservatrios de gua
subterrnea de onde provm o escoamento de base da bacia. Em geral os divisores topogrficos e
freticos no coincidem, j que o divisor fretico est condicionado s flutuaes no nvel do lenol
fretico. Devido ao carter constante e a facilidade em traar o divisor topogrfico, este utilizado
para determinar a rea da bacia hidrogrfica. A Figura 2.2 mostra a flutuao do lenol fretico e os
divisores fretico e topogrfico no perfil de uma encosta.
14
Rocha impermevel
Divisor topogrfico
Divisor fretico Lenol fretico
Bacia A Bacia B
Figura 2.2 Corte transversal do limite entre duas bacias hidrogrficas (Modificao de VILLELA e
MATTOS, 1975).
O divisor topogrfico une os pontos de maior altitude que contornam a bacia e pode ser
desenhado a partir de sua rede hidrogrfica e suas curvas de nvel, em uma carta topogrfica. O
ponto de partida determinar o exutrio da bacia escolhida, que pode ser qualquer ponto ao longo
do rio principal. A escolha do exutrio deve estar de acordo com o objetivo do estudo. Para
mananciais, o exutrio costuma ser o local de captao de gua ou, quando existe, da barragem
construda para a captao. O limite da bacia nada mais que uma linha contnua, que inicia e
termina no exutrio, segue perpendicular s curvas de nvel e no corta nenhum curso de gua em
nenhum ponto alm do exutrio. Terminada, a linha deve englobar toda a rea e os rios de interesse.
2.3 Classificao dos rios e hierarquia fluvial
Os rios podem transportar gua permanentemente ou no. De acordo com esse atributo,
podem ser classificados em trs tipo: (1) perenes, rios que drenam gua no decorrer de todo o ano;
(2) intermitentes, funcionam durante parte do ano, mas tornam-se secos em estaes de pouca
chuva; (3) efmeros, existem apenas durante e imediatamente aps a chuva.
Os cursos de gua (e a rea drenada correspondente) tambm podem ser classificados de
acordo com a sua hierarquia dentro da bacia na qual se encontra. Um mtodo objetivo de
classificao foi estabelecido por STRAHLER (1952), uma modificao do mtodo proposto por
HORTON (1945).
O mtodo de Strahler consiste em atribuir a 1 ordem aos canais menores, sem tributrios,
desde a nascente at a primeira confluncia; os canais de 2
a
ordem iniciam na confluncia de dois
canais de 1
a
ordem, e s recebem afluentes de 1
a
ordem; na confluncia de dois canais de 2
a
ordem
inicia um canal de 3 ordem, que pode receber afluentes de 2
a
e de 1
a
ordem; os canais de 4
a
iniciam
na confluncia de dois canais de 3
a
ordem, e podem receber tributrios das ordens inferiores. E
assim sucessivamente.
A Figura 2.3 apresenta uma comparao entre as hierarquias propostas por Horton e
Strahler.
15
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
1
3
1
2
1 1
2 2
1 1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1 1 1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
1
3
3
A B
Figura 2.3 Hierarquia fluvial da bacia do Rio do Bispo pelos mtodos de Horton (A) e de Strahler (B)
Sabendo a ordem de uma bacia hidrogrfica, pode-se estimar o nmero de rios que
compem a mesma, pela lei do nmero de canais. A ordem de um canal aumenta de 1 quando entra
em confluncia com outro de mesma ordem. A lei vlida para ambas as classificaes, mas o
nmero total de canais igual soma dos canais das vrias ordens de Horton e igual ao nmero
canais de primeira ordem de Strahler. A Tabela 2.1 quantifica os rios da Figura 2.3.
Tabela 2.1 Quantidade de rios na bacia hidrogrfica do Rio do Bispo
Ordem Horton Strahler
1
a
38 48
2
a
7 10
3
a
2 3
4
a
1 1
2.4 Caracterizao quantitativa da rede fluvial Leis de Horton
HORTON (1945) demonstrou as relaes empricas entre as caractersticas da rede fluvial,
estabelecendo quatro taxas, que tendem a ser constantes em uma bacia. Nota-se que as Leis de
Horton so vlidas mesmo que o mtodo de classificao de Strahler seja utilizado.
A 1. Lei de Horton (Lei do nmero de canais) define a taxa de bifurcao com a seguinte
equao:
1 +
=
R
b
( = 1, 2, ... , - 1) (2.1)
onde:
o nmero de segmentos de ordem ; a mxima ordem; e
b
R constante para
uma bacia. LEOPOLD et al. (1992) e SMART (1972) apresentaram que o valor da taxa de
bifurcao varia normalmente entre 2 e 4 e entre 3 e 5, respectivamente. Segundo BORSATO e
MARTONI (2004), o seu valor varia pouco de regio para regio, no entanto valores altos podem
ser encontrados em regies de vales rochosos escarpados.
A 2. Lei de Horton (Lei do comprimento de canais) define a taxa de comprimento com a
seguinte equao:
16
L
L
R
l
1 +
= ( = 1, 2, ... , - 1) (2.2)
onde: L o comprimento mdio dos segmentos de ordem ; a mxima ordem; e
l
R
constante para uma bacia. Resultados empricos de SMART (1972) mostraram uma variao da
taxa de comprimentos entre 1,5 e 3,5 para as bacias naturais.
A 3. Lei de Horton (Lei da declividade de canais) define a taxa de declividade de cada
segmento com a seguinte equao:
1 +
=
S
S
R
s
( = 1, 2, ... , - 1) (2.3)
onde: S a declividade mdia dos segmentos de ordem ; a mxima ordem; e
s
R
constante para uma bacia.
A 4. Lei de Horton e Schumm (Lei da rea de bacias) define a taxa de rea de bacias com a
seguinte equao:
A
A
R
A
1 +
= ( = 1, 2, ... , - 1) (2.4)
onde: A a rea mdia das bacias de ordem ; a mxima ordem; e
a
R constante
para uma bacia. Segundo SMART (1972), a taxa de rea varia entre 3 e 6 para as bacias naturais.
A Figura 2.4 mostra a expresso grfica da forma logartmica das Leis de Horton.
Figura 2.4 Expresso grfica das Leis de Horton
2.5 Anlise areal de bacias
A projeo da bacia hidrogrfica em um plano horizontal permite determinar seu permetro
(P) e sua rea (A) usando curvmetro e planmetro, papel milimetrado ou tcnicas computacionais.
SHERMAN (1932) mencionou a influncia das caractersticas morfolgicas da bacia sobre a vazo.
fundamental saber a rea da bacia para qualquer estudo hidrolgico. O comprimento da bacia (L)
comumente definido como o comprimento do rio principal prolongado at o divisor. H outros
mtodos para determinar o comprimento da bacia, e todos eles levam a diferentes resultados.
Horton (1932) props o fator da forma da bacia (S
f
), definido pela equao:
A
L
B
L
S
f
2
= = (2.5)
onde: L comprimento da bacia; A rea da bacia; e B largura mdia e igual a A/L.
17
E o inverso de S
f
foi definido como a taxa de forma (F), ou seja:
2
1
L
A
L
B
S
F
f
= = = (2.6)
Teoricamente, supondo que o valor de F seja constante, L deve ser proporcional raiz
quadrada de A. Entretanto, isto no acontece na realidade. HACK (1957) props a seguinte relao
emprica, posteriormente confirmada tambm empiricamente por outros pesquisadores:
6 , 0
5 , 1 A L = (2.7)
onde: A e L so rea e comprimento da bacia, em km e km, respectivamente.
Leopold et al. (1992) generalizou a Equao 2.7 para:
n
A L = (2.8)
Segundo Hack (1957), n no igual a 0,5 porque a bacia tende a tornar-se mais comprida
quando ficar maior. A equao (2.8) conhecida como a Lei de Hack.
O ndice de compacidade (K
c
) uma outra forma de determinar a forma da bacia, proposta
por GARCEZ e ALAREZ (1988). O ndice a relao entre o permetro da bacia hidrogrfica e a
circunferncia de um crculo de rea igual da bacia. Assim, para uma bacia qualquer, obtm-se:
A
P
K
c
= 28 , 0 (2.9)
onde: P e A so, respectivamente, o permetro em km e rea da bacia em km. Assim, quanto
mais irregular for a bacia, maior ser o ndice de compacidade. Para uma bacia perfeitamente
circular, K
c
=1.
Alm do tamanho e forma da bacia, a densidade fluvial uma caracterstica a ser
analisada na bacia. Existem dois tipos de densidade fluvial: densidade de rios, relao entre o
nmero de canais e a rea da bacia; e a densidade de drenagem, relao entre o comprimento total
dos canais com a rea da bacia. O clculo das densidades de rios e de drenagem segue as equaes
(2.10) e (2.11), respectivamente.
A
D
r
=
=
1
(2.10)
A
L
D
d
=
=
1
(2.11)
onde: D
r
a densidade de rios em km
-2
; D
d
a densidade de drenagem em km
-1
;
o
nmero de segmentos de ordem ;
L o comprimento dos segmentos de ordem ;
A a rea
das bacias de ordem ; a mxima ordem.
A Figura 2.5 exemplifica a diferena entre densidade de drenagem e densidade de rios.
MELTON (1958) props uma relao emprica entre essas duas densidades:
d r
D D = 694 , 0 (2.12)
18
Figura 2.5 Comparao entre densidade de drenagem e densidade de rios.
2.6 Geometria de encostas
A bacia hidrogrfica caracterizada principalmente por dois componentes geomorfolgicos:
a rede de drenagem e as encostas.
As encostas podem ser descritas por sua geometria em dois planos: um plano vertical e
paralelo ao contorno da bacia, e um plano horizontal. Cada um dos dois planos pode ter forma
retilnea, cncava ou convexa. A combinao da forma da encosta em cada um dos planos resulta
em uma unidade tridimensional. Essas unidades esto representadas na Figura 2.6. Na figura, a seta
pontilhada indica a tendncia de fluxo inicial e a seta cheia representa a tendncia de fluxo
concentrado.
Figura 2.6 Geometria em encostas. Fonte: Ruhe (1975) modificado por Checchia (2005).
(a) (b)
D
r
= D
r
D
d
= D
d
D
d
> D
d
D
r
> D
r
19
2.7 Anlise de relevo
A declividade da bacia tem influncia na drenagem e em outros processos hidrolgicos que
ocorrem em seu interior. um parmetro necessrio em muitos dos mtodos para o clculo do
tempo de concentrao da bacia. Por outro lado, a altitude exerce influncia em fatores
meteorolgicos que atuam sobre a bacia, como precipitao e temperatura.
a) Declividade
Aqui se adota o mtodo das quadrculas para o clculo de declividades na bacia. O mtodo
consiste em uma distribuio percentual das declividades normais s curvas de nvel. No caso de
mapas com escala 1:50.000 ou 1:25.000, traase uma rede de quadrculas de dimenses 1 km x 1
km. Dentro de cada quadrcula, se calcula as altitudes mnima e mxima e a declividade mdia da
mesma. Ento, possvel determinar a distribuio percentual de declividade do terreno.
A declividade mdia da bacia calculada com a seguinte equao:
( )
A
a d
Dm
= (2.13)
onde: Dm a declividade mdia; d a declividade mdia entre dois valores de declividade;
a a rea que possui d ; e A a rea total.
A declividade mediana (Dm*) aquela que corresponde a 50% da rea, e pode ser obtida a
partir da curva de distribuio de declividades
b) Curva hipsomtrica (curva de rea-elevao)
A curva hipsomtrica a representao grfica da variao das elevaes ao longo da bacia.
No mapa topogrfico, mede-se a rea de cada faixa entre duas altitudes com o mtodo de
quadrculas ou com o planmetro. No grfico, coloca-se a altitude no eixo das ordenadas e a rea
acumulada (ou sua porcentagem) no eixo das abscissas. Essa plotagem gera a curva hipsomtrica
(Tabela 2.2).
Tabela 2.2 Distribuio hipsomtrica para a bacia hidrogrfica do Rio do Bispo
Cotas Ponto mdio rea entre as curvas rea acumulada % % Acumulada Coluna 2 x Coluna 3
(m) (m) (km) (km)
480-520 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520-560 540 0.58 0.58 2.18 2.18 310.92
560-600 580 0.95 1.52 3.57 5.75 548.18
600-640 620 0.82 2.34 3.08 8.83 506.20
640-680 660 1.01 3.35 3.82 12.65 666.78
680-720 700 1.33 4.68 5.04 17.68 933.09
720-760 740 2.85 7.53 10.76 28.44 2107.15
760-800 780 4.81 12.34 18.17 46.61 3752.20
800-840 820 5.71 18.04 21.56 68.17 4679.00
840-880 860 3.33 21.37 12.57 80.74 2861.97
880-920 900 3.57 24.95 13.50 94.24 3216.37
920-960 940 1.48 26.42 5.57 99.82 1386.74
960-1000 980 0.05 26.47 0.19 100.01 49.05
20
Figura 2.7 Curva hipsomtrica da bacia do Rio do Bispo
Se a ordenada apresenta a taxa altura (h) sobre altura total (H), isto h/H, e a abscissa
apresenta a taxa de rea (a) sobre a rea total (A), isto a/A, ento a curva se chama curva
hipsomtrica em porcentagem (Figura 2.7). Essa curva til para comparar bacias de diferentes
tamanhos e altitudes.
As altitudes mxima e mnima so fceis de determinar observando o mapa topogrfico.
A altitude mdia da bacia calculada com a seguinte equao:
( )
A
a h
Hm
= (2.14)
onde: Hm a altitude mdia; h a altitude mdia entre duas curvas de nvel; a a rea entre
as curvas de nvel; e A a rea total. Para a bacia hidrogrfica do Rio do Bispo, Hm = 794 m.
A altitude mediana (Hm*) aquela que corresponde a 50% da rea, e pode ser obtida a
partir da curva hipsomtrica. Para a bacia do Rio do Bispo, Hm* = 800 m.
21
Referncias bibliogrficas
BRASIL. Decreto n 94.076, de 5 de maro de 1987. Institui o Programa Nacional de Microbacias
hidrogrficas e d outras providncias. 1987.
CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. So Paulo, Edgard Blcher, 2 ed., 1980.
GARCEZ, L.N.; ALVAREZ, G.A. Hidrologia. 2 edio, So Paulo: Ed. Edgard Blcher, 1988.
HACK, J.T. Studies of longitudinal stream profiles in Virginia and Maryland. USGS. Prof. Paper,
294B, p.45-97, 1957.
HORTON, R.E. Drainage basin characteristics. American Geophysical Union Transaction, v.13,
p.350-361, 1932.
KOBIYAMA, M.; MOTA, A.A.; CORSEUIL, C.W. Recursos hdricos e saneamento. Curitiba:
Ed. Organic Trading, 2008. 160p.
LEOPOLD, L.B.; WOLMAN, M.G.; MILLER, J.P. Fluvial processes in geomorphology. New
York: Dover Pub., 1992. 522p.
MELTON, M.A. Geometric properties of mature drainage systems and their representation in an E4
phase space, J. Geol., v.66, p.35-54, 1958.
PONCE, V.M. Engineering Hydrology: Principles and Practices. Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1989.
ROCHA, J. S. M. e KURTZ, S. M. de J. M. Manual de Manejo Integrado de Bacias
Hidrogrficas. Santa Maria, Edies UFSM, 4 ed., 2001.
SHERMAN, L.K. The relation of hydrographs of runoff to size and character of drainage basins.
American Geophysical Union Transaction, v.13, p.332-339, 1932.
STRAHLER, A.N. Hypsometric (Area-altitude) analysis of erosional topography. Bull. G.S.A.,
v.63, p.1117-1142, 1952.
VILLELA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia Aplicada. So Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1975.
22
23
3. CICLO HIDROLGICO E PROCESSOS HIDROLGICOS
Masato Kobiyama
Aline de Almeida Mota
3.1 Ciclo hidrolgico
Leonardo da Vinci define a gua da seguinte maneira: ......... a gua para o mundo, o
mesmo que o sangue para o nosso corpo e, sem dvida, mais: ela circula segundo regras fixas,
tanto no interior quanto no exterior da Terra, ela cai em chuva e neve, ela surge do solo, corre em
rios, e depois retornam aos vastos reservatrios que so os oceanos e mares que nos cercam por
todos os lados ..........
O ciclo hidrolgico, ou ciclo da gua, definido pelo conjunto de processos hidrolgicos
naturais que ocorrem em escala global permanentemente (Figura 3.1). Este conceito fundamental
para a hidrologia. Os processos hidrolgicos so responsveis pela circulao da gua presente na
atmosfera, nos continentes, no solo e nos oceanos. Portanto pode-se pensar no ciclo hidrolgico
como sendo a movimentao da gua existente em vrios reservatrios, que seriam os oceanos, o
solo, a atmosfera. Ela pode ser encontrada nos trs estados fsicos da matria: gasoso (na
atmosfera), lquido (nos rios, mares, lagos) e slido (nas geleiras, calotas polares).
Percolao
Nuvem
Precipitao
Evaporao
Evapotranspirao
Evaporao
LAGO
Vazo total
Interceptao
Infiltrao
Transpirao
Evaporao
RIO
Esc. Subterrneo
Figura 3.1. Ciclo hidrolgico.
24
A energia solar impulsiona as mudanas de estado fsico da gua, como a evaporao. Sendo
assim, ela fundamental no ciclo hidrolgico, principalmente nos processos de formao e
transporte de vapor na atmosfera. A gravidade e outras foras tambm so essenciais, exemplos
disso so a precipitao e os vrios tipos de escoamento (HORNBERGER et al., 1998).
A distribuio desuniforme de energia solar na Terra, e outros fatores fazem com que o ciclo
hidrolgico no ocorra de maneira uniforme em todo o globo terrestre, mas sim varivel no espao
e no tempo. Essa variabilidade temporal e espacial pode ocasionar, muitas vezes, desastres naturais
por excesso ou falta de gua.
Segundo ANA (2005), o Brasil um pas privilegiado em termos de disponibilidade hdrica,
com 12% das reservas de gua doce do mundo em seu territrio. Porm, a distribuio desuniforme
da gua notvel, j que 75% da gua doce concentram-se na regio norte, onde vive apenas
aproximadamente 8% da populao brasileira (IBGE, 2007). Apesar de os estudos comprovarem
que a quantidade de gua no planeta no se alterou significativamente nos ltimos anos, muitos
dizem que a gua est acabando. O fato que a gua, mesmo sendo um recurso renovvel e que,
portanto, no se esgota, pode se tornar imprpria para o consumo humano o que gera a
preocupao.
3.2 Processos hidrolgicos
Os processos hidrolgicos mais relevantes constituintes do ciclo hidrolgico so:
precipitao, interceptao, infiltrao, percolao no solo, escoamentos fluviais e
evapotranspirao. O sistema (objeto) principal onde o ciclo hidrolgico ocorre a bacia
hidrogrfica e a atmosfera acima dela. Nesse sentido, os componentes (sub-sistemas) so copa da
vegetao, solo, rede fluvial, entre outros,onde os processos hidrolgicos ocorrem. Como cada sub-
sistema possui diferente capacidade de armazenar e transportar gua, causa as heterogeneidades
temporais e espaciais dos recursos hdricos em quaisquer locais e momentos. Por isso, cada
processo deve ser bem estudado em termo de conceitos, sua medio, anlise e modelagem.
Os processos hidrolgicos alteram a qualidade da gua. Quando a gua da chuva cai sobre
uma rea com vegetao tem suas caractersticas modificadas devido a este contato, ao passo que
quando vai infiltrando lentamente no solo pode ser filtrada e se tornar mais pura. Neste sentido, a
hidrologia tem importncia fundamental no gerenciamento de recursos hdricos, j que tem como
meta principal quantificar os volumes armazenados nos componentes terrestres e as quantidades
transportadas de gua entre eles.
3.3 Distribuio da gua no planeta
Existem diversos estudos sobre a quantidade de vrios tipos de gua no mundo. E encontra-
se uma pequena divergncia entre esses estudos. Entretanto, analisando esses dados, criou-se a
Tabela 3.1. Estima-se que 97,5% da gua do planeta compem os oceanos e mares. Sendo assim,
apenas 2,5% da gua existente doce e encontra-se distribuda em diversos locais. Observa-se que a
quantidade de gua doce disponvel pequena, se comparada quantidade total de gua do planeta.
Alm disso, a maior parte encontra-se em formas no prontamente disponveis ao homem (geleiras).
25
Tabela 3.1. Quantidade de guas e seus tempos de circulao.
Volume
(10
3
km)
Taxa
(%)
Quantidade transportada
(10
3
km/ano)
Tempo de
circulao (ano)
Oceano 1.349.929,0 97,50 418 3229
Glacial 24.230,0 1,75 2,5 9692
gua subterrnea 10.100,0 0,73 12 841
gua do solo 25,0 0,0018 76 0,3
Lagos 219,0 0,016 38 5,7
Rios 1,2 0,00009 35 0,034 (= 13 dias)
Fauna e flora 1,2 0,00009 - -
Vapor na atmosfera 12,6 0,0009 483 0,026 (= 10 dias)
Total 1.384.518,0 100
(Fonte: KOBIYAMA et al., 2008)
O tempo de circulao ou tempo de residncia aquele no qual o sistema consegue
naturalmente substituir toda a poro de gua, e pode ser estimado pela razo entre o volume total e
a quantidade transportada. Essa grandeza importante para os estudos de preservao ambiental,
pois a partir dela pode-se, por exemplo, estimar quanto tempo um determinado poluente ir
permanecer em um rio, lago ou aqfero sem que ele seja naturalmente purificado. Esse tempo para
os rios no mundo aproximadamente 13 dias. Obviamente, este valor mdio, e depende do
tamanho (comprimento) de cada rio. Mas de qualquer maneira, o tempo de circulao para os rios
bastante curto. Isto significa que os rios alcanam uma limpeza natural rapidamente. Por outro lado,
o tempo de circulao para a gua subterrnea 841 anos, e bem maior do que a expectativa mdia
de vida do ser humano. Ento, pode-se dizer que, uma vez poluda a gua subterrnea, algumas
geraes da comunidade humana no conseguem despolu-la. Por isso, a maior ateno deve ser
colocada na preservao das guas subterrneas.
Referncias bibliogrficas
ANA Cadernos de Recursos Hdricos: Disponibilidade e demandas de recursos hdricos no Brasil.
Braslia: ANA, 2005. 123p. CD-ROM
HORNBERGER, G.M.; RAFFENSPERGER, J.P.; WIBERG, P.L. ESHLEMAN, K.N. Elements of
Physical Hydrology. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1998. 302p.
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica). Contagem da Populao 2007. Rio de Janeiro: 2007.
Disponvel em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 22 de janeiro de 2009.
KOBIYAMA, M.; MOTA, A.A.; CORSEUIL, C.W. Recursos hdricos e saneamento. Curitiba: Ed.
Organic Trading, 2008. 160p.
26
4. PRECIPITAO
Masato Kobiyama
Gabriela Corra Pacheco
Henrique Lucini Rocha
4.1 Introduo
A precipitao a gua proveniente do meio atmosfrico que atinge a superfcie terrestre
sob a forma de chuvisco, chuva, saraiva, granizo, orvalho, neve ou geada. Formas que se
diferenciam pelo estado fsico em que a gua se encontra. Nesse sentido, a atmosfera considerada
como um vasto reservatrio de sistema de transporte e distribuio do vapor de gua. A chuva, em
especial, ser o enfoque do presente captulo.
A chuva a queda da gua no estado lquido na superfcie terrestre, e por esse motivo um
componente crtico para o ciclo hidrolgico, pois possibilita a infiltrao da gua no solo de forma a
alimentar as nascentes e os lenis freticos, permitindo a sobrevivncia dos ecossistemas
existentes. A quantidade de chuva medida por aparelhos chamados pluvimetros e pluvigrafos e
atravs de sua medio possvel avaliar o nvel dos cursos de gua, fornecer mapas de reas de
riscos de inundaes, avaliar a produtividade agricultura, estimar as ocorrncias de chuvas intensas
no futuro a fim de melhorar o planejamento da cidade, dentre outras atividades.
4.2 Formao da precipitao
A formao da precipitao est ligada, basicamente, a dois aspectos essenciais: o
crescimento das gotculas das nuvens e o deslocamento das massas de ar.
A nuvem um aerossol constitudo por uma mistura de ar, vapor de gua e gotculas em
estado lquido, slido e/ou sobrefundido (quando a gua est no estado lquido a temperatura mais
baixas que seu ponto de fuso).
O efeito de turbulncia no meio atmosfrico e/ou a existncia de correntes de ar ascendentes
que contrabalanam a fora da gravidade permite que esse aerossol fique suspenso. Portanto, para
que as gotculas precipitem necessrio que apresentem um peso superior s foras que as mantm
em suspenso (TUCCI, 1993). O aumento do peso das gotculas se d da seguinte maneira: o vapor
de gua deposita-se nas gotculas permitindo seu crescimento; o aumento do volume permite que as
gotculas se choquem e se juntem umas as outras, aumentando seu peso.
Os fatores que interferem na ocorrncia das precipitaes so: (i) aqueles relacionados s
condies atmosfricas de presso e temperatura decorrentes do encontro de massas de ar quentes e
frias. Quando as correntes frias caminham em direo as regies quentes o efeito a queda da
temperatura local e a formao de nuvens carregadas ocasionando fortes chuvas acompanhadas ou
no de troves e relmpagos. Quando as massas de ar quentes caminham em direo as regies frias
o resultado a formao de nevoeiros e chuviscos (VAREJO-SILVA, 2005); (ii) e ao relevo de
27
regio, pois funciona como uma barreira ou como um caminho para as massas de ar. Na Tabela 4.1
so apresentadas as formas de precipitao e suas caractersticas.
Tabela 4.1. Formas de Precipitao.
Formas de Precipitao Caractersticas
Chuvisco ou Garoa
(Drizzle, Mizzle)
Fina precipitao de baixa intensidade constituda de gua lquida
com dimetro variando entre 0,2 a 0,5 mm, menores que as gotas de
chuva, fato que faz com que parte da gua precipitada evapore antes
mesmo de chegar ao cho. Ocorre principalmente nos oceanos e em
regies subtropicais, cobrindo grandes reas e criando uma aparncia
acinzentada de cu encoberto (GEM USP). Estudos apontam que a
garoa apresenta baixas taxas de acumulao superficial e importante
ligao morfologia das nuvens.
Chuva
(Rain)
Precipitao na forma lquida de dimetro variando de 1 a 6 mm, que,
geralmente, provm do derretimento de cristais de gelo durante a
precipitao. Quando a chuva constituda por gua sobre fundida as
gotas se congelam quando chegam ao solo, o que chamamos de chuva
congelada. As chuvas esto diretamente ligadas aos processos
hidrolgicos e a vazo dos cursos dgua.
Saraiva
(Ice Pellets)
Precipitao na forma de pequenas pedras de gelo arredondadas com
dimetro de cerca de 5 mm (TUCCI, 1993). Durante a queda, os
cristais de gelo encontram camadas de ar de diferentes temperaturas
resultando na mudana do estado fsico da gotcula, quando a camada
prxima a superfcie fria a gotcula volta a resfriar-se dando origem
saraiva.
Granizo
(Hail)
Precipitao sob forma de pedras, redondas ou irregulares, com
dimetro superior a 5 mm (TUCCI, 1993) oriundas de nuvens
carregadas, como as de tempestade. O processo de formao o
mesmo que a saraiva.
Orvalho
(Dew)
So gotas de gua, presente nos objetos da superfcie terrestre,
decorrente da condensao do vapor de ar durante as noites claras e
calmas, quando a temperatura cai (TUCCI, 1993).
Neve
(Snow)
Precipitao sob forma de cristais de gelo que ao longo da queda se
juntam atingindo tamanhos variados.
Geada
(Frost)
Deposio de cristais de gelo nos objetos da superfcie terrestre
decorrente da condensao do vapor de ar quando a temperatura cai
abaixo de 0C (TUCCI, 1993).
28
Em relao s chuvas, elas podem ser classificadas de acordo com a ascenso das massas de
ar e divididas em trs grupos:
(1) Convectivas: O aquecimento desigual da superfcie terrestre provoca o aparecimento de
camadas de ar com densidades diferentes, o que gera uma estratificao trmica da
atmosfera em equilbrio instvel. Se esse equilbrio por qualquer motivo for rompido
(ventos, superaquecimento) ocorre uma ascenso brusca e violenta do ar mais quente (e
menos denso), capaz de atingir seu nvel de condensao, gerando as chuvas. Este tipo de
precipitao tpico das regies tropicais, onde os ventos so fracos e a circulao de ar
essencialmente vertical. Geralmente, as chuvas so intensas e de curta durao.
(2) Orogrfica: Ocorre quando o ar quente e mido, vindo, geralmente, do oceano para o
continente, forado a transpor barreiras de montanhas. O ar ento se eleva e se resfria,
permitindo a condensao e a precipitao. As chuvas so de baixa intensidade e longa
durao. comum na Serra do Mar.
(3) Ao frontal de massas: Resulta da interao das massas de ar quentes e frias que
permite que o ar quente seja impulsionado para cima resfriando-o, resultando na
condensao do vapor, permitindo a ocorrncia de chuvas. Geralmente, so chuvas de
longa durao e de mdia intensidade, podendo ser acompanhadas de ventos fortes.
4.3 Medio de chuva
4.3.1 Grandezas Caractersticas
(1) Altura pluviomtrica (h): Representa a quantidade de chuva que cai em uma
determinada regio atravs da altura de gua acumulada no aparelho. Expressa,
normalmente, em mm.
(2) Durao (t): intervalo de tempo decorrido entre o instante quando se iniciou a chuva e
seu trmino. Expressa, normalmente, em minutos ou horas.
(3) Intensidade (i): velocidade de chuva, isto i = h/t. Expressa, normalmente, em mm/h
ou mm/min.
(4) Freqncia (F): Nmero de ocorrncias de uma determinada precipitao no decorrer
de um intervalo de tempo fixo.
(5) Tempo de Retorno ou Perodo de Retorno ou Perodo de Recorrncia (Tr):
Representa o tempo mdio de anos que a precipitao analisada apresente o mesmo valor
ou maior.
29
4.3.2 Aparelhos para Medio
4.3.2.1 Pluvimetro
Aparelho usado para saber a altura pluviomtrica que caiu em uma determinada rea.
Durante a instalao e manuteno devem ser tomados os seguintes cuidados (SANTOS et al.,
2001):
Posicion-lo em reas abertas longe de prdios e da vegetao alta;
Construir uma cerca para evitar que animais danifiquem-no;
Utilizar uma peneira no funil para evitar que folhas secas ou outros objetos caiam e
obstruam a passagem da gua precipitada, alm de limpar o aparelho periodicamente;
Registrar e arquivar os dados apresentando inclusive as possveis falhas.
Existem dois tipos: pluvimetros ordinrios e pluvimetros totalizadores.
Pluvimetro Ordinrio
um simples receptculo da gua composto por um coletor com funil que conduz a gua da
chuva para o recipiente armazenador. Vale apontar que o funil protege a gua coletada da radiao
solar diminuindo sua perda por evaporao. Para a medio da gua utiliza-se um aparelho
graduado (uma proveta pluviomtrica ou uma rgua pluviomtrica) ou at mesmo uma balana.
Existem diversos tipos de pluvimetros e o mais difundido no Brasil do tipo Ville de Paris (Figura
4.1)
Figura 4.1. Pluvimetro tipo Ville de Paris.
O tipo Ville de Paris um pluvimetro de capacidade total de 125 mm e rea de captao de
400 cm
2
, colocado a 1,5 m de altura do solo. Pela abertura da torneira no final do aparelho retira-se
o volume de gua coletado e atravs da equao abaixo se encontra a altura pluviomtrica
(SANTOS et al., 2001). Em uma proveta graduada a relao direta 40 ml de gua coletada para 1
mm de gua precipitada.
A
V
P . 10 = (4.1)
30
onde P a precipitao em (mm); V o volume coletado em (cm
3
) ou (mL); e A a rea de
captao do anel em (cm
2
).
O intervalo de tempo para a coleta da gua depende da capacidade do recipiente de
armazenagem e do cuidado do operador da estao. Para intervalos muito grandes a gua coletada
pode ter interferncia da evaporao.
Caso o operador tenha organizado a coleta em tempos muito espaados comum que as
chuvas de curta durao no sejam registradas separadamente e sim em acmulo. Se nos horrios
definidos pelo operador estiver ocorrendo uma chuva necessrio esperar essa cessar para depois
realizar a coleta. Caso a chuva seja suficiente para encher o recipiente armazenador necessrio
retirar a quantidade relativa a esse recipiente nos momentos que o volume foi preenchido. Vale
ressaltar que a confiana dos registros dependente do cuidado do operador.
Pluvimetro Totalizador
Da mesma forma que o pluvimetro ordinrio o pluvimetro totalizador (Figura 4.2) um
aparelho utilizado para saber quantos milmetros de chuva caram em uma determinada rea. No
entanto, seu recipiente de armazenamento pode variar sendo suficiente para o acmulo de uma
semana ou at mais de um ms.
Figura 4.2. Pluvimetro Totalizador
Para evitar a interferncia da evaporao esses recipientes so colocados enterrados e neles
certa quantidade de leo introduzida, formando uma pelcula anti-evaporante. A retirada da gua
armazenada se d de forma mecnica atravs de um sifo e uma bia, que esvazia o recipiente
quando cheio. Uma haste conectada a bia de forma a registrar o nmero de vezes que ocorreu o
esvaziamento (VAREJO-SILVA, 2005). Em reas mais isoladas, a escolha por esse tipo de
aparelho ou por pluvigrafos, principalmente de registro por dataloggers, mais comum.
4.3.2.2 Pluvigrafo
O pluvigrafo um aparelho que registra a altura de chuva em milmetros no decorrer do
tempo. Durante a instalao e manuteno do aparelho devem ser tomados os seguintes cuidados:
31
Posicion-lo em reas abertas longe de prdios e da vegetao alta;
Construir uma cerca para evitar que animais danifiquem-no;
Utilizar uma peneira no coletor para evitar que folhas secas ou outros objetos caiam e
obstruam a passagem da gua precipitada, alm de limpar o aparelho periodicamente;
Registrar e arquivar os dados apresentando inclusive as possveis falhas;
Caso o registro dos dados seja atravs da pena registradora, deve-se realizar a troca do
papel utilizado. Nesse tipo de marcao a pena desenha no papel um grfico que
relaciona a evoluo da chuva ao longo do tempo em milmetros;
Caso o pluvigrafo basculante tenha o registro dos dados atravs de dataloggers, deve-se
descarreg-los de tempos em tempos. Nesse tipo de registro, o datalogger no traa um
grfico como acontece na pena registradora, mas armazena os dados em um conjunto de
degraus correspondentes altura de chuva equivalente ao volume de gua que cabe em
cada cuba basculante (SANTOS et al., 2001).
Existem trs tipos mais comuns de pluvigrafos: flutuador; de balana; basculante (tipping
bucket).
Pluvigrafo Flutuador (ou de Bia)
Em geral, esse aparelho possui rea de captao igual a 200 cm
2
composta por um coletor
com funil e uma cisterna onde existe uma bia acoplada ao sistema de pena registradora. Quando a
cisterna est cheia um sistema de sifo a esvazia, e a pena inicia o grfico no ponto zero. Cada
sifonada corresponde a 10 mm de gua, na maioria desses pluvigrafos (SANTOS et al., 2001).
Vale ressaltar que durante o tempo de esvaziamento no h registro da chuva, acarretando um erro
instrumental.
Figura 4.3. Pluvigrafo Flutuador
32
Pluvigrafo de Balana
Em geral, esse aparelho possui rea de captao igual a 200 cm
2
composta por um coletor com funil
e um recipiente ligado a um sistema de balana auto-equilibrada acoplada a uma pena registradora.
O aumento do peso do recipiente transmite movimento pena que registra os dados. Quando esta
atinge a marcao de 10 mm um sistema de sifo esvazia o recipiente e a pena inicia o grfico no
ponto zero (SANTOS et al., 2001). Da mesma forma que o pluvigrafo flutuante, durante o tempo
de esvaziamento no h registro da chuva, acarretando um erro instrumental.
Figura 4.4. Pluvigrafo de Balana
Pluvigrafo Basculante (Tipping Bucket)
Formado por um funil e um recipiente de perfil triangular divido em dois compartimentos
que coletam pequenas quantidades de gua, um de cada vez, semelhante ao movimento de uma
gangorra. Quando um compartimento enche, ele desce e a gua descartada, enquanto o outro
recebe a gua. Esse movimento alternado de enchimento acoplado a um circuito eltrico que
aciona o registrador, seja a pena registradora ou o datalogger. Cada basculada representa,
normalmente, 0,1 ou 0,2 mm de gua (VAREJO-SILVA, 2005);
33
Figura 4.5. Pluvigrafo Basculante
4.4 Interferncias na medio
A ao dos ventos e as caractersticas do coletor como o material utilizado, o dimetro, a
profundidade, o nivelamento, a preciso das dimenses, o local de instalao e a perda por
evaporao, so fatores que interferem na correta medio dos aparelhos.
4.4.1 Material do Coletor
A facilidade que a gua tem em passar pelo coletor e a condutividade trmica do mesmo so
caractersticas que influem no tipo de material escolhido. A presena de oxidao e rugosidade
proporciona a apreenso da gota ao invs de facilitar a passagem da mesma. O uso de tintas tambm
deve ser observado, pois algumas absorvem a gua. Os materiais mais usados so: alumnio
anodizado, ao inoxidvel, ferro galvanizado, fibra de vidro, bronze e plstico (STRANGEWAYS,
2000).
4.4.2 Dimetro
A maioria dos coletores de formato cilndrico justamente para amenizar a ao dos ventos
(STRANGEWAYS, 2000). Dimetros muito pequenos apresentam grandes erros de medio, pois
so mais sensveis interferncia dos ventos, permitindo uma quantidade menor de gua coletada.
Dimetros muito grandes necessitam de grandes recipientes de armazenamento dificultando a
instalao. O tamanho mais utilizado no Brasil de 20 cm (SANTOS, 2001).
4.4.3 Profundidade
Para coletores de baixa profundidade que no possuem funil possvel que a gota,
dependendo do seu tamanho, rebata na superfcie da gua contida no coletor e saia da rea do
recipiente, de forma a armazenar uma quantidade incorreta. Coletores de grandes profundidades
sofrem mais com a ao dos ventos, facilitando a instabilidade do aparelho (STRANGEWAYS,
2000).
Bsculas
datalogger
34
4.4.4 Altura
A altura ideal para a instalao do aparelho prximo ao solo, pois nessa regio a ao dos
ventos menor, interferindo menos na queda natural da gota e, portanto, na captao da gua. No
entanto, necessrio colocar um gradeamento ou um material que permita a melhor infiltrao da
gua no solo ao redor do aparelho, impedindo que o rebate da gua que caiu no solo entre no coletor
(STRANGEWAYS, 2000). Em grandes alturas a ao dos ventos maior, e, portanto, menor a
preciso dos dados coletados.
Na Tabela 4.2 so apresentados valores da taxa de captao de chuva conforme a variao
da altura de instalao do aparelho.
Tabela 4.2. Taxa de captao (TC) da chuva em diferentes alturas da superfcie da terra no Canad.
Altura 2 4 6 8 1 1,5 2,5 5,0 20,0
TC (%) 105 103 102 101 100 99,2 97,7 95,0 90,0
4.4.5 ivelamento
O nivelamento correto do aparelho durante a instalao diminui a possibilidade de erro de
medio devido ao mau posicionamento. Um erro de cerca de 1% ocorre para cada 1 de inclinao
(STRANGEWAYS, 2000).
4.4.6 Preciso das Dimenses
Dimenses menores que as especificadas no equipamento, deformidades e fissuras nas
bordas do funil aumentam a percentagem de erro do aparelho, j que interferem diretamente na
quantidade de gua coletada.
4.4.7 Local de Instalao
Deve-se evitar o posicionamento do aparelho prximo aos prdios e a vegetao alta, o que
atrapalha a captura de gua pelo coletor. Da mesma forma, a instalao em locais completamente
abertos tambm no recomendada, pois aumenta a ao dos ventos e altera a preciso da medio.
4.4.8 Limpeza do Aparelho
necessrio realizar a limpeza do aparelho periodicamente para evitar a entrada de galhos,
folhas e outros objetos que obstruam a passagem da gua gerando medies errneas dos eventos de
chuva.
35
4.4.9 Evaporao
A temperatura local, a condutividade trmica do material do coletor, a profundidade do
mesmo, a presena de rugosidades que aprisionam as gotas de chuva e a forma de armazenamento
da gua coletada (em recipientes enterrados ou no) so fatores que interferem na perda de gua por
evaporao proporcionando erros na medio.
4.4.10 Vento
Os aparelhos de medio funcionam como um obstculo na corrente de vento, causando um
aumento de velocidade na superfcie do coletor e turbilhes na regio do funil alterando o
movimento de queda natural da gota da chuva, de forma que algumas passam pelo coletor ao invs
de cair dentro dele (STRANGEWAYS, 2000). Na Tabela 4.3 so apresentados valores de reduo
da taxa de captao com o aumento da velocidade do vento.
Tabela 4.3. Reduo da taxa (%) de captao com aumento da velocidade de vento no Canad
Velocidade de vento Tipo de precipitao
(m/s) Chuva Neve
0 0 0
5 6 20
10 15 37
15 26 47
25 41 60
50 50 73
Obs.: Considerou-se que captao da chuva na superfcie o padro.
Algumas formas de diminuir a ao dos ventos so apresentadas a seguir.
4.4.10.1 Escudos ou Barra Ventos
So construes metlicas ao entorno do coletor no formato de um cone invertido (funil)
preso por arestas laterais para no acumular gua no fundo
Figura 4.6. Escudos ou Barra Ventos
36
4.4.10.2 Barreira de Gramnea
So barreiras construdas ao entorno de aparelhos instalados prximos ao solo.
Primeiramente cava-se um buraco em formato cilndrico de dimenses relativas ao dimetro do
aparelho e a velocidade do vento do local e constri-se um muro no entorno. Coloca-se um material
ao redor do aparelho para aumentar a infiltrao e diminuir a possvel entrada da gua no coletor
devido ao rebote da precipitao no solo. necessrio fazer a limpeza da cava de tempos em
tempos para no diminuir a espessura do muro.
Figura 4.7. Barreira de Gramnea
4.4.10.3 Gradeamento
Segundo Strangeways (2000), o gradeamento (Figura 4.8) a melhor forma de se medir os
dados pluviomtricos, pois diminui a ao dos ventos em aparelhos instalados prximos ao solo,
alm de formar uma proteo contra possveis entradas de gua no coletor devido ao rebote da
precipitao no solo. Este sistema consiste na construo de uma grade no entorno do aparelho.
necessrio fazer a limpeza da grade de tempos em tempos para no acumular folhas, gramas e
outros objetos.
Figura 4.8. Gradeamento
37
4.5 Anlise dos dados
Para utilizar os dados coletados das estaes pluviomtricas devem-se seguir os seguintes
procedimentos:
Analisar a existncia de erros e corrigi-los se possvel;
Fazer o preenchimento de falhas;
Comprovar o grau de homogeneidade dos dados e ento corrigidos;
Utilizao dos dados para clculo da precipitao mdia, mnima e mxima provvel;
freqncia de sries mensais e anuais; determinao de curvas intensidade-durao-
freqncia; e grficos de distribuio temporal (Pluviogramas).
4.5.1 Anlise dos Erros
importante ressaltar que a deteco de erros uma avaliao relativa que depende do tipo
de erro e da pessoa que est analisando.
Em estaes que possuem pluvigrafos comum instalar um pluvimetro prximo, a fim de
comparar os registros e corrigir os possveis erros. Ainda nessas estaes, outra forma de corrigir os
erros interpolando os dados registrados quando se verifica a presena de discrepncias ou falhas.
Para quantidades significantes de erros pode-se anular o dado e realizar o preenchimento de falha.
4.5.1.1 Deteco de Erros de Observao
Os erros de observao so apresentados na Tabela 4.4 e englobam (SANTOS et al., 2001):
Tabela 4.4. Erros de Observao
Erros
grosseiros
So erros referentes s falhas humanas, como derramamento de gua
coletada, fechamento inadequado da torneira de pluvimetros do tipo
Ville de Paris, registro de coleta em dias inexistentes (exemplo, 30 de
fevereiro), correes aleatrias de dados pelo prprio observador,
transbordamento do coletor, bia do pluvigrafo presa, escolha errada
das escalas, etc. Para se ter uma maior confiana aos dados coletados
vlida a comparao com o registro de estaes vizinhas para
verificar se no apresentam grande varincia.
Erros
sistemticos
So erros associados s instalaes em locais inadequados e ao
prprio aparelho, como a falta de nivelamento, surgimento de
defeitos, deformaes devido temperatura e violaes, falta de
regulagem do relgio pluviomtrico, etc. Geralmente os erros
sistemticos tm como caracterstica a repetio do mesmo valor de
erro nos dados coletados.
Erros
acidentais
So erros oriundos de causas diversas, incluindo particularidades do
prprio observador, como sua capacidade de viso para a leitura dos
dados, e a margem de preciso do prprio equipamento, como seu
nvel de interferncia devido evaporao e ao vento.
4.5.1.2 Erros de Transcrio
Os erros de transcrio, como o prprio nome diz, decorrem de falhas humanas durante a
anotao dos dados em algum lugar, sejam em resumos, em mapas, em formas digitais, etc. Para
evitar esses erros preciso uma melhor ateno durante a anotao e a conferncia dos dados.
38
4.5.2 Preenchimento de Falhas
O preenchimento de falha pode ser realizado atravs de trs mtodos diferentes (TUCCI,
1993):
Mtodo de Ponderao Regional;
Mtodo da Regresso Linear;
Mtodo de Ponderao Regional com base em Regresso Linear.
As falhas consistem na falta de dados durante certo intervalo de tempo, dias, meses ou anos,
devido a possveis descuidos do observador, danificaes ou defeitos nos prprios aparelhos.
4.5.2.1 Mtodo de Ponderao Regional
O mtodo de ponderao regional consiste na escolha de trs estaes de caractersticas
climatolgicas semelhantes estao de anlise e que possuem pelo menos 10 anos de dados
coletados para o preenchimento de sries mensais ou anuais. Utilizar esse mtodo para
preenchimento de falhas de dados dirios pode acarretar erros significativos (TUCCI, 1993).
O mtodo utiliza a seguinte relao:
|
\
|
+ + = Pc
Mc
Mx
Pb
Mb
Mx
Pa
Ma
Mx
Px
3
1
(4.2)
onde a precipitao na estao (Px) proporcional s precipitaes nas estaes vizinhas a,
b, e c num mesmo perodo, representadas por Pa, Pb, e Pc. O coeficiente de proporcionalidade a
relao entre a mdia Mx e as mdias Ma, Mb e Mc no mesmo intervalo de tempo.
Atravs desse mtodo possvel estimar as precipitaes ocorridas para regies que no
possuem estaes pluviomtricas.
4.5.2.2 Mtodo de Regresso Linear
O mtodo da regresso divido em simples e mltiplo.
O mtodo simples consiste em relacionar as variveis, tempo(X) e precipitao(Y),
linearmente (Y = A + BX) atravs da construo de um grfico ou pelo mtodo dos mnimos
quadrados. Pela primeira opo os pontos so plotados em um plano cartesiano, e ento traada,
a sentimento, a melhor reta que passa pelos valores mdios dos dados. Pela opo dos mnimos
quadrados a diferena que se inserem as coordenadas na calculadora e encontram-se os valores de
A e B de forma a encontrar a equao da melhor reta. Basta colocar o valor do tempo (X) referente
falha e encontrar a precipitao (Y).
O mtodo mltiplo consiste na associao de duas ou mais informaes de uma estao com
outras estaes vizinhas atravs da equao (TUCCI, 1993):
x a x a x a y
n i i ci 1 2 1 1 0
...
+ + + = (4.3)
onde n o nmero de estaes consideradas; a
0
, a
1
, ..., a
n
so os coeficientes a serem
estimados; e x
1i
, x
2i
, ..., x
ni
so as observaes correspondentes registradas nas estaes vizinhas.
4.5.2.3 Mtodo de Ponderao Regional com base em Regresso Linear
Esse mtodo consiste em estabelecer uma regresso linear entre o nmero de estaes
consideradas.
39
Primeiramente faz-se o mtodo de regresso linear simples pelos mltiplos quadrados para
cada estao escolhida e encontra-se o valor do coeficiente de correlao (R). Depois, calcula-se o
fator de peso (W
i
) para cada estao atravs da frmula (TUCCI, 1993):
( )
n
i
i
R R R
R
W
+ + +
=
...
2 1
(4.4)
Por ltimo, calcule a o valor da precipitao (Y) da estao em anlise pela frmula abaixo
(TUCCI, 1993):
n n
W x W x W x Y + + + = ...
2 2 1 1
(4.5)
onde x
1
,x
2
...,x
n
so as precipitaes correspondentes ao ms (ou ano) das estaes
escolhidas; e W
1
, W
2
, ..., W
n
so as seus respectivos pesos.
4.5.3 Verificao da Homogeneidade dos Dados Mtodo da Dupla Massa
A verificao da homogeneidade dos dados significa a anlise de consistncia dos dados da
estao em estudo, j com as devidas correes, comparados aos registros das estaes vizinhas.
uma analise dentro da viso regional.
O mtodo de Dupla Massa consiste na comparao dos dados atravs da construo de
grficos que relacionam os valores totais mensais (ou anuais) acumulados de cada estao escolhida
(no eixo das ordenadas) com os valores mdios acumulados da regio (no eixo das abscissas), ou
seja,(Acmulo Mdio da Regio, Estao i).
Os valores mdios acumulados da regio so calculados atravs da acumulao das mdias
aritmticas em cada ms (ou ano) em todas as estaes. Qualquer mudana brusca na direo da
reta indica anormalidade.
As mudanas de declividade significam erros sistemticos e para correo do dado feita a
seguinte relao (TUCCI, 1993):
0
0
xP
M
M
Pa
a
= (4.6)
onde Pa a observao ajustada condio atual; Po o dado observado a ser corrigido;
Ma o coeficiente angular da reta no perodo recente; Mo o coeficiente angular da reta no perodo
antigo.
Alinhamento dos pontos em retas paralelas significa que existem erros de transio ou a
existncia de anos extremos nos dados plotados (TUCCI, 1993).
A distribuio aleatria dos pontos significa que a comparao est equivocada, pois as
estaes escolhidas no possuem caractersticas pluviomtricas semelhantes (TUCCI, 1993). Na
Figura 4.9 so apresentadas algumas peculiaridades do mtodo de Dupla Massa.
40
Figura 4.9. Casos Peculiares do Mtodo de Dupla Massa
4.5.4 Clculos da Precipitao
4.5.4.1 Precipitao Mdia da Regio
Mtodo da Mdia Aritmtica
Esse mtodo admite que todas as estaes possuam o mesmo peso de importncia, portanto,
a mdia da precipitao no local (Xn) calculada pela soma das precipitaes mdias das estaes,
dividindo o resultado pelo nmero de estaes. O resultado considera a distribuio temporal, ou
seja, possvel calcular a precipitao mdia para intervalos de dias, meses, anos, etc.
n
X
X
i
n
i
n
1 =
= (4.7)
Mtodo de Thiessen
O mtodo consiste em calcular a precipitao mdia da regio (Pm) a partir da Tem
determinao da rea de abrangncia de cada estao. A frmula usada (Tucci, 1993):
=
i i m
xP A x
A
P
1
(4.8)
onde A a soma de todas as reas de influncia; Ai a rea de abrangncia da estao; e Pi
a precipitao mdia da estao.
Pelo mtodo de Thiessen (1911) possvel analisar a rea de abrangncia de cada estao
pluviomtrica pela seguinte forma (Figura 4.10):
(1) Calcular a rea total da regio em analise;
(2) Localizar as coordenadas das estaes pluviomtricas distribudas na regio;
(3) Tracejar uma linha que ligue os pontos das estaes pluviomtricos, formando
tringulos;
(4) Traar linhas nos pontos mdios em cada linha tracejada at o baricentro;
(5) Apagar as linhas tracejadas;
41
(6) As linhas que sobram formam as reas relativas a cada estao pluviomtrica.
Figura 4.10. Esboo do Mtodo de Thiessen, onde P1, P1, P3, P4 e P5 quantidades aleatrias de
estaes pluviomtricas.
O mtodo de Thiessen considera a distribuio temporal da precipitao, no entanto, embora
ele seja mais preciso que o mtodo aritmtico, ele no considera as limitaes orogrficas do local,
simplesmente organiza linearmente a poro de rea referente a cada estao. Portanto, para se ter
bons resultados com esse mtodo importante que o relevo seja pouco acidentado e as distncias
entre as estaes pluviomtricas pouco extensas.
Mtodo das Isoietas
So linhas, semelhantes s linhas de curva de nvel, que unem locais com mesmo valor de
chuva. Para o clculo da precipitao mdia utiliza-se a frmula usada no mtodo de Thiessen.
Onde Ai representa a rea entre duas isoietas e Pi representa a mdia aritmtica dos valores dessas
isoietas.
Vale ressaltar que o mtodo das isoietas o mtodo mais preciso dentre os apresentados,
pois considera a distribuio espacial de intensidade de chuva devido as influncias orogrficas (a
influncia do relevo e das massas de ar), alm da distribuio temporal, ou seja, possvel desenhar
as isolinhas para determinado intervalo de tempo (meses, perodos chuvosos, perodos secos, etc.).
4.5.4.2 Precipitao Mxima Provvel
O valor calculado para a precipitao mxima no significa o valor limite que se pode ter,
mas o valor mximo observado no histrico de dados pluviomtricos do local. O clculo da
precipitao mxima provvel de suma importncia para obras civis como barragens, pontes e
outras, independente do tempo de retorno que ela apresente.
Uma maneira de calcular a precipitao mxima provvel atravs do mtodo estatstico da
generalizao das estimativas (TUCCI, 1993), onde em cada estao :
42
(1) Calculado os valores de precipitao mdia (Xn) pelo mtodo aritmtico;
(2) Calculado os desvios padres (Sn ou ):
( )
n
X X
n i
n
i
2
1
=
=
(4.9)
(3) Calculado os coeficientes de varincia (Cv):
n
n
v
S
X
C = (4.10)
(4) Plotado os valores de Xn e Cv;
(5) Estabelecido a relao da Precipitao Mxima Provvel (PMP) a partir da relao:
( )
v m n
C K X PMP + = 1 (4.11)
onde Km o coeficiente de recorrncia, adota-se Km = 11 para chuvas de 3, 4 e 5 dias ou
Km = 9 para chuvas de 1 e 2 dias (TUCCI, 1993).
4.5.4.3 Freqncia dos totais precipitados
A estimativa de freqncia dos totais precipitados permite saber o intervalo de tempo entre
os eventos de anlise, inclusive o tempo de retorno da regio. Quanto maior a quantidade de meses
e anos de registros, devidamente corrigidos, menores so os erros relativos ao clculo da freqncia.
Saber a freqncia dos eventos de grande relevncia para a construo das obras hidrulicas,
como sistemas de galerias, pontes, barragens, regularizao de rios, dentre outras.
Freqncia de Precipitaes Mensais
Os dados so organizados em ordem decrescente e a cada um atribudo o seu nmero de
ordem m (m variando de 1 a n, sendo n o nmero de observaes). A freqncia com que foi
igualado um evento de ordem m ser:
- Pelo Mtodo Califrnia:
n
m
f =
- Pelo Mtodo Kimball:
1 +
=
n
m
f
A diferena entre os mtodos relativa ao tempo de retorno (Tr), calculado pelo inverso da
freqncia
f
T
r
1
= , o mtodo Kimball permite um tempo de retorno maior que o mtodo Califrnia
para os mesmos dados.
Freqncia de Totais Anuais
Quando o nmero de observaes pequeno e espaados o valor do perodo de recorrncia
pode ser calculo por:
P
T
r
1
= (4.12)
Onde P a estimativa de probabilidade terica. Essa funo probabilstica, chamada
distribuio normal ou de Gauss, calculada atravs de uma varivel reduzida Z e uma integrao,
apresentada pela equao abaixo, onde X o total de precipitao anual, Xn a precipitao mdia,
o desvio padro.
43
n
X X
Z
= (4.13)
( )
=
z z
dz e z P .
2
1
2
2
(4.14)
A integral (4.14) no tem resoluo analtica e, portanto, so usadas tabelas estatsticas, que
podem ser encontradas em qualquer obra de referncia estatstica (PINTO et al., 1995).
Tabela 4.5. Parte da tabela que relaciona F(x) com Z.
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5010 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,57 93 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0, 6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6644 0,6819
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7406 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7791 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238. 0,8264 0,8289 0,8315 0,8310 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8138 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
Para obteno de resposta numrica so seguidas as seguintes etapas:
(1) Primeiramente encontram-se os valores de Xn e e obtm Z em funo de X;
(2) Encontra-se o valor de Z para cada total anual, de precipitao X;
(3) Encontram-se os valores de F(x) para cada valor de Z calculado, a partir da Tabela 4.5;
(4) Atravs do ajuste da lei de Gauss calcula-se os tempos de retornos (Tr) pela seguinte
relao:
( ) x F
T
r
1
= , para F(x) 0,5 (4.15)
( ) x F
T
r
=
1
1
, para F(x) > 0,5 (4.16)
4.5.5 Precipitao de Chuvas Intensas Relao Intensidade-Durao-
Freqncia
Entende-se como chuva intensa uma forte precipitao contnua em um curto intervalo de
tempo, geralmente em um tempo de minutos ou algumas horas. A intensidade da chuva varia no
decorrer do intervalo de tempo, portanto, utiliza-se a seguinte relao:
dt
dh
i = (4.17)
onde i a intensidade da chuva, dh o acrescimento de altura pluviomtrica, e dt o
intervalo de tempo infinitesimal. Na prtica, o clculo considerado a integrao do acrscimo de
44
altura pluviomtrica ao longo do tempo de durao da chuva, dada pela relao abaixo, a unidade
utilizada em mm/h ou mm/min (PINTO et al., 1995).
=
t t
t
m
t
dt i
i
0
0
.
(4.18)
A variao da intensidade com a freqncia pode ser analisada com o mtodo de Gumbel,
que segue o seguinte procedimento:
Escolhe-se a mxima intensidade de cada ano durante n anos, para cada durao t, usando
pluviograma da regio;
Obtm-se uma srie anual, constituda por n mximos (Xi), para cada durao. A mdia
(Xn) e o desvio padro amostral (am) so:
n
X
X
i
n
i
n
1 =
= (4.19)
( )
1
2
1
=
=
n
X X
n i
n
i
am
(4.20)
A probabilidade da mxima intensidade mdia de precipitao de dada durao ser maior ou
igual a X calculada pela equao:
( )
b
e P
= exp 1 (4.21)
onde,
( )
am n
am
X X b
45 , 0
7797 , 0
1
+ = (4.22)
Ento, o perodo de retorno :
( )
b
e P
T
= =
exp 1
1 1
(4.23)
Linearizando a equao do desvio padro amostral obtm-se:
K X X
n
+ = (4.24)
onde,
( ) | | 45 , 0 7797 , 0 = b K (4.25)
(
\
|
=
T
T
b
1
ln ln (4.26)
A frmula abaixo representa a relao entre intensidade-durao-freqncia (PINTO et al.,
1995):
( )
m
n
r
b t
aT
i
+
= (4.28)
onde a e b so parmetros e n e m expoentes especficos a serem determinados para cada
local; i a intensidade mxima para uma durao de tempo t; e Tr o tempo de retorno do local.
Exemplos: Rio de Janeiro
( )
15 , 1
217 , 0
26
154 , 99
+
=
t
T
i ; So Paulo
( )
025 , 1
172 , 0
22
7 , 3462
+
=
t
T
i ; Curitiba
( )
74 , 0
15 , 0
20
1239
+
=
t
T
i .
45
4.6 Escolha da quantidade e do local de instalao das estaes pluviomtricas
A Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL), atravs da Resoluo n396 de 04 de
dezembro de 1998, estabelece a quantidade mnima de aparelhos pluviomtricos exclusivamente
para empreendimentos hidreltricos. A Tabela 4.6 mostra as recomendaes da ANEEL.
Tabela 4.6. Quantidade de estaes pluviomtricas por rea de drenagem incremental ANEEL
rea de Drenagem
Incremental (km
2
)
mero mnimo de estaes
Pluviomtricas
De 0 a 500 -
De 501 a 5.000 3
De 5 001 a 50.000 4
De 50 001 a 500.000 6
Acima de 500.000 7
A quantidade mnima de estaes pluviomtricas para fins de pesquisa depende de alguns
fatores como o tamanho da rea de anlise, o objetivo da pesquisa, a disponibilidade financeira dos
rgos envolvidos, o tipo de aparelho utilizado, o mtodo escolhido para avaliao e as
caractersticas do relevo local. Pois, a orografia permite uma heterogeneizao das chuvas, de forma
que em regies mais planas possvel admitir uma rea de abrangncia maior que uma regio mais
montanhosa para um mesmo aparelho e anlise. Mesmo que a escolha seja relativa a essas
consideraes a WMO (World Meteorological Organization) a fim de melhorar a avaliao e o
planejamento das redes pluviomtricas elaborou um manual de prticas hidrolgicas em 1984 no
qual apresenta uma tabela que relaciona as caractersticas fisiogrficas da regio e a densidade
mnima da rede pluviomtrica (Tabela 4.7).
Tabela 4.7. Modelo original para densidades mnimas das redes pluviomtricas segundo WMO
(1984) citado por Salgueiro(2005).
Caractersticas Fisiogrficas
Limite das ormas para uma rede
mnima.
(Superfcie em km
2
por estao)
Limite das ormas admissveis em
circunstncias especialmente
difceis
1
.
(Superfcie em km
2
por estao)
Regies Planas de Zonas
Temperadas, Mediterrneas e
Tropicais;
600-900
900-3.000
Regies Montanhosas de zonas
Temperadas, Mediterrneas e
Tropicais;
100-250
250-1.000
4
Pequenas Ilhas Montanhosas com
Precipitao muito irregular e rede
hidrogrfica muito densa;
25
-
Zonas ridas e Polares
2
. 1.5000-10.000
3
-
1 Limite mximo e admissvel em circunstncias excepcionalmente difceis;
2 Sem incluir os grandes desertos;
3 Segundo as possibilidades;
4 Em condies de grande dificuldade podem ampliar-se at 2.000km
2
.
J em 1994 a WMO apresentou uma nova tabela na qual relaciona as unidades fisiogrficas
com a densidade mnima por estao (Tabela 4.8).
46
Tabela 4.8. Modelo revisado para densidades mnimas das redes pluviomtricas segundo WMO
(1994) citado por Salgueiro(2005).
Unidades Fisiogrficas
Densidade Mnima por Estao
(rea em km
2
por estao)
Sem Registrador Com Registrador
Costeira 900 9.000
Montanhosa 250 2.500
Planas e Interiores 575 5.750
Montanhosas / Onduladas 575 5.750
Pequenas Ilhas 25 250
reas Urbanas - 10-20
Polares/ ridas 10.000 100.000
Para a escolha dos locais de instalaes necessrio considerar o objetivo da pesquisa, a
orografia local juntamente com a altura da vegetao e prdios alm das reas abertas, a segurana
do ponto escolhido e a facilidade de acesso de instalao e manuteno.
Referncias bibliogrficas
CAPTULO 4. PRECIPITAO, UFRJ. Disponvel em:
http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/HIDRO-Cap4-PPT.pdf.
Acesso em: 23 de janeiro de 2009.
http://www.icess.ucsb.edu/gem/nuvens.htm; http://www.icess.ucsb.edu/gem/index.htm GEM
(Grupo de Estudo em Multi-Escala USP), visitando em 15 de janeiro de 2009.
Investigando a Terra Instituto Astronomico e Geofisico USP
<http://www.iag.usp.br/siae97/meteo/met_prec.htm>. visitado em 16 de janeiro de 2009.
PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A.; GOMIDE, F. L. S. Hidrologia Bsica. 5
Ed, So Paulo: Editora Edgard Blcher Ltda, 1995. 278p.
SALGUEIRO, J. H. P. B. Avaliao de rede pluviomtrica e anlise devariabilidade espacial da
precipitao : estudo de caso na Bacia do Rio Ipojuca em Pernambuco. 2005. 122f.
Dissertao (Mestrado em Engenharia Civil) Engenharia Civil, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, 2005. Disponvel em:
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/mestra_salgueiro.pdf>. Acessado em: 01 de fevereiro de
2009.
SANTOS, I.; FILL, H.D.; SUGAI, M.R.V.; BUBA, H.; KISHI, R.T.; MARONE, E.; LAUTERT,
L.F.C. Hidrometria Aplicada. Curitiba - Pr: Lactec, 2001. 372 p.
STRANGEWAYS, I. Measuring the atural Environment. Cambridge: Cambridge University
Press, 2000. 365p.
The Thiessen Method. Disponvel em: http://data.piercecollege.edu/weather/flash/Thiessen.swf.
Acesso em: 22 de janeiro de 2009.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Cincia e Aplicao, 1 Ed, Porto Alegre: Edusp, 1993. 943p.
VAREJO-SILVA, M. A. Meteorologia e Climatologia. Verso Digital, Recife, 2005.
47
5. ITERCEPTAO
Pedro Luiz Borges Chaffe
Masato Kobiyama
Joana Nery Giglio
5.1 Conceito
A interceptao a reteno, acima da superfcie do solo, de parte da precipitao. Esse o
primeiro processo hidrolgico pelo qual a gua da chuva passa. Basicamente, a precipitao em
uma bacia florestal interceptada pelos elementos que se encontram na superfcie (folhas, galhos,
troncos e serrapilheira). Aps a capacidade de armazenamento de gua nesses elementos ser
atingida, a gua fica ento disponvel ao solo. A gua armazenada ser evaporada de volta a
atmosfera e, portanto, pode ser encarada como uma perda. Em reas de floresta a interceptao pode
chegar a 40 % do total precipitado, tendo um papel importante no balano hdrico (Zinke, 1967).
Ento, medir interceptao uma das maneiras de avaliar o efeito do uso do solo no balano
hdrico.
A parte da precipitao que cai diretamente sobre o solo ou que interceptada e cai depois
na forma de gotas das folhas e ramos chamada de chuva interna ou throughfall. A parte que
desviada da copa e escoa atravs dos troncos at o solo chamada de escoamento de tronco ou
stemflow. A soma da chuva interna com o escoamento de tronco a chamada chuva lquida.
5.2 Fatores influenciadores
A quantidade de gua interceptada depende das caractersticas da precipitao, da vegetao
e das condies meteorolgicas. Os fatores que influenciam podem ser resumidos em:
Intensidade da chuva;
Volume total precipitado;
Chuva antecedente;
Intensidade do vento;
Umidade e temperatura do ar;
Tipo e densidade da vegetao.
Geralmente, quanto menor a intensidade e quantidade de chuva maior ser a interceptao.
A Figura 5.1 mostra que a interceptao varia de 100%, pequenos volumes precipitados, at
aproximadamente 10% para maiores volumes. As variaes nas medidas podem ser explicadas
pelas diferentes taxas de evaporao durante os eventos, condies antecedentes e tambm
condies meteorolgicas.
O tipo, densidade e idade da vegetao influenciam principalmente na capacidade de
armazenamento. Dependendo do tipo de folha e casca da vegetao, a interceptao pode variar.
48
Folhas largas tm maior rea de captao, porm existe a formao de gotas maiores que pingam
mais facilmente no solo. Alm disso, vegetao do tipo perene tem a capacidade de armazenamento
mais uniforme durante o ano se comparada a vegetaes que perdem as folhas de acordo com a
estao do ano (decduas ou caduciflias). Em termos gerais, uma maior densidade de vegetao
equivale a uma maior capacidade de armazenamento e, portanto, a uma maior interceptao. A
densidade de vegetao est relacionada no s a densidade de rvores, mas tambm de arbustos,
gramneas e serrapilheira no solo.
As condies meteorolgicas em um evento de chuva podem afetar tanto o armazenamento
quanto a taxa de evaporao. Os principais fatores envolvidos so umidade e temperatura do ar e
intensidade do vento. Quanto maior a umidade do ar e menor a temperatura, menor so as taxas de
evaporao. No caso de uma maior intensidade do vento pode ocorrer que a perda por interceptao
aumente ou diminua. Sabe-se que quanto maior a intensidade do vento maior ser a evaporao
potencial. Porm, pode ser que a gua armazenada nas folhas seja sacudida com rajadas de vento e
caia no solo, reduzindo a capacidade de armazenamento da vegetao.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
I
n
t
e
r
c
e
p
t
a
o
(
%
)
Precipitao Total (mm)
Figura 5.1. Relao entre interceptao e precipitao total (bacia Pinus 1).
5.3 Medio
O conhecimento que se tem sobre interceptao baseado principalmente em investigaes
empricas e sua determinao dada, geralmente, de maneira indireta. Considera-se um sistema
onde a entrada (chuva total) e as sadas (chuva interna e escoamento de tronco) podem ser medidas.
A diferena entre a entrada e a sada aquilo que ficou retido ou interceptado pelo sistema. Pelo
balano hdrico no sistema considerado (por exemplo, copa de rvores), temos:
Ps Pt P I = (5.1)
e
St Sc E I + + = (5.2)
49
onde I a interceptao; P a precipitao total (externa ou grossa); Pt a precipitao
interna throughfall; e Ps o escoamento pelo tronco stemflow; E a evaporao durante o
evento de chuva; Sc o armazenamento de copa e St o armazenamento de tronco.
Pela Equao 5.1, v-se que ao medir trs variveis (chuva total, chuva interna e escoamento
de tronco) pode-se determinar a interceptao indiretamente. A medio de chuva total deve ser
feita com um pluvimetro (ou pluvigrafo) instalado em uma clareira ou acima da floresta para no
sofrer influncia da vegetao. Aconselha-se que o ngulo formado entre o topo do pluvimetro e o
topo da rvore mais prxima e mais alta seja de no mximo 45 (Figura 5.2, detalhe (1)).
A medio de escoamento de tronco pode ser feita individualmente para cada rvore ou
fazendo-se uma mdia entre algumas rvores (Figura 5.2, detalhe (2)). A opo de medir
individualmente ou em grupo deve levar em conta a disponibilidade de equipamentos e a
heterogeneidade da floresta. A Figura 5.3 mostra o detalhe da instalao do colar para captao de
escoamento de tronco de uma rvore. O colar pode ser construdo com chapa fina de metal ou com
uma mangueira cortada. Ele pode ser fixado na rvore com pregos e o uso de silicone nas bordas
evita vazamento.
Devido heterogeneidade espacial e temporal da chuva interna, o uso de calhas com maior
rea de captao geralmente aconselhvel. As calhas devem captar chuva interna e conduzi-la at
um pluvimetro (Figura 5.2, detalhe (3)). As calhas podem ser construdas com chapas de zinco ou
plstico e o tamanho varia conforme a necessidade. A gua captada pela calha pode ser conduzida
para um pluvimetro atravs de mangueiras. O uso de apenas pluvimetros para medio de chuva
interna pode induzir a erros; caso ele se localize em uma parte aberta haver superestimao da
chuva, caso fique embaixo de uma copa densa as medidas sero subestimadas. Nesse caso deve-se
ter um nmero elevado de equipamentos instalados para garantir uma maior representatividade dos
dados.
Figura 5.2. (1) Pluvigrafo medindo chuva externa. (2) Pluvigrafo medindo escoamento de
tronco. (3) Pluvigrafo medindo chuva lquida coletada pelas calhas.
50
Figura 5.3. Detalhe de colar no tronco e tubo condutor at pluvigrafo.
A Figura 5.4 mostra fotos de equipamentos para medio de chuva interna e escoamento de
tronco instalados em uma bacia experimental. A chuva interna coletada com calhas de zinco
(Figura 5.4 a) e conduzidas at um pluvigrafo por mangueiras ligadas sada da calha (Figura
5.4b). Em caso de rvores com casca espessa (Pinus, por exemplo) aconselha-se que seja feita uma
limpeza na rea em que ser feita a instalao do colar para captao de escoamento de tronco
(Figura 5.4c). Com essa limpeza obtm-se uma superfcie mais homognea e evita-se vazamentos.
A Figura 5.4d mostra a calha para medio de chuva interna e as mangueiras condutoras de
escoamento de tronco ligadas a pluvigrafos. Ambos pluvigrafos so ligados a dataloggers e
registram volume captado a cada 10 minutos.
51
(a)
(b)
(c) (d)
Figura 5.4. (a) Instalao de calha para coleta de chuva interna. (b) Detalhe de mangueiras que
ligam a calha ao pluvigrafo do tipo bscula. (c) Limpeza da casca para instalao de mangueiras
de coleta de escoamento de tronco. (d) rea com medio instalada de chuva interna e escoamento
de tronco.
5.4 Anlise
O primeiro passo para anlise dos dados de chuva interna e escoamento de tronco a
transformao dos volumes medidos para milmetros equivalentes. No caso do uso de calhas para
coleta de chuva lquida, deve-se dividir o volume total medido pela rea de coleta da calha
projetada em planta (Figura 5.5(3)). A Figura 5.5(4) mostra em planta o colar de captao de
escoamento em quatro troncos e a conduo at um pluvigrafo. O volume escoado pelo tronco
deve ser dividido pela rea de influncia aproximada das copas das rvores medidas (Figura 5.5(1)).
Um pluvigrafo para medio de chuva externa mostrado na Figura 5.5(2).
52
Figura 5.5. Vista em planta de um plot com equipamentos de medio de interceptao instalados.
(1) rea para clculo de escoamento de tronco. (2) Pluvigrafo medindo chuva externa. (3) Calha
para medio de chuva interna. (4) Colar para medio de escoamento de tronco.
Como visto anteriormente, a quantidade de gua interceptada depende do volume total
precipitado. comum que em estudos de interceptao seja usado uma relao de regresso entre a
precipitao interceptada e a total. Horton (1919) props a seguinte equao emprica:
b P a I
n
+ = . (5.3)
onde I a quantidade interceptada, P a chuva total e a, b e n so parmetros de ajuste.
Alguns dados destes parmetros esto na Tabela 5.1. A vantagem desse tipo de abordagem que
pode ser usado com medidas de chuva totais por evento, no necessitando de dados medidos com
uma maior resoluo temporal. Porm, existem crticas pelo fato desse mtodo no levar em conta
certas variveis como intensidade de chuva e durao. Gash (1979) re-examinou do ponto de vista
fsico esses coeficientes e props que para o caso de n = 1,00:
a = / (5.4)
e
b = (Sc + E dt ) {1 ( / ) (1- p - p
t
)
-1
} (5.5)
onde E a taxa de evaporao, a taxa de evaporao mdia durante o evento, a
intensidade mdia de chuva durante o evento, p o coeficiente de chuva que cai no solo sem atingir
a vegetao e p
t
a proporo de chuva que desviada como escoamento de tronco (Rutter et al.,
1971).
Tabela 5.1. Parmetros da equao de Horton para alguns tipos de cobertura vegetal.
Cobertura vegetal a b
Pomar 0,04 0,018 1,00
Carvalho 0,05 0,18 1,00
Maple 0,04 0,18 1,00
Pinus 0,05 0,20 0,50
Arbustos 0,02 0,40 1,00
53
Normalmente, n = 1,00
Uma maneira para se determinar a capacidade de armazenamento de copa para uma floresta
utilizando dados de precipitao interna e precipitao total (Leyton et al., 1967). Atravs de uma
disperso desses dados (Figura 5.6) possvel perceber que existe um ponto de inflexo ( 5 mm)
que divide os eventos em dois grupos. O primeiro caracterizado por eventos que no alcanaram a
capacidade mxima de armazenamento de copa. A inclinao da reta de regresso feita nessa
primeira parte dos dados a proporo de precipitao que chega ao solo sem ser interceptada (p
0,41).
O segundo grupo aquele em que a saturao da copa foi atingida. Uma curva envoltria
deve ser traada para esses dados passando-se apenas por pontos onde condies de evaporao
mnima so assumidas. A extrapolao dessa curva at o eixo de precipitao interna resulta em um
valor negativo, que representa a capacidade de armazenamento mximo de copa (Sc 2,71 mm).
Idealmente, cada evento de chuva deveria ser tratado em separado, porm, isso depende da
disponibilidade de medies automticas.
Os parmetros de armazenamento de tronco podem ser estimados de maneira similar aos da
copa. Faz-se uma disperso do escoamento de tronco pela precipitao total (Figura 5.7). A
inclinao da curva de regresso dos dados informa o valor proporcional de gua que desviada
para o tronco (p
t
0,13) e a interceptao da linha at com o eixo do escoamento de tronco
representa a capacidade mxima de armazenamento de tronco (St 1,06 mm).
Pt = 0,41 P - 0,22
R = 0,5944
Pt = 0,97 P - 2,71
R = 0,9997
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
P
r
e
c
i
p
i
t
a
o
I
n
t
e
r
n
a
(
m
m
)
Precipitao Total (mm)
Pontode Inflexo
5 mm
Figura 5.6. Relao entre precipitao interna e precipitao total. (bacia Pinus 1).
54
Ps = 0,13 P - 1,06
R = 0,872
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E
s
c
o
a
m
e
n
t
o
d
e
T
r
o
n
c
o
(
m
m
)
Precipitao Total (mm)
Figura 5.7. Relao entre escoamento de tronco e precipitao total. (bacia Pinus 1).
O fator de cobertura de copa (c) pode ser estimado atravs de foto com a cmera apontando
para o cu (Figura 5.8) e depois calculando-se a rea da foto que corresponde a copa das rvores e a
parte que corresponde a superfcies livre. O problema desse mtodo est na distoro na imagem
devido lente. Outra maneira que pode ser usada com a medio de radiao externa e interna na
floresta. A razo entre as duas tem relao com o fator de cobertura.
Figura 5.8. Foto para estimativa do fator de cobertura de copa (c).
5.5 Modelagem
Existem diversos modelos propostos para estimativa de perdas por interceptao (Rutter et
al., 1975; Suzuki et al, 1979; Gash, 1979; Valente et al., 1997). Dois dos mais usados so o modelo
de Rutter (Rutter et al, 1975) e o modelo de Gash (Gash, 1979), que na verdade uma simplificao
do modelo Rutter juntamente com alguns conceitos de regresso linear. Aqui apresentada uma
verso reformulada do modelo de Rutter proposta por Valente et al. (1997), chamado de modelo de
Rutter esparso ou Sparse Rutter Model. Esse modelo tem como entrada chuva total e evaporao
potencial e pode estimar chuva interna e escoamento de tronco a cada passo de tempo.
Basicamente a chuva total (R) separada em chuva que cai em reas abertas ou
descobertas ((1-c) *R) e que cai no sistema de copas ou rea coberta (c*R) (Figura 5.9). A copa
55
representada por um tanque com capacidade mxima de armazenamento Sc e gua armazenada em
um determinado passo de tempo Cc. A evaporao de copa dado por Ec. Quando Cc > Sc, Ec
corresponde a evaporao potencial, caso contrrio usado um fator de reduo de evaporao.
Quando Cc ultrapassa o valor limite de Sc a gua em excesso escoada em parte para o tronco
atravs da proporo pd e a outra parte cai no solo (1-pd). O sistema de tronco funciona anlogo ao
de copa. A proporo de gua que evapora de copa e evapora de tronco dada pelo coeficiente ee.
Precipitao total
R
rea descoberta
input
R
Copa
input
R
Precipitao
livre
R
Drenagem de copa
Dc = d(Cc - Sc)/dt
Precipitao
interna
(1 - c) R + c Di,c
Gotas
Di,c = (1 - pd) Dc
Escoamento
de tronco
c Dt,c
Tronco
input
Pd Dc
Evaporao
de copa
E = c Ec
Evaporao
de tronco
Et = c Et,c
Perda por
interceptao
E + Et
rea
descoberta
1 - c
rea
coberta
c
Sc
Cc
St,c
Ct,c
Ec =
Et,c =
Drenagem de
tronco
Dt,c = d(Ct,c - St,c)/dt
(1 - ee) Ep Cc , Cc < Sc
Sc
(1 - ee) Ep , Cc = Sc
ee Ep Ct,c , Ct,c < St,c
St,c
ee Ep , Ct,cc = St,c
Figura 5.9. Fluxograma do modelo Sparse Rutter Model. (adaptado de Valente 1997)
A Figura 5.10 apresenta a simulao com o Sparse Rutter Model da chuva interna e do
escoamento de tronco para um evento de chuva. Foram usados dados de chuva externa, interna e
escoamento de tronco medidos a cada 10 minutos. A evaporao potencial diria, uma entrada do
modelo, foi calculada atravs do mtodo de Penman (ver Captulo 11). Os valores dirios foram
transformados atravs de uma funo para obteno de evaporao potencial a cada 10 minutos.
56
0 50 100 150 200 250 300 350
0
2
4
6
P
r
e
c
i
p
i
t
a
o
(
m
m
/
1
0
m
i
n
)
0 50 100 150 200 250 300 350
0
2
4
6
T
h
r
o
u
g
h
f
a
l
l
(
m
m
/
1
0
m
i
n
)
Simulado
Medido
0 50 100 150 200 250 300 350
0
0.2
0.4
S
t
e
m
f
l
o
w
(
m
m
/
1
0
m
i
n
)
Tempo (10min)
Figura 5.10. Simulao de chuva interna e escoamento de tronco com o modelo Sparse Rutter
Model. (Bacia Pinus 1)
5.6 Consideraes
A parcela da chuva que no chega ao solo, perdida no processo de interceptao, pode
corresponder a parcelas elevadas do balano hdrico (at 40% do total). Porm, sua quantificao
precisa e de maneira padronizada difcil de ser feita devido a influncia das caractersticas da
precipitao, condies meteorolgicas e da heterogeneidade da vegetao. Devido a essa
dificuldade, muitas vezes esse tipo de medio no feita e a justificativa acaba sendo que a
interceptao no significativa.
A maioria dos modelos usados hoje de chuva-vazo para o estudo de balano hdrico no
contam com rotinas de interceptao e so muitas vezes alimentados com dados de chuva externa
(ou total). Esses modelos j tm na sua estrutura toda uma incerteza devido as simplificaes feitas
e a entrada de dados incorretos pode aumenta ainda mais a incerteza do estudo ou condicionar um
modelo a achar bons resultados mas por razes erradas. Os dados de interceptao so necessrios
ento para a reduo de incerteza desses estudos e consequentemente aumentar o grau de
conhecimento sobre os processos hidrolgicos. Se no final das contas queremos saber o que
acontece com a gua da chuva quando chega superfcie, nada mais coerente do que medir o
primeiro processo pelo qual ela passa.
57
Referncias bibliogrficas
Gash, J.H.C., 1979. An analytical model of rainfall interception by forests. Q. J. R. Meteorol.
Soc., 105: 43-55.
Horton, R.E., 1919. Rainfall interception. Mon. Weath. Rev. 47, 603623.
Leyton, L., Reynolds, E.R.C. and Thompson, F.B., 1967. Rainfall interception in forest and
moorland. In: W.E. Sopper and H.W. Lull (Editors), International Symposium on Forest
Hydrology. Pergamon, Oxford, pp. 163- 178.
Rutter, A.J., Kershaw, K.A., Robins, P.C., Morton, A.J., 1971. A predictive model of rainfall
interception in forests I. derivation of the model from observations in a stand of Corsican
pine. Agric. Meteorol. 9, 367384.
Rutter, A.J., Morton, A.J. and Robins, P.C., 1975. A predictive model of rainfall interception in
forests. II. Generalization of the model and comparison with observations in some coniferous
and hardwood stands. J. Appl. Ecol., 12: 367-380.
SUZUKI, M., KATO, H., TANI, M., FUKUSHIMA, Y., , Throughfall, stemflow and rainfall
interception in Kiryu experimental catchment (1) Throughfall and stemflow, J. Jap. For. Soc.,
v. 61, p. 202-210, 1979.
Valente, F., David, J.S., Gash, J.H.C., 1997. Modelling interception loss for two sparse eucalypt
and pine forests in central Portugal using reformulated Rutter and Gash analytical models. J.
Hydrol. 190, 141162.
Zinke, P. J.1967.Forest interception studies in the United States, International Symposium on
Forest Hydrology, Eds. W. E. Sopper and H. W. Lull, Pergamon Press, Oxford, 137-161.
58
6. IFILTRAO
Antnio Augusto Alves Pereira
6.1 Introduo
Infiltrao o nome dado ao processo de passagem da gua que chega superfcie do solo
via precipitao, degelo ou irrigao, para seu interior, atravs dos poros. importante conhecer
esse fenmeno porque a taxa em que se d essa infiltrao, em relao ao suprimento de gua,
determina se haver um volume excedente, que poder escoar sobre a superfcie. A infiltrao um
processo importante por influenciar o tempo que a gua permanece na bacia: a gua, aps infiltrar,
passa a compor a umidade do solo e eventualmente pode formar um aqfero (reservatrio de gua
subterrneo) quando preenche os poros de camadas do subsolo. Por outro lado, a parcela que escoa
tende a sair rapidamente pela rede de drenagem, deixando de estar disponvel para os processos
biolgicos. A manuteno da umidade no solo propicia condies para o desenvolvimento das
plantas, da fauna e dos microorganismos. J o escoamento superficial provoca eroso laminar no
horizonte superficial do solo reduzindo sua fertilidade e em zonas urbanizadas pode provocar
alagamento de reas habitadas.
A dinmica do processo de infiltrao depende, entre outros fatores, da quantidade de gua
presente e da permeabilidade da superfcie, do tamanho e forma dos poros no interior do solo e da
quantidade de gua j existente nesses poros. fundamental conservar a capacidade natural de
infiltrao dos solos, mas sabemos que a ao do homem contribui para piorar a condio original.
Nas cidades acontece impermeabilizao devido s construes e pavimentao das vias; no
campo, a exposio do solo sem cobertura vegetal ao impacto das gotas de chuva provoca o
selamento da superfcie.
A dimenso dos poros por onde a gua ir infiltrar influenciada pelo tamanho, forma e
natureza mineral das partculas e pelo modo como estas partculas esto arranjadas (estrutura). Entre
os tipos de solos, aqueles com poros maiores, como os de textura arenosa ou os argilosos com
agregados estveis e matria orgnica, oferecem melhor condio para a infiltrao da gua, j que
a resistncia passagem atravs da superfcie tende a ser pequena. Os poros grandes podem ser
decorrentes da existncia de partculas grandes compondo o solo (frao areia) ou da estrutura, j
que partculas pequenas (frao silte a argila) podem ser aglutinadas em agregados maiores devido
presena de substncias cimentantes. A cobertura vegetal existente sobre a superfcie, tanto viva
como morta (palha), ajuda bastante a infiltrao da gua, tanto por proteger a superfcie do impacto
direto das gotas de chuva como tambm por reduzir a velocidade do escoamento superficial,
aumentando o tempo de oportunidade para que a gua infiltre. Terrenos planos permitem uma
infiltrao maior que terrenos declivosos tambm pelo maior tempo de permanncia da gua em
contato com a superfcie. Pela mesma razo, uma ladeira lisa perde mais gua por escoamento que
uma que apresenta irregularidades devido a variaes microtopogrficas, causadas por torres,
pequenas depresses ou outros obstculos na superfcie.
59
O teor de gua inicial de gua no solo, a presena de rachaduras e as caractersticas da
precipitao (intensidade e durao) tambm interferem na taxa de infiltrao. Alguns dos fatores
citados so fortemente influenciados pelo manejo adotado pelo homem em reas de uso com
agricultura ou pecuria (forma como o solo trabalhado, incluindo prticas de revolvimento e
nmero de animais que pisoteiam o solo por unidade de rea).
Em geral, quanto maior for a intensidade da chuva, maior ser a taxa de infiltrao, at que
seja superada a capacidade que o solo tem de receber a gua (Infiltrabilidade). O termo
Infiltrabilidade refere-se ao fluxo de gua atravs da superfcie que ocorre naturalmente quando
gua sob presso atmosfrica (ou na forma de uma lmina bem pequena) encontra-se livremente
disponvel para penetrar no solo. A infiltrabilidade , portanto, uma propriedade do solo, que
quando superada por uma chuva intensa, tem como decorrncia o escoamento de gua sobre a
superfcie. A infiltrao condicionada por fatores do solo e do ambiente, que como vimos, podem
aumentar ou diminuir a intensidade do processo. Os fatores relacionados ao solo so usualmente
reunidos em um parmetro denominado condutividade hdrica do solo, que pode ser quantificado
no campo ou em laboratrio. A infiltrabilidade tem sido tambm usada como um parmetro
indicador da compactao do solo.
A infiltrao acontece espontaneamente, pois a gua que entra em contato com a superfcie
do solo possui energia potencial maior que a gua que j est nos poros do solo. O potencial total da
gua no solo tem como componentes principais o componente gravitacional e o mtrico (decorrente
do fenmeno da capilaridade nos poros do solo). A gravidade est sempre presente, mas o potencial
mtrico s atua em solos no saturados. Assim, como veremos nas determinaes a campo, quando
um solo est com baixo teor de umidade, a taxa de infiltrao pode ser muito grande, mas medida
que este solo torna-se saturado, apenas o componente gravitacional permanece atuando como fora
motriz da infiltrao, reduzindo a taxa de entrada de gua.
O processo de infiltrao influenciado pelo meio poroso como um todo, mesmo porque
solos agrcolas apresentam horizontes (camadas) com caractersticas distintas. Portanto no se deve
esperar o mesmo comportamento durante a infiltrao em um solo com propriedades fsicas
homogneas em todo o perfil, quando comparado com a infiltrao que acontece em um solo com
perfil estratificado (tamanho dos poros e tortuosidade diferentes em camadas distintas). Convm
lembrar que a movimentao da gua no interior do perfil do solo pode limitar a taxa de infiltrao
atravs da superfcie.
6.2 Medio da infiltrabilidade
Sero apresentados dois mtodos para estimar a infiltrabilidade do solo bastante utilizados
por sua simplicidade. O primeiro - mtodo dos cilindros concntricos - apropriado para medir a
infiltrabilidade vertical; o segundo - mtodo do cilindro nico - permite tambm observar o
movimento horizontal da gua durante o processo de infiltrao.
6.2.1 Mtodo dos cilindros concntricos
Destinado a medir a infiltrabilidade vertical, consiste em observar a taxa de infiltrao de
uma pequena lmina de gua represada dentro de dois cilindros metlicos cravados no solo (Figura
6.1). A altura da lmina deve ser mantida aproximadamente constante pela reposio da gua
infiltrada durante o teste. O uso de dois cilindros necessrio para que apenas a gua do anel
60
externo movimente-se tanto na direo vertical como na horizontal, funcionando como bordadura.
Dessa forma garante-se que a gua colocada no cilindro interno (onde sero feitas as medies)
infiltrar apenas na direo vertical, como ocorre com a infiltrao decorrente de uma precipitao.
A observao deve prosseguir at que a taxa de infiltrao com o tempo apresente valores muito
prximos durante leituras sucessivas.
Figura 6.1. Cilindros de ao usados para determinao da infiltrabilidade do solo. Podem ser
construdos artesanalmente ou adquiridos prontos.
Material necessrio:
Dois cilindros de ao com 30 e 60 cm de dimetro interno e 30 e 20 cm de altura,
respectivamente;
Rgua de 30cm;
Suporte para a rgua - serve como referncia para as leituras do nvel da gua no
cilindro interno e para manter a rgua na vertical. (Pode ser feito com tubo de
p.v.c. ou de madeira, deixando-se um orifcio para passagem da rgua);
Disco de isopor para ser preso base da rgua e permitir que ela flutue com a
oscilao do nvel da gua;
Cronmetro;
Dois baldes com capacidade de 10 litros aproximadamente;
Marreta e caibro de madeira para cravar o anel;
Nvel de bolha;
Pedao de filme plstico de 60 cm x 60 cm;
Proveta graduada ou becker de 500 ou 1000 ml;
Quadro para registro dos dados;
Tesoura para aparar a vegetao.
Seqncia de procedimentos:
Escolher no campo um local aproximadamente plano e com micro-relevo uniforme para
cravar os cilindros. A vegetao deve ser aparada rente com uma tesoura e no arrancada, para no
perturbar a estrutura da camada superficial do solo que no deve sofrer qualquer tipo de
revolvimento ou perturbao.
O cilindro de maior dimetro deve ser cravado em primeiro lugar, at metade de sua altura.
Deve-se apoiar sobre o mesmo, o caibro de madeira (Figura 6.2). A seguir bate-se com a marreta no
61
centro do caibro para que o cilindro penetre verticalmente no solo. A posio do caibro deve ser
constantemente trocada (giros de 45). O nvel de bolha deve ser utilizado durante essa operao
para garantir que o cilindro no esteja se inclinando enquanto penetra o solo. A seguir deve ser
cravado o cilindro interno, seguindo o mesmo procedimento.
Figura 6.2. O uso do nvel de bolha auxilia para que a cravao do cilindro acontea na direo
vertical.
Recomenda-se, para fins de comparao com testes feitos em outros locais, retirar uma
amostra de solo com estrutura natural ao lado do local onde foram instalados os cilindros para
determinar a densidade do solo e sua umidade. Para dar incio determinao da infiltrabilidade,
coloca-se o filme plstico, o suporte e a rgua no cilindro interno e acrescenta-se gua suficiente
para formar uma lmina com altura em torno de 5 cm, como est ilustrado na Figura 6.3. A seguir
coloca-se gua no cilindro externo at que se forme em seu interior uma lmina equivalente que
existir no cilindro interno. Retira-se rapidamente o filme plstico disparando o cronmetro nesse
instante, dando incio ao teste. A altura inicial da lmina de gua deve ser lida e registrada.
Figura 6.3. Preparao para o incio do teste: o volume de gua deve ser calculado para que se
tenha a lmina de gua desejada.
Em tempos previamente estabelecidos, registrados num quadro de anotaes, dever ser
feita a leitura da altura da lmina de gua no cilindro interno, na marca de referncia existente no
62
suporte da rgua. Deve-se evitar que haja impedimento livre flutuao da rgua, para o correto
registro da variao da altura da lmina de gua no interior do cilindro interno. A montagem final
do ensaio pode ser observada na Figura 6.4.
Figura 6.4. Ilustrao dos cilindros instalados para a realizao da medio da taxa de infiltrao.
Recomenda-se que durante os primeiros 5 a 10 minutos, as leituras sejam feitas a intervalos
curtos (30s a 1min em solos arenosos, dois a cinco minutos nos argilosos). A partir da, se for
observada uma reduo na taxa de infiltrao, as leituras podem passar a ser mais espaadas. O
intervalo de tempo entre leituras deve ser definido de forma que a variao da lmina dgua entre
duas leituras consecutivas no ultrapasse 3,0cm.
O desenrolar do teste consiste nas leituras do nvel da gua no cilindro interno, por meio da
rgua. Deve-se observar a reduo do nvel da gua no anel interno: caso esteja prxima de 3,0cm,
deve-se completar o nvel da gua, preferencialmente no momento da leitura, at atingir o valor
registrado na rgua no incio do teste. As adies de gua devem ser registradas no quadro de
anotaes. O nvel da gua no cilindro externo deve acompanhar o nvel do cilindro interno durante
todo o teste, mas os registros da altura de gua so feitos s no cilindro interno.
Em solos com umidade inferior da saturao, a variao da altura da lmina de gua
usualmente torna-se menor medida que o processo de infiltrao da gua no solo prossegue. Ou
seja, a infiltrabilidade decrescente com o tempo.
Quando encerrar:
O teste dever prosseguir at que taxa de infiltrao, calculada atravs dos dados da Tabela
6.1, mostrar valores semelhantes durante duas ou trs leituras consecutivas. Com base na
experincia, pode-se dizer que em solos de perfil uniforme e suficientemente profundo, a durao
do teste de uma a duas horas em solos arenosos e de 3 a 4 horas em solos argilosos.
63
Tabela 6.1. Exemplo de dados obtidos durante a determinao da curva de infiltrao pelo
mtodo dos cilindros concntricos.
TEMPO MEDIDAS INFILTRAO
ACUMULADA
(cm)
TAXA DE
INFILTRAO
(cm/h)
Acumulado
(min)
Acumulado
(h)
Leitura
(cm)
Diferena
(cm)
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
0 - 10,0 - 0 -
5 0,0833 10,9 0,9 0,9 10,8
10 0,1667 11,6 0,7 1,6 8,4
20 0,3333 12,4 0,8 2,4 4,8
40 0,6667 13,5 1,1 3,5 3,3
80 1,3333
15,1
(12,0)
1,6 5,1 2,4
120 2,0000 10,5 1,5 6,6 2,25
160 2,6667 9,2 1,3 7,9 1,95
200 3,3333 8,0 1,2 9,1 1,80
240 4,0000 6,8 1,2 10,3 1,80
Anlise dos dados obtidos no campo:
A representao dos dados obtidos no plano cartesiano permite analisar a variao da taxa
de infiltrao com o tempo e fazer comparao entre solos de caractersticas diferentes. Os valores
das colunas B e F (Tabela 6.1) deram origem aos pontos representados no grfico da Figura 6.5. Os
dados obtidos na determinao feita a campo tambm podem ser ajustados a um modelo
matemtico que expresse a variao da infiltrabilidade com o tempo. Uma opo bastante aceita por
sua simplicidade a Equao de Horton. uma equao emprica, na qual se assume que a
infiltrao inicia com uma taxa f
0
e decresce exponencialmente com o tempo t. Depois de um tempo
varivel, quando a umidade do solo atinge um grau elevado (prximo da saturao), a taxa de
infiltrao converge para um valor constante f
c
.
t k
c c t
e f f f f
.
0
). (
+ = (6.1)
f
t
: taxa de infiltrao no tempo t;
t: tempo transcorrido desde o incio do processo de infiltrao;
f
0
: taxa de infiltrao inicial (tempo t = 0);
f
c
: taxa de infiltrao alcanada quando a umidade do solo est prxima da saturao;
k: taxa de decaimento constante da taxa de infiltrao, especfica para cada solo.
A taxa de decaimento k pode ser estimada por:
Fc f f k
c
/ ) (
0
= (6.2)
Onde Fc a rea sob o grfico da curva da taxa de infiltrao. Para obter Fc necessrio
ajustar uma curva aos pontos da Figura 6.5 mo e estimar a rea sob a projeo da curva no eixo
x, porm esta opo no muito prtica. Uma maneira mais rpida de ajustar equao de Horton
aos pontos obtidos pelo uso de programas de computador que utilizam o mtodo dos quadrados
mnimos. No exemplo visto a seguir foi utilizado o programa Graph 4.3, que pode ser obtido
gratuitamente no site http://www.padowan.dk/graph/. possvel escolher a equao qual se
64
deseja ajustar os dados, por meio das opes inserir ajuste de curva e depois definida pelo
usurio. Escolheu-se um ajuste para duas variveis, f
0
e k, j que f
c
pode ser determinado no campo
com bastante preciso (taxa de infiltrao que determina o encerramento do teste).
A equao de Horton foi inserida no programa na forma 1.8+($a-1.8)*EXP(-$b*x), j que o
programa usa ponto e no vrgula para separar os valores decimais.
O valor f
c
= 1,8 foi aquele obtido para os dois ltimos dados taxa de infiltrao da Tabela
6.1;
$a representa a varivel f
0
;
$b representa a varivel k;
X representa o tempo t.
O resultado obtido foi a equao f(x)=1,8+(14,072426 1,8)*exp(-3,7970982*x); com
R=0,9885, onde:
f
0
= 14,072426
k = 3,7970982
Podemos reescrev-la como:
f
t
= 1,8 + 12,2724.e
-3,7971.t
Esta equao, ajustada aos pontos da coluna F da Tabela 6.1, nos d a curva apresentada na
Figura 6.5.
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tempo (h)
Taxa de Infiltrao (cm/h)
Figura 6.5. Curva da taxa de infiltrao em funo do tempo, obtida a partir do ajuste da equao
de Horton aos dados da determinao a campo (Tabela 6.1).
65
A partir da integrao da equao anterior em relao ao tempo, possvel estimar o volume
total de gua infiltrado (Ft) desde o incio do processo at o tempo t:
( )
t k c
c
e
k
f f
t f Ft
. 0
1 .
) (
.
+ = (6.3)
Substituindo os valores ajustados, obtemos:
( )
t
e t Ft
. 7971 , 3
1 . 232 , 3 . 8 , 1
+ = (6.4)
A Equao 6.4 que est ajustada aos pontos da coluna E da Tabela 6.1, apresentada na
Figura 6.6.
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tempo (h)
Infiltrao acumulada (cm)
Figura 6.6. Curva da lmina de infiltrao acumulada em funo do tempo, obtido a partir do ajuste
da equao de Horton integrada em relao ao tempo aos dados da coluna E da Tabela 6.1.
Exemplo de aplicao:
Por quanto tempo a gua dever ficar retida ou escoando sobre um ponto determinado para
que seja adicionada uma lmina de gua de 40 mm ao solo?
( )
t
e t Ft
. 7971 , 3
1 . 232 , 3 . 8 , 1
+ =
No programa Graph 4.3, escolhe-se a opo clculo e a seguir seleciona-se a funo
desejada. Basta inserir valores de tempo pra que o programa fornea os valores de infiltrao
acumulada, em centmetros. Para o exemplo em questo, o tempo encontrado foi de 0,6 horas ou 36
minutos.
66
6.2.2 Mtodo do cilindro nico
O texto apresentado a seguir foi adaptado da traduo feita por Pedro Luiz de Freitas
(pfreitas@cnps.embrapa.br, Eng. Agr., Ph.D. em Cincia do Solo, Pesquisador da Embrapa Solos,
Goinia, GO) do artigo de Roose et al. (1993), citado no final deste captulo.
Caracterizado pela simplicidade e baixo custo, este mtodo permite classificar os horizontes
pedolgicos do solo segundo sua porosidade capacidade de infiltrao e armazenamento de gua,
bem como visualizar a forma de molhamento do solo.
Figura 6.7. Material para realizao do teste de infiltrao pelo mtodo do cilindro nico.
Consideraes:
O mtodo do anel nico, proposto por Roose et al. (1993), exige pouco material, pouca gua
e pouco tempo de observao, permitindo uma srie de repeties com maior confiabilidade. O
mtodo bastante sensvel condio estrutural do solo (rugosidade, atividade biolgica, cobertura
vegetal, umidade, fissurao, porosidade e agregao). Se o solo estiver seco, permite examinar a
permeabilidade relativa dos horizontes subsuperficiais, a forma da frente de molhamento e os riscos
de drenagem lateral.
Material necessrio:
Cilindro de 10cm de dimetro e 15cm de altura - tubo de PVC, acrlico ou metal -
com borda cortante (bisel) na parte inferior;
Rgua de no mnimo 15cm;
Papel de filtro de vazo rpida ou plstico suficiente para evitar a abertura de buraco
no solo durante o enchimento do cilindro com gua;
Cronmetro;
Duas vasilhas de 500 cm
3
;
Ferramentas para escavao;
67
Papel e caneta para anotaes.
Procedimento:
Escolher rea representativa da superfcie do solo, se possvel em um perodo seco, aps, no
mnimo, cinco dias sem chuva ou irrigao;
Enterrar o cilindro de 2 a 3cm, perturbando o mnimo possvel a superfcie do solo. Resduos
e razes superficiais devem ser cortados com uma tesoura. A introduo do cilindro pode ser
facilitada umedecendo suas paredes para diminuir o atrito com o solo;
Vedar a parte externa do cilindro, em contato com o solo, com ajuda de terra fina,
umedecida e compactada, a fim de evitar vazamento da gua que estar no interior do cilindro;
Ajustar o papel de filtro no fundo do cilindro para evitar que a gua, ao ser colocada,
perturbe a superfcie do solo. Tambm pode ser utilizado um plstico, que ser retirado no inicio do
teste;
Afixar a rgua parede do cilindro, acima do papel de filtro ou, no caso de uso de plstico,
entre o plstico e a parece interna do cilindro;
Colocar a gua com cuidado, evitando ao mximo erodir a superfcie do solo ou destruir a
cobertura vegetal, at chegar a uma altura mnima de 5cm (pode ser um pouco mais para dar tempo
at a leitura inicial);
Se estiver sendo utilizando filme plstico, retir-lo lentamente. Disparar o cronmetro e
fazer a leitura inicial (T
0
) quando a altura da gua estiver a 5 do fundo do cilindro;
Anotar o tempo de passagem do nvel da gua a cada 0,5cm, at que toda a gua tenha
infiltrado (realizar tambm leitura de tempo com nvel de 0cm);
Repetir o teste logo em seguida caso esteja utilizando papel de filtro, ou colocar o plstico e
a gua no cilindro e recomear;
Aps realizar 5 repeties, retirar o cilindro;
Coletar rapidamente uma amostra de solo para determinao da umidade gravimtrica
mxima. Caso seja necessrio determinar tambm a densidade do solo, usar cilindro de volume
conhecido para coletar amostra com estrutura natural (Figura 6.8);
68
Figura 6.8. Coleta de amostra com estrutura natural (no deformada) dos primeiros 5cm de solo.
Em rea prxima, coletar outra amostra para determinao da umidade inicial do solo;
Abrir uma trincheira a partir da posio do cilindro, para exame da mancha formada pela
gua infiltrada no solo. Cavar com uma p de corte e completar com uma faca at que toda a
mancha esteja aparente (Figura 6.9);
Figura 6.9. Trincheira escavada para mostrar a mancha formada pela infiltrao da gua (frente de
molhamento) aps aplicao de duas lminas de gua de 5cm.
Observar e desenhar a forma da mancha deixada pela gua, anotando a profundidade (H) e a
largura (Largura/2 = raio R). A largura deve ser determinada a cada 5cm de profundidade para
clculo do dimetro mdio da frente de molhamento;
Cobrir o solo acima da frente de molhamento com um plstico para impedir perdas por
evaporao ou acrscimo de gua pela precipitao;
Retirar nova amostra aps 24 horas do teste para determinar a umidade de capacidade de
campo;
A sensibilidade do teste tal que bastam cinco repeties. Determinaes em uma trincheira
em escada permitem a compreenso do comportamento hdrico de cada horizonte pedolgico
descrito.
Interpretao dos resultados:
A Figura 6.10 mostra os comportamentos esperados da frente de molhamento em funo das
caractersticas do solo. Em solos arenosos e muito permeveis, a frente de molhamento ter a forma
cilndrica. Em solos argilosos, a forma ser de balo, com maior expanso lateral medida que for
mais intenso o efeito da capilaridade nos horizontes superficiais.
No caso de solos com impedimento mecnico infiltrao de gua, a frente de molhamento
ter uma forte expanso lateral, mostrando claramente a profundidade do inicio da compactao.
69
Figura 6.10. Formas da frente de umedecimento em funo das caractersticas hidrodinmicas dos
horizontes do solo: (a) Solo de caractersticas arenosas, permevel; (b) Solo argiloso com
porosidade fina; (c) Solo pouco permevel, compactado; (d) Horizonte permevel sobre um
horizonte sub-superficial pouco poroso com tendncia drenagem oblqua.
Velocidade mdia de infiltrao (VI
m
)
O tempo de infiltrao de uma lmina de 50mm varia de 1 a 60 minutos em funo da
condio estrutural do solo e da estabilidade dessa estrutura, da umidade inicial e da existncia de
fissuras. Em solos com estrutura instvel, a capacidade de infiltrao diminui fortemente aps um
primeiro teste com solo seco. A velocidade mdia de infiltrao determinada tendo como base a
soma do tempo para a infiltrao de duas lminas de 50mm (total de 100mm). Por meio de uma
regra de trs, calcula-se a infiltrao em mm/h.
Observando graficamente a dinmica de infiltrao nas Figuras 6.11 e 6.12 (tempo no eixo
horizontal e a altura da lmina dgua nas ordenadas), temos duas formas bsicas:
Em solos arenosos ou argilosos bem estruturados e com agregados estveis, temos duas retas
de pendente varivel, dependendo da umidade inicial do solo;
Em solos argilosos dispersos ou com agregados instveis, temos uma reta que tende a ser
tangente ao eixo dos tempos.
No exemplo apresentado ao final deste item, a infiltrao foi medida em um solo sob plantio
direto, em que o comportamento da infiltrao assemelha-se ao que foi descrito no item a (Figura
6.12) e num solo sob preparo convencional do solo, que se comportou como descrito no item b
(Figura 6.11).
Velocidade de infiltrao final (VI
f
)
Para determinar a velocidade de infiltrao final recomenda-se que a frente de
umedecimento tenha ultrapassado a profundidade de 12 a 30cm e a lmina dgua seja inferior a
70
15mm. Em nosso exemplo, o clculo foi feito para a infiltrao de duas lminas de 50mm. Foi
utilizado o ltimo valor observado sob a segunda lmina, para os dois solos.
Constatando-se a existncia de movimentao lateral da gua, indicada pela forma da frente
de molhamento, a velocidade de infiltrao final dever ser dividida por um coeficiente de correo,
que varia de 2 a 8. Esta correo necessria porque teoricamente, deveramos ter uma frente de
molhamento com o mesmo dimetro do cilindro, visto que estamos pesquisando como aconteceria a
infiltrao de uma lmina dgua que incidisse sobre todo o terreno (ou seja, um nmero infinito de
cilindros colocados lado a lado). Como a medida feita com um s cilindro, temos que
desconsiderar a movimentao lateral, que faz com que o raio mdio da frente de molhamento (R)
exceda o raio do cilindro (r). A correo feita em funo do quociente entre o volume da frente de
molhamento e o do cilindro, da seguinte forma:
25 . .
. .
.
.
2
2
2
2
2
R
r
R
r H
R H
Cilindro Vol
amento FrenteMolh Vol
= = =
(6.5)
O fator de correo varia de 2 a 6 em solos arenosos ou estveis e, de 4 a 8 em solos
argilosos, compactados ou instveis.
Exemplo de aplicao:
Tabela 6.2. Dados medidos de infiltrao para resoluo do exemplo.
Sistema
de
Manejo
Sistema
Convencional
(Grade Pesada)
Sistema Plantio
Direto
Sistema
de
Manejo
Sistema
Convencional
(Grade Pesada)
Sistema
Plantio Direto
H
(cm)
Tempo
(min)
H
(cm)
Tempo
(min)
H
(cm)
Tempo
(min)
H
(cm)
Tempo
(min)
Lmina 1
5,0 0,00 5,0 0,00
Lmina 2
5,0 0,00 5,0 0,0
4,5 0,33 4,5 0,08 4,5 0,60 4,5 0,20
4,0 0,82 4,0 0,18 4,0 1,25 4,0 0,43
3,5 1,52 3,5 0,32 3,5 1,98 3,5 0,65
3,0 1,98 3,0 0,45 3,0 2,72 3,0 0,92
2,5 2,72 2,5 0,60 2,5 3,48 2,5 1,25
2,0 3,53 2,0 0,80 2,0 4,37 2,0 1,52
1,5 4,40 1,5 1,02 1,5 5,33 1,5 1,80
1,0 5,42 1,0 1,22 1,0 6,25 1,0 2,10
0,5 6,32 0,5 1,43 0,5 7,38 0,5 2,33
0,0 7,29 0,0 1,65 0,0 8,18 0,0 2,62
71
Tabela 6.3. Dados para resoluo do exemplo.
PREPARO COVECIOAL PLATIO DIRETO
Lmina total 100 mm 100 mm
Tempo total para duas lminas 15,47 min 4,27 min
Infiltrao mdia 387,8 mm/h 1405,1 mm/h
Infiltrao final 375 mm/h 1034,5 mm/h
Raio mdio da frente de molhamento 8,25 cm 10,5 cm
Fator de correo 2,72 4,40
Infiltrao final corrigida 137,9 mm/h 235,1 mm/h
Figura 6.11. Curvas da infiltrao no solo sob
sistema convencional de preparo.
Figura 6.12. Curvas da infiltrao no solo sob
sistema de plantio direto.
Referncias bibliogrficas
BERNARDO, S. Manual de irrigao. Viosa, Editora da UFV, 1989.
CAUDURO, F.A. e DORFMAN, R. Manual de ensaios de laboratrio e de campo para
Irrigao e Drenagem. Porto Alegre, PRONI: IPH-UFRGS, s.d.
GLIESSMANN, S.R. Agroecologia Processos ecolgicos em agricultura sustentvel. Porto
Alegre, Editora da UFRGS, 2000.
REICHARDT, K. A gua em sistemas agrcolas. So Paulo, Manole, 1987.
ROOSE, E.; BLANCANEAUX, Ph.; FREITAS, P.L.de. Un simple test de terrain pour valuer la
capacit d'infiltration et le comportement hydrodynamique des horizons pdologiques
superficiels: mthode et exemples. Cahiers Orstom, Srie Pdologie (Spcial rosion:
rhabilitation des sols), Paris, vol. XXVIII, n. 2, p 413-419, 1993.
72
7. PERCOLAO
Masato Kobiyama
Aline de Almeida Mota
7.1 Algumas propriedades fsicas do solo
Quando a gua da chuva infiltra pela superfcie da terra ocorre outro processo hidrolgico
no meio poroso (solo) que chamado de percolao. O solo um sistema poroso trifsico,
integrado pelas fases slida, lquida e gasosa. A fase slida consiste em areia, silte e argila (aprox.
97%) + partcula orgnica (aprox. 3%). A fase lquida a soluo do solo na qual se encontram
vrios ons (K
+
, Na
+
, NH
4
+
, SO
4
2-
, etc.). A fase gasosa o ar do solo, tendo CO
2
, O
2
, N
2
, NH
3
, etc.
As fases lquida e gasosa caracterizam a umidade do solo e a porosidade de aerao,
respectivamente. Elas so complementares, por isso quando uma aumenta, a outra diminui, e vice-
versa. A soma delas a porosidade total do solo.
Para descrever a condio dessas trs fases, usa-se convencionalmente uma figura virtual
(Figura 7.1), com a qual pode-se determinar vrios parmetros.
Figura 7.1. As trs fases do solo.
7.1.1 Densidade
H dois tipos de parmetros que explicam a densidade dos solos. Um a densidade das
partculas que pode ser chamada densidade real ou massa especfica das partculas, sendo expressa
como:
s
s
p
V
m
= (7.1)
73
onde
p
a densidade das partculas em g/cm
3
ou kg/m
3
; m
s
a massa de slidos; e V
s
o
volume dos slidos. A densidade de quartzo 2,65 g/cm
3
(= 2.650 kg/m
3
), e este mineral
componente freqente no solo. Portanto, o valor tpico para solo comum tambm de 2,65 g/cm
3
.
O outro parmetro a densidade do solo, e tambm chamado como densidade global,
densidade aparente ou massa especfica do solo seco. Ela :
( ) 0
+
=
ar
t
s
t
ar s
ss
m
V
m
V
m m
Q (7.2)
onde
ss
a densidade do solo em g/cm
3
ou kg/m
3
; m
ar
a massa do ar; e V
t
o volume
total do solo. Os valores tpicos para solo arenoso, argiloso e orgnico podem ser 1,3 a 1,8 g/cm
3
,
1,1 a 1,4 g/cm
3
, e 0,2 a 0,6 g/cm
3
, respectivamente.
7.1.2 Umidade do solo
Tambm h dois parmetros para expressar a umidade do solo. Um a umidade
gravimtrica, sendo expressa como:
s
ag
s
s u
m
m
m
m m
U =
= (7.3)
onde U a umidade gravimtrica em g/g, kg/kg; m
ag
a massa da gua; e m
u
a massa
mida (= m
s
+ m
ag
); e m
s
a massa seca (= massa slida). Se for expressa em %, necessita-se
multiplicar por 100.
O outro a umidade volumtrica,
t
ag
V
V
= (7.4)
onde a umidade volumtrica em cm
3
/cm
3
ou m
3
/m
3
; e V
ag
o volume da gua. Dividindo
a eq. (7.4) pela (7.3) para relacionar esses dois parmetros de umidade, obtm-se:
ag
ss
ag ag
t s
s ag
t ag
V m
V m
m m
V V
U
= = = ,
ag
ss
U = (7.5)
onde
ag
a densidade da gua. Assim, nota-se que esses parmetros so bem diferentes.
Portanto, importante sempre especificar de qual umidade do solo se trata, atravs dos termos
volumtrica ou gravimtrica.
7.1.3 Porosidade
A porosidade total expressa como:
p
ss
s s
t s
t
s
t
s t
t
ar ag
t
V m
V m
V
V
V
V V
V
V V
= = =
=
+
= 1 1 1 (7.6)
onde
t
a porosidade total em cm
3
/cm
3
ou m
3
/m
3
; e V
ar
o volume do ar. Seus valores
tpicos para solo arenoso, siltoso, argiloso, e orgnico so de 0,55 m
3
/m
3
, 0,6 m
3
/m
3
, 0,65 m
3
/m
3
, e
0,8 m
3
/m
3
, respectivamente. Assim, pode-se dizer que, em geral, o solo com a textura mais fina
possui o maior valor da porosidade total. Entendendo o fato de que as fases lquida e gasosa so
complementares, facilmente obtm-se a frmula de porosidade de aerao, isto :
=
t ar
(7.7)
74
onde
ar
a porosidade de aerao em cm
3
/cm
3
ou m
3
/m
3
. Quando
t
= , o solo est
saturado. E quando
t
< , o solo est na condio no saturada. Normalmente a condio na qual
ar
> 15% desejvel para obteno do crescimento ideal das plantas em geral.
O sistema de poros do solo complexo. Em geral, os poros podem ser classificados em dois
tipos: os macro e os microporos (BRADY, 1984). Segundo HILLEL (1980a), os macroporos so,
na sua maioria, cavidades de interagregados que atuam como os principais caminhos para
infiltrao e drenagem da gua, bem como para a aerao. Os microporos, por sua vez, so as
capilaridades dos interagregrados pela reteno de gua e de solutos. A diferenciao prtica entre
estes, porm, algo muito difcil, sendo esta separao normalmente arbitrria.
KIEHL (1979) tambm classificou os macroporos como os maiores poros, geralmente
preenchidos pelo ar do solo. De maneira semelhante, os microporos so definidos como os menores
poros, capilares, principais responsveis pelo armazenamento da gua.
H uma tendncia, entre os pesquisadores, de primeiro definirem a macroporosidade. Isto
gerou, como conseqncia, uma tendncia a determinar a microporosidade pela diferena entre a
porosidade total e a macroporosidade. REICHARDT (1987) definiu a macroporosidade como uma
porosidade livre de gua, sendo assim constituda pelos poros maiores com dimetro maior que 0,05
mm, o que corresponde a uma suco de 60 cm de gua.
A macroporosidade foi definida por NELSON e BAVER (1940) como a porosidade no-
capilar. Tais autores tambm indicaram como limite de separao entre esta e a microporosidade, o
dimetro de 0,1 mm. Este dimetro mnimo da macroporosidade foi definido por MARSHALL
(1959) como 0,03 mm. BOUMA et al. (1977) definiram o mesmo como 0,1 mm e GERMANN e
BEVEN (1981) como 3 mm. Este dimetro pode, s vezes, possuir um valor maior, como quando
delimitado pelo dimetro de galerias de minhocas (EHLERS, 1975), dos canais formados pelas
razes (AUBERTIN, 1971), e rachaduras de contrao do solo (LEWIS, 1977).
EDWARDS et al. (1979) usaram valores de 5 e 10 mm para os dimetros de poro em um
estudo de modelagem numrica para avaliar os efeitos dos poros no-capilares sobre a infiltrao.
Esta desuniformidade no uso dos termos macro e microporosidade pode conduzir
ambigidade, particularmente com o interesse renovado pelos fenmenos de canalizao da gua no
solo (THOMAS e PHILLIPS, 1979).
Ao introduzir o conceito de mesoporosidade, LUXMORE (1981) props uma classificao
dos poros do solo. Nesta classificao, os macroporos so definidos como os poros maiores que 1
mm, e geram o fluxo do canal quando ocorrem o alagamento superficial e o lenol fretico pousado.
Os mesoporos so os poros com dimetro compreendido entre 0,01 e 1 mm, responsveis pela
drenagem sujeita a fora gravitacional. Os poros com dimetro inferior a 0,01 mm passam a ser
definidos como microporos, que influenciam a evapotranspirao.
RUSSELL (1973) sugeriu outra classificao, separando os poros em: poros grosseiros (>0,2
mm), poros mdios (0,02 - 0,2 mm), poros finos (0,002 - 0,02 mm) e poros muito finos (<0,002
mm). Na classificao proposta por EHLERS (1973) a diviso foi feita em: poros grandes (>0,03
mm), poros mdios (0,003 - 0,03 mm), poros pequenos (0,0002 - 0,003 mm) e poros muito
pequenos (<0,0002 mm). A proposta de BREWER (1964), separa os poros como macroporo
grosseiro (>5 mm), macroporo mdio ( 2 -5 mm), macroporo fino ( 1 -2 mm), macroporo muito fino
(0,075 -1 mm), mesoporo (0,03 - 0,075 mm), microporo (0,005 - 0,03 mm), ultramicroporo (0,0001
- 0,005 mm) e criptoporo (<0,0001 mm).
75
Criticando todos estes tipos de classificaes, que dividem os poros arbitrariamente, e
enfatizando a necessidade de considerar-se os processos que ocorrem continuadamente no solo,
SKOPP (1981) afirmou ser a simples definio do tamanho um indicador inadequado para uma
classificao. Prope este autor uma classificao qualitativa, usando dois tipos: macroporosidade e
porosidade matriz. A macroporosidade sendo definida como a porosidade formada pelos poros que
fornecem o fluxo preferencial, e a porosidade matriz sendo definida como a porosidade que
transmite gua e solutos com menor velocidade.
Uma diviso proposta por OKA (1986), em uma simulao numrica, tambm separa os
poros em macroporos e poros matrizes, usando o valor de 1 mm como limite para sua separao.
Uma reviso sobre a importncia dos macroporos sobre o fluxo da gua no solo foi feita por
BEVEN e GERMANN (1982). Estes autores detectaram implicaes sobre o movimento rpido dos
solutos e poluentes atravs do solo.
Considerando o papel hidrolgico da porosidade, TAKESHITA (1985) classificou os poros
como (Tabela 7.1):
Tabela 7.1. Classificao dos poros no solo. (Adaptado de TAKESHITA, 1985)
Categoria Subcategoria pF Dimetro (mm)
Macroporo
Muito-grande 0 < pF em suco > 3,0
Grande 0(zero) < pF < 0,7 0,6 < d < 3,0
Poro-grosseiro
Mdio 0,7 < pF < 1,7 0,06 < d < 0,6
Pequeno 1,7 < pF < 2,7 0,006 < d < 0,06
Poro-fino - 2,7 < pF < 4,2 0,0006 < d < 0,006
Nesta classificao, o poro-muito-grande considerado como canal do solo. No poro-
grande, ocorre o movimento gravitacional da gua, quase sem fora capilar. Nos poros-mdio e
pequeno, o movimento gravitacional da gua est sujeito fora gravitacional de baixo e alto grau,
respectivamente. A gua no poro-fino no pode se mover pela ao da fora gravitacional.
Na mesma classificao, o macroporo atua na drenagem rpida durante chuvas de alta
intensidade, contribuindo com o escoamento direto da gua. O poro-mdio utilizado para
infiltrao e percolao vertical durante a chuva e alguns dias depois desta, contribuindo com o
final do escoamento direto e com o incio do escoamento base depois da chuva. O poro-pequeno
eficaz no armazenamento da gua no solo. A gua deste poro a fonte para a evapotranspirao na
rizosfera e atua na descarga muito lenta na camada abaixo da rizosfera. A gua no poro-fino se
movimenta somente sob influncia da evapotranspirao. O mesmo autor concluiu que a capacidade
de armazenamento da gua, que est diretamente associada com a recarga dos rios, depende
somente dos poros-grosseiros, enfatizando que sua capacidade controlada pela espessura das
camadas do solo.
Assim, pode-se dizer que os solos possuem poros de vrios tamanhos, de forma distribuda.
CHILDS (1940) sugeriu o nome "curva caracterstica de reteno de gua" para a curva obtida pela
relao entre umidade do solo e suco. O volume de gua retirado de determinado volume de solo,
para uma suco especfica, representa o volume do poro, de tamanho indicado por esta suco
(VOMOCIL, 1965).
A forma de diferencial desta curva mostra diretamente a distribuio do tamanho do poro.
Nesta forma diferencial, normalmente existe um pico que mostra seu valor mximo. A suco que
corresponde a este valor mximo conduz ao dimetro equivalente do poro. COLLIS-GEORGE et
76
al.(1971) definiram este dimetro como tamanho mdio do poro, que o mais eficaz indicador da
capacidade de armazenar gua de um solo.
Tal relao entre o tamanho do poro e a capacidade de armazenamento de gua, torna-se
importante por esta representar a quantidade de gua disponvel para as plantas, fator que vem
sendo discutido h muito tempo.VEIHMEYER e HENDRICKSON (1927 e 1949) definiram
capacidade de campo (
c
) como a quantidade de gua retida pelo solo aps a drenagem de seu
excesso, quando a velocidade do movimento descendente praticamente cessa, o que usualmente
ocorre dois a trs dias aps a chuva ou irrigao em solos permeveis de estrutura e textura
uniformes. Estes autores tambm definiram ponto de murcha permanente como o limite inferior de
umidade (
r
), no qual a reserva de gua disponvel do solo se esgotou, introduzindo o conceito de
gua disponvel para a planta, como o valor de (
c
-
r
). Na rea da hidrologia da gua subterrnea,
a porosidade, onde a gua pode se movimentar, definida como a porosidade efetiva (TODD, 1964;
KAYANE, 1980). Neste sentido, a porosidade efetiva pode ser equivalente ao valor de (
s
-
r
).
O valor da suco que fornece
c
, pode estar na faixa de pF1,7 a pF2,5 (RUSSEL, 1973). O
valor da suco correspondente ao ponto de murcha permanente normalmente pF4,2
(aproximadamente 15 bar) (HILLEL, 1980b).
Assumindo
s
como umidade saturada, a gua contida no solo entre
s
e
c
definida como
gua gravitacional por REICHARDT (1987). A porosidade representada como
s
-
c
definida
como porosidade drenvel por HILLEL (1980b). Esta porosidade usualmente ocupada por ar,
fornecendo uma condio de aerao para as plantas. Segundo BAVER e FARNSWORTH (1940) e
VOMOCIL e FLOCKER (1961), a aerao do solo tem um efeito prejudicial sobre o crescimento
das plantas quando a porosidade ocupada por ar menor do que 10 %. O milho exige valores
mnimos de 12 a 15 %, e valores menores abaixo deste limite, persistindo por 3 a 5 dias, afetam
drasticamente seu metabolismo (REICHARDT, 1987).
7.1.4 Armazenamento de gua no solo, z [mm, cm, m, ........]
Como z A V
ag
= na Figura 7.1, obtm-se
A
V
z
ag
= (7.8)
onde z a lmina da gua no solo.
Ento, Z z
Z A
z A
V
V
t
ag
=
= = (7.9)
[Exerccio 1]
Voc escavou o solo at 30 cm de profundidade utilizando um trado de 10 cm de dimetro.
A massa mida do solo removido apresenta 3,5 kg das quais 0,7 kg de gua. Se
p
= 2.650 kg/m
3
e
ag
= 1.000 kg/m
3
, determine (a)
ss
, (b) U, (c) , (d)
t
, (e ) z at Z = 30 cm, e (f)
ar
.
a) Volume da coluna do solo (V
t
) = (altura) x (rea) = 0,33,14(0,1/2)
2
= 2,35510
-3
. [m
3
]
Massa seca: ms = 3,5 0,7 = 2,8 kg.
Usando a Equao (7.2), 1189
10 2,355
2,8
3 -
= =
t
s
ss
V
m
kg/m
3
.
77
b) Usando a Equao (7.3), | | % 25 kg/kg 0,25
8 , 2
8 , 2 5 , 3
= =
=
s
s u
m
m m
U
c) Usando a Equao (7.4), | | % 7 , 29 /m m 297 , 0
1000
1189
0,25
3 3
ag
= = =
ss
U
d) Usando a Equao (7.5), | | % 1 , 55 /m m 551 , 0
2650
1189
1 1
3 3
= = =
p
ss
t
e) Usando a Equao (7.8), | | cm 91 , 8 30 297 , 0 = = = Z z
f) Usando a Equao (7.6), | | % 4 , 25 /m m 254 , 0 297 , 0 551 , 0
3 3
= = = =
t ar
. Como
% 15 % 4 , 25 > =
ar
(= valor mnimo para planta), pode-se dizer que o solo se encontra bem aerado.
[Exerccio 2]
Os dados da tabela a seguir foram obtidos num perfil de solo utilizando-se cilindros de 50
mm de dimetro e 40 cm altura. Se
p
= 2.650 kg/m
3
e
ag
= 1.000 kg/m
3
, determine (a)
ss
, U, e
, por camada; (b) o armazenamento de gua at 1200 mm de profundidade; e (c) o volume de gua
existente em 1,0 ha desse solo at a mesma profundidade.
z
[mm]
Massa mida + Massa
cilindro [kg]
Massa seca + Massa
cilindro [kg]
Massa do
cilindro [kg]
0-200 0,13100 0,11621 0,0227
200-400 0,12651 0,11118 0,0210
400-600 0,12738 0,11027 0,0199
600-800 0,13357 0,11418 0,0229
800-1000 0,13471 0,11352 0,0223
1000-1200 0,13820 0,11430 0,0219
a) Volume do cilindro (V
t
) = (altura)x(rea) = 0,043,14(0,05/2)
2
= 7,8510
-5
. [m
3
]
Na primeira camada (0 200 mm de profundidade)
Massa seca: m
s
= 0,11621 0,0227 = 0,09351 [kg]
Massa mida: m
u
= 0,13100 0,0227 = 0,1083 [kg]
Massa da gua: m
ag
= m
u
m
s
= 0,1083 0,09351 = 0,01479 [kg]
Usando a Equao 7.2, 1191
10 7,85
0,09351
5 -
= =
t
s
ss
V
m
kg/m
3
.
Usando a Equao (7.3), | | kg/kg 0,1582
09351 , 0
01479 , 0
= =
s
ag
m
m
U
Usando a Equao (7.4), | |
3 3
ag
/m m 1884 , 0
1000
1191
0,1582 = =
ss
U
78
Realizando o mesmo processo para as outras camadas, obtm-se a seguinte tabela.
z
[mm]
ss
[kg/m
3
]
U
[kg/kg]
[m
3
/m
3
]
0-200 1191 0,1582 0,1884
200-400 1148 0,1700 0,1952
400-600 1151 0,1893 0,2179
600-800 1162 0,2124 0,2468
800-1000 1161 0,2323 0,2697
1000-1200 1176 0,2587 0,3042
mdia 1165 0,2035 0,2370
b) Usando a Equao 7.8, obtm-se o armazenamento da gua na camada 0 200 mm.
200 1884 , 0
200 0
= =
Z z
Ento, o armazenamento at 1200 mm
mm 284 200 3042 , 0 200 2697 , 0 200 2468 , 0 200 2179 , 0 200 1952 , 0 200 1884 , 0 + + + + + = z
ou
mm 284 1200 2370 , 0 = z
c) Volume total da gua na rea de 1,0 ha :
V = (rea)(armazenamento) = 1 ha 284 mm = 1001000,284 = 2840 m
3
7.2 Estado de energia relativa da gua no solo
A lei de conservao de energia na hidrulica pode ser expressa com a equao de Bernoulli.
Isto :
(Energia cintica)+ (Energia potencial)+ (Energia de presso) = (Energia total)
[m] [J/N] const
2
[J/kg] const
2
[Pa] ] [J/m const
2
[J] const
2
2
2
3
2
2
= =
+ +
= + +
= = + +
= + +
g
p
z
g
v
p
z g
v
p z g
v
V p z g V
v V
onde V o volume; a densidade; v a velocidade; z a altura; e g a acelerao
gravitacional. Na prtica, a ltima equao mais utilizada. Neste caso, a energia se chama carga,
sendo expressa com smbolo h. As equaes acima mencionadas so todas vlidas para escoamento
de canais e condutos forados. Mas, no caso de meio poroso (solo), precisa-se ter outra
considerao.
7.2.1 Condio saturada (Zona saturada)
Vamos ver novamente a equao de Bernoulli.
g
p
z
g
v
h
+ + =
2
2
(7.10)
79
No caso do fluxo no meio poroso saturado, v permeabilidade e se chama condutividade
hidrulica saturada (K
s
). Aqui, vamos supor que v (=K
s
) = 1 m/dia = 1,15710
-5
m/s.
Neste caso,
( )
| | m/s 10 835 , 6
8 , 9 2
10 157 , 1
2
12
2
5 2
=
g
v
Este valor desprezvel, comparado
com energias potencial e de presso. Ento no caso de solo saturado, a equao de Bernoulli torna-
se mais simples:
g
p
z h
+ =
(7.11)
No solo saturado,
g
p
positiva abaixo da superfcie da gua, ou nulo na superfcie da
gua.
7.2.2 Condio no saturada (Zona vadosa, <
s
=
t
,
ar
> 0)
Na no saturao, a Equao 7.11 pode ser utilizada para definir o estado de energia, mas
com uma diferena muito importante. Na no saturao, os valores de
g
p
so negativos ou nulos.
Para medir esses valores, utiliza-se um aparelho que se chama tensimetro (Figura 7.2).
Figura 7.2. Representao esquemtica de um tensimetro
Em equilbrio
Fora no A =
g
p
h h h
+ +
2 1
80
Fora no B = 6 , 13 h
Para o equilbrio,
6 , 13 h =
g
p
h h h
+ +
2 1
2 1 2 1
6 , 12 6 , 13 h h h h h h h
g
p
+ + = + + + =
Quanto mais seco, tanto mais alta a coluna do mercrio.
[Exerccio 3]
Quando h = 56,5 cm, h
1
= 30 cm, h
2
= 20 cm, determine o valor de
g
p
.
O cmH 662 20 30 5 , 56 6 , 12
2
= + + =
g
p
O tensimetro funciona bem at a presso de -10
2,7
( -500 cmH
2
O) a -10
2,9
( -800
cmH
2
O). Quando a presso menor do que este, ou seja, a tenso maior do que este valor, a gua
no possui resistncia contra presso e a coluna se rompe, entrando muitas bolinhas na mangueira.
7.3 Quantificao da dinmica da gua no solo
7.3.1 Em solo saturado
DARCY (1856) realizou um experimento simples para compreender o fluxo no solo
saturado, e obteve os seguintes resultados:
A vazo Q proporcional rea A da sua seo transversal Q A
Q proporcional diferena de energia (carga), i.e. h
1
h
2
atravs da coluna de
material (areia) Q h
1
h
2
Q inversamente proporcional ao comprimento (L) da coluna Q 1/L
A combinao dos trs resultados resulta em
L
h h
q
A
Q
L
h h
A Q
2 1 2 1
onde q o fluxo (vazo por unidade de rea).
Introduzindo uma constante de proporcionalidade K
S
(condutividade hidrulica saturada),
obtm-se a equao de Darcy:
L
h h
K q
S
2 1
= ..................... (7.12)
Nota-se que a forma correta desta equao
dz
dh
K q
S
=
onde dh/dz o gradiente hidrulico.
81
[Exerccio 4]
(a) Qual fluxo que passa pela amostra da figura?
[cm] 20 5 15
1
1 1
= + =
+ =
g
p
z h
[cm] 0 0 0
2
2 2
= + =
+ =
g
p
z h
[cm/cm] 333 , 1
15
0 20
15
2 1
=
=
h h
dz
dh
Usando a equao de Darcy,
| | | | s cm h cm
dz
dh
K q
S
/ 10 7 , 3 / 333 , 1 333 , 1 1
4
= = =
(b) Qual a vazo que passa pelo solo, se a rea interna do cilindro de 100 cm
2
?
Q = qA = 1,333100 = 133,3 [cm
3
/h]
(c) Para se determinar K
s
de um solo, foi montado um arranjo esperimental tal como o
esquematizado na figura acima. O volume de gua coletado na proveta, aps 20 min de coleta foi
300 cm
3
. Qual o valor de K
s
?
A equao de Darcy :
dz
dh
K q
t A
V
S
= =
Ento,
333 , 1 20 100
300
=
=
dz
dh
t A
V
K
S
0,113 [cm/min] 1,8810
-3
[cm/s]
[Exerccio 5]
Sendo K
s
= 10 cm/h e A = 0,01 m
2
, pergunta-se:
quanto tempo necessrio para se ter 200 mm da gua passando atravs da coluna da figura.
[cm] 105 5 100
1
1 1
= + =
+ =
g
p
z h
[cm] 0 0 0
2
2 2
= + =
+ =
g
p
z h
[cm/cm] 05 , 1
100
0 105
100
2 1
=
=
h h
dz
dh
Como
dz
dh
K q
t A
V
S
= =
, 05 , 1 [cm/h] 10
[cm] 20
=
t
Ento, t = 20/(101,05) 1,9 [h] 114,3 [min]
7.3.2 Em solo no saturado.
BUCKINGHAM (1907) estendeu a formula de Darcy para o solo no saturado como:
( )
dz
dh
K q = (7.13)
82
Essa equao se chama equao de Buckingham-Darcy. A diferena entre as equaes
(7.12) e (7.13) que K
s
constante na Equao 7.12, e que K() varia e uma funo da umidade
() na Equao 7.13. Ento, pode-se dizer que a Equao 7.12 um caso particular da (7.13).
H diversos mtodos propostos para determinar K() em laboratrio e em campo. Um dos
mtodos mais utilizados o mtodo de VAN GENHUCHTEN (1980). A fcil utilizao desse
mtodo foi verificada por PREVEDELLO et al. (1995).
7.3.3 Propriedades hidrulicas do solo
A dinmica da gua do solo pode ser determinada, governada e descrita por duas
propriedades hidrulicas do solo: curva caracterstica de reteno de gua e permeabilidade (ou
condutividade hidrulica) (KOBIYAMA et al. (1998). A primeira a relao entre a carga de
presso
g
p
(ou ) e a umidade volumtrica (), e a segunda a relao entre condutividade
hidrulica saturada e no saturada (K) e ou . Por causa da anlise numrica da dinmica da gua
no solo, K() mais comumente usada do que K().
Diversos mtodos foram desenvolvidos para determinar estas relaes in situ e em
laboratrio (KLUTE, 1986). Para a curva de reteno existem equaes tais como BROOKS e
COREY (1964), AHUJA e SWARTZENDRUBER (1972), HAVERKAMP et al. (1977), VAN
GENUCHTEN (1980), TANI (1982). Para a condutividade hidrulica, por exemplo, BROOKS e
COREY (1964), CAMPBELL (1974), MUALEM (1976), VAN GENUCHTEN (1980), entre
outros.
Como acima mencionado, a equao de Van Genuchten (1980) facilmente aplicada, isto a
torna a equao comumente utilizada. Portanto, estas equaes so aqui detalhadamente apresentas.
A teoria de MUALEM (1976) derivou uma equao para prognosticar a condutividade
hidrulica relativa Kr, que seria a seguinte:
( )
( )
2
1
0
0
2
1
d
1
d
1
(
(
(
(
= =
S
S
r
S
K
K
K (7.14)
onde Ks condutividade hidrulica saturada; S saturao efetiva definida por COREY
(1954) como:
r s
r
S
= (7.15)
onde
r
umidade residual;
s
umidade saturada. Para resolver a Equao (7.14), VAN
GENUCHTEN (1980) prope a seguinte funo de S():
( )
( )
m
n
S
(
(
+
=
1
1
(7.16)
onde , m e n so parmetros. Quando m = 1, a Equao (7.16) passa a ser a equao de
AHUJA e SWARTZENDRUBER (1972). Juntando as equaes (7.15) e (7.16), obtm-se:
( )
m
n
r s
r
(
(
+
=
1
1
(7.17)
83
Modificando a Equao (7.17), obtm-se:
( )
( ) { }
m
n
r s
r
+
+ =
1
(7.18)
e
( )
n
m
n
m
r
r s
S
1
1
1
1
1
1
(
=
(
(
(
|
|
\
|
(7.19)
ou seja,
( ) ( )
n
m
m
S
S
S
1
1
1
1
(
(
(
= = (7.20)
Substituindo a Equao (7.20) na Equao (7.14):
( )
( )
( )
2
2
1
2
1
0
n
1
1
1
0
n
1
1
1
2
1
1
d
1
1
d
1
1
(
=
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
f
S f
S
S
S
S
S
S
S
S S K
m
m
S
m
m
r
(7.21)
onde: ( )
(
(
(
=
(
(
(
=
S
m
m
S
m
m
x
x
x
S
S
S
S f
0
n
1
1
1
0
n
1
1
1
d
1
d
1
(7.22)
Substituio de x = y
m
na Equao (7.22) conduz:
( ) ( ) y y m y my
y
y
S f
m m
S
n
S
m
(
=
(
(
(
|
|
\
|
=
+
1 1
0
1
n
1
1 - m
0
1
n
1
d 1 y d
1
(7.23)
Segundo VAN GENUCHTEN (1980),
n
m
1
1 = (7.24)
Ento, a Equao (7.23) torna-se:
( ) ( )
( )
1 1
1
d y - 1
1
0
0
1 - m
1
1
|
|
\
|
=
(
= =
m
m
S
m
S
S
m
y
m y m S f
m
m
(7.25)
Portanto: f(1) = - 1 (7.26)
Substituindo as equaes (7.25) e (7.26) na Equao (7.21), obtm-se
84
( )
2
1
2
1
1 1
(
(
|
|
\
|
=
m
m
r
S S S K na condio de
n
m
1
1 = e 0 < m < 1 (7.27)
Consultando as equaes (7.14), (7.15) e (7.27), obtm-se
( )
2
1
2
1 2
1
2
1
1 1 1 1
(
(
(
|
|
\
|
|
|
\
|
=
(
(
|
|
\
|
=
m
m
r s
r
r s
r
s
m
m
s
K S S K K
(7.28)
Substituindo a Equao (7.17) na (7.28), tm-se:
( )
( ) ( ) | |
( ) | |
2
2
1
1
1 1
m
n
m
n n
s
K K
+
)
`
+
=
(7.29)
Definindo ( )
d
d
= C como capacidade especfica de gua (specific water capacity) e
derivando a Equao (7.18), obtm-se
( )
( )
( ) | |
1
1
1
+
+
=
m
n
n
r s
n
n m
C
(7.30)
Derivando a Equao (7.19), obtm-se:
( )
m -
m
1
- 1 -
m
1
-
1 -
n
1
m
1
- 1 -
m
1
-
1
r - s
1 - m
=
r - s
1
1
n
1
m
1 1
d
dS
dS
d
d
d
S S
S
|
\
|
\
|
|
\
|
= =
m
S
(7.31)
Como 0 < m < 1,
d
d
fica:
( )
d
d
=
m
m s - r
-
1
m
- 1 -
1
m
-m
S S
1
1
|
\
|
(7.32)
Devido condutividade hidrulica e a curva de reteno, pode-se derivar uma expresso de
difusividade definida por CHILDS e COLLIS-GEORGE (1950) como:
( ) ( )
d
d
K D = (7.33)
Substituindo as equaes (7.28) e (7.32) na Equao (7.33), obtm-se:
( ) ( )
( )
( )
D = D S
=
m
m s - r
S Ks S S
-
1
m
- 1
1
m
m
1
2
1
m
m
S
1
1 1 1
2
|
\
|
|
\
( )
( )
=
m Ks
m s - r
S S
S S
1
2
-
1
m
1
m
m
1
m
2m
1
m
m S
1
1 2 1 1
1
|
\
| +
|
\
|
\
85
( )
( )
=
m Ks
m s - r
S S
S
1- S
S
1
2
-
1
m
1
m
m
1
m
2m
1
m
m S
1
1 2 1 1
|
\
| +
|
\
|
|
\
|
( )
( )
=
m Ks
m s - r
S S
1
2
-
1
m
1
m
- m
1
m
m
S
1
1 1 2
|
\
| +
|
\
(
(7.34)
Em geral, as equaes (7.18), (7.19), (7.28), (7.29), (7.30) e (7.34) so conhecidas como as
equaes de VAN GENUCHTEN (1980).
[Exerccio 6]
(a) Dados obtidos no Lab. de Fsica do Solo da UFPR: Ks = 0,95 cm/min
p/g
[cmH
2
O]
[cm
3
/cm
3
]
11,5 0,3816
21,5 0,3831
41,0 0,1749
58,0 0,1040
81,5 0,0245
111,0 0,0199
195,0 0,0021
Usando um programa, obtm-se: = 0,029 [cm
-1
];
s
= 0,396 [cm
3
/cm
3
];
r
= 0,005
[cm
3
/cm
3
]; n = 4,178, m = 0,761. (r
2
= 0,991).
Ento, usando as equaes de van Genuchten ((7.18) e (7.28)), obtm-se:
761 , 0
178 , 4
029 , 0 1
391 , 0
005 , 0
|
|
\
|
+
+ =
g
(7.35)
( ) | |
2
761 , 0
761 , 0
1
2
1
391 , 0
005 , 0
1 1
391 , 0
005 , 0
95 , 0 cm/min
(
(
\
|
|
\
|
=
K (7.36)
(b) Voc instalou dois tensimetros (superior e inferior) em z = 30 e 50 cm de profundidade
numa rea que possui solo acima mencionado. Neste momento, os dois tensimetros esto acusando
as presses de -30 cmH
2
O e -40 cmH
2
O, respectivamente. Ento, a gua est subindo ou descendo?
Sendo que a superfcie do solo a referncia,
[cm] 60 ) 30 ( 30
30
30 30
= + =
+ =
g
p
z h
[cm] 90 ) 40 ( 50
50
50 50
= + =
+ =
g
p
z h
Como h
30
> h
50
, a gua est descendo.
86
(c) Nesta condio, quais os correspondentes valores de
s
em z = 30 e 50 cm?
Usando a Equao (7.35),
( ) { }
| |
3 3
761 , 0
178 , 4
30
/cm cm 2789 , 0
30 029 , 0 1
391 , 0
005 , 0 =
+
+ =
( ) { }
| |
3 3
761 , 0
178 , 4
50
/cm cm 1808 , 0
40 029 , 0 1
391 , 0
005 , 0 =
+
+ =
(d) Qual a umidade mdia para a regio do fluxo entre z = 30 e 50 cm?
| |
3 3 50 30
/cm cm 22985 , 0
2
1808 , 0 2789 , 0
2
=
+
=
+
=
(e) Determine o valor de ter K() e o valor de fluxo nesta condio.
Usando a Equao (7.36),
( ) | | cm/min 0,1124
391 , 0
005 , 0 22985 , 0
1 1
391 , 0
005 , 0 22985 , 0
95 , 0
2
761 , 0
761 , 0
1
2
1
=
(
(
\
|
|
\
|
= K
Usando a Equao (7.13),
( )
( )
| |
| | m/hora 10 , 0
cm/min 1686 , 0
30 50
90 60
1124 , 0
= =
dz
dh
K q
(f) Qual o volume de gua passa na regio do fluxo durante uma hora num hectare?
Volume = qAt = 0,10100001 = 1000 m
3
.
[Exerccio 7]
Voc coletou amostras no deformadas de solo em uma rea do seu projeto de irrigao.
Com estas amostras, fez uma anlise de reteno de gua com o mtodo de van Genuchten e teve
resultados a seguir: = 0,04 [cm
-1
];
s
= 0,6 [cm
3
/cm
3
];
r
= 0,15 [cm
3
/cm
3
]; n = 2, m = 0,5. Neste
local, voc instalou dois tensimetros (superior A e inferior B) em profundidades de z = 20 cm e 40
cm, respectivamente.
Num dia, voc mediu eles e observou que as alturas da coluna do Hg foram 50 cm e 45 cm
nos A e B, respectivamente. Ento, a gua est subindo ou descendo? Admite que a altura do nvel
do Hg nas cubas, a partir da superfcie do solo foi de 10 cm para ambos tensimetros.
| | cm 600 20 10 50 6 , 12 = + + =
g
p
A
| | cm 517 40 10 45 6 , 12 = + + =
g
p
B
Ento, | | cm 620 600 20 = =
+ =
g
p
z h
A
A A
| | cm 557 517 40 = =
+ =
g
p
z h
B
B B
Como h
A
< h
B
, a gua est subindo.
87
(b) Determine os valores de em z = 20 e 40 cm.
Usando a Equao (7.3),
5 , 0
2
04 , 0 1
45 , 0
15 , 0
|
|
\
|
+
+ =
g
Ento,
( ) { }
| |
3 3
5 , 0
2
20
/cm cm 169 , 0
600 04 , 0 1
45 , 0
15 , 0
+
+ =
( ) { }
| |
3 3
5 , 0
2
40
/cm cm 172 , 0
517 04 , 0 1
45 , 0
15 , 0
+
+ =
(c) Sabendo que K
s
= 2 [cm/min], calcule o fluxo que est subindo (ou descendo).
A umidade mdia na regio do fluxo :
| |
3 3 40 20
/cm cm 171 , 0
2
172 , 0 169 , 0
2
+
=
+
=
Nesta condio, a condutividade hidrulica no saturada
( ) | | cm/min 10 128 , 5
45 , 0
15 , 0 171 , 0
1 1
45 , 0
15 , 0 171 , 0
2 171 , 0
7
2
5 , 0
5 , 0
1
2
1
(
(
\
|
|
\
|
= K
O gradiente hidrulico
( )
| | cm/cm 15 , 3
20 40
620 557
=
=
dz
dh
Ento, ( ) | | cm/min 10 615 , 1 15 , 3 10 128 , 5
6 7
= = =
dz
dh
K q
(d) Qual o tempo necessrio para ter um volume de gua de 1 litro que passa numa rea de 1
hectare?
| |
| | | |
segundos 12 minutos 6 minutos 19 , 6
cm 10 cm/min 10 615 , 1
cm 10
2 8 6
3 3
=
=
A q
V
t
A partir da teoria de Laplace, pode-se determinar a asceno capilar, h, como:
r g
h
c
cos 2
(7.37)
onde a tenso superficial;
c
o ngulo de contato; g a acelerao gravitacional; a
densidade da gua; e r o raio do capilar.
Assumindo que = 73,5 (dyn/cm), = 1 (g/cm
3
), g = 980 (cm/s
2
),
c
= 0
o
, obtm-se
d r
h
3 , 0
2
3 , 0
= = (7.38)
onde d o dimetro equivalente do poro (cm). Neste caso pode-se considerar que h suco
da gua em altura (cm). Usando a eq. (7.38), pode-se construir a relao entre o dimetro
equivalente do poro e a suco.
88
Como acima mencionado, por meio de derivar a eq. (7.18), obtm-se uma relao entre
capacidade especfica da gua C e , ou seja, a eq. (7.30). A curva expressa pela eq. (7.30)
demonstra a distribuio de poros no solo.
Atravs dessa distribuio, pode ser determinado o valor de MX que fornece o mximo
valor de ( ) C . Ento, matematicamente, tem-se:
( )
( )
0
d
d
d
d
2
MAX
2
MAX
= =
C
(7.39)
ou seja
( ) ( ) ( ) ( )
( )
m n - 1 + - m n - 1 +
+
= 0
n
n - 1
,
MX
+ 1
n
n - 1
MX
+ 1
MX
m + 1
MX
s r
n
m
s r MX
n
m
n
`
)
`
)
/
1
2
(7.40)
Simplificando a Equao (7.40), obtm-se finalmente,
n
n
n
1
MAX
1 1
|
\
|
=
(7.41)
Assim, o valor de MX de cada solo pode ser determinado com sua curva caracterstica de
reteno de gua. Como MX o valor que define o tamanho (dimetro) mdio do poro, definido
por COLLIS-GEORGE et al. (1971), ento inserindo a Equao (7.41) na Equao (7.38), obtm-
se:
n
M
n
n
D
1
1 1
3 , 0
|
\
|
=
(7.42)
onde DM tamanho mdio do poro. Assim, o tamanho mdio do poro pode ser estimado a
partir da equao de Van Genuchten (1980).
7.4 Medio em campo e em laboratrio
O mtodo da mesa de tenso e o da cmara de Richards para elaborar a curva de reteno
so descritos por KIEHL (1979), EMBRAPA-SNLCS (1979), KLUTE (1986), e CAUDURO e
DORFMAN (1986). Alm disso, nas mesmas referencias, encontram-se os mtodos para se
determinar o valor de condutividade hidrulica saturada.
No caso de analisar a umidade do solo, hoje em dia usa-se um equipamento que se chama a
reflectometria no domnio do tempo (TDR), proposto por TOOP et al. (1980). Medindo o tempo de
propagao da onda na linha de transmisso consegue-se correlacionar a umidade do solo com a
constante dieltrica do meio. Para se medir a umidade volumtrica no solo atravs do TDR
necessrio fazer uma curva de calibrao do sistema. TOOP et al. (1980) estabeleceram a equao
universal como independente da massa especfica do solo seco. No entanto, isso nem sempre
verdade e deve ser lembrado, tambm, que a constante dieltrica , em geral, sensvel a presena de
materiais magnticos e de solutos no solo, tendo em vista os diferentes tipos de solo. A grande
dificuldade em usar o TDR antes de qualquer estudo ou determinao de dados fsicos, justamente
a necessidade da construo de uma curva de calibrao do solo utilizada no experimento de campo.
89
Desta maneira, MINELLA et al. (1999) procuraram uma nova equao para um latossolo do
municpio de Foz do Iguau e compararam-na com a curva universal estabelecida pelo fabricante do
aparelho. Os mesmos autores mostraram a diferena significativa entre duas curvas (Figura 7.3),
sugerindo que para cada tipo de solo existe uma equao de ajuste.
Figura 7.3. Comparao entre os dados observados, a curva para o latossolo e a curva proposta pelo
fabricante do TDR. (Fonte: MINELLA et al., 1999)
7.5 atureza do solo
Normalmente, para podermos estudar algum fenmeno ou processo da natureza temos que
simplifica-lo. No caso da dinmica da gua no solo no diferente. A Figura 7.4 ilustra mostra um
esquema das possibilidades de combinao das propriedades hidrulicas do solo. Na poro
superior esquerda representado um cenrio onde em dois lugares diferentes a gua tem
comportamentos iguais, e alm disso tanto na direo vertical como na horizontal tambm no
apresenta diferenas. Isso caracteriza o solo como isotrpico e homogneo. Este cenrio que no
acontece na natureza, utilizado em simulaes.
isotrpica anisotrpica
homogeneidade
heterogeneidade
Figura 7.4. Propriedades hidrulicas do solo e direo.
90
A clula superior direita apresenta solos anisotrpicos, mas homogneo. Isto significa que
em uma determinada regio o solo o mesmo, porm quanto ao comportamento vertical e
horizontal existem diferenas. J a poro abaixo, ou seja, a inferior direita representa a maioria dos
casos que acontecem na natureza, em que o solo anisotrpico e heterogneo.
7.6 gua subterrnea
7.6.1 Distribuio das guas subterrneas
A gua na zona vadosa est sujeita principalmente s foras devidas :
atrao molecular ou adeso (gua higroscpica)
tenso superficial ou efeito de capilaridade (gua capilar)
atrao gravitacional (gua gravitacional)
Figura 7.5. Distribuio da gua abaixo da superfcie.
7.6.2 Aqferos
Aqferos: Uma formao geolgica que contm gua e permite que a mesma se movimente
em condies naturais e em quantidades significativas.( Figura 7.6)
Aqfero fretico (no confinado): possui lenol fretico (superfcie livre)
Aqfero confinado: sub presso positiva (s vezes, artesiano)
91
Aqiclude: Uma formao geolgica que pode conter gua mas sem condio de
moviment-la em condies naturais e em quantidades significativas.
Aqitarde: Uma formao geolgica de natureza semipermevel, que transmite gua a uma
taxa muito baixa, comparada com a do aqfero.
Figura 7.6. Aquferos confinados e livres.(Fonte: Todd, 1967)
7.7 Interaes rio-aqufero
A movimentao da gua, ou seja o escoamento deve-se majoritariamente pela diferena de
potencial. Na Figura 7.7 pode-se ver o escoamento da gua do lenol fretico para o rio e vice-
versa.
92
Rio afluente Rio efluente.
Figura 7.7. Escoamento devido diferena de potencial.
Para as enchentes, a elevao do nvel no curso de gua pode superar o correspondente do
lenol fretico, criando-se uma presso hidrosttica maior no rio do que nas margens, ocasionando a
inverso do movimento temporariamente (Figura 7.8.
Figura 7.8. Interao entre lenol fretico e o rio.
7.8 Mtodos de trabalho em laboratrio
7.8.1 Condutividade hidrulica saturada
O valor da Ks do solo pode ser determinado atravs do Lei de Darcy, ou seja:
q = - Ks
d
dz
(1)
onde q densidade de fluxo, Ks condutividade hidrulica saturada, carga hidrulica e z
distncia.
Neste estudo aplicou-se esta lei diretamente medio do valor de Ks das amostras
indeformadas de 100 cm
3
referenciando KLUTE (1986). O mtodo de carga constante foi
utilizado.
93
Para cada amostra, a medio foi executada trs vezes e sua mdia foi calculada na unidade
de cm/s.
7.8.2 Reteno de gua (curva caracterstica de gua)
A metodologia de determinao de reteno de gua consiste em dois tipos: (1) mtodo de
suco e (2) mtodo de presso (KLUTE, 1986). Neste estudo utilizou-se o mtodo de mesa de
tenso (mtodo de suco) at que o valor de suco chegasse a 50 cm de gua. Aps, a cmara de
Richards foi utilizada para executar o mtodo de presso at -15380 cm de tenso. O mtodo de
mesa de tenso e o da cmara de Richards so descritos por KIEHL (1979), KLUTE (1986) e
EMBRAPA-SNLCS (1979a).
Neste estudo, a umidade do solo foi medida para tenses de 0, -4, -7, -10, -20, -30, -50, -
100, -316, -1000, e -15380 cm de H
2
O, no processo de drenagem, sem considerao de histereses.
94
Referncias bibliogrficas
AHUJA, L.R.; SWARTZENDRUBER, D. An improved form of soil-water diffusivity function. Soil
Sci. Soc. Am. Proc., Madison, v.36, p.9- 14, 1972.
AUBERTIN, G.M. Nature and extent of macroporos in forest soils and their influence on subsurface
water movement. USDA Forest Serevice Res. Paper ortheast Forest Exp. Sta., Upper Darby, n.NE-
192, 1971, 33p.
BAVER, L.D.; FARNSWORTH, R.B. Soil structure effects in the growth of sugar beets. Soil Sci. Soc.
Am. Proc., Madison, v.5, p.45-48, 1940.
BEVEN, K.; GERMANN, P. Macropores and water flow in soils. Water Resour. Res., Washington,
v.18, p.1311-1325, 1982.
BOUMA, J.; JONGERIUS, A.; BOERSMA, O.; JAGER, A.; SCHOONDERBEEK, D. The function of
different types of macropores during saturated flow through four swelling soil horizons. Soil Sci. Soc.
Am. J., Madison, v.41, p.945-950, 1977.
BROOKS, R.H.; COREY, A.T. Hydraulic properties of porous media. Fort Collins: Colorado State
Univ., Civil Engineering Dep., 1964. 27p. (Hydrology Paper n.3).
BRADY, N.C. The nature and properties of soils. New York: MacMillan, 1984. 750p.
BREWER, R. Fabric and mineral analysis of soils. New York:John-Wiley & Sons, 1964. 470p.
BUCKINGHAM, E. Studies on the movement of soil moisture. Washington: US. Dept. Agric., 1907.
61p. (Bull. n.38).
CAMPBELL, G.S. A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention
data. Soil Sci., Baltimore, v.117, p.311-314, 1974.
CAUDURO, F.A.; FORFMAN, R. Manual de ensaios de laboratrio e de campo para irrigao e
drenagem. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 1986. 216p.
CHILDS, E.C. The use of soil moisture chracteristics in soil studies. Soil Sci., Baltimore, v.50, p.239-
252, 1940.
CHILDS, E.C.; COLLIS-GEORGE, N. The permeability of porous materils. Proc. Roy. Soc. London,
London, n.201A, p.392-405, 1950.
COLLIS-GEORGE, N.; DAVEY, B.G.; SMILES,D.E. Fundamentos de agricultura moderna. 1.
Suelo-atmosfera y fertilizantes. Barcelona: Aedes, 1971. 334p.
COREY, A.T. The interrelation between gas and oil relative permeabilities. Oil Producer's Monthly,
New York, v.19, p.38-41, 1954.
DARCY, H. Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Paris: Victor Dalmont, 1856. 592p.
EDWARDS, W.M.; VAN DER PLOEG, R.R.; EHLERS, W. A numerical study of the effects on
noncapillary-sized pores upon infiltration. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, v.43, p.851-856, 1979.
EHLERS, W. Gesamtporenvolumen und Porengroessenvertilung in unbearbeiteten und bearbeiteten
Loessboeden. Z. Pflanzenernaehr Bodenkd., Weinheim, v.134, p.193-207, 1973.
95
EHLERS, W. Observations on earthworm channels and infiltration on tilled and untilled loess soil.
Soil Sci., Baltimore, v.119, p.242-249, 1975.
EMBRAPA-SNLCS. Manual de mtodos de anlise de solo. Rio de Janeiro, 1979. 313p.
GERMANN, P.; BEVEN, K. Water flow in soil macropores. 1. An experimental approach. J. Soil Sci.,
Oxford, v.32, p.1-13, 1981.
HAVERKAMP, R.; VAUCLIN, M.; TOUMA, J.; WIERENGA, P.J.; VACHAUD, G. A comparison
of numerical simulation models for one-dimensional infiltration. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, v.41,
p.285-294, 1977.
HILLEL, D. Fundamentals of Soil Physics. New York: Academic Press, 1980a. 413 p.
HILLEL, D. Applications of Soil Physics. New York: Academic Press, 1980b. 385 p.
KAYANE, I. Hydrology. Tokyo: Taimeido, 1980. 272p.
KIEHL, E.J. Manual de Edafologia. Relaes solo-planta. So Paulo: Agronmica Ceres, 1979.
264p.
KLUTE, A. (ed.) Methods of soil analysis. I. Physical and mineralogical methods. 2nd ed.
Madison: Am. Soc. Agron., 1986. 1188p. (Agronomy monograph 9).
KOBIYAMA, M.; SHINOMIYA, Y.; OLIVEIRA, S.M.; MINELLA, J.P.G. Considerao da
pedognese atravs das propriedades hidrulicas do solo. In: I Frum Geo-Bio-Hidrologia: estudo em
vertentes e microbacias hidrogrficas, (1: 1998: Curitiba) Curitiba: FUPEF, Anais, 1998. p. 165-172.
LEWIS, D.T. Subgroup designation of three Udolls in southeastern Nebraska. Soil Sci. Soc. Am. J.,
Madison, v.41, p.940-945, 1977.
LUXMOORE, R.J. Micro-, meso-, and macroporisity of soil. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison,
v.45,p.671-672, 1981.
MARSHALL, T.J. Relations between water and soil. Harpenden:Commonwealth Bureau of Soils,
1959. (Technical Comumun., n.50)
MINELLA, J. P. G.; PREVEDELLO, C.; KOBIYAMA, M.; MANFROI, O.J. Calibrao do TDR para
um latossolo. In: Congresso Brasileiro em Eng. Agrcola (28: 1999: Pelotas), Pelotas: UFPel, Anais.
1999. 4p. CD-rom.
MUALEM, Y. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media.
Water Resour. Res., Washington, v.12, p.513-522, 1976.
NELSON, W.R.; BAVER, L.D. Movement of water through soils in relation to the nature of the pores.
Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, v.5, p.69-76, 1940.
OKA, T. Rainfall infiltration and macropores in a hillside slope. Annuals, Disas. Prev. Res. Inst.
Kyoto Univ., Kyoto, v.29 (B-2), p.279-289, 1986
PREVEDELLO, C.L.; KOBIYAMA, M.; JACOB, G.A.; DIVARDIN, C.R. Comparao dos mtodos
do perfil instantneo e de van Genuchten na obteno da condutividade hidrulica de uma areia
marinha. R. Bras. Ci. Solo, Campinas, v.19, p.1-5, 1995.
REICHARDT, K. A gua em sistemas agrcolas. So Paulo: Editora Manole Ltda., 1987. 188p.
RUSSEL, E.W. Soil conditions and plant growth. 10th ed. London: Longman, 1973. 849p.
96
SHINOMIYA, Y. Formation process of hydraulic properties of forest soils. Tokyo, 1993. 155p.
Thesis (Master's degree of Agriculture) - Tokyo Univ. Agric. Tech.
SKOPP, J. Comment on Micro-, meso-, and macroporosity of soil. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison,
v.45, p.1246, 1981.
TAKESHITA, K. Some considerations on the relation between forest soil and control function to river
discharge. Jap. J. Forest Environment, Tokyo, v.27, p.19-26, 1985.
TANI, M. The properties of a water-table rise produced by a one-dimensional, vertical, unsaturated
flow. J. Jap. For. Soc., Tokyo, v.64, p.409-418, 1982.
THOMAS, G.W.; PHILLIPS, R.E. Consequences of water movement in macropores. J. Environ.
Qual., Madison, v.8, p.149-152, 1979.
TODD, D.K. - Hidrologia de guas Subterrneas. Rio de Janeiro: USAID, 319 p.,1967
TODD, D.K. Groundwater. In: CHOW, V.T. (ed.) Handbook of applied hydrology. New York:
McGrow-Hill, 1964. p.13.1-13.55.
TOOP, G.C.; DAVIS, J.L.; ANNAN A.P. Electromagnetic determination of soil water content:
measurement in a coaxial transmission lines. Water Resour. Res., Washington, v.16, p.574-582, 1980.
VAN GENUCHTEN, M.TH. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of
unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, v.44, p.892-898, 1980.
VEIHMEYER, F.J.; HENDRICKSON, A.J. Soil moisture conditions in relation to plant growth. Plant
Physiol., Lancaster, v.2, p.71-78, 1927.
VEIHMEYER, F.J.; HENDRICKSON, A.J. Methods of measuring field capacity and wilting
percentages of soils. Soil Sci., Baltimore, v.68, p.75-94, 1949.
VOMOCIL, J.A. Porosity. In: Black, C.A.(ed.) Methods of soil analysis. Part 1. Physical and
mineralogical properties, including statistics of measurement and sampling. New York:Academic
Press, 1965. p.299-314.
VOMOCIL, J.A.; FLOCKER, W.J. Effect of soil compaction on storage and movement of soil air and
water. Trans. Am. Soc. Agric. Engineers, St. Joseph, v.4, p.242-246, 1961.
Bibliografia recomendada (avanada)
LIBARDI, P.L. Dinmica da gua no solo. So Paulo: EdUSP, 2005. 335p.
PREVEDELLO, C.L. Fsica do solo com problemas resolvidos. Curitiba: C.L. Prevedello, 1996.
446p.
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicaes.
Barueri: Manole, 2004.
97
8. VAZO EM RIOS E CAAIS
Pricles Alves Medeiros
8.1 Conceitos bsicos de hidrulica de canais
Os escoamentos da gua em rios, canais, canalizaes de esgoto sanitrio ou pluvial, so
todos do mesmo tipo. Chamam-se escoamentos livres. Funcionam somente com a energia da
gravidade. Para que isso acontea, necessrio que o fundo esteja inclinado no sentido longitudinal
do fluxo. Se, em toda a extenso do rio, o fundo for horizontal, a gua estaria imvel. Neste ltimo
caso, teramos ento uma espcie de reservatrio estreito e bem extenso e o caso seria estudado
como Hidrosttica. Um rio pode at ter alguns pequenos trechos curtos sem inclinao mas no em
toda sua extenso. Diferentemente dos condutos forados, um rio ou canal tem, na sua superfcie
livre, sempre a presso atmosfrica que considerada zero em termos relativos. Alm disso, a gua
quase nunca ocupa todo o espao da seco transversal disponvel. Em outras palavras, quase
sempre trabalha com alguma folga. Para abordarmos simplificadamente as equaes bsicas da
hidrulica, primeiro analisaremos o corte longitudinal mostrado na Figura 8.1. um desenho
hipottico com vazo constante, bem distante da realidade completamente irregular dos rios de uma
bacia hidrogrfica. Esta figura, permite a visualizao da curva da superfcie da gua, bem como a
interpretao da conhecida Equao 8.1 de Bernoulli ou equao da energia que talvez a mais
importante da hidrulica. igual tanto para uma tubulao com presso diferente da atmosfrica
como para escoamentos livres.
Figura 8.1. Perfil longitudinal de um canal ou rio.
98
Na Figura 8.1 est representado o caso de um canal com vazo constante, seces
transversais bem definidas e fundo estvel. Se nenhuma mudana ocorrer, a superfcie da gua
ficar estabilizada. Note que tanto do lado esquerdo (montante) como do lado direito (jusante) a
superfcie da gua apresenta as chamadas curvas de remanso. Um movimento chamado
permanente quando a vazo constante. Do contrrio, seria no permanente que , a rigor, o
caso de quase todos os rios reais. Pelos conceitos de Hidrologia sabemos que medida em que
avanamos para jusante, a rea da bacia hidrogrfica vai aumentando, com mais captao de chuvas
e maior vazo. Alm disso, existem as ondas de cheia que se propagam pelo rio fazendo a vazo
variar. Por fim, uma anlise completa do movimento no permanente no aqui desenvolvida por
no fazer parte do presente curso.
Voltando aos escoamentos permanentes, a palavra uniforme significa rea molhada
constante. Assim, na citada figura, as duas extremidades apresentam o MPGV (movimento
permanente gradualmente variado). Na zona central teremos aproximadamente o MPU (movimento
permanente uniforme). Nesta parte, a superfcie da gua paralela ao fundo e a altura constante
chamada de normal. Na verdade, para que isso acontea, o canal tem que ser muito extenso. Dito
de outra forma, preciso dar tempo gua para que ela saia da curva (de montante) e se estabilize
no MPU. No final (jusante), o escoamento lentamente volta a variar sua altura para se adaptar
condio de contorno de jusante, no caso o nvel do mar. Se o canal ou rio for curto o MPU nem
chega realmente a acontecer. No h definio exata de canal curto ou longo. A questo
definirmos o grau de preciso que desejamos. Para dar um exemplo sem grande preciso, em um
canal de laboratrio com 0,30m de largura por 6,00m de extenso, construdo em PVC e vidro, com
uma pequena vazo de 5,0 L/s a altura normal ser de 2 ou 3cm, dependendo da declividade
escolhida. Por simples observao visual, percebe-se que a gua paralela ao fundo. J para uma
vazo de, digamos, 10,0L/s nota-se tanto na entrada como na sada as tais curvas de remanso.
Se considerarmos a equao Bernoulli apenas na zona central (MPU) do canal teremos:
t
hp
g
V
h z
g
V
h z + + + = + +
2 2
2
2
2 2
2
1
1 1
(8.1)
sendo:
z
1
= cota topogrfica do ponto 1, em m;
h
1
= altura representativa da presso no ponto 1 junto ao fundo, em m. ( = p
1
/
(piezmetro))
g
V
g
V
2 2
2
2
2
1
= = taquicarga (energia cintica) da seco 1, em m. (= coef.de Coriolis=
1,0).
OBS : de Coriolis no o ngulo mostrado na Figura 8.1.
V = velocidade mdia, em m/s. (= Q /A, que diferente da velocidade em um determinado
ponto);
Q = vazo, em m
3
/s;
A = rea da seco transversal, em m
2
;
g = acelerao da gravidade, em m/s
2
;
hp
t
= perda de carga total entre as seces 1 e 2, em m;
LE = linha de energia (linha imaginria, situada V
2
/2g acima da superfcie da gua;
LP = linha piezomtrica (coincide com a superfcie da gua).
99
Se admitirmos que no rio nem a velocidade nem a turbulncia so muito significativas e que
as curvaturas verticais longitudinais do fundo so suaves, podemos considerar a variao da presso
no interior da massa lquida como hidrosttica. Assim, o termo p
/ poder ser substitudo por h
que significa a altura representativa da presso no fundo. Na verdade, essa a equao de
Pascal/Stevin da hidrosttica. Por outro lado, a conhecida equao da continuidade (Equao 8.2) :
Q V A V A = =
2 2 1 1
. . (8.2)
Sendo Q a vazo constante, A a rea molhada e V
1
, V
2
as
velocidades mdias da gua nas
seces 1 e 2 (no caso, iguais). Essa equao vem do conceito de vazo como sendo um volume de
gua que passa, dividido pelo tempo transcorrido. Se considerarmos o escoamento como um prisma
reto, esse volume ser a rea da seco multiplicada por uma distncia. Esta, por outro lado, uma
velocidade multiplicada por um tempo. Dessa forma, chega-se quela equao. Neste texto, o termo
simplificado seco aparecer vrias vezes e significar, rigor: seco transversal,
perpendicular direo do escoamento. Para deixar bem claro, uma velocidade mdia ser ento:
V = Q/A. Essa velocidade apenas um ente matemtico significando que, se todos os pontos da rea
A tivessem essa velocidade, a vazo seria Q. Na verdade, cada ponto do lquido tem sua prpria
velocidade como pode ser visto na Figura 8.2. De qualquer forma, existindo claramente ou no, tal
velocidade mdia, a vazo da seco continua a mesma. Como a vazo e a altura so constantes, a
rea e a velocidade mdia e taquicarga tambm sero. Assim, a equao da energia fica resumida :
hp Z = (8.3)
Dividindo-se ambos os membros pela distncia entre as duas seces (em projeo
horizontal), teremos:
J I = (8.4)
Sendo:
I = declividade do fundo (= tg );
J = declividade da linha de energia (= tg );
(OBS: Aqui, o ngulo da Figura 8.1).
Isso significa que a linha da superfcie da gua, a linha de energia e o fundo so todas
paralelas. Porm nas regies onde h MPGV a declividade da linha de energia sempre diferente da
declividade do fundo. A Figura 8.2 mostra uma muito usual seco do tipo trapezoidal. Ali so
visualizadas as caractersticas geomtricas bem como a distribuio das linhas istacas. Essas,
analogamente topografia, ligam pontos de mesma velocidade. A velocidade pontual mxima
numa regio central um pouco abaixo da superfcie da gua. No fundo e nas paredes, a velocidade
zero. A istaca correspondente velocidade mdia est aproximadamente situada na faixa central
de cor cinza. Sua exata posio dependeria da medio de velocidade de centenas de pontos.
Figura 8.2. Seco transversal com linhas istacas.
100
Sendo:
b = largura no fundo, em m;
B = largura na superfcie (OBS: B diferente de B
mx
), em m;
h = profundidade da gua nesta seco (altura normal) (OBS: diferente de h
mx
), em m;
A = rea molhada ([h (B +b)/2]), em m
2
;
P = permetro molhado (OBS: A/P = R , chamado raio hidrulico ), em (m);
= ngulo de talude lateral (OBS: cotg = m ), em graus.
Uma das frmulas empricas que renem esses elementos todos a conhecida expresso de
Manning aplicvel somente para movimento permanente uniforme (MPU):
2 / 1 3 / 2
.
1
J R
n
V = (8.5)
Aplicando a equao da continuidade, aparecer ento a vazo Q (m
3
/s):
2 / 1 3 / 2
. .
1
J R A
n
V = (8.6)
No caso do MPU, teremos J = I.
importante salientar que em A e R est automaticamente embutida a altura normal que
diferente, portanto da altura de uma determinada seco em MPGV.(OBS: No MPGV, cada seco
tem uma altura diferente e nenhuma delas a altura normal).
O smbolo n representa o chamado coeficiente de rugosidade de Manning. Esse nmero
expressa indiretamente, para cada tipo de material e situao, a influncia do atrito da gua com o
fundo e os taludes laterais. No um coeficiente exato, pois o fenmeno bastante complexo e no
ser neste curso analisado em detalhes. A Tabela 8.1 apenas ilustrativa e mostra faixas de valores
de n para algumas situaes, cada uma com suas particularidades. Em CHOW (1959) encontra-se
um extenso e cuidadoso estudo sobre o tema. De qualquer forma, percebe-se que quanto mais
rugoso e irregular for o canal, maior ser o valor de n. Para uma vazo, seco, material e
declividade constantes, quanto maior o n, tanto menor ser a velocidade mdia e, pela equao da
continuidade, maior ser a rea molhada e a altura normal. Para facilitar a compreenso, pode-se
imaginar n como uma espcie de freio ao escoamento. Se o freio aumenta, a gua no tendo
outra possibilidade, sobe.
Tabela 8.1. Coeficientes de Manning para algumas situaes.
Materiais n
Vidro (n
mnimo
) 0,008 - 0,010
Cimento alisado 0,011 - 0,013
Concreto 0,013 - 0,019
Alvenaria de pedra 0,014 - 0,033
Canais em terra retilneos 0,017 - 0,025
Rios limpos, retilneos e uniformes 0,025 - 0,035
Rios irregulares e com meandros 0,035 - 0,060
101
Chama-se energia especfica a soma da altura da gua com a taquicarga. Derivando essa
expresso em relao altura e igualando o resultado zero, temos uma situao
hidrulicanotvel representando a condio de mnima energia para movimentar uma determinada
vazo Q. Esse estado chama-se regime crtico no qual vale a seguinte equao:
1
.
.
3
2
=
A g
B Q
(8.7)
Sendo:
Q = vazo, em m
3
/s;
B = largura na superfcie, em m;
g = acelerao da gravidade, em m/s
2
;
A = rea molhada, em m
2
;
h
c
= altura crtica, em m.
Para seco retangular, em regime crtico teremos ento a vazo em funo de h
c
e B:
B h Q
c
. . 13209 , 3
2 / 3
= (8.8)
(OBS: s vezes til usar Q/B = q = vazo por metro de largura)
Logo, para se saber a vazo (q, por metro de largura) no escoamento crtico, no se
necessita declividade de fundo (I) nem rugosidade de Manning (n). Neste caso, B a largura da
garganta da calha que deve ser conhecida. Mais adiante, na calha Parshall, estes conceitos voltaro a
ser abordados.
A Figura 8.3 a seguir, mostra uma vista geral em perspectiva que pode ajudar na
visualizao. Na parte superior esquerda da figura, h um pequeno desenho mostrando o perfil de
velocidades em apenas uma determinada vertical da seco. Cada vertical tem seu perfil diferente.
interessante notar que no fundo a velocidade zero e a mxima ocorre um pouco abaixo da
superfcie.
Figura 8.3. Vazo de um rio em perspectiva.
102
A Figura 8.4 ilustra a variao da vazo histrica em uma seco de rio. Este, portanto um
caso tpico de movimento no permanente. Este grfico chama-se hidrograma e obtido atravs
de medies em campo. A Figura 8.5 mostra uma cheia passando sobre uma pequena barragem de
pedras na cidade de Lavras do Sul RS. As dimenses da barragem so aproximadamente: 90 x 4 x
2 metros (comprimento, altura e largura superior). Como se ver mais adiante, a vazo pode
tambm ser determinada pela medida da altura da gua (altura crtica) sobre a barragem (no caso,
aproximadamente 0,25 m).
Figura 8.4. Hidrograma em uma seco de rio (Movimento no permanente).
Figura 8.5. Barragem de pedras transbordando. (Foto do autor Lavras do Sul/RS)
103
Na Figura 8.6 est representada a curva-chave do rio Itaja-au em Blumenau-SC. Esta
curva o produto final aps uma srie de medies de vazo realizadas. Mostra em ordenadas a
altura de gua que medida num sistema fixo de rguas na margem e, em abcissas, a
correspondente vazo. Para bem preencher com pontos a curva, essas medies de descarga devem
contemplar tanto perodos secos como de cheias, logo, o trabalho completo pode demorar muitos
anos. Aps o estabelecimento dessa curva basta, a qualquer momento, verificar na rgua o nvel da
gua e teremos, pela curva ou por sua equao de ajuste, imediatamente a vazo. No item seguinte
sero abordados os detalhes da medio de vazo propriamente dita.
Figura 8.6. Curva-chave rio Itaja-au em Blumenau.
8.2 Medies de vazo.
A forma mais simples de se medir uma vazo qualquer sempre ser um volume que passa,
dividido pelo tempo transcorrido. Esse , alis, o primeiro conceito de vazo. Esse volume pode ser
obtido no s por geometria, mas por pesagem com uma balana, considerando o peso especfico da
gua como constante ( = Peso/Volume = 1000 kgf/m
3
). Para pequenas vazes isso muito fcil de
ser realizado, mas para as grandes ou muito grandes, a medida do volume fica muito difcil. A
medio da vazo nos cursos d gua pode ser realizada de vrias formas dependendo do tempo
disponvel, da preciso desejada e oramento. A seguir, alguns mtodos so descritos:
104
8.2.1 Flutuadores
Trata-se de um mtodo simples e rpido mas fornece resultados incertos. A idia central
jogar um objeto leve e bem visvel na corrente e, atravs da medida de sua velocidade
(distncia/tempo) tentar, por um mtodo ou outro, encontrar a to procurada e til velocidade mdia
(V). Este o centro da questo. Tambm necessria uma medio da rea da seco transversal
com as coordenadas (distncia da margem e profundidade) de vrios pontos no fundo ou uso de
equipamentos emissores de ondas sonoras como ecobatmetro, ADCP, mais adiante descritos. O
produto dessa velocidade mdia pela rea total da seco transversal fornece a vazo desejada. Na
verdade, o mtodo que utiliza flutuadores pode ser chamados de mtodo rea-velocidade. Como
vimos na Figura 8.2, em cada ponto o filete lquido possui sua velocidade e a est a dificuldade do
mtodo. Se conseguirmos jogar o tal objeto em um ponto que, por sorte, tenha exatamente a
velocidade mdia, o problema estaria resolvido pelas equaes j descritas. H que considerar
tambm que a velocidade de um objeto flutuante ou submerso, no exatamente a do lquido em
suas vizinhanas. Outro problema o vento que pode alterar totalmente as medies. Atravs da
mesma Figura 8.2 sabemos que a regio onde os filetes lquidos se deslocam com velocidade
prximo mdia, est bem abaixo da superfcie estendendo-se em curva (incerta) at a superfcie da
gua, prximo das margens. Os flutuadores so bastante teis pois dispensam a entrada de pessoas
no rio no caso de enchentes perigosas onde a velocidade pode ser superior a 6m/s.
A seguir, algumas melhorias do mtodo: O trecho do rio a ser escolhido para realizar a
medio deve ser limpo, bem visvel, profundidade e declividade do fundo constantes, margens
paralelas e extenso, no mnimo 3 vezes a largura. O flutuador pode ser jogado em uma zona
intermediria entre o centro do rio e a margem, porm deve estar mais perto da margem do que
desse centro. Se o rio tiver, por exemplo, 10 metros de largura, uma aposta poderia ser um ponto
2 ou 2,30 metros da margem. Assim, a velocidade desse flutuador teria mais chances de ser
parecida com a tal velocidade mdia. Para ter a vazo, bastaria ento multiplicar a velocidade do
flutuador pela rea total da seco. sempre interessante fazer uma mdia de 4 ou 5 medies.
Outra aproximao considerar a velocidade mdia como 80% da mxima velocidade superficial.
Existem tambm outras possibilidades com flutuadores ligados com objetos um pouco mais pesados
que ficam mergulhados no lquido 60% da profundidade. Nesta profundidade, a velocidade
prxima da mdia. De qualquer forma, todas as possibilidades sugeridas vo depender das
dimenses do rio e, sobretudo, da real distribuio das velocidades dentro da massa lquida.
8.2.2 Molinetes hidromtricos e ADCP
Este tem sido por muitos anos o mais difundido mtodo para rios e canais por ser
relativamente barato e confivel. Um molinete (ou micromolinete) basicamente uma pequena
hlice que, colocada em certo ponto do escoamento, gira com rotao proporcional velocidade da
gua neste ponto. Um ADCP basicamente transmite ultra som na gua e recebe o reflexo (eco)
proveniente do fundo e tambm das partculas suspensas na gua. Maiores detalhes sobre os dois
mtodos sero discutidos no Captulo 9.
105
8.2.3 Mtodos qumicos por diluio de traadores.
O mtodo est baseado na progressiva diluio de um traador medida que transportado
para jusante. Quanto maior for a turbulncia do rio, mais rapidamente a concentrao decair. Uma
das substncias utilizadas o sal bicromato de sdio ou istopos radioativos tais como Na
24
,Br
82
,
P
32
. Joga-se a soluo num ponto do rio e, a uma certa distncia jusante, quando a concentrao
diminuir at estabilizar, mede-se a concentrao novamente. H dois mtodos: injeo contnua e
mtodo da integrao. Aqui, s ser abordado o primeiro mtodo. Aplicando a equao de
conservao de massa, chega-se :
|
|
\
|
=
1
R
S
C
C
q Q (8.11)
Sendo:
Q = vazo do rio, em m
3
/s;
q = vazo constante de soluo salina injetada, em L/s;
C
S
= concentrao da soluo injetada, em g/L;
C
R
= concentrao do sal no rio, jusante, em mg/L.
A frmula acima considera que, antes do incio da injeo no rio, este no possua nenhuma
concentrao do sal a ser injetado. O tempo de durao da injeo deve ser, no mnimo, o suficiente
para que exista total homogeneizao da concentrao l em jusante.
8.2.4 Construo de estruturas para medio
Outra maneira de se medir a vazo de um rio ou canal obrigar o escoamento a passar por
uma obra, alterao da calha ou estrutura fsica de medio. Essas podem ser: uma retificao e
revestimento de um trecho, vertedor, comporta ou calha medidora tipo Parshall e similares. Todas
essas obras acabam obrigando a gua a passar por uma situao na qual o equacionamento
matemtico das variveis hidrulicas (vazo, velocidade, altura de gua, raio hidrulico, tipo de
regime, etc) fique mais simples e confivel. Assim, essas estruturas j so pr-aferidas. Cada tipo
interveno tem que estar adaptada ao caso particular que estamos tratando. Alm disso, seu custo
deve ser algo razovel. A seguir, detalha-se cada um dos casos:
a) Alteraes da calha.
Com a uniformizao de um trecho de canal pode-se utilizar, com menor erro, alguma
frmula de resistncia com Chzy, Strickler, Manning, etc. Se em um pequeno trecho uniforme o
canal for revestido, por exemplo, de concreto bem executado, seu coeficiente de Manning ser de
aproximadamente 0,013. Se a declividade for tambm uniforme e a extenso suficientemente longa
o escoamento ser aproximadamente MPU. o que se chama de controle por atrito do canal. O
caso adequado para pequenas e mdias vazes mas no serviria para a passagem de ondas de
cheia. Em resumo, a linha de energia deve ser o mais paralela possvel ao fundo e superfcie da
gua. Se a medida da altura da gua for realizada em dois pontos (um montante e outro jusante)
esse paralelismo pode ser monitorado. De posse dessa altura e demais dados geomtricos da seco,
tem-se pelas citadas frmulas tanto a velocidade mdia como a vazo. Por fim h que se garantir
que o transporte original de sedimentos no seja alterado e isso pode ser um fator impeditivo. Se
106
houver sobre esse fundo agora fixo, arraste de areias ou mesmo cascalho mido, estes sedimentos
no podem ficar, em hiptese alguma, depositados no fundo o que alteraria a seco, o escoamento
e, por fim, a vazo.
b) Vertedor retangular.
A vazo pode facilmente ser determinada com a colocao ou construo de um vertedor
retangular intercalado no fluxo. Como o prprio nome diz, a gua verte por cima do dispositivo.
Na Figura 8.7 so mostrados os detalhes mais importantes. Os principais parmetros so dois: altura
de gua (h) ou carga e a vazo descarregada (Q). As frmulas clssicas que os pesquisadores do
sculo XIX e XX amplamente publicaram, foram desenvolvidas em laboratrios e foram baseadas
em certos critrios. Assim, para serem utilizadas, deve-se tentar ao mximo reproduzir aquela
situao que deu origem s equaes. As equaes 12 14 so exclusivamente para soleira fina ou
delgada onde a espessura da parede deve ser de poucos milmetros ou biselada. Isso feito para que
o lquido toque a soleira segundo uma linha e no tenha rea de contato o que resultaria em mais
atrito. Este ltimo caso, seria o dos vertedores de soleira espessa no contemplados neste curto
texto. O paramento deve ser, no mnimo 3 vezes a carga. Esta, deve ser medida montante do
vertedor e distando deste, no mnimo, 5 ou 6 vezes essa carga para escapar da curva de remanso.
Assim, todo o vertedor, grande ou pequeno, deve ter algum tipo de reservatrio. Em terrenos quase
planos a obra fica bem mais difcil pois a rea alagada do reservatrio ficaria muito grande.
Figura 8.7. Curva-chave rio Itaja-au em Blumenau.
A largura do escoamento montante deve ser bem maior que a da soleira. Ou seja, as
frmulas so vlidas para canal de montante com largura, digamos, infinita. No mnimo,
necessrio que o canal de aproximao tenha 3 vezes a carga para cada lado da soleira. Por fim, a
lmina de gua deve estar sempre aerada por cima e por baixo. Para vazes extremamente baixas a
lmina cola na parede e as citadas equaes perdem sua validade.
Na prtica, nem sempre se consegue cumprir todas essas exigncias. Por exemplo, se o
paramento e a largura do canal de montante forem menores do que o desejado, a vazo real
produzida ser maior que a originalmente prevista pelas citadas frmulas clssicas. Isso devido
configurao tridimensional dos filetes lquidos que ser menos curva e mais alinhada com a
107
direo geral do fluxo. Para um vertedor assim, o ideal a determinao especfica de sua equao
em um laboratrio de hidrulica.
Frmula genrica de Du Buat, desprezando a taquicarga de aproximao:
2 / 3 2 / 1
) .( ) 2 .( .
3
2
h g L C Q = (8.12)
Sendo:
Q = vazo, em m
3
/s;
C = coeficiente de vazo (ou de descarga), prximo de 0,60,.0,63, etc. (adimensional)
L = comprimento corrigido da soleira, em m; (L = L
real
n c h); onde L
real
o comprimento
fsico, n o nmero de contraes da lmina, c um coeficiente variando de 0 1, dependendo das
condies das duas paredes verticais que limitam a lmina e h a carga. (OBS: quando L
real
for
superior 10 vezes a carga, essa correo ser bem pequena).
h = carga, medida bem afastada da lmina vertente, em m.
O coeficiente de vazo pode ser determinado com bastante preciso para alguns casos
especficos. Por exemplo, quando o paramento for pequeno em relao carga, pode se usar, entre
outras, a frmula de Bazin de 1899, perfeitamente vlida hoje e tambm no futuro, desde que a
acelerao da gravidade no mude:
(
(
\
|
+
+ |
\
|
+ =
2
55 , 0 1 .
0045 , 0
6075 , 0
P h
h
h
Q (8.13)
Condies: 0,08 < h < 0,50m e 0,20 < P < 2,0m.
c)Vertedor triangular:
O funcionamento semelhante ao que foi descrito para o caso anterior (ver Figura 8.7). As
poucas diferenas so: a largura da soleira zero dispensando suas correes e carga com
sensibilidade superior ao do vertedor retangular. Em outras palavras, uma pequena variao da
carga j ocasiona uma razovel mudana na vazo. Basta comparar as potncias 5/2 e 3/2. mais
preciso, sobretudo nas pequenas vazes (< 30 L/s). O paramento P deve ser superior a 3.h e a
largura do canal (B) deve ser, no mnimo, 6h. A frmula genrica para parede delgada :
( )
2 / 5 2 / 1
. 2 .
2
.
15
8
h g tg C Q |
\
|
=
(8.14)
Sendo:
= ngulo de abertura.
O valor de C costuma estar no intervalo de 0,56 a 0,63, dependendo do caso especfico.
Semelhantemente ao caso anterior, se o paramento for relativamente pequeno ( ou at
inferior) carga, ou se o canal de aproximao no for de largura infinita h que se buscar as
devidas correes. Da mesma forma, se as paredes forem espessas, deve-se procurar na literatura
equaes mais adequadas.
d)Comporta
Uma comporta ou orifcio uma abertura de permetro fechado feita em uma parede ou
fundo de reservatrio. Se a gua estiver represada por uma parede ou barragem, basta medir-se a
108
altura de gua (carga) sobre o centro da comporta. De posse da rea da abertura e adequado
coeficiente de vazo, aplica-se diretamente as frmulas clssicas da literatura. A seguir, apresenta-
se a frmula bsica para o caso de parede fina e com velocidade de aproximao (de montante)
desprezvel:
( )
2 / 1
2 . . gh A C Q = (8.15)
Sendo:
Q = vazo, em m
3
/s;
C = coeficiente de vazo (entre 0,57 e 0,65 dependendo da forma e carga; ver tabelas na
literatura)
A = rea da abertura, em m
2
;
h = carga no centro do orifcio, em m.
OBS: Se o orifcio estiver prximo a paredes laterais ou mesmo ao fundo, deve sofrer
correes tambm disponveis na literatura corrente.
e)Calha Parshall
Como j foi visto no tem 8.1 o regime crtico possui uma notvel propriedade: s com a
altura crtica determina-se a vazo sem o conhecimento de n nem da declividade do fundo (I).
Essa calha (Figura 8.8), por seu estrangulamento, fora o aparecimento desta altura crtica. Na
prtica, a localizao da altura crtica sempre um pouco acima do ponto de quebra de declividade
de fundo e varia em funo da vazo. Para facilitar, os fabricantes desenvolveram relaes entre a
altura crtica e uma outra altura (H
a
), mais estvel, medida um pouco mais montante.
Frmula genrica:
( ) B H K Q
m
a
. . = (8.16)
Compare com a Equao 8.8 do regime crtico.
Os valores de K, m, B so dados pelo fabricante. (s vezes K e B so agrupados)
Figura 8.8. Calha Parshall.(Fonte: Colorado Water Knowledge)
109
8.3 Comparaes.
Como comparao final, apresenta-se na Tabela 8.2 as vantagens e desvantagens de cada
mtodo, segundo a NBR 13403/95-Medio de vazo em efluentes lquidos e corpos receptores
Escoamento livre:
Tabela 8.2. Comparaes da NBR 13403/95.
Mtodo
Erros
(%)
Custo Operao
Tipo
de
medio
Interferentes
na operao
Calibrao
peridica
Tipo
de
vazo
medida
Volumtrico at 2 baixo simples descontnuo no no mdia
Vertedor at 3 baixo simples descontnuo sim no instant.
C. Parshall at 3 mdio simples descontnuo no no instant.
Molinete at 5 alto especializ. descontnuo sim sim mdia
Flutuador at 20 baixo simples descontnuo sim no mdia
Orifcios,
Bocais e
tubos curtos
--- baixo simples descontnuo sim sim instant.
Traadores at 5 Varivel especializ. descontnuo sim sim mdia
Ultra som de 2 a 5 alto especializ. descontnuo sim sim mdia
Eletromag. de 2 a 5 alto especializ. desc/cont sim sim mdia
Tubos
horizontais.
at 3 baixo simples descontnuo sim sim instant.
C. Palmer-B. at 3 mdio simples descontnuo no no instant.
8.4 Consideraes Finais:
A Lei n 9433/97 instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos.
Entre as conseqncias, ficou evidente a grande necessidade de estudos hidrolgicos os quais no
podem ser realizados sem medies de campo. Por outro lado, com o desenvolvimento da
informtica e outras tecnologias, a modelao matemtica em Hidrologia e Hidrulica se expandiu
na sua tentativa de melhor representar a realidade. Ocorre que um bom modelo s pode ser
difundido para uso se seus resultados forem confrontados, validados, com medidas reais de campo
ou de laboratrio. Por tudo isso, salientamos a capital importncia da Hidrometria em rios e canais.
110
Referncias bibliogrficas
ABNT, NBR 13403-Medio de vazo em efluentes lquidos e corpos receptores Escoamento
livre, Rio de Janeiro, 1995.
AGNCIA NACIONAL DAS GUAS. Disponvel em www.ana.gov.br.
CHOW,V. T., Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill, New York: 1959.
COLORADO WATER KNOWLEDGE. Disponvel em html://waterknowledge.colostate.edu.
GLOBAL WATER INSTRUMENTATION INC. Disponvel em www.globalw.com.
NEVES, E. T., Curso de Hidrulica, 9a. ed. Editora Globo, So Paulo: 1989.
MEDEIROS, P. A . Canal de Vidro de Seco Retangular, (Desenvolvimento de material
didtico ou instrucional- Equipamento para Laboratrio de Hidrulica), UFSC, Florianpolis, 1999.
MEDEIROS, P. A. otas de aula da disciplina ENS 5101-Hidrulica,ENS CTC-UFSC, 2004.
MEDEIROS, P.A.; MARIN, E. M., Transporte de Sedimentos en un Canal de Fondo Fijo Liso.
Revista de Obras Publicas, Madrid, v.3344, p. 71-80,1995.
OTT MESSTECHNIK. Disponvel em www.ott-hydrometry.de.
PORTO, R.de M, Hidrulica Bsica, EESC-USP, Projeto REENGE,1998, So Carlos.
SANTOS, I. dos et al, Hidrometria Aplicada, LACTEC, Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento, Curitiba, 2001.
Internet:
SONTEC. Disponvel em www.sontek.com .
111
AEXO
Exerccios:
1) Determine a velocidade mdia e a vazo de um canal trapezoidal com: b= 6,0m; =
33,69
o
; n= 0,017; h= 1,20m; I= 0,001 m/m.
(Resp: V= 1,74219m/s ; Q= 16,3069m
3
/s)
2) Determine a altura crtica (hc) de um canal de seco retangular com B = b = 6,0 m;
Vazo = 16,3069 m
3
/s. Rugosidade (n) e declividade do fundo no fornecidos.
(Resp: hc= 0,90976m)
3) Considerando o mesmo rio (ou canal) da questo 1, determine a vazo pelo mtodo do
flutuador. Distncia percorrida pelo flutuador, no eixo do rio= 22,00 m; tempo= 8,9s. Fator
de correo da velocidade superficial= 0,80.
(Resp: Q= 18,49m
3
/s)
4) Calcule a vazo no rio com apenas 3 verticais medidas com molinete hidromtrico:
Vertical
rea de influncia
(m
2
)
Velocidade mdia na vertical
(m/s)(*)
Vazo parcial
(m
3
/s)
1 5,30 0,77
2 7,25 1,15
3 9,70 1,22
(*) a verdade, o molinete d uma equao que relaciona rotao da hlice com velocidade
pontual. este simples exerccio, j demos as velocidades pontuais prontas
(Resp: Q
total
= 24,252 m
3
/s)
5) Calcule a vazo em um riacho, pelo mtodo do traador qumico. Dados: Concentrao
da soluo injetada= 20,0g/L; vazo injetada= 5,0L/s; Concentrao no rio, centenas de
metros jusante= 0,12 g/L.
(Resp: Q= 823,0L/s)
6) Vertedor retangular de parede fina: Calcule a vazo produzida: L
real
= 3,45m; Carga (h)=
0,22 m; Paramento (P)= 0,95m.
(Resp: Q= 0,673m
3
/s )
7) Vertedor triangular de parede fina. Determine a vazo com a frmula simplificada de
Barnes. (= 90
o
; C= 0,567)
(Resp: Q= 2,551L/s)
8) Determine a descarga da comporta (orifcio) retangular com base= 35,00cm e altura
20,00cm. Carga= 1,90m. Procurar o coeficiente de vazo nas tabelas.
(Resp: Q= 0,2568m
3
/s)
9) Calha Parshall: Determine a vazo. Largura da garganta = 6 (1 inch= 2,54cm). H
a
=
0,75feet. Usar fmula citada no Open Channel Hydraulics (V. T. Chow): Q= 2,06. H
a
= 1,58.
Usar Q em ps cbicos por segundo (cfs) e H
a
em ps.
(Resp: Q= 1,307cfs = 0,03702 m
3
/s )
10) Fazer o mesmo clculo do exerc. 9, mas com a frmula do prof. Carlos Fernandes
(UFCG): ( ) B H Q
a
. 20 , 2
3 / 2
= (com Q= m
3
/s; H
a
= m; B= m).
(Resp: Q= 0,03664 m
3
/s).
Prof. Pricles (Fev/2009)
112
9. USO DE MOLIETE E ADCP
Fernando Grison
Masato Kobiyama
Henrique Lucini Rocha
9.1 Introduo
Os dados de vazo so indispensveis para o planejamento dos recursos hdricos, previso
de cheias, gerenciamento de bacias hidrogrficas, saneamento bsico, abastecimento pblico e
industrial, navegao, irrigao, transporte, meio ambiente e muitos outros estudos de grande
importncia cientfica e scio-econmica (IBIAPINA et al., 2007).
A determinao da vazo de um rio pode ser feita diretamente com o uso de equipamentos
como molinete e ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). Esse procedimento de medio com
molinete e ADCP extremamente trabalhoso e honeroso. Por este motivo, geralmente opta-se pelo
registro dos nveis da gua em uma determinada seo transversal do rio e determina-se uma
relao entre a vazo e o nvel, denominada curva-chave (ou curva de descarga).
9.2 Hidrometria
Hidrometria a cincia da medida e da anlise das caractersticas fsicas e qumicas da gua,
inclusive dos mtodos, tcnicas e instrumentao utilizados em hidrologia (GLOSSRIO DE
TERMOS HIDROLGICOS, 2002). uma das partes mais importantes da hidrulica, pois, cuida
de questes tais como medidas de profundidade, de variao do nvel da gua, das sees de
escoamento, das presses, das velocidades e das vazes ou descargas (AZEVEDO NETTO, 2003).
A fluviometria, que faz parte da hidrometria, trata das medies de vazes dos rios
(SANTOS et al., 2001). Uma estao fluviomtrica se localiza em uma seo transversal de um rio
e composta basicamente por rguas linimtricas e/ou lingrafos para medio dos nveis de gua.
As caractersticas geomtricas da seo transversal definida pela estao variam com o nvel
dgua na mesma (Figura 9.1). Essas caractersticas so:
rea molhada: rea da seo transversal ocupada pela gua;
Permetro molhado: comprimento da linha de contato entre a superfcie molhada e o
leito;
Raio hidrulico: quociente da rea molhada pelo permetro molhado;
Largura superficial: comprimento da linha horizontal da rea molhada;
Profundidade mdia: quociente da rea molhada pela largura superficial.
113
Figura 9.1. Caractersticas geomtricas de uma seo transversal.
9.3 Molinete hidromtrico
Molinete hidromtrico um aparelho que serve para medir a velocidade de um escoamento
(SANTOS et al., 2001). Ele possui uma hlice acoplada a um eixo que gira no sentido contrrio ao
fluxo mandando sinais eltricos a um contador de rotaes (Figura 9.2).
Figura 9.2. Micromolinete com contador de rotaes.
A velocidade do fluxo calculada com uma equao prpria do aparelho, construda em
laboratrio:
+ = p V (9.1)
onde V a velocidade (m.s
-1
); o nmero de rotaes por segundo; p o passo da hlice;
e a velocidade de atrito.
114
9.3.1 Medio de vazo com molinete hidromtrico
A medio de vazo com molinete hidromtrico consiste em traar a rea da seo
transversal e determinar a velocidade mdia do fluxo nessa seo. Medindo a largura do canal e a
profundidade em diversos pontos, formando vrias verticais no decorrer da seo, obtm-se a rea
transversal. Em cada vertical, medindo-se com o molinete determinam-se vrias velocidades em
diferentes profundidades correspondentes. A velocidade mdia em cada vertical pode ser ento
determinada por mtodos analticos (SANTOS et al., 2001).
A Tabela 9.1 mostra o clculo das velocidades mdias em at seis pontos para cada vertical.
Tabela 9.1. Tabela de clculo das velocidades mdias nas verticais pelo Mtodo Detalhado.
N de
pontos
Posio na vertical em relao
profundidade (m)
Clculo da velocidade mdia na vertical (m/s) Prof. (m)
1 0,6p
6 , 0
v v =
0,15 0,6
2 0,2p e 0,8p
2 / ) (
8 , 0 2 , 0
v v v + =
0,6 - 1,2
3 0,2p; 0,6p e 0,8p
4 / ) 2 (
8 , 0 6 , 0 2 , 0
v v v v + + =
1,2 - 2,0
4 0,2p; 0,4p; 0,6p e 0,8p
6 / ) 2 2 (
8 , 0 6 , 0 4 , 0 2 , 0
v v v v v + + + =
2,0 - 4,0
6 S; 0,2p; 0,4p; 0,6p; 0,8p e F(*)
10 / ) ) ( 2 (
8 , 0 6 , 0 4 , 0 2 , 0 f s
v v v v v v v + + + + + =
> 4,0
(*) S = superfcie; F = fundo
DNAEE (1977) citada por SANTOS et al., 2001.
Praticamente, o nmero de verticais deve ser tal que a vazo mdia em cada vertical no
ultrapasse 10% da vazo mdia total da seo. A Tabela 9.2 mostra algumas distncias
recomendadas entre as verticais.
Tabela 9.2. Distncias recomendadas entre as verticais.
Largura do canal (m) Distncia entre as verticais (m)
< 3,0 0,30
3,0 a 6,0 0,50
6,0 a 15,0 1,00
15,0 a 30,0 2,00
30,0 a 50,0 3,00
50,0 a 80,0 4,00
80,0 a 150,0 6,00
150 a 250,0 8,00
> 250,0 12,00
DNAEE (1967) citada por SANTOS et al., 20010
Para fins mais prticos de anotao em campo existe uma tabela padro de medio de
descarga lquida que facilita a organizao dos dados quando se realiza uma medio com molinete.
115
Essa tabela est em anexo e foi adaptada da Superintendncia de Desenvolvimento de Recursos
Hdricos e Saneamento Ambiental SUDERHSA/ PR.
9.3.1.1 Clculo da vazo com molinete hidromtrico
O clculo da vazo com os dados de um molinete pode ser feito pelo mtodo da Meia Seo
e pelo mtodo da Seo Mdia.
O mtodo da Meia Seo consiste em calcular vazes parciais de vrias subsees. Isso
feito atravs da multiplicao da velocidade mdia da vertical pela rea do segmento retangular,
definido pelo produto da profundidade mdia pela soma das semi-distncias s verticais adjacentes
(SANTOS et al., 2001) (Figura 9.3).
Figura 9.3. Esquema ilustrativo do mtodo da meia seo.
Neste mtodo, primeiro calcula-se a largura do segmento:
2
) (
1 1 +
=
i i
i
d d
L (9.2)
onde
i
L a largura dos segmentos (m); e
1 + i
d e
1 i
d so as semi-distncias s verticais (m).
Aps, a rea dos segmentos pode ser calculada:
m i i
h L a = (9.3)
onde
i
a a rea dos segmentos (m); e
m
h a profundidade mdia dos segmentos (m). Com
isso, a vazo parcial fica:
i i i
a v q = (9.4)
onde
i
q a vazo parcial (m.s
-1
); e
i
v a velocidade mdia na vertical (m.s). Finalmente,
obtm-se a vazo total:
=
i T
q Q (9.5)
onde
T
Q a vazo total da seo (m.s
-1
).
O mtodo da Seo Mdia consiste em calcular as vazes parciais para as subsees
formadas entre as verticais. Considera-se nas extremidades subsees triangulares e as demais
trapezoidais. A velocidade a mdia aritmtica das verticais (SANTOS et al., 2001) (Figura 9.4).
116
Figura 9.4. Esquema ilustrativo do mtodo da seo mdia.
Neste mtodo, primeiramente calculada a velocidade mdia na subseo:
2
) (
1
+
=
i i
i
v v
v (9.6)
onde
i
v a velocidade mdia na subseo (m.s
-1
). Aps, a rea dos segmentos pode ser
calculada:
|
\
| +
=
2
) (
1
1
i i
i i i
h h
d d a (9.7)
onde
i
h e
1 i
h so as profundidades das verticais (m). Assim, a vazo parcial fica:
i i i
a v q = (9.8)
Finalmente, com a Equao (9.8) obtm-se a vazo total.
9.4 ADCP
O ADCP - Acoustic Doppler Current Profiler, ou Correntmetro Acstico de Efeito
Doppler, um aparelho desenvolvido para medir a velocidade das partculas suspensas na gua e
por conseqncia a corrente dgua atravs do efeito Doppler. Os ADCPs tambm so chamados de
aparelhos Doppler ou instrumentos Doppler (Figura 9.5).
(a)
(b)
Figura 9.5. (a) ADCP modelo RiverSurveyor "Mini" System; (b) Suporte do ADCP modelo
RiverCat Integrated Catamaran System.
Para o ADCP o efeito Doppler a mudana na freqncia de uma onda sonora causada por
um movimento relativo entre o aparelho transmissor do som (chamado de transdutor) e o material
117
em suspenso na gua. O material ao ser atingido por um feixe de ondas sonoras muda a freqncia
de retransmisso. Como esse material se desloca na mesma velocidade da corrente de gua, a
magnitude do efeito Doppler diretamente proporcional a essa velocidade (FILHO et al, 1999).
Portanto, para medidores de corrente Doppler, olha-se para a reflexo do som nas partculas da
gua.
O ADCP transmite um pulso acstico (um ping) na coluna de gua e em seguida, escuta o
regresso do som (o eco). Ao receber o eco, o ADCP calcula o efeito Doppler. A Figura 9.6 mostra
um esquema de como um pulso acstico transmitido na gua e as suas conseqentes reflexes de
energia acstica (SIMPSOM, 2001).
Figura 9.6. Transmisso e disperso de um pulso acstico (Simpson, 2001).
Uma grande vantagem de um ADCP a sua rapidez na medio da velocidade da gua.
Alm disso, mede muito mais pontos em uma seo transversal de um rio do que instrumentos
convencionais, como molinetes. O ADCP tambm possui a facilidade de comunicar-se diretamente
com microcomputadores, transferindo os dados de velocidade em tempo real e calculando a vazo
automaticamente. Por outro lado, uma grande desvantagem o alto custo do aparelho.
9.4.1 Medio de vazo com ADCP
A medio de vazo com um instrumento Doppler pode ser comparada a uma medio
convencional com um conjunto de molinetes colocados em uma seo vertical. A medida de
velocidade de cada um dos molinetes corresponde a um ponto. Com o ADCP, a velocidade ser a
mdia das velocidades para cada uma das clulas da Figura 9.7. Portanto, cada clula tem sua
extenso determinada pela velocidade de navegao do aparelho e pela velocidade de
processamento dos dados, aproximadamente 0,5 segundo. Assim, pode-se dizer que a principal
diferena das medies dos instrumentos Doppler para os molinetes que as feitas por Doppler so
muito mais detalhadas. Alm disso, a trajetria do ADCP no precisa ser perpendicular seo de
medio (GAMARO, 2007).
118
Figura 9.7. Analogia de uma medio de vazo convencional para uma medio com efeito
Doppler (Simpson, 2001).
Para medio com o ADCP, a montagem pode ser feita tanto em estruturas fixas, com o
ADCP olhando para cima (upward looking) (Figura 9.7) como em estruturas mveis com o ADCP
olhando para baixo (downward looking).
O calculo da vazo total realizado automaticamente por software desenvolvido pelo
prprio fabricante do ADCP. Esse programa coleta os dados do ADCP, exibe-os em tempo real e
armazena-os em arquivos especficos permitindo um processamento e anlise posterior medio.
A Figura 9.8 mostra o Layout do software RiverSurveyor 4.6 desenvolvido pela empresa Sontek.
Caminho percorrido pelo ADCP
Seo medida pelo ADCP
Caminho percorrido pelo ADCP
Seo medida pelo ADCP
Figura 9.8. Layout do Riversurveyor verso 4.6.
Em uma seo de medio existem reas que no so medidas pelo ADCP. Essas reas
geralmente so prximas ao aparelho, prximas do leito e nas margens do rio. Em frente ao
transdutor (emissor do pulso acstico) h um espao reservado para emitir e receber o feixe sonoro.
119
Nessa pequena regio o ADCP no consegue medir, e por isso chamada de blanking region. Isto
permite aos transdutores recuperar eletronicamente o pulso transmitido e preparar para receber o
retorno do sinal. Na rea do fundo as ondas sonoras se espalham numa vertical formando um feixe
paralelo, chamado side lobe. O side lobe possui uma energia muito fraca que no produz rudo
considervel e por isso chega ao fundo primeiro. Ao encontrar uma boa superfcie para reflexo ele
contamina o espao perto do leito, impedindo a leitura de dados. As reas no medidas nas margens
so devido baixa profundidade da coluna de gua (SONTEK, 2000).
9.5 Curva-chave
Em uma seo transversal de um curso dgua, a relao que existe entre a descarga e a
altura da lmina dgua (cota) uma funo denominada de curva de descarga, ou curva-chave.
Essa funo muito complexa e envolve caractersticas geomtricas da seo transversal
considerada e caractersticas hidrulicas do canal (JACCON e CUDO, 1989). A Figura 9.9 mostra
um exemplo de curva-chave da Bacia do Campus da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) em Florianpolis.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0 5 10 15 20
Vazo (m/s)
C
o
t
a
(
m
)
Figura 9.9. Curva-chave da bacia do campus da UFSC.
A curva-chave serve para a gerao de uma srie de vazes que podem ser dirias, mensais,
anuais, conforme for o objetivo do uso da curva. Com os resultados de uma curva-chave podem-se
elaborar estudos de vazes extremas, mximas e mnimas.
Segundo LAMBIE (1978) e MOSLEY e MCKERCHAR (1993), citados por BRUSA e
CLARK (1999), a curva-chave pode ser determinada por meio da relao exponencial:
120
b
o
a H C Q ) ( + = (9.9)
onde Q a vazo (m.s
-1
); H a altura da lmina de gua correspondente vazo (m); a a
diferena de altura entre o zero da rgua e o nvel de vazo nula (m); e C
o
e b so coeficientes
caractersticos da estao. Praticamente, os coeficientes C
o
e b so calculados mediante regresso
linear entre os valores logartmicos lnQ e ln(H+a). O coeficiente a ser aquele que fornecer a
melhor regresso linear representado atravs do coeficiente de determinao r que indica a
porcentagem da varincia explicada pelo ajuste da curva.
Segundo FILHO (2003), a interpretao e anlise das curvas-chave devem considerar todas
as informaes disponveis, pesquisando-se histricos e relatrios de inspeo, alteraes da
posio das rguas e das sees transversais, e possveis mudanas das condies de escoamento
nas proximidades das estaes.
9.5.1 Traado e extrapolao das curvas-chave
Extrapolar uma curva-chave significa complementar o traado da relao cota-vazo nas
regies de cotas observadas em que no foi possvel medir a vazo. Para essa atividade necessrio
conhecimento do comportamento dos parmetros geomtricos e hidrulicos para os mesmos
intervalos de cotas. Resumindo, extrapolar interrogar-se sobre como variam as caractersticas
geomtricas de uma seo durante a continuidade de um escoamento (JACCON e CUDO, 1989).
Existem muito mtodos de extrapolao de curvas de descarga. O principal cuidado que se
deve ter ao utiliz-los diferenci-los em relao ao nvel de gua. Uns so aplicados em mdios e
altos nveis de gua e outros em baixos. A seguir, se encontra a descrio dos principais mtodos
utilizados no Brasil.
9.5.1.1 Extrapolao em mdios e altos nveis de gua
(i) Mtodo logartmico
Segundo JACCON e CUDO (1989), esse mtodo considera que, se a curva-chave, pelo
menos no trecho superior, do tipo exponencial, ela obedece a seguinte equao:
b
h h C Q ) (
0
= (9.10)
onde h a cota para vazo Q (m); e
0
h a cota para uma vazo inicial
0
Q (m).
Para extrapolar a curva, traa-se o trecho em escala logartmica e a partir do maior valor de
cota adiciona-se ou subtrai-se um valor constante de
0
h .
Para calcular
0
h , primeiro calcula-se uma vazo
3
Q :
2 1 3
Q Q Q = , sendo 0
1
Q (9.11)
onde Q
1
e Q
2
so as vazes de dois pontos extremos da curva (m/s). Por ltimo, calcula-se o
valor de h
0:
121
|
|
\
|
+
=
3 2 1
2
3 2 1
0
2h h h
h h h
h (9.12)
onde
1
h e
2
h so as cotas das vazes
1
Q e
2
Q (m); e
3
h a cota correspondente a vazo
3
Q .
Sempre que a seo linimtrica de um canal estiver sob controle hidrulico (caractersticas
geomtricas invariveis, sempre com a mesma vazo para a mesma cota) o mtodo logartmico
costuma dar bons resultados. Caso contrrio, as mudanas nas condies de controle acarretam
muitos e graves erros. Por isso, esse mtodo no aplicvel para baixas vazes, pois, nessas
condies a geometria da seo pode sofrer grandes mudanas (SANTOS et al., 2001).
(ii) Mtodo de Stevens
O mtodo de Stevens utiliza a frmula de Chezy (Equao 13). S se aplica esse mtodo em
casos de escoamentos pseudo-uniformes (quase uniformes), sees estveis e com um nmero de
medies alinhadas (JACCON e CUDO, 1989). Alm disso, adequado para rios largos, onde o
raio hidrulico pode ser considerado igual profundidade mdia.
RI cA Q = (9.13)
onde c o coeficiente de Chezy, varivel em funo do raio hidrulico e da natureza do
leito (m
1/2
.s
-1/2
); A a rea molhada (m); R o raio hidrulico (m); e I a declividade superficial
(m.m
-1
).
Nesta equao, R A e I c representam o fator geomtrico da seo (que pode ser obtido
por levantamentos topobatimtricos) e o fator de declividade, respectivamente. Se I c constante
na Equao (13), R A Q tambm constante. Isso significa que a funo ) (Q f R A =
graficamente uma reta que passa pela origem. Dessa forma, essa reta pode ser prolongada at o fator
geomtrico equivalente ao nvel mximo observado.
preciso ressaltar que para aplicar o mtodo de Stevens, alm do escoamento ser quase
uniforme, necessrio tambm ter um perfil estvel ou um nmero suficiente de medies
alinhadas.
(iii) Mtodo das frmulas hidrulicas de escoamento
Existem muitas frmulas na hidrulica, que podem ser aplicadas para extrapolar um curva-
chave. As mais utilizadas so as que possibilitam a extrapolao da curva por meio do clculo da
curva de remanso, a partir de um controle hidrulico. O remanso pode ser calculado partindo-se de
uma soleira (corredeira) at um salto mais a jusante, ou tambm observando a curva em uma ponte
(JACCON e CUDO, 1989). A frmula de AUBUISSON a mais aplicada nesse tipo de mtodo,
isto :
h V gy KA Q + =
2 (9.14)
onde K o coeficiente adimencional tabelado e varia de 0,5 1); g a acelerao
gravitacional (= 9,81 m/s); y o abaixamento da linha dgua no remanso (m); o coeficiente
de repartio das velocidades da seo; e h a perda de carga por atrito.
122
9.5.1.2 Extrapolao em baixos nveis de gua
(i) Mtodo da superfcie molhada e velocidade mdia
Nesse mtodo considera-se a variao da cota (h) em funo da rea molhada (A) e da
velocidade mdia do escoamento (
V ). Para isso, plota-se as curvas h(A) e h(
V ) em um mesmo
sistema de eixos, com escalas apropriadas. A extrapolao feita na curva h(
V ) prolongando-se a
extremidade inferior at a cota nula. Dessa forma, o produto de A por
V no trecho extrapolado
resulta na vazo para cotas no medidas (JACCON e CUDO, 1989).
9.5.2 Determinao das incertezas nas extrapolaes
Depois de traada e extrapolada a curva-chave dever ser confirmada. Para isso, necessria
uma rigorosa anlise de suas incertezas, erros que podem conduzir a uma idia totalmente fora das
condies naturais de comportamento das vazes de um rio.
As incertezas podem surgir de vrias formas: incerteza da medio, incerteza devido ao
aparelho de medio, incerteza do mtodo de traado e do mtodo de extrapolao da curva-chave,
incerteza devido seo inapropriada, etc. Para tentar minimizar e at eliminar muitas dessas
incertezas ser construdo um grfico da curva juntamente com as diferentes extrapolaes (Figura
9.10).
Figura 9.10. Grfico tpico de curva-chave com extrapolaes (linhas pontilhadas).
Para verificar a melhor extrapolao sero realizadas medies diretas em pontos de baixas e
elevadas vazes, a fim de confirmar o mtodo mais adequado.
9.6 Consideraes finais
Segundo Grison (2008) o ADCP se mostra uma ferramenta muito eficiente no processo de
construo de uma curva-chave. Isso se deve principalmente pela facilidade de se medir um evento
de extrema vazo com esse aparelho. O equipamento possui um sistema de resposta muito mais
rpido do que pelo mtodo tradicional do molinete. Porm, sempre que possvel, interessante
123
utilizar os dois mtodos numa mesma seo de medio e comparar seus resultados. Isso aumenta a
segurana dos valores das vazes e conseqentemente da curva-chave.
O uso de aparelhos como molinete e ADCP muito importante para o gerenciamento dos
recursos hdricos, pois os dados medidos so dados primrios que formam a base das concluses
dos estudos hidrolgicos. Porm, ao contrrio de um molinete, o ADCP possui alto custo de
aquisio e de difcil operao. Atualmente com o apoio financeiro do CT-HIDRO (Fundo
Setorial de Recursos Hdricos), que financia estudos e projetos na rea de recursos hdricos, a
aquisio do ADCP pelas instituies pblicas de ensino superior e pesquisa est ocorrendo com
mais freqncia. Por isso, muito importante o conhecimento dessa tecnologia e o
acompanhamento de sua evoluo. No dia 22 de maio de 2000 foi criado o grupo de discusso
Vazo com ADCP em um site na Internet, onde freqentemente discutida a importncia do
aparelho, sua evoluo, seus problemas, suas vantagens e desvantagens em relao aos mtodos
convencionais de medio, etc.
A preservao dos pequenos mananciais deve ser encarada como prioridade pelas polticas
de preservao ambiental. Para isso, a tecnologia Doppler pode ser fundamental. Com a facilidade,
rapidez e qualidade nas medies de vazo, os ADCPs contribuem com a rpida execuo dos
projetos que objetivam contribuir com o gerenciamento dos sistemas de abastecimento de gua
(GRISON et al., 2008).
124
Referncias bibliogrficas
AZEVEDO NETTO, J. M. et al. Manual de hidrulica. 8. ed. So Paulo SP, 2003. 669p.
BRUSA L.C.; CLARKE R.T. Erros envolvidos na estimativa da vazo mxima utilizando curva-
chave. Caso de estudo: bacia do rio ibicu-rs. Revista Brasileira de Recursos Hdricos Vol. 4, n 3,
1999. p.91-102.
FILHO, D.P.; SANTOS, I. dos; FILL, H.D. ; Sistema de Ajuste e Extrapolao de Curva de
Descarga Stevens. In: Anais do XV Simpsio Brasileiro de Recursos Hdricos, Curitiba Paran,
23 a 27 de novembro de 2003.
FILHO, G.L.T.; VIANA, A.N.C.; CAETANO, G.T.; SANTOS, R.M. O Uso do Adcp em Pequenos
e Mdios Cursos Dgua. In: Grupo de trabajo sobre hidromecnica - 5 Reunio, Montevidu
Uruguai, 1999. 10p.
GAMARO, P. E. III Curso de Medidores de Vazo Acstica Doppler, de 05 a 09 de novembro de
2007, Foz do Iguau-PR. Apostila Mdulo Bsico, Reviso 1.0, 2007.
GLOSSRIO DE TERMOS HIDROLGICOS, Verso 2.0.1, Agncia Nacional das guas
(ANA), 2002.
GRISON, F.; Uso do ADCP como ferramenta de apoio no traado e extrapolao de curva-chave
na bacia hidrogrfica do Rio Cubato do orte. Florianpolis: UFSC/CTC/ENS, Monografia
(Trabalho de Concluso de Curso em Engenharia Sanitria e Ambiental), 2008a. 46p.
GRISON, F.; KOBIYAMA, M,; SANTOS, I.; CUNHA, H. D. Uso do ADCP para construo de
curva-chave. In: VII Simpsio Nacional de Geomorfologia e II Encontro Sul-Americano de
Geomorfologia (2008: Belo Horizonte) Belo Horizonte: UFMG, Anais, 2008. 11p. CD-rom.
IBIAPINA, A.V.; FERNANDES, D.; CARVALHO, D.C.; OLIVEIRA, E.; SILVA, M.C.A.M.;
GUIMARES, V.S. Evoluo da hidrometria no Brasil. Agencia Nacional de Energia Eltrica
(ANEEL), 2007. Disponvel em:
<http://www.mma.gov.br/port/srh/acervo/publica/doc/oestado/texto/121-138.html. Acesso em:
agosto de 2007.
JACCON, G.; CUDO, K.J. (1989). Curva-chave: anlise e traado, Braslia, DNAEE, 1989. 273p.
SANTOS, I.; FILL, H.D.; SUGAI, M.R.V.; BUBA, H.; KISHI, R.T.; MARONE, E.; LAUTERT,
L.F.C. Hidrometria Aplicada. Curitiba - Pr: Lactec, 2001. 372 p.
SIMPSON, M. R. Discharge Measurement Using a Broad-Band Acoustic Doppler Current.
United States Geological Survey USGS, Open-file: 2001, Report 01-1.
SONTEK. Acoustic Doppler Profiler. Technical Documentation: 2000.
125
AEXO
Cdigo: Estao: Rio:
Data N Medio Cota Mdia Vazo (m/s) rea (m) Largura (m) Prif. Md. (m) V. Md. (m/s)
Molinete: Hlice: Marca: Root/Toque: Aferido em:
Equao:
SM Cota Incio Fim Perodo s Tipo de Medio
Vau Barco Ponte
PI-NA NA-PF Incio
ME MD
Verticais Equipe
Vert. DISTNCIA LARGURA PROFUND. POS.MOL. TOQUE TEMPO VELOC. VEL.MDIA REA VAZO
LABORATRIO DE HIDROLOGIA MEDIO DE DESCARGA LQUIDA
126
10. GERAO DE VAZO O RIO
Masato Kobiyama
Pedro Chaffe
10.1 Zona ripria
10.1.1 Terminologia
A faixa de vegetao ao longo dos rios , sem dvida, uma das partes mais importantes dos
mananciais e deve ser protegida (ou recuperada) para a conservao do ambiente fluvial. Esta faixa
de vegetao ou rea recebe denominaes de zona ripria, mata ciliar, floresta de galeria, entre
outros, nas sociedades, ambas, comum e cientfica. Tomando como base a imprensa falada e escrita,
assim como atividades de educao ambiental, pode-se dizer que o termo mata ciliar mais
popular na sociedade brasileira.
Procurando apenas termos utilizados para este assunto (tal vegetao e tal rea), nota-se que
h diversidade dos termos. Esta diversidade implica, e resulta da complexidade deste assunto.
Entretanto, para fazer cincia, deve-se que uniformizar alguns termos tcnicos.
Em ingls, a floresta (vegetao) que ocupa o espao prximo ao rio se chama riparian
forest (vegetation). Segundo Gregory & Ashkenas (1990), o termo riparian (ripria) derivado do
latim, e significa banco de areia ou de terra depositada junto margem dos rios e/ou terra perto da
gua e simplesmente refere-se rea prxima ao corpo da gua.
A Tabela 10.1 apresenta diversos termos utilizados em idiomas como o ingls, portugus e
japons. Nota-se uma enorme diversidade da terminologia. Mesmo quando empregam termos
iguais, os autores definem de diferentes maneira, por exemplo, Gregory et al. (1991) e Georgia
Adopt-A-Stream (2002) para a zona ripria e Schiavini (1997) e Barbosa (1997) para a floresta de
galeria.
Alm disso, a terminologia possui uma regionalidade. Por exemplo, no Cerrado o termo de
mata (floresta) de galeria mais comum, e em plancie sulina usa-se mata de fecho ou de
anteparo (Mantovani, 1989). Mencionando diversos nomes, Barbosa (1996) comentou que os
termos mais utilizados pelos tcnicos e cientistas no Brasil so floresta ciliar e floresta de galeria.
Rodrigues (2000) fez outro comentrio. Segundo ele, o termo floresta (ou mata) ripria
mais comumente usado para floresta ocorrente ao longo do curso da gua em regies onde a floresta
cobre as vertentes (interflvios). Na legislao brasileira, o termo floresta (ou mata) ciliar vem
sendo utilizada de forma extremamente genrica. O mesmo autor definiu a formao ribeirinha e,
ainda, a classificou em trs categorias: formao ribeirinha com influncia fluvial permanente;
formao ribeirinha com influncia fluvial sazonal; e formao ribeirinha sem influncia fluvial.
127
Tabela 10.1. Termos empregados para zona ripria. (a)ingls; (b)portugus; e (c)japons.
(a)
Autor(es) Termo utilizado Definio
Dillaha et al. (1989) Faixa vegetal de filtragem
(vegetative filter strip)
rea de vegetao estabelecida para remover
sedimentos e outros poluentes a partir do
escoamento superficial atravs de filtragem,
deposio, infiltrao, adsoro, absoro,
decomposio, e volatilizao.
Gregory & Ashkenas
(1990)
rea ripria Ecossistema aqutico (EA) e pores do
ecossistema terrestre (ET) prximas ao EA,
que diretamente afetam ou so afetados pelo
EA. Inclui rios, lagos, banhados, plancie de
inundao, uma parte de vertente.
Gregory & Ashkenas
(1990)
Zona de manejo riprio rea especificamente estabelecida para
objetivos do manejo riprio. Est dentro da
rea ripria, mas no necessariamente inclui
toda parte da mesma.
Gregory et al. (1991) Zona ripria Interface entre ecossistemas terrestre e
aqutico. ectono. Estende-se
horizontalmente at o limite que a inundao
alcana, e verticalmente at o topo da copa da
vegetao. reconhecida como corredor para
movimento de animais dentro do sistema de
drenagem.
Bren (1993) Zona ripria rea de maior proximidade dos rios
Hupp & Osterkamp
(1996)
Zona ripria Uma parte da biosfera inundada e suportada
pela paisagem fluvial atual. Inclui barranco,
plancie de inundao
NRCS (1997)
Armazenamento florestal
ripariano (Riparian Forest
buffer)
rea de rvores e arbustos, localizada prxima
de rios, lagos, lagoas e banhados.
Bren (1997)
Armazenamento do rio (Stream
buffer)
rea adjacente ao rio, a partir da qual o
desamamento no permitido.
Bren (1998)
Faixa de armazenamento (Buffer
strip)
rea de terra ao longo do rio, protegida da
prtica de uso do solo na bacia hidrogrfica,
para proteger o rio dos impactos de montantes.
Georgia Adopt-A-
Stream (2002)
Zona ripria rea de vegetao (natural) em torno do corpo
de gua.
McKergow et al.
(2003)
rea ripria Terra bem prxima a rios, podendo
potencialmente minimizar impactos da
agricultura sobre os mesmos. Minimizar
impactos da agricultura sobre rios.
Webb & Erskine
(2003)
Zona ripria Conjunto de canal, barraco e plancie de
inundao.
128
(b)
Autor(es) Termo utilizado Definio
Salvador (1987) Floresta ripcola ou ciliar Vegetao arbrea das margens dos rios, que
desempenha funes ecolgicas e hidrolgicas
importantes em uma bacia hidrogrfica.
Mantovani (1989) Floresta ripria Formaes com particularidade florstica, em
funo das cheias peridicas, variveis em
intensidade, durao e freqncia e da flutuao
do lenol fretico.
Mantovani (1989) Floresta de condensao Floresta situada no fundo de vales, em condies
mesoclimticas que favorecem a condensao e
a permanncia de neblina nas primeiras horas do
dia, ao menos em algum perodo do ano.
Mantovani (1989) Mata aluvial Floresta que se situa sobre aluvies
Mantovani (1989) Floresta paludosa ou de vrzea Floresta que se situa em vrzeas
Rodrigues (1991) Floresta ripria Faixa de vegetao sob as interferncias diretas
da presena de gua em algum perodo do ano.
Rodrigues (1992) Mata ciliar Qualquer formao s margens de cursos da
gua, incluindo as matas riprias, de galeria e at
de brejo, quando se tem um curso da gua bem
definido.
Torres et al. (1992) Floresta de brejo Floresta sobre solos permanentemente
encharcados, com fluxo constante de gua
superficial.
Schiavini (1997) Floresta de galeria Florestas situadas nas faixas marginais dos
cursos da gua, formando uma galeria. Dessa
maneira, um caso especial da floresta ciliar.
Barbosa (1997) Floresta de galeria Formaes vegetais caractersticas de margens
de corpos da gua com espcies altamente
tolerantes e resistentes ao excesso da gua no
solo.
Brazo & Santos
(1997)
reas das formaes pioneiras com
influncia fluvial ou lacustre
(vegetao aluvial)
reas de acumulao dos cursos de gua, lagoas
e assemelhados, que constituem os termos
aluviais sujeitos ou no a inundaes peridicas.
Souza (1999) Vegetao ripria Toda e qualquer vegetao de margem, no
apenas a que est relacionada ao corpo da gua,
seja este natural ou criado pelo homem.
Rodrigues (2000) Formao ribeirinha Formao vegetal e fitogeogrfica em reas de
entorno de cursos de gua, definindo uma
condio ecotonal (ectono ciliar).
Dias (2001) reas de preservao permanente
ciliares
reas com qualquer formao s margens de
cursos da gua (ciliares), legalmente protegidas,
de acordo com o Cdigo Florestal.
Selles et al. (2001) Mata ciliar Faixa de mata na margem da gua.
Ohta & Takahashi
(1999)
Zona ripria Ecossistema aqutico, tais como rios e lagoas, e
ecossistema terrestre que influencia diretamente
os mesmos.
The Japan Society of
Erosion Control
Engineering (2000)
Zona ripria Zona prxima a rios, lagos, pntanos, etc. Esta
zona influencia fortemente a transferncia de
energia, nutrientes, sedimentos etc. entre os
ecossistemas terrestre e aqutico. Incluem
plancie, vertente, vegetao, e a estrutura
subterrnea onde a gua subterrnea se
movimenta.
The Japan Society of
Erosion Control
Engineering (2000)
Zona de armazenamento (buffer)
Zona que minimiza efeitos fsicos, qumicos e
biolgicos dos usos da terra sobre outros
ambientes vizinhos.
The Japan Society of
Erosion Control
Engineering (2000)
Zona de manejo riprio. Zona florestal protegida, em torno de rios e
lagoas, pela legislao.
129
NRCS (1997) classificou a rea mais detalhadamente com critrio de geomorfologia e uso
da terra (Figura 7.1). Nesta figura, a Zona 3 considerada como faixa de filtragem que
exclusivamente para reduzir a quantidade dos sedimentos e solutos (fertilidade e agrotxicos) que
vm da rea de cultivos e entram no rio.
Figura 10.1. Zoneamento da faixa de armazenamento (Fonte: NRCS, 1997).
No caso da proposta de Gregory & Ashkenas (1990), a zona de manejo riprio no coincide
com a ripria. Isso natural, pois para melhorar a condio da zona ripria, o manejo deve ser
efetuado no somente nela, mas tambm em seu redor (Figura 10.2). Nesta figura, a zona ripria
coincide com a plancie de inundao.
Figura 10.2. Zona de manejo riprio (Fonte: Gregory & Ashkenas, 1990)
Analisando os termos e suas respectivas definies, aqui se colocam alguns comentrios.
Comparando mata e floresta, observa-se que o termo mata mais utilizado para o aspecto geral
de vegetao e, literalmente, mais empregado que vegetao. Neste caso, floresta j implica
existncia de rvores de grande porte, e tambm d uma conotao mais cientfica do que mata.
Vegetao um termo geral que inclui no somente floresta, mas tambm arbustos e gramneas.
130
O termo ciliar originado de clios, significando ento, proteo. Neste sentido, floresta
utilizada para quebra-vento poderia ser mata ciliar tambm. Entretanto, ripria significa prximo ao
corpo de gua, e leva em considerao conceito de distncia e gua. Portanto, o termo ripria
mais correto do que ciliar para o presente assunto do livro.
Na literatura em ingls, encontram-se os termos filter (filtragem) e buffer (tampo e
armazenamento). Estes indicam mais a funo que floresta ripria possui. Os termos faixa e
rea do impresso de conceito de bi-dimenso horizontal. Nesse sentido, a zona ripria pode ser
tambm bidimensional.
De fato, precisa-se tratar o espao de forma tridimensional incluindo vegetao (rvore,
arbusto, ervas, gramneas, entre outros), solo e rio (corpo da gua). Com esse objetivo, que o
presente livro recomenda o uso do termo zona ripria, que trata o espao acima descrito.
Resumindo, a zona ripria definida como um espao tridimensional que contm vegetao, solo e
rio. Sua extenso horizontalmente at o alcance de inundao e verticalmente do regolito (abaixo)
at o topo da copa da floresta (acima). A determinao desta extenso horizontal e vertical
semelhante de Gregory et al. (1991). A plancie de inundao , geralmente, uma superfcie plana
e inundada, em mdia, uma vez por 1 a 3 anos (Hupp & Osterkamp, 1996). Na parte de baixo da
superfcie, o leito do rio, a zona ripria inclui a zona hyporheic que segundo Stanford & Ward
(1988), um espao importante para ecologia dos organismos aquticos no fundo do canal.
Takahashi & Ohta (1999) definiram a zona hyporheic como aquela onde gua fluvial entra
por baixo do leito do canal e a condio hidrulica da gua fica entre as das guas fluviais e
subterrneas (Figura 10.3). Neste sentido, a zona hyporheic tambm considerada com ectono,
onde a gua subterrnea flui entre os ecossistemas terrestre e aqutico. Segundo os mesmos autores,
a profundidade , normalmente, 20 a 60 cm, sendo difcil determinar este valor na prtica.
Figura 10.3. Conceito da zona hyporheic. (Fonte: Takahashi & Ohta, 1999). Observao: A
origem da gua no rio da gua subsuperfical de vertente (A), gua subsuperficial da zona
hyporheic (B), e gua subterrnea bem profunda (C). Normalmente a gua hyporheic recarrega
o rio, mas s vezes o rio recarrega a zona hyporheic (D).
Finalizando a discusso sobre a terminologia, a zona ripria deve ter melhor compreenso
em termos de espao fsico tridimensional (Kobiyama, 2003). Entretanto, neste caso, a zona ripria
implica apenas espao. Quando se precisa tratar o sistema, processos, mecanismos entre outros,
melhor usar o termo ecossistema riprio. Este ecossistema sistema aberto. Por isso, ele
131
considerado ectono entre ecossistemas terrestres e aquticos atravs da movimentao das guas
superficial e subterrnea (Figura 10.4).
Regolito
(Horizontes A e B Zona
Hyporheic
Seo transversal da zona ripria
Figura 10.4. Zona ripria (espao fsico do ecossistema riprio)
10.1.2 Tamanho da zona ripria
O interesse sobre zonas riprias tem aumentado consideravelmente. Esse interesse est
relacionado conservao dos recursos hdricos, isto , a manuteno das caractersticas naturais
dos corpos de gua. Em razo disso, muitos estudos foram realizados a fim de analisar a eficincia
e/ou dimensionar a largura de faixas vegetativas. Nota-se entre os estudos um consenso que a
estimativa da largura das faixas depende da funo que ela dever exercer. A aplicabilidade de uma
ou mais funes dessa vegetao depende do tipo de solo, topografia, uso do solo montante, tipo
de vegetao envolvida e morfologia do rio, entre outros.
Ento, surge a pergunta: Qual seria a largura de faixa ripria vegetativa suficiente? Essa
pergunta, do ponto de vista cientfico, no pode se respondida de maneira to fcil, em virtude da
complexidade dos ecossistemas e da prpria dinmica dos processos envolvidos, podendo-se citar:
infiltrao, escoamento superficial, eroso, deposio de sedimentos, etc.
O presente livro define a largura da faixa vegetativa de zona ripria como, a distncia
horizontal perpendicular ao rio, medida a partir da calha maior deste (Figura 10.5). Segundo o
Cdigo Florestal Brasileiro, esta calha delimitada pela maior cheia sazonal.
132
FAIXA VEGETATIVA FAIXA VEGETATIVA
ZONA RIPRIA
CALHA MAIOR
Figura 10.5. Definio de faixa vegetativa de zona ripria.
Analisando diversos trabalhos, Silva (2003) classificou as funes da zona ripria em nove
itens, descritos a seguir:
(i) Estabilizao de taludes e encostas
A vegetao ripria atua significativamente para a estabilizao de taludes e encostas. Nos
taludes, contribui para a formao junto ao solo de uma manta protetora contra a eroso causada
pela chuva e pelo escoamento superficial. Nas encostas, as razes das plantas contribuem para a
fixao do solo acima da camada de rocha.
(ii) Manuteno da morfologia do rio e proteo a inundaes
A vegetao garante a preservao dos meandros nos rios, diminuindo a velocidade do
escoamento e conseqentemente diminuindo a eroso, aumentando a infiltrao da gua no solo
durante as inundaes. Tambm por infiltrao diminui a quantidade de gua que chega ao rio.
Desta forma, a quantidade de gua transbordada menor (diminuio do pico de cheia) e, em
conseqncia disso, os danos causados tambm so menores.
(iii) Reteno de sedimentos e nutrientes
Funcionando como um filtro, a vegetao retm os sedimentos e nutrientes provenientes de
alteraes montante (atividades agrcolas, desmatamentos, etc). Diminui a velocidade do
escoamento superficial e favorece a infiltrao dos nutrientes para degradao pelo solo. Desta
forma, a vegetao ripria contribui para a manuteno da qualidade do rio.
(iv) Mitigao da temperatura da gua e do solo
A interceptao dos raios solares produz sombras sobre o rio, regulando a temperatura e a
umidade do ar. No rio a reduo da temperatura mxima favorece a oxigenao e reduz o stress de
peixes e outras espcies aquticas. No solo diminui a temperatura na superfcie favorecendo a
conservao da umidade.
(v) Fornecimento de alimento e habitat para criaturas aquticas
A vegetao ripria contribui para o rio com escombros lenhosos (restos de galhos, troncos), folhas e
insetos. Estes escombros podem formar escada piscina (steppool) providenciando cobertura para peixes.
(vi) Manuteno de corredores ecolgicos
Faixas contnuas de zona ripria favorecem a formao de corredores ecolgicos. atravs dos
corredores que as mais variadas espcies se inter-relacionam atravs das diferentes paisagens. Preservando as
espcies que dificilmente so encontradas fora da zona ripria.
(vii) Paisagem e recreao
Zonas riprias contribuem para uma imagem mais verde ao longo dos rios, bloqueando a vista de
transformaes urbanas. Como locais de recreao permitem a prtica de camping e trilhas.
133
(viii) Fixao do gs carbnico
Como toda floresta, as florestas riprias contribuem para a fixao de gs carbnico. O gs se integra
biomassa da floresta e esta por sua vez libera oxignio. Esse gs um dos grandes responsveis pelo efeito
estufa.
(ix) Interceptao de escombros rochosos
A vegetao ripria, mais precisamente as rvores, pode funcionar como barreiras contra sedimentos
(pedras) vindos de montante. Esses sedimentos podem vir acompanhados de gua (debris flow) ou sem gua
(dry debris flow).
A Figura 10.6 mostra uma relao das larguras recomendadas para as faixas riprias de acordo com
as funes que elas desempenham. Essas larguras so apresentadas em CRJC (2003).
Estabilidade de taludes ( 10 a 15m) Estabilidade de taludes ( 10 a 15m)
Habitat de peixes ( 15 a 30m) Habitat de peixes ( 15 a 30m)
Remoo de nutrientes ( + 30m) Remoo de nutrientes ( + 30m)
Controle de sedimentos ( 30 a 45m) Controle de sedimentos ( 30 a 45m)
Controle de enchentes (+ 60m) Controle de enchentes (+ 60m)
Habitat vida silvestre ( + 90m) Habitat vida silvestre ( + 90m)
Atividade humana
Rio
15 30 45 60 75 90
m
Figura10.6. Larguras ideais para as funes da zona ripria. (Adaptao de CRJC, 2003).
A Figura 10.7 mostra uma combinao entre as faixas recomendadas pela CRJC (2003) e os
resultados obtidos por Silva (2003)
A grande variao das faixas para um mesmo objetivo (diferena entre a largura mnima e
mxima) funo das diferentes metodologias empregadas e todos os outros parmetros envolvidos
na determinao, como: tipo de solo, tipo de vegetao, declividade, vazo do efluente etc.
Estabilidade de taludes (10 a 15m)
20 60
Alimento e habitat aqutico (50m) Remoo de nutrientes (3,8 a 280m)
Agrotxicos (20m)
Sedimentos (9 a 52m)
Temperatura no rio (12m) Controle de enchentes (+ 60m)
Habitat vida silvestre (30 a 175m)
170 100 250 210
Variao entre largura mnima e mxima
Atividade humana
Rio
Figura 10.7. Faixas estimadas pelos estudos pesquisados.
134
As funes de estabilidade de taludes e de controle de enchentes no foram relacionadas
largura da faixa ripria nos trabalhos levantados. Desta forma, foram utilizadas as larguras
recomendadas pela CRJC (2003). Tambm, no foram encontrados trabalhos que fizessem a mesma
relao para a funo de interceptao de sedimentos (escombros lenhosos).
10.1.3 Processos geobiohidrolgicos na da zona ripria
Na hidrologia, especialmente hidrologia de encosta (Kirkby, 1978) e hidrologia fsica
(Hornberger et al., 1998; Beven, 2001), trata-se de conceito de rea varivel de fonte (variable
source area) que foi proposto por Hewlett (1961a e 1961b). Essa rea no necessariamente coincide
com a zona ripria, mas possui um conceito semelhante mesma. A Figura 10.9 mostra ocorrncia
da rea varivel de fonte com vrios tempos em um hidrograma. No momento do pico do
hidrograma, essa rea corresponde a rea mxima da zona ripria se o hidrograma correspondesse
ao evento de chuva intensa que ocorre uma vez por 1 a 3 anos.
Figura 10.9. rea varivel de fonte (Fonte: Hewlett, 1982)
Embora no tenha utilizado o termo rea varivel de fonte, Tsukamoto (1961) demonstrou esse
conceito, com medio intensiva em uma bacia pequena no Japo. Takasao (1963) tambm apresentou esse
conceito atravs da modelagem numrica com teoria de onda cinemtica. Alm disso, Betson (1964) notou
esse conceito com anlise dos dados de processo chuva-vazo, propondo outro termo rea parcial de fonte
(partial source area). Assim, atravs da reviso bibliogrfica em relao rea varivel, nota-se que nos
EUA e no Japo diversos pesquisadores descobriram individualmente o mesmo conceito de diferentes
maneiras. Isto historicamente interessante. Descrio mais detalhada sobre esse conceito encontra-se em
Chorley (1978) e Mendiondo & Tucci (1997).
O conceito de rea varivel de fonte explica a dinmica hdrica da gua em entorno da rede fluvial.
Entretanto, ele no explica a dinamismo geomorfolgico nesta rea. Estendendo a classificao de
hierarquizao da rede fluvial de Strahler (1952), Tsukamoto (1973) introduziu o novo conceito ordem
zero. Este local de ordem zero onde ocorre eroso superficial e subsuperficial, conseqentemente sendo a
fonte de sedimento em bacia hidrogrfica. Os aspectos hidrogeomorfolgicos em ordem zero foram
discutidos com medio em campo, por Tsukamoto & Minematsu (1987).
A zona ripria sofre uma drstica evoluo geomorfolgica. Essa evoluo ocorre freqentemente na
nascente (ou ordem zero). Schumm (1994) mostrou essa evoluo (Figura 10.10). A evoluo
geomorfolgica foi demonstrada por Cohen & Brierly (2000) atravs da observao de um rio na Austrlia
135
que apresentou trs fases na evoluo: (1) inciso do canal; (2) retificao e alargamento; (3) ajustamento
lateral.
Segundo Gregory et al. (1991) e Hupp & Osterkamp (1996), a vegetao ripria ocupa uma das reas
mais dinmicas da paisagem. A distribuio e a composio das comunidades de plantas riprias refletem a
histria da inundao. Inundaes freqentes dificultam o estabelecimento da vegetao pela eroso
superficial e tambm pelos efeitos fisiolgicos da inundao. A magnitude, a freqncia e a durao de
inundao diminuem lateralmente para fora do curso ativo da gua, influenciando a distribuio de espcies.
Desta forma, na rea prxima ao rio, a vegetao mais jovem e baixa. Mesmo na rea de inundao, se for
longe do curso da gua, normalmente a vegetao mais antiga e alta. Ainda, Seddel et al. (1990)
comentaram que as variaes das caractersticas hidrolgicas, enchentes e secas, condicionam o
desenvolvimento de espcies animais e vegetais na zona ripria e altera o habitat dos peixes. Alm de
magnitude, freqncia e durao de inundao, sedimentos depositados tambm influenciam a distribuio
de espcies (Melick & Ashton, 1991).
A vegetao ripria exerce uma influncia significativa sobre geomorfologia fluvial por afetar a
resistncia ao fluxo, a resistncia mecnica do solo em barranco, o armazenamento de sedimento, a
estabilidade de leito e a morfologia do canal (Hickin, 1984), e importante para funo de ecossistema
aqutico (Gregory et al., 1991). Nos canais, a floresta ripria produz escombros lenhosos que influenciam
processos fluviais (Keller & Swanson, 1979; Nakamura & Swanson, 1993). Segundo Brooks & Brierly
(1997), existe uma comprovao que vegetao na zona ripria modifica a eficincia geomorfolgica dos
eventos de inundao.
Assim, a vegetao ripria e o ambiente fluvial so bem relacionados. Essa relao foi
detalhadamente revisada por Malanson (1993) que enfatizou a ecologia de paisagem.
Segundo Vannote et al. (1980) que propuseram o conceito de contnuo fluvial (River
Continuum Concept), a influncia da zona ripria maior na parte montante da bacia onde os cursos da gua
so caracterizados por ter pequena largura, alta velocidade, pouca vazo, pouca profundidade, entre outros.
Ela relativamente diminui mais para jusante. Com base nesses aspectos, Kobiyama et al. (1998a) concluram
que a influncia biolgica na hidrologia mais acentuada quanto menor tamanho da bacia.
136
Figura 10.10. Evoluo da seo do canal (Fonte: Schumm, 1994)
Considerando os fenmenos acima mencionados, observam-se os processos
geomorfolgicos, biolgicos e hidrolgicos e tambm as interaes entre eles na zona ripria. Este
tipo de assunto deve ser pesquisado pela geobiohidrologia proposta por Kobiyama et al. (1998a).
Esses autores mencionaram que o estudo da zona ripria seria um desafio dessa cincia, pois nessa
zona os processos geobiohidrolgicos so mais intensos e mais complexos. A Figura 10.11 ilustra a
esquematizao dos processos geobiohidrolgicos no ecossistema riprio.
Na zona ripria, por natureza, ocorre fenmenos naturais tais como enxurrada, deslizamento,
eroso do solo, eroso fluvial, e inundao. E muitas vezes eles prejudicam a sociedade, tornando-
se os desastres naturais. Ento, esses desastres naturais que a zona ripria enfrenta podem ser
chamados como desastres geobiohidrolgicos.
Durante o evento de chuva intensa, ocorre deslizamento e a massa (solo, rocha e vegetao)
movimentada atinge o rio e enterra seu leito. Isso funciona como barragem e causa a inundao no
local (Figura 10.12). Nesse caso a barragem se destri, por causa da alta presso hdrica ou
137
instabilidade da prpria massa, ocorre enxurrada ou fluxo de lama que destri ainda mais a parte a
jusante. A Figura 10.13 apresenta o fluxograma desses desastres.
PROCESSOS BIOLGICOS
Fotossntese
Transpirao
Desenvolvimento radicular
Aumento do ndice de rea foliar
Escombros lenhosos
PROCESSOS GEOMORFOLGICOS
Estrutura fluvial (soleira depresso)
Vertente
Rede fluvial
Declividade
Plancie de inundao
Dique marginal
PROCESSOS HIDROLGICOS
Ciclo hidrolgico
Chuva
Seca
Infiltrao
Escoamento superficial
Escoamento subterrneo
Velocidade da vazo
Profundidade da vazo
PROCESSOS
GEOBIOHIDROLGICOS
Determinao da estrutura
da vegetao ripria
Morfologia fluvial
Regime hdrico
Intemperismo
Eroso superficial
Inundao
Deslizamento
Enxurrada
Inundao
Crescimento vegetal
Qualidade de gua
Intemperismo
Crescimento vegetal
Deslizamento
Enxurrada
ECOSSISTEMA RIPRIO
Figura 10.11. Processos geobiohidrolgicos no ecossistema riprio.
Figura 10.12. Deslizamento e seu conseqente efeito (inundao) no local.
138
Deslizamento
em vertente
(Massa
+ Escombros lenhosos)
Deposio da massa
no leito
Construo de
barragem
Manuteno
Inundao
Destruio
Enxurrada
Fluxo de lama
Figura 10.13. Fluxograma de ocorrncia de desastres devido a deslizamento em vertente prxima
ao rio.
Alm disso, sedimentos gerados pelo movimento de massa e extensas voorocas podem
alterar as caractersticas do canal localmente e extensivamente, com efeitos que incluem
alargamento do canal, reduo do tamanho de sedimento no leito, aumento de turbidez (Harvey,
1991; Madej & Ozaki, 1996).
Na ilustrao onde Cohen & Brierley (2000) mostraram a evoluo do canal, encontram-se o
deslizamento em talude e sua conseqncia devido a presena de escombros lenhosos (Woody
debris) em canal (Figura 10.14). The Japan Society of Erosion Control Engineering (2000) definiu
tamanho de escombros lenhosos grandes como os de dimetro > 10 cm e comprimento > 3 m. A
presena desses escombros constri depresso (pool) no canal, que importante para o habitat de
peixes.
Figura 10.14. Deslizamento e escombros lenhosos em canal (Modificao de Cohen & Brierley
(2000))
Deslizamentos e enxurrada podem escavar canais, destruindo a vegetao ripria e expondo
a rocha no leito do canal (Benda, 1990; Cenderelli & Kite, 1990)
Hupp & Osterkamp (1996) acreditam que, na maioria das situaes, o gradiente do canal o
fator que mais afeta morfologia fluvial. A vegetao florestal pode afetar intensamente as taxas de
eroso e deposio. A relao entre vegetao e processos fluviais varia entre condies climticas
e geomorfolgicas.
Gomi et al. (2003) analisaram 16 cabeceiras de rio na regio do Alaska e demonstraram a
tendncia de forma do leito do rio, em diferentes locais em uma bacia e tambm a distribuio
139
morfolgica entre bacias caracterizadas por diferentes processos geomorfolgicos (Figura 10.15). A
mudana de tipo de morfologia do leito j foi notada por Montgomery & Buffington (1997).
Figura 10.15. Perfil longitudinal de distribuio de trechos de diferentes tipos. (Modificao de
Gomi et al., 2003)
Ohmori & Shimazu (1994) classificaram o risco natural ao longo do rio em trs tipos:
enxurrada (debris flow), escoamento de lama (turbidity flow) e inundao. A enxurrada um fluxo
de alta densidade que contm inmeros blocos (>256 mm). O escoamento de lama torrente que
possui mais carga tradicional de seixo (4 26 mm) e pedra (64 256 mm). A inundao o
escoamento superficial e deposio de lama sem cascalho. D um prejuzo com ampla rea. Esses
trs tipos possuem diferentes processos de transporte de sedimentos que o gradiente do leito
influencia. Os mesmos autores analisaram rios de diversos tamanhos no Japo e concluram que, o
gradiente do leito que separa a enxurrada e o escoamento de lama de 80/1000, e que o gradiente
do leito que separa escoamento de lama e inundao de 1/1000.
Na regio das cabeceiras dos rios, ou seja, torrentes, o transporte de sedimentos
caracterizado pela descontinuidade temporal de produo de sedimento (perda de solo) e de vazo,
tambm pelo conseqente desequilibro da potencial de transporte de sedimento. Em outras palavras,
mesmo que ocorra eroso superficial (perda de solo) e deslizamento em grande parte da bacia, os
canais com ordens menores (1 a 2 ordens) no conseguem transportar esses sedimentos que,
conseqentemente, ficam depositados nos seus leitos. Embora ocorra eroso nas margens do rio, a
quantidade de solo erosivo pequena para transportar a maior parte desses sedimentos depositados,
necessitando eventos episdicos de chuva para gerar um fluxo tipo de enxurrada. Ento, este tipo de
enxurrada catastrfica ocorre uma vez por 10 a 100 anos, que escava e retira este tipo de material
instvel do leito e o expem a superfcie rochosa no leito. Assim, a morfologia fluvial vem sendo
desenvolvida pela alterao contnua (repetitiva) no nvel do leito (elevao deposio e
rebaixamento eroso fluvial). Os organismos (fauna e flora) so controlados por ambos estrutura
geomorfolgica e freqncia da alterao geomorfolgica, mantendo seus habitats.
140
Ento, quanto mais prximo fonte de sedimento, ou seja, cabeceira do rio, os sedimentos
vm sendo transportados eventualmente, e quando transportado, a quantidade do sedimento
elevada. Pelo contrrio, quanto mais a jusante, a quantidade de sedimento transportado menor,
mas mantm-se constante. Maita et al. (1994) ilustraram este conceito (Figura 10.16).
Figura 10.16. Conceito de transporte de sedimentos de montante para jusante. (Fonte: Maita et al.,
1994).
Na preveno de desastres naturais h duas categorias: as medidas estruturais e as no
estruturais. Normalmente as primeiras so mais onerosas do que as ltimas. Entre as medidas
estruturais est a preservao, a manuteno e a recuperao da zona ripria. Esta medida estrutural,
alm de ser economicamente mais vivel, ambientalmente mais correta e contribui para o
desenvolvimento sustentvel.
A estrutura mais adequada da zona ripria para preveno de desastres naturais depende do
tipo de desastre a ser minimizado. Como mencionado anteriormente, o tipo de desastre natural
depende do local na bacia. A Figura 10.17 apresenta um esquema do tipo de desastre, por local na
bacia e a respectiva estrutura mais adequada para a vegetao ripria.
Na realidade, o sistema fluvial possui sua hierarquizao em relao ao tamanho. Segundo
Frissell et al (1986), encontram-se diversos tamanhos (hierarquia) que so bacia (>10
3
m), segmento
(ordem) do canal (10
2
m), trecho (reach) do canal (10
1
m), unidade do canal (por exemplo, estrutura
soleira (riffle) depresso (pool)) (10
0
m), espao para pequenos organismos (10
-1
m). O tipo de
fenmeno depende da escala. As escalas que necessitam mais estabilidade da estrutura para
preveno de desastres devem ser a bacia e o segmento do canal.
A vegetao ripria como medida estrutural pode atuar como: (1) fixao de vertente
(encostas), (2) interceptao no decaimento de rochas montante em vertentes, (3) armazenamento
(filtragem) do sedimento, e (4) reduo de eroso marginal do rio.
141
Montante
Jusante
Cabeceira
Plancie
Tipos de desastres
Enxurrada com bloco
Deslizamento
Enxurrada com pedras
Fluxo de lama
Inundao
Tipos de vegetao
rvores altas
rvores com sistema radicular
forte e profundo
Arbustos e grama
Grama
rvores altas e arbustos
Figura 10.17. Relao entre tipo de desastre por local da bacia e vegetao a ser utilizada.
Para vegetao ripria atuar como estabilizadora de taludes recomendvel o estudo do perfil do
solo. Nesta funo a vegetao alm de desempenhar um importante papel, pode contribuir com a
aparncia do local. Tsukamoto & Kusakabe (1984) definiram quatro tipos de efeitos das razes na
estabilizao de encostas (Figura 10.18). Analisando a mesma funo Montgomery & Dietrich (1994)
constataram em seu estudo que no escoamento superficial sobre vegetao rasteira (grama) h transporte
de sedimento apenas quando o escoamento superficial desenvolve fora trativa suficiente para vencer a
resistncia da vegetao que cobre o solo. Da mesma forma Masterman & Thorne (1994) estudaram a
resistncia ao escoamento de taludes vegetativos. O mtodo desenvolvido possibilitou o estudo da
influncia de taludes vegetativos na morfologia do canal. Predies do modelo puderam ilustrar que a
vegetao pode proteger o talude de escoamentos potencialmente erosivos. Esta proteo adicional
quela proporcionada pelas razes. Sugerem ainda que combinaes de vegetaes flexveis, no-
flexveis e emergentes so mais eficientes na proteo dos taludes do que qualquer uma delas sozinha.
Nesta mesma linha de sistemas combinados, Gillespie et al. (1995) analisaram a influncia da vegetao
rasteira no crescimento e sobrevivncia de rvores maiores. Concluram que as vegetaes junto ao solo
no interferem nas rvores maiores e recomendam o uso de sistemas combinados para uma melhor
eficincia em reteno de sedimentos.
A. Camada de solo relativamente
fina, completamente reforado
com razes, camada de rocha no
penetrada pelas razes.
Superficial plano de quebra
ocorre na interface da rocha.
B. Similar ao tipo A, exceto que a
camada de rocha apresenta
descontinuidades, permitindo a
entrada das razes que atuam
desta forma com pilares.
Alto.
C. A camada de solo possui uma
camada de transio com maior
densidade. As razes penetram
nesta camada.
Substancial.
D. Grossa camada de solo abaixo
da zona de razes. As rvores
flutuam nesta camada.
Pequeno.
Descrio Tipo de encosta
Efeito das razes
solo
rocha
Camada
de
transio
Figura 10.18. Efeitos das razes na estabilizao de encostas. (Adaptao de Tsukamoto &
Kusakabe, 1984).
142
A vegetao ripria quando atua como barreira para interceptar rochas na presena de gua
foi estudada por Mizuyama et al (1989). Os mesmos autores analisaram a resistncia de rvores a
um fluxo de sedimento em um modelo reduzido, usando areia para representar os sedimentos. Os
resultados mostraram que o coeficiente de rugosidade aumenta e a sedimentao bastante notada
quando a percentagem de rea ocupada por rvores torna-se maior. A sedimentao (interceptao)
foi mxima quando a razo entre a distncia entre as rvores e o dimetro das mesmas foi mnimo.
Quando este fenmeno ocorre sem a presena de gua denominado fluxo de escombros (debris
flow), mas a funo das rvores da zona ripria continua sendo a mesma, o de interceptao dos
escombros.
Fry et al. (1994) citando Debano & Schmidt (1989) relatam que zonas riprias providenciam
um controle natural das cheias. rvores e pequenas espcies vegetativas promovem a estabilizao
de taludes, os quais permitem ao rio a manuteno dos meandros e da profundidade. A formao de
meandros a forma mais efetiva na diminuio da velocidade das cheias do que a retificao de
canais. Reduzir as velocidades do escoamento permite garantir mais tempo para que as guas das
cheias sejam absorvidas pela vegetao ou pelo prprio leito do rio. A absoro de gua pelo leito
do rio tambm importante para manuteno da gua subterrnea. Na mesma funo, mas
simulando sedimentos menores Darby (1999) constatou que vegetaes no flexveis oferecem
maior rugosidade do que as flexveis. O modelo utilizado por ele fornece orientaes para
renaturalizao de rios e dimensionamento de canais para controle de cheias envolvendo vegetao
ripria.
10.2 Processo geral
Hidrologia definida como a cincia que trata das guas da terra, sua ocorrncia,
circulao, distribuio, suas propriedades fsicas e qumicas e suas reaes com o meio
ambiente, incluindo sua relao com os seres vivos (CHOW, 1964). Devido abrangncia dessa
definio, com o tempo houve muitas ramificaes da hidrologia, meteorologia estuda a gua na
atmosfera e oceanografia a gua no mar por exemplo. A hidrologia de hoje acabou se concentrando
no estudo da gua sobre os continentes e o estudo sobre os mecanismos de gerao de vazo tm
sido considerado um dos assuntos principais da hidrologia como cincia.
A vazo em uma bacia hidrogrfica normalmente expressa pelo hidrograma e ele o
resultado do comportamento hidrolgico da mesma. Os componentes do hidrograma so
classificados por KAYANE (1980), da seguinte forma:
escoamento superficial (overland flow)
Escoamento direto
Escoamento escoamento subsuperficial (interflow)
Escoamento de base (escoamento da gua subterrnea)
Os primeiros estudos sobre a gerao de vazo na forma de escoamento superficial foram
feitos pelo engenheiro e cientista Robert E. Horton e apresentados em meados da dcada 1930.
Aps a dcada de 1960, hidrlogos florestais e gegrafos, principalmente, continuaram o trabalho
de medio em campo e descobriram vrios mecanismos de movimento de gua em bacias
hidrogrficas. Nos ltimos 40 anos foram publicados alguns livros sobre o assunto baseados nos
143
novos conceitos de gerao de vazo (KIRKBY, 1978; DUNNE & LEOPOLD, 1978;
TSUKAMOTO, 1992)
HORTON (1931, 1933) apresentou um tipo de escoamento superficial (Hortonian overland
flow) que ocorre quando a intensidade da chuva fica maior do que a capacidade de infiltrao do
solo superficial. A idia principal era que o hidrograma de cheia era composto pela gua que no
infiltrava e escoava superficialmente pela bacia, como em uma camada homognea (Figura
10.19(a)). Este conceito influenciou definitivamente a anlise de escoamento, dando um significado
fsico ao conceito de hidrograma unitrio proposto por SHERMAN (1932). Por isso, os trabalhos de
Horton so considerados como o inicio da hidrologia moderna. Entretanto, a hiptese de que a
capacidade de infiltrao superada de maneira uniforme em toda a bacia considerada atualmente
um caso especial que ocorre em situaes extremas, como por exemplo, em reas ridas e de solo
compactado.
Devido dificuldade de observao do escoamento do tipo Hortoniano, BETSON (1964)
concluiu que uma bacia hidrogrfica inteira no contribui para o escoamento direto e sim somente
uma parte da bacia onde a capacidade de infiltrao excedida (Figura 10.19(b)). Esta parte
contribuinte pode ser expressa em funo da profundidade do solo, precipitao total, umidade
inicial e intensidade de chuva. O conceito de BETSON (1964) denomina-se de rea parcial de
influncia (partial source area). HEWLETT (1961a, 1961b) apresentou o conceito de rea varivel
de influncia (variable source area), tambm complementando o conceito de escoamento
superficial de Horton.
Atravs da observao em campo, DUNNE e BLACK (1970a, 1970b) apresentaram outro
tipo de escoamento superficial, ou seja, escoamento superficial saturado. Esse escoamento ocorre
devido chuva que cai no solo saturado. Eles concluram que o throughflow saturado no
contribuiu para o escoamento direto por causa de sua velocidade lenta. A concluso foi sustentada
pela simulao numrica de FREEZE (1972a, 1972b). Entretanto, HEWLETT e HIBBERT (1967)
prestaram mais ateno sobre contribuio do throughflow do que o escoamento superficial,
insistindo no fluxo de pisto.
As crticas negativas contra o escoamento superficial de Horton e Dunne foram contestadas
por vrias observaes em campo (MOSLEY, 1979; YASUHARA, 1984; OHTA et al., 1983)
mostrando que nem o tipo de Horton e nem o de Dunne ocorreram numa microbacia hidrogrfica e
que o papel do throughflow foi importante para o escoamento direto.
De qualquer maneira, todos os trabalhos sustentaram o conceito de rea varivel de
influncia, complementando o conceito de HORTON (1931, 1933). Segundo HINO (1989), a rea
de influncia (source area) classificada em trs tipos: rea parcial, rea varivel com escoamento
superficial e rea varivel com escoamento subsuperficial.
No aspecto do escoamento direto necessrio prestar ateno sobre a separao do
escoamento para vrios componentes. Como DUNNE (1978) apontou, os mecanismos de
escoamento direto entre microbacia e bacia hidrogrfica so diferentes e a maioria dos estudos
sobre os processos de escoamento foram limitados para as microbacias. Portanto, nos estudos do
mecanismo de escoamento sempre h necessidade de considerar o tamanho do objeto do estudo, ou
seja, a bacia hidrogrfica.
144
Figura 10.19. Tipos de escoamento possveis em uma bacia hidrogrfica.(BEVEN 2001)
145
10.3 Cdigo Florestal e sua aplicao
Um sistema riprio saudvel auxilia na filtragem de sedimentos, na estabilizao de taludes,
no armazenamento e eliminao de gua na bacia e na recarga de aqferos. Alm desses fatores,
influencia as reas adjacentes, benfica para a manuteno da fauna local, auxilia no controle da
eroso, na qualidade da gua e retarda os eventos de cheias, entre outros.
A Figura 10.20 mostra um exemplo de uma bacia preservada, localizada na zona rural do
municpio de Rio Negrinho/SC, onde se observa que a rea de entorno dos cursos da gua apresenta
uma zona ripria bem conservada. A vegetao ripria presente nessa rea est exercendo seu papel
de protetora dos cursos da gua, promovendo o retardo, a absoro, bem como a filtragem do
escoamento subsuperficial e superficial.
Visando garantir a qualidade e quantidade de gua dos corpos hdricos, o Cdigo Florestal
Brasileiro, Lei 4.771 de 15/09/65 e suas alteraes no ano de 1989, consideram de preservao
permanente, as florestas e demais formas de vegetao natural situadas:
a) Ao longo dos rios ou cursos dgua, desde o seu nvel mais alto em faixa marginal, cuja
largura mnima seja de: 30 m para rios com largura menor que 10 m; 50 m para rios com largura
entre 10 a 50 m; 100 m para rios com 100 a 200 m; maior que 200 m a faixa de vegetao deve ser
igual largura do rio, inclusive no permetro urbano.
b) Ao redor das lagoas, lagos ou reservatrios dgua naturais ou artificiais.
c) Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos dgua, qualquer que seja a
sua situao topogrfica, num raio mnimo de 50 m de largura (redao dada pela Lei n. 7.803 de
18/07/1989).
146
Figura 10.20. Exemplo de bacia hidrogrfica com zona ripria preservada.
A resoluo do CONAMA n 302 de 20 de maro de 2002 dispe sobre os parmetros,
definies e limites das reas de Preservao Permanente de reservatrios artificiais e o regime de
uso de entorno.
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2 da Lei n 4.771, de 1965, no que
concerne s reas de Preservao Permanente no entorno dos reservatrios artificiais, a resoluo,
no seu Art. 2, adotada as seguintes definies: a) reservatrio artificial: acumulao no natural de
gua destinada a quaisquer de seus mltiplos usos; b) rea de Preservao Permanente: a rea
marginal ao redor do reservatrio artificial e suas ilhas, com a funo ambiental de preservar os
recursos hdricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a biodiversidade, o fluxo gnico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populaes humanas; c) nvel mximo normal: a
cota mxima normal de operao do reservatrio. Com relao s reas no entorno dos reservatrios
artificiais, o Art. 3 apresenta as seguintes definies:
Art. 3 - Constitui rea de Preservao Permanente a rea com largura
mnima, em projeo horizontal, no entorno dos reservatrios artificiais, medida a
partir do nvel mximo normal de:
I - trinta metros para os reservatrios artificiais situados em reas urbanas
consolidadas e cem metros para reas rurais;
II - quinze metros, no mnimo, para os reservatrios artificiais de gerao
de energia eltrica com at dez hectares, sem prejuzo da compensao ambiental.
III - quinze metros, no mnimo, para reservatrios artificiais no utilizados
em abastecimento pblico ou gerao de energia eltrica, com at vinte hectares de
superfcie e localizados em rea rural.
1 Os limites da rea de Preservao Permanente, previstos no inciso I,
podero ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mnimo de trinta
metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos
hdricos da bacia onde o reservatrio se insere se houver.
2 Os limites da rea de Preservao Permanente, previstos no inciso II,
somente podero ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento
ambiental, e, quando houver, de acordo com o plano de recursos hdricos da bacia
onde o reservatrio se insere.
3 A reduo do limite da rea de Preservao Permanente, prevista no
1 deste artigo no se aplica s reas de ocorrncia original da floresta ombrfila
densa - poro amaznica, inclusive os cerrades e aos reservatrios artificiais
utilizados para fins de abastecimento pblico.
4 A ampliao ou reduo do limite das reas de Preservao
Permanente, a que se refere o 1, dever ser estabelecida considerando, no
mnimo, os seguintes critrios:
I - caractersticas ambientais da bacia hidrogrfica;
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia
hidrogrfica;
III - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecolgica da rea no bioma presente dentro da bacia
hidrogrfica em que est inserido, notadamente a existncia de espcie ameaada
de extino e a importncia da rea como corredor de biodiversidade;
V - finalidade do uso da gua;
VI - uso e ocupao do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantao do reservatrio e no
entorno da rea de Preservao Permanente at a faixa de cem metros.
Na Figura 10.21, possvel observar que existem reas no entorno da represa de Volta Grande, no
municpio de Rio Negrinho/SC, que esto desprotegidas de vegetao ciliar, sendo utilizadas para agricultura
147
e pastagem, sem aplicao de prticas conservacionistas. Isso implica na maior susceptibilidade dessas reas
aos processos de eroso causados pelo escoamento superficial. O impacto negativo desse cenrio o
transporte de sedimentos, poluentes agroqumicos e dejetos de animais, causando o assoreamento e a
poluio da represa.
Desta forma, fica evidente a necessidade de preservar os mananciais dessa regio, sejam eles naturais
e artificiais, visando a melhoria da qualidade e quantidade de gua para diversos usos. Assim, trabalhos esto
sendo desenvolvidos pelo Grupo de Estudos de Bacias Hidrogrficas (LABHIDRO/UFSC) juntamente com a
Companhia Volta Grande de Papel com objetivo de levantar os problemas existentes nessa regio e propor
possveis solues para melhoria da qualidade e quantidade da gua para a populao que utiliza a represa
para os mais diversos fins.
Figura 10.21. Uso do solo na regio da represa de Volta Grande no municpio de Rio Negrinho/SC.
148
Referncias bibliogrficas
Barbosa, L.M. Ecological significance of gallary forests, including biodiversity. In: International
Symposium on Assessment and Monitoring of Forests in Tropical Dry Regions with Special
referencew to Gallery Forests (1996: Braslia) Braslia: UNB, Proceedings, 1997. p.157-181.
Benda, L.E. The influence of debris flows on channels and valley floors in the Oregon Coast Range, USA.
Earth Surf. Processes Landforms, Chichester, v.15, p.457-466, 1990.
BETSON, R.P. What is watershed runoff? J. Geophys. Res., Washington, v.69, p.1541-1552, 1964.
Beven, K.J. Rainfall-Runoff Modelling: The primer. Chichester: John-Wiley & Sons, 2000. 360p.
Brazo, J.E.M.; Santos, M.M. Vegetao. In: IBGE Recursos aturais e Meio Ambiente: uma viso do
Brasil. 2ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1997. p.111-124.
Bren, L.J. Riparian zone, stream, and floodplain issues: a review. J. Hydrology, Amsterdam, v.150, p.277-
299, 1993.
Bren, L.J. Effects of increasing riparian buffer widths on timber resource availability: A case study.
Australian Forestry, v.60, p.260-269, 1997.
Bren, L.J. The geometry of a constant buffer-loading design method for humid watersheds. Forest Ecology
and Management, Amsterdam, v.110, p.113-125, 1998.
Brooks, A.P.; Brierley, G.J. Geomorphic responses of lower Bega River to catchment disturbance, 1851-
1926. Geomorphology, Amsterdam, v.18, p.291-304, 1997.
Cenderelli, D.A.; Kite, J.S. Geomorphic effects of large debris flows on channel morphology at North Fork
Mountain, Eastern West Virginia, USA. Earth Surf. Processes Landforms, Chichester, v.23, p.1-19, 1998.
Chorley, R.J. The hillslope hydrological cycle. In: Kirkby, M.J. (ed.) Hillslope Hydrology. Chichester: John-
Wiley & Sons, 1978. p.1-42.
CHOW, V.T. Hydrology and its development. In: CHOW, V.T. (ed.) Handbook of applied hydrology.
New York: McGraw Hill, 1964. p.1-21.
Cohen, T.J.; Brierley, G.J. Channel instability in a forested catchment: a case study from Jones Creek, East
Gippsland, Australia. Geomorphology, Amsterdam, v.32, p.109-128, 2000.
CRJC - Connecticut River Joint Commissions. River Banks and Buffers. Introduction to Riparian
Buffers. Disponvel em: http://www.crjc.org/riparianbuffers. Acesso: 20/08/2003.
Darby, S. E. Effect of riparian vegetation on flow resistance and flood potential. Journal of Hydraulic
Engineering, v.125, p.443454, 1999.
Debano, L. F.; Schmidt, L. J. Improving southwestern riparian areas through watershed management.
Fort Collins: USDA Forest Service, 1989. (Gen. Tech. Rep. RM-182.)
Dias, P.L.F. Estudo e proposio de parmetros para a definio de reas de preservao permanente
ciliares em reservatrios. Curitiba: UFPR, 2001. 138p. (Dissertao de mestrado no Curso de Ps-
Graduao em Agronomia, rea de concentrao em Cincia do Solo da UFPR).
Dillaha, T.A.; Reneau, R.B.; Mostaghimi, S.; Lee, S. Vegetative filter strips for agricultural nonpoint source
pollution control. Transactions of ASAE, St. Joseph, v.32, p.491-496, 1989.
DUNNE, T. Field studies of hillslope flow processes. In: KIRKBY, M.J. (ed.) Hillslope Hydrology.
Chichester: John Wiley, 1978. p.227-293.
DUNNE, T.; BLACK, R.D. An experimental investigation of runoff production in permeable soils. Water
Resour. Res., Washington, v.6, p.478-490, 1970a.
DUNNE, T.; BLACK, R.D. Partial area contributions to storm runoff in a small New England watershed.
Water Resour. Res., Washington, v.6, p.1296-1311, 1970b.
149
DUNNE, T.; LEOPOLD, L.B. Water in Environmental Planning. San Francisco: Freeman, 1978. 818p.
FREEZE, R.A. Role of subsurface flow in generating surface runoff. 1. Base flow contributions to channel
flow. Water Resour. Res., Washington, v.8, p.609-623, 1972a.
FREEZE, R.A. Role of subsurface flow in generating surface runoff. 2. Upstream source areas. Water
Resour. Res., Washington, v.8, p.1272- 1283, 1972b.
Frissell, C.A.; Liss, W.J.; Warren, C.E.; Hurley, M.D. A hierarchial framework for stream habitat
classification: viewing streams in a watershed context. Environ. Manage., v.10, p.199-214, 1986.
Fry, J. F.; Steiner, F. R.; Green, D. M. Riparian evaluation and site assessment in Arizona. Landscape and
Urban Planning, Amsterdam, v.28, p.179199, 1994.
Georgia Adopt-A-Stream Visual stream survey. Atlanta: Georgia Adopt-A-Stream, 2002. 74p. (Disponvel
em < http://www.riversalive.org/AAS%20manuals/Visual/Visual%20Manual20complete%20
winter%202002.pdf > Acesso em 22 de agosto de 2003).
Gillespie, A. R.; Miller, B. K.; Johnson, K. D. Effects of ground cover on tree survival and growth in filter
strips of the Cornbelt Region of the midwestern US. Agriculture Ecosystems & Environment, v.53, p.263
270, 1995.
Gomi, T.; Sidle, R.C.; Woodsmith, R.D.; Bryant, M.D. Characteristics of channel steps and reach
morphology in headwater streams, southeast Alaska. Geomorphology, Amsterdam, v.51, p.225-242, 2003.
Gregory, S.V.; Ashkenas, L. Riparian Management Guide. USDA Forest Service Pacific Northwest
Region, 1990. 120p.
Gregory, S.V.; Swanson, F.J.; McKee, W.A.; Cummins, K.W. An ecosystem perspective of riparian zones.
Focus on links between land and water. BioScience, v.41, p.540-551, 1991.
Harvey, A.M. The influence of sedimetn supply on the channel morphology of upland streams: Howgill
Fells, North-west England. Earth Surf. Processes Landforms, v.16, p.675-684, 1991.
HEWLETT, J.D. Watershed management. USDA Forest Service Report. Southern Forest Experiment
Station, Asheville, 1961a. p.61-66.
HEWLETT, J.D. Soil moisture as a source of base flow from steep mountain watersheds. USDA Forest
Service Station Paper. Southern Forest Experiment Station, Asheville, n.132, p.1-11, 1961b.
Hewlett, J.D. Principles of Forest Hydrology. Athens: The Univ. of Georgia Press, 1982. 183p.
HEWLETT, J.D.; HIBBERT, A.R. Factors affecting the response of small watersheds to precipitation in
humid areas. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOREST HYDROLOGY ( 1965: Pennsylvania ).
Proceedings.Pennsylvania State Univ., 1967. p.275-290.
Hickin, E.J. Vegetation and river channel dynamics. Canadian Geographer, v.28, p.111-126, 1984.
HINO, M. Runoff Process. In: HINO, M.; OHTA, T.; SUNADA, K.; WATANABE, K. umerical forecast
of floods. A first step. Tokyo: Morikita Pub., 1989. p.14-40.
Hornberger, G.M.; Raffensperger, J.P.; Wiberg, P.L. Eshleman, K.N. Elements of Physical Hydrology.
Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1998. 302p.
HORTON, R.E. The rle of infiltration in the hydrologic cycle. Trans. Am. Geophys. Union, Washington,
v.12, p.189-202, 1931.
HORTON, R.E. The rle of infiltration in the hydrologic cycle. Trans. Am. Geophys. Union, Washington,
v. 14, p.446-460, 1933.
Hupp, C.R.; Osterkamp, W.R. Riparian vegetation and fluvial geomorphic processes. Geomorphology,
Amsterdam, v.14, p.277-295, 1996.
Keller, E.A.; Swanson, F.J. Effects of large organic material on channel form and fluvial processes. Earth
Surface Processes and Landform, Chichester, v.4, p.361-380, 1979.
KIRKBY, M.J. (ed.) Hillslope Hydrology. Chichester: John Wiley, 1978. 389p.
150
Kobiyama, M. Conceitos de zona ripria e seus aspectos geobiohidrolgicos. In: Seminrio de Hidrologia
Florestal: Zonas Riprias (1: 2003: Alfredo Wagner) Florianpolis: UFSC/PPGEA, Anais, 2003. p.1-13.
Kobiyama, M.; Genz, F.; Mendiondo, E.M. Geo-Bio-Hidrologia. In: Frum Geo-Bio-Hidrologia: Estudo em
vertente e microbacias hidrogrficas (1:1998: Curitiba) Anais, Curitiba: Curso de Ps-Graduao em Solos-
UFPR, 1998a. p.1-25.
Madej, M.A.; Ozaki, V. Channel response to sedimetn wave propagation and movement, Redwood Creek,
California, USA. Earth Surf. Processes Landforms, v.21, p.911-927, 1996
Maita, H.; Marutani, T.; Nakamura, F. The significance and the role of geomorphologic studies of mountain
streams. J. Jap Soc. Erosion Control, Tokyo, v.46, n.5, p.19-28, 1994.
Malanson, G.P. Riparian landscape. New York: Cambridge Univ. Press, 1993. 296p.
Mantovani, W. Conceituao e fatores condicionantes. In: Simpsio sobre Mata Ciliar (1989: So Paulo)
Campinas: Fundao Cargill, Anais, 1989. p.11-19.
Melick, D.R.; Ashton, D.H. The effects of natural disturbances on warm-temperate rainforests in south-
eastern Australia. Australian J. Botany, v.39, p.1-30, 1991.
Masterman, R.; Thorne, C. R. Analytical approach to flow resistance in gravel-bed channels with vegetated
banks. In: Kirkby, M. J. Process models and theoretical geomorphology. New York: John Wiley & Sons,
1994. p. 221 246.
Mendiondo, E.M.; Tucci, C.E.M. Escalas hidrolgicas. II: Diversidade de processos na bacia vertente. Rev.
Bras. Recursos Hdricos, Porto Alegre, v.2, n.1, p.81-100, 1997.
Mizuyama, T.; Amada, T.; Kurihara, J.; Kobayashi, M. Resistance and sedimentation by trees. J. Jap. Soc.
Erosion Control Eng., Tokyo, v.42, n.4, p.18-22, 1989.
Montgomery, D.R.; Buffington, J.M. Channel-reach morphology in mountain drainage basins. Geol. Soc.
Am Bull., Washington, v.109, p.596-611, 1997.
MOSLEY, M.P. Stream generation in a forested watershed, New Zealand. Water Resour. Res.,
Washington, v.15, p.795-806, 1979.
Montgomery, D.R.; Dietrich, W. E. Landscape dissection and drainage area-slope thresholds. In: Kirkby, M.
J. Process models and theoretical geomorphology. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 221 246.
McKergow, L.A.; Weaver, D.M.; Prosser, I.P.; Grayson, R.B.; Reed, A.E.G. Before and after riparian
management: sediment and nutrient exports from a small agricultural catchment, Western Australia. J.
Hydrology, Amsterdam, v.270, p.253-272, 2003.
Nakamura, F.; Swanson, F.J. Effects of coarse woody debris on morphology and sediment storage of a
mountain stream system in western Oregon. Earth Surface Processes and Landform, Chichester, v.18,
p.43-61, 1993.
NRCS Riparian Forest Buffer. Seattle: USDA-NRCS-Watershed Science Institute, 1997. (Disponvel em
<http://www.wcc.nrcs.usda.gov/watershed/wssi-products.html> Acesso em 22 de agosto de 2003.)
Ohmori, H.; Shimazu, H. Distribution of hazard types on a drainage basin and its relation to
geomorphological setting. Geomorphology, Amsterdam, v.10, p.95-106, 1994.
OHTA, T.; FUKUSHIMA, Y.; SUZUKI, M. Research on runoff from hillsides by one-dimensional transient
saturated-unsaturated flow. J. Jap. For. Soc., Tokyo, v.65, p.125-134, 1983.
Rodrigues. R.R. Anlise de um remanescente de vegetao natural s margens do rio Passa-Cinco,
Ipena, SP. Campinas. Instituto de Biologia UNICAMP. (Tese de Doutorado), 325 p. 1992.
Rodrigues, R.R. Uma discusso nomenclatural das formaes ciliares. In: Rodrigues, R.R.; Leito Filho,
H.F.L. (eds.) Matas ciliares: conversao e recuperao. So Paulo: EdUSP, 2000. p.91-99.
Salvador, J.L.G. Consideraes sobre as matas ciliares e a implantao de reflorestamentos mistos nas
margens de rios e reservatrios. CESP Srie Divulgao e Informao, So Paulo, n.105, p.1-29, 1987.
151
Schiavini, I. Environmental characterization and groups of species inf gallery forests. In: International
Symposium on Assessment and Monitoring of Forests in Tropical Dry Regions with Special referencew to
Gallery Forests (1996: Braslia) Braslia: UNB, Proceedings, 1997. p.107-113.
Schumm, S.A. Erroneaou perceptions of fluvial hazards. Geomorphology, Amsterdam, v.10, p.129-138,
1994.
Sedell, J.R.; Bisson, P.A.; Swanson, F.J.; Gregory, S.V. What we know about large trees that fall into
streams and rivers. In: From the Forest to the Sea A Story of Fallen Trees. Corvallis: USDA Forest
Service, 1990. P.47-81. (General Tech. Report PNW-229).
Selles, I.M. Revitalizao de rios orientao tcnica. Rio de Janeiro: SEMADS, 2001. 76p.
SHERMAN, L.K. Streamflow from rainfall by unit-graph method. Engineering News-Record, New York,
v.108, p.501-505, 1932.
Silva, R.V. Estimativa de largura de faixa vegetativa para zona ripria. In: Seminrio de Hidrologia Florestal:
Zonas Riprias (1: 2003: Alfredo Wagner) Florianpolis: UFSC/PPGEA, Anais, 2003. p.74-87.
Souza, M.C. Algumas consideraes sobre vegetao ripria. Cadernos da Biodiversidade, Curitiba, v.2,
n.1, p.4-10, 1999.
Strahler, A.N. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. Bull. Geol. Soc. Am., v.63,
p.1117-1142, 1952.
SHERMAN, L.K. Streamflow from rainfall by unit-graph method. Engineering ews-Record, New York,
v.108, p.501-505, 1932.
Stanford, J.A.; Ward, J.V. The hyporheic habitat of river ecosystem. ature, v.335, p.64-66, 1988.
The Japan Society of Erosion Control Engineering Management of Riparian Zone. Tokyo, Kokon-Shoin,
2000. 329p.
Takasao, T. Occurrence area of direct runoff and its variation process. Annuals Disaster Prev. Res.
Institute of Kyoto Univ., Kyoto, v.6, p.166-180, 1963.
Tsukamoto, Y. An experiment on subsurface flow. J. Jap. Soc. Forestry, Tokyo, v.43, p.61-68, 1961.
Tsukamoto, Y. Study on the growth of stream channel (I). Relationship between stream channel growth and
landslide occurring during heavy storm. J. Jap. Erosion Control Soc., Tokyo, v.25, n.4, p.4-13, 1973.
TSUKAMOTO, Y. (ed.) Forestry Hydrology. Tokyo: Buneido, 1992. 319p.
Tsukamoto, Y.; Kusakabe, O. Vegetative influences on debris slide occurrences on steep slopes in Japan. In:
Symposium on Effects of Forest Land Use on Erosion and Slope Stability. Honolulu: Environment and
Policy Institute, Proceedings, 1984.
Tsukamoto, Y.; Minematsu, H. Hydrogeomorphological characteristics of a zero-order basin. In: Symposium
Erosion and Sedimentation in the Pacific Rim (1987: Corvallis), Proceedings, IAHS, 1987. p.61-70. (IAHS
Publ. No. 165).
Vannote, R.L.; Minshall, G.W.; Cummins, K.W.; Sedell, J.R.; Cushing, C.E. The river continuum concept.
Canadian Journal of Fishery and Aquatic Science, v.37, p.130-137, 1980.
YASUHARA, M. Watershed response to a storm rainfall. Sci. Rept., Inst. Geosci. Univ. Tsukuba, Sect. A,
Tsukuba, v.5, p.1-27, 1984.
Webb, A.A.; Erskine, W.D. A practical scientific approach to riparian vegetation rehabilitation in Australia.
Journal of Environmental Management, Amsterdam, v.68, p.329-341, 2003.
152
11. EVAPOTRASPIRAO
Masato Kobiyama
Pedro Luiz Borges Chaffe
11.1 Conceitos
O ciclo hidrolgico consiste na troca constante de gua entre a superfcie terrestre e a
atmosfera. A gua chega at a superfcie atravs da precipitao. E o componente responsvel por
abastecer a atmosfera de gua a vaporizao da gua da superfcie. Toda gua que retorna a
atmosfera passa a ficar indisponvel para outros usos pelo menos temporariamente (seja gua que
escoaria superficialmente ou abasteceria um aqfero subterrneo). Estudos de evaporao so,
portanto, essenciais para o planejamento de atividades agrcolas (ex. lagos para irrigao),
abastecimento de gua, operao de barragens para gerao de energia e at mesmo para usos
relacionados recreao.
Algumas definies so usadas em hidrologia para os diferentes aspectos da transformao
de gua para sua forma de vapor:
Evaporao: o conjunto dos fenmenos fsicos que transformam em vapor a gua da
superfcie do solo, interceptada pelas plantas, dos cursos de gua, lagos, reservatrios e mares.
Transpirao: a evaporao devida ao fisiolgica dos vegetais. As plantas, atravs de
suas razes, retiram do solo a gua para suas atividades vitais e transpiram pelos estmatos.
Evapotranspirao (evapo(transpi)rao; evaporao + transpirao,): o conjunto de
processos fsicos e fisiolgicos que provocam a transformao da gua precipitada na superfcie da
Terra em vapor. Esse termo bastante usado devido dificuldade de separao da evaporao e da
transpirao tanto nos clculos como na medio.
Evapotranspirao potencial (ideal): o total de gua transferido para a atmosfera por
evaporao e transpirao, de uma superfcie extensa, coberta por vegetao e no sendo limitado
pela disponibilidade de gua.
Evapotranspirao real (atual): a perda de gua para a atmosfera por evaporao e
transpirao, nas condies atmosfricas e de umidade do solo existentes. Conceitualmente a
evapotranspirao real no pode exceder a evapotranspirao potencial.
11.2 Fatores intervenientes
A transformao de gua lquida em vapor um fenmeno fsico. Quando na forma lquida,
a gua mantm o volume devido a foras de atrao entre as molculas. Portanto, para que as
molculas de gua escapem do volume lquido em forma de vapor elas precisam de energia
suficiente para superar essa fora de atrao. Alm disso, necessrio que exista algum mecanismo
que retire as molculas da interface guaar e previna que essas molculas condensem novamente.
153
No ambiente natural, a evaporao depende basicamente de fatores meteorolgicos e fsicos,
que podem ser resumidos em:
Disponibilidade de gua;
Radiao solar;
Umidade relativa do ar;
Presso atmosfrica;
Vento;
Temperatura do ar e gua;
Forma e profundidade da superfcie livre da gua;
Salinidade da gua.
A evaporao somente ocorrer se existir gua disponvel, a disponibilidade de gua o
fator limitante principal de todo o processo. Em regies de deserto, de nada adianta a
evapotranspirao potencial ser alta enquanto a real pode ser ou estar muito prxima de zero.
Radiao solar: Uma parte da radiao solar que chega na terra refletida pela atmosfera e
superfcie. A razo entre a radiao refletida e radiao incidente chamada de albedo. A outra
parte dessa energia ser absorvida e transformada em calor. Portanto quanto maior a radiao solar
incidente, maior a quantidade de energia disponvel para a evaporao.
Umidade relativa do ar atmosfrico: Quanto maior for a quantidade de vapor de gua no ar
atmosfrico, tanto maior o grau de umidade e menor a intensidade da evaporao. Segundo a lei de
Dalton,
a o
p p E , onde E a intensidade de evaporao; p
o
a presso de saturao do vapor de
gua temperatura da gua; p
a
a presso do vapor de gua presente no ar atmosfrico.
O ar menos denso em lugares com presso atmosfrica menor, ou seja, existe menos
molculas de ar em um determinado volume. Devido a essa menor quantidade de molculas, a
evaporao aumenta com a diminuio da presso atmosfrica. A presso atmosfrica varia
inversamente com a altitude (maior altitude, menor presso), por isso que a gua ferve a
temperaturas mais altas ao nvel do mar do que quando comparado a lugares de grande altitude.
Vento: Ele modifica a camada de ar vizinho a superfcie, substituindo uma camada muitas
vezes saturada por uma com menor teor de vapor da gua. Portanto, quanto maior a intensidade do
vento, maior a intensidade de evaporao.
Temperatura: A elevao da temperatura tem influencia direta na evaporao, pois eleva o
valor da p
o
(Tab. 11.1). Quanto maior a temperatura do ar, mais vapor de gua pode ser retido e
ainda quanto maior a temperatura da gua, mais rpido ela evapora.
Tab. 11.1. Variao de p
0
com a temperatura.
Temperatura (
o
C) p
o
(atm) Temperatura (
o
C) p
o
(atm)
0 0,0062 25 0,0322
5 0,0089 30 0,0431
10 0,0125 35 0,0572
15 0,0174 40 0,0750
20 0,0238
Forma e profundidade: A forma da superfcie livre da gua pode influenciar nos padres de
vento e, por conseguinte na evaporao. No caso da profundidade, guas mais profundas tem uma
maior estabilidade quanto a mudanas no clima pela capacidade de armazenamento de energia ao
154
longo da coluna de gua. Portanto, enquanto em estaes quentes superfcies mais rasas podem
evaporar mais, em estaes muito frias pode ser que superfcies mais profundas evaporem mais
gua devido energia armazenada durante a poca quente.
Salinidade da gua: A intensidade da evaporao reduz-se com o aumento do teor de sal na
gua. Isso acontece porque o sal na gua no est exatamente na forma slida. Ele se dissolve em
ons com cargas eltricas que atraem molculas de gua, o que aumenta a energia necessria para
evaporao. No caso do cloreto de sdio (sal de cozinha), o on de cloro (carga negativa) atrado
ao hidrognio da molcula de gua; o on de sdio (carga positiva) atrado pelo tomo de
oxignio.
Todos esses fatores meteorolgicos influenciam a capacidade de transpirao das plantas,
pois est diretamente ligada a evaporao da gua. a maneira que a planta consegue manter o
balano trmico nas folhas. A transpirao ainda depende da idade e espcie das plantas, que
determinam tipo de raiz, folha e fases de crescimento, e tambm da gua disponvel no solo para
absoro das razes.
Como as condies meteorolgicas dependem da altitude, latitude e longitude da regio e
variam ao longo dos dias e tambm sazonalmente. Regies perto do equador tm o nmeros de
horas de sol mais uniformes durante todo o ano e estaes menos definidas que regies de maiores
latitudes. A evaporao depende, por conseguinte, da hora do dia, da poca do ano e da regio de
estudo. A Figura 11.1 mostra a variao mensal da Evapotranspirao potencial calculada para a
regio de Rio Negrinho SC. A Figura 11.1 mostra ainda como a vazo estimada poderia variar de
acordo com a precipitao e evapotranspirao potencial calculada.
A evapotranspirao potencial diria calculada pode ser transformada em para estimativa de
valores horrios ou com maior resoluo temporal. A Figura 11.2 mostra um exemplo onde se
considerou uma evaporao potencial diria de 1 mm. Sups-se que a evaporao segue uma funo
senoidal nas horas de sol (06h00min s 18h00min h) e corresponde a 90% da evaporao total. Nas
horas sem sol (00h00min s 06h00min e 18h00min s 00h00minh) a evaporao uniforme e seu
total corresponde a 10% da evaporao potencial diria.
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Ms
E
T
p
,
P
r
e
c
i
p
i
t
a
o
,
V
a
z
o
(
m
m
/
m
s
)
ETp
Precipitao
Vazo Estimada
Figura 11.1. Comportamento mensal da evapotranspirao potencial, precipitao e vazo
estimada, para a regio de Rio Negrinho SC. (Chaffe & Kobiyama, 2006)
155
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
E
v
a
p
o
r
a
o
P
o
t
e
n
c
i
a
l
(
m
m
h
-
1
)
Tempo (h:min)
Figura 11.2. Exemplo de suposta distribuio da Evaporao potencial ao longo de um dia (24 h)
com 12 horas de sol.
11.3 Medio
11.3.1 Tanques de Evaporao
Tanque de evaporao um tipo de evapormetro que mede a evaporao da superfcie da
gua. Existem diversos tipos de tanque: enterrados, superficiais, com base de concreto ou metal e de
forma cilndrica ou cnica. O mais conhecido deles o Tanque Classe A do U.S. Weather Bureau
(Fig. 11.3). Normalmente colocado em uma rea gramada sobre um pallet de madeira (10 20 cm
acima do solo) quando seu propsito estimar a evapotranspirao. um tanque cilndrico feito de
ao galvanizado com de 122 cm de dimetro e 25,4 cm de profundidade. As leituras de variao do
nvel podem ser feitas com auxlio de uma rgua ou parafuso micromtrico em forma de gancho
(Figura 11.3c) e recomenda-se que seja operado com o nvel de gua de 5 7,5 cm da borda
superior. O parafuso micromtrico deve ficar dentro de um poo tranqilizador para evitar
turbulncia na hora da leitua (Figura 11.3d). A estao padro deve ser acompanhada de
anemmetro e termmetro. Este mtodo de medio direto e a evaporao do tanque em um
determinado intervalo de tempo dada por:
h h E =
0
(11.1)
onde E a evaporao total no intervalo de tempo; h
0
a leitura no tempo inicial e h a
leitura no tempo final. As leituras geralmente so feitas em mm, assim, a unidade da evaporao
tambm mm.
156
(a) (b)
(c) (d)
Figura 11.3. Tanque Classe A. (a)Tanque em cima de pallet visto de perspectiva. (b) Tanque visto
de cima. (c) Parafuso micromtrico com ponta em forma de gancho. (d) Parafuso micromtrico
dentro de poo tranquilizador.
As condies de evaporao dentro do tanque so diferentes daquelas de evapotranspirao
real de uma superfcie vegetada ou ainda a superfcie de um lago. Sabe-se que as condies variam
conforme tipo de vegetao, condies climticas e inclusive dependendo do ambiente em que o
tanque se encontra. Em um lago profundo, por exemplo, parte da energia que poderia ser usada para
evaporao da gua na superfcie armazenada com a transferncia de calor e conseqente aumento
da temperatura de camadas mais profundas. Portanto, para estimar a evaporao de uma
determinada superfcie atravs do uso de tanques de evaporao, deve-se fazer estudos de
correlao e assim achar razes entre evapotranspirao e evaporao no tanque. No caso de lagos e
tanques instalados no mesmo local, alguns estudos mostram que se deve fazer um ajuste com o
coeficiente de correo de 0,7 a 0,8 (comum 0,7), ou seja, o tanque superestima a evaporao.
11.3.2 Balano hdrico
Devido dificuldade de medir diretamente a evapotranspirao, muitas vezes opta-se por
monitorar outras variveis hidrolgicas e calcular a evapotranspirao de maneira indireta. Assim
deve-se determinar um sistema e medir as entradas e sadas do mesmo, atravs de um balano de
massa possvel achar a evapotranspirao. Esse mtodo chamado de balano hdrico e em sua
forma mais simples consiste em medir a chuva (entrada do sistema) e a vazo (sada), a
157
evapotranspirao a diferena entre a entrada e a sada, o sistema considerado em estudos
hidrolgicos geralmente consiste da bacia hidrogrfica. Para esse caso:
Q P ET = (11.2)
onde E a evapotranspirao; P a chuva; e Q a vazo. Outro sistema que pode ser
considerado para se fazer o balano hdrico pode ser um volume de solo explorado por plantas
(Figura 11.4) (Pereira et al., 1997).
Figura 11.4. Esquema de balano hdrico em uma cultura agrcola.
Neste caso, usa-se:
t
A AC DP RO ET P = + +1 (11.3)
onde P a precipitao; I a irrigao; ET a evapotranspirao real; RO o escoamento
direto (runoff); DP a drenagem profunda; AC a ascenso capilar; A
L
a variao do
armazenamento de gua na camada do solo de estudo. A Figura 11.5 mostra alguns componentes do
balano hdrico de quatro bacias hidrogrficas determinados atravs do uso de um modelo
hidrolgico de chuva-vazo HYCYMODEL. Com esse modelo calibrado tambm possvel separar
os componentes da evapotranspirao (Figura 11.6).
158
40%
42%
35%
41%
6%
10%
11%
4%
51% 42%
50%
49%
2%
6% 4% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fragosos Avencal Rio Preto Rio Negro
dS
E
Qd
Qb
Figura 11.5. Balano hdrico de quatro bacias usando o modelo HYCYMODEL (Qb = escoamento
de base; Qd = escoamento direto; E = evapotranspirao real; e dS = armazanamento de gua no
solo). (Kobiyama et al, 2009)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
E
v
a
p
o
t
r
a
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
(
m
m
/
y
e
a
r
)
Year
Ec
Ei
Et
Figura 11.6. Componentes da evapotranspirao da bacia do rio Cubato-Sul para os anos de 1977
a 1994 (Et = transpirao, Ei = evaporao por interceptao, Ec = evaporao de canal).
(Kobiyama e Chaffe, 2008)
11.3.3 Lismetro
um equipamento que consiste de uma caixa impermevel, contendo um volume de solo e
que permite conhecer com detalhe alguns termos do balano hdrico do volume amostrado (Figura
11.7).
159
Figura 11.7. Representao esquemtica de um lismetro.
11.3.4 Medio da transpirao
Fitmetro: O fotmetro fechado consiste em um recipiente impermevel contendo terra para
alimentar a planta. A tampa do fitmetro evita a entrada da gua da chuva e a evaporao da gua
existente no solo, s permitindo a perda pela transpirao do vegetal. Este mtodo s pode ser
realizado no caso de plantas de pequeno porte.
Potmetro: um aparelho que mede a transpirao de cada folha.
Mtodo de Heat-pulse: uma tcnica que mede a velocidade do fluxo da gua no tronco.
(Figuras 11.8, 11.9 e 11.10).
160
Figura 11.8. Equipamentos para aplicao do mtodo Heat-Pulse.
Figura 11.9. Resultados do uso da tcnica Heat-pulse.
Figura 11.10. Grfico de transpirao pela velocidade do Heat-pulse.
161
11.4 Estimativa
Existem diversos mtodos para estimar evapo(transpi)rao potencial e real. A Figura 11.11
mostra a comparao entre 6 mtodos diferentes, sendo que dois deles (Water Budget e com o
modelo HYCYMODEL) calculam evapotranspirao real e os outros a potencial. Neste captulo so
apresentados dois dos mtodos que vm sendo comumente utilizados: Thornthwaite e Penman.
0
50
100
150
200
250
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
E
T
P
(
m
m
/
m
o
n
t
h
)
Month
THORNTHWAITE
BLANEY & CRIDDLE
PENMAN
HAMON
WATER BUDGET
HYCYMODEL
Figura 11.11. Comparao da evapotranspirao calculada para a bacia do rio Cubato-Sul com
dados de 1977-1994 atravs de 6 mtodos diferentes. (Kobiyama e Chaffe, 2008)
11.4.1 Mtodo de Thornthwaite
Dados necessrios: apenas a temperatura mdia mensal do ar
Parmetro obtido (estimado): Evapotranspirao potencial mdia mensal para um ms de 30
dias e cada dia tem 12 horas de fotoperodo (insolao diria).
a
I
Ti
ETP
|
\
|
=
10
16 (11.4)
=
|
\
|
=
12
1
514 , 1
5
i
Ti
I (11.5)
49239 , 0 10 7912 , 1 10 71 , 7 10 75 , 6
2 2 5 3 7
+ + =
I I I a (11.6)
onde ETP a evapotranspirao potencial mdia mensal no ajustada (mm/ms); Ti a
temperatura mdia mensal (
o
C); I o ndice de calor; a um coeficiente. O subscrito i
representa o ms do ano, por exemplo i = 1 para jan.; i = 2 para fev.; etc.).
Para estimar a ETP para um ms de ND dias e fotoperodo mdio mensal N horas, deve-se
fazer uma simples correo.
30 12
D
ETP ETP
corrigido
=
A Tabela 11.2 apresenta valores de correspondentes ao 15
dia de cada ms em funo da
latitude local. Normalmente assume-se que o 15
dia representa a mdia mensal para .
162
Tabela 11.2. Durao mxima da insolao diria (), em horas, nos meses e latitude de 10N a
40S. Os valores correspondem ao 15 dia de cada ms.
[Exemplo]
Dados: Num local (22
42S), a temperatura (C) mdia mensal ao longo do ano : jan = 24,0;
fev = 24,7; mar = 23,9; abr = 21,1; mai = 17,6; jun = 16,8; jul = 17,2; ago = 18,9; set = 20,3; out =
22,2; nov = 22,9; dez = 23,8; mdia anual = 21,1.
9928 , 106
5
8 , 23
.......
5
7 , 24
5
24
5
514 , 1 514 , 1 514 , 1
12
1
514 , 1
=
|
\
|
+ +
|
\
|
+
|
\
|
=
|
\
|
=
= i
Ti
I
353 , 2 49239 , 0 9928 , 106 10 7912 , 1 9928 , 106 10 71 , 7 9928 , 106 10 75 , 6
49239 , 0 10 7912 , 1 10 71 , 7 10 75 , 6
2 2 5 3 7
2 2 5 3 7
= + + =
+ + =
I I I a
Ento,
Para Janeiro: 1 , 107
9928 , 106
24 10
16
10
16
353 , 2
= |
\
|
=
|
\
|
=
a
I
Ti
ETP mm/ms
Para Fevereiro: 6 , 114
9928 , 106
7 , 24 10
16
10
16
353 , 2
= |
\
|
=
|
\
|
=
a
I
Ti
ETP mm/ms
Fazendo a correo com a Tab. 11.2, obtm-se
163
Janeiro:
30
31
12
4 , 13
1 , 107
30 12
1 , 107 = =
D
ETP
corrigido
=123,6 mm/ms
Fevereiro:
30
28
12
8 , 12
6 , 114
30 12
1 , 107 = =
D
ETP
corrigido
=114,1 mm/ms
11.4.2 Mtodo de Penman
Este mtodo combina os efeitos de balano de energia e aerodinmico. O mtodo original
foi apresentado por Penman (1948). Doorenbos & Pruitt (1992) modificaram algumas partes desta
equao. Aqui, o mtodo modificado est apresentado.
Dados dirias necessrios: temperatura (C); insolao (hora/dia); umidade relativa do ar
mdia (%); velocidade mdia do vento a 2 m acima da superfcie do solo (km/dia)
Parmetro obtido (estimado): Evapotranspirao potencial diria (mm/dia)
( ) ( ) ( ) | |
d a
e e U f W Rn W c ETP + = 1
onde ETP a evapotranspirao potencial diria (mm/dia); c o fator de ajuste
(adimensional); W o fator de ponderao relacionado com a temperatura e a altitude
(adimensional); Rn a radiao lquida (mm/dia); f(U) a funo relacionada a vento; e
a
a
presso de vapor da gua no ar saturado (mbar); e
d
a presso do vapor do ar na condio real
(mbar).
(1) Estimativa de (e
a
- e
d
)
Pela definio,
|
\
|
=
100
ur
e e e e
a a d a
, onde ur a umidade relativa do ar (%). Os valores de
e
a
se encontram na Tab. 4.8. Como a Tab. 4.8 adota a unidade de mmHg, deve-se fazer uma
transformao da unidade, pois 1 mbar = 1,33 mmHg.
(2) Estimativa de f(U)
( )
|
\
|
+ =
100
1 27 , 0
2
U
U f onde U
2
a velocidade mdia diria do vento (km/dia) a 2 m acima
da superfcie do solo. As vezes, a velocidade mdia diria do vento (km/dia) a 10 m acima da
superfcie, U
10
, encontra-se disponvel. Neste caso, usa-se a seguinte transformao:
7
1
10
2
10
2
|
|
\
|
=
Z
Z
U
U
onde Z
2
e Z
10
so alturas de 2 m e 10 m, respectivamente.
164
(3) Estimativa de W
Os valores de W esto na Tabela 11.3.
Tabela 11.3. Valores para o fator de peso (W) para o efeito da radiao na ET em diferentes
temperaturas e altitudes.
(4) Estimativa de Rn
( ) ( )
a s ns
R
n
b a r R r R |
\
|
+ = = 1 1
onde R
ns
a radiao solar lquida de ondas curtas (mm/dia); r o coeficiente de refletncia
(albedo) (Tabela 11.4); R
s
a radiao solar (mm/dia); a e b so constantes (normalmente, a = 0,25
e b = 0,50); n a insolao (hora/dia); mxima possvel insolao (hora/dia) (veja Tabela 11.2);
R
a
a radiao solar recebida no topo da atmosfera (mm/dia) (Tabela 11.5).
Nota-se que, no caso de estaes automticas, a radiao solar (R
s
) est sendo medida em
vez de insolao n.
Tabela 11.4. Albedo de diversas superfcies.
Superfcie % superfcie % superfcie %
Concreto 22 grama 24 sorgo 20
solo escuro seco 14 batata 20 algodo 21
solo escuro mido 8 beterraba 26 tomate 23
asfalto 7 cevada 24 abacaxi 15
areia branca 37 trigo 24 floresta confera 5 - 15
neve recm cada 82 feijo 24 floresta folhosa 10 - 20
neve velha 57 milho 20 campos naturais 3 - 15
gua 5 Fumo 22 Cidades 14 - 18
165
Tabela 11.5. Valores para a radiao recebida no topo da atmosfera (R
a
) expressa em evaporao
equivalente em mm/dia.
Se for difcil determinar o valor do albedo, adota-se a seguinte critrio: r = 0,05 para
superfcie livre da gua, 0,15 para solo nu, e 0,23 para superfcie com vegetao.
( ) ( )
|
\
|
=
n
f e f t f R
d nl
onde R
nl
a radiao lquida de ondas longas; f(t) a funo obtida na Tab. 11.6.
Tabela 11.6. Efeito da temperatura f(T) na radiao de onda longa (R
nl
).
( )
d d
e e f 044 , 0 34 , 0 = , onde e
d
a presso do vapor do ar na condio real (mbar) e
|
\
|
=
100
ur
e e
a d
n
f 9 , 0 1 , 0 + = |
\
|
Finalmente, obtm-se: Rn = R
ns
- R
nl
(5) Estimativa de c
Normalmente recomenda-se o uso da Tabela 11.7. Mas se for difcil de determinar o valor
de c, considera-se que c = 1.
166
Tabela 11.7. Fator de ajuste (c) presente na Equao de Penman.
[Exemplo]
Estao experimental (acima de areia) no municpio de Campos RJ (Latitude 22
S;
Altitude 0 m). No dia 03 de junho de 2004, obteve-se: Temperatura = 15,0 C; Insolao = 8,5
hora/dia; Umidade relativa = 75,0%; Vento U
2
= 43,2 km/dia (= 0,5 m/s).
Nota-se que o valor de Albedo da areia branca de 37% (Tabela 11.4 )
Utiliza-se a seguinte equao: ( ) ( ) ( ) | |
d a
e e U f W Rn W c ETP + = 1
(1) Segundo a tabela de valores de tenso de saturao de vapor dgua no ar, para T = 15
C,
e
a
= 12,79 mmHg =
33 , 1
79 , 12
= 9,617 mbar (pois, 1mbar =1,33mmHg)
Portanto,
|
\
|
=
100
ur
e e e e
a a d a
= 9,617 (1 0,75) = 2,40425
(2) ( )
|
\
|
+ = |
\
|
+ =
100
2 , 43
1 27 , 0
100
1 27 , 0
2
U
U f = 0,38664
(3)
2
64 , 0 61 , 0 +
= W = 0,625
(4) Para areia, r =37% = 0,37.
167
a = 0,25; b = 0,50
Para Junho, = 10,8 hora/dia (Tabela 11.2); Ra = 9,6 mm/dia (Tabela 11.5)
( ) ( ) ( ) 6 , 9
8 , 10
5 , 8
5 , 0 25 , 0 37 , 0 1 1 1 |
\
|
+ = |
\
|
+ = =
a s ns
R
n
b a r R r R
= 3,892 mm/dia
Segundo a Tabela 11.6, ( )
2
8 , 13 5 , 13 +
= t f = 13,65
( )
|
\
|
=
|
\
|
= =
100
75
617 , 9 044 , 0 34 , 0
100
044 , 0 34 , 0 044 , 0 34 , 0
ur
e e e f
a d d
= 0,2218311
8 , 10
5 , 8
9 , 0 1 , 0 9 , 0 1 , 0 + = + = |
\
|
n
f = 0,8083333
Portanto, ( ) ( )
|
\
|
=
n
f e f t f R
d nl
= 13,65 x 0,2218311 x 0,8083333 = 2,4476288
Portanto, Rn = R
ns
- R
nl
= 3,892 2,4476288 1,444 mm/dia
( ) ( ) ( ) | |
d a
e e U f W Rn W c ETP + = 1
= 1[0,6251,444 + (1 0,625) 0,386642,40425 1,25 mm/dia
Referncias bibliogrficas
CHAFFE, P.L.B.; KOBIYAMA, M. Estudo hidrolgico comparativo na regio serrana sul
brasileira. Florianpolis: UFSC/CTC/ENS/LabHidro, 2006. 35p.
KOBIYAMA, M.; CHAFFE, P.L.B. Water balance in Cubato-Sul river catchment, Santa
Catarina, Brazil. Revista Ambiente e gua, Taubat, v.3, p.5-17, 2008.
KOBIYAMA, M.; CHAFFE, P.L.B.; ROCHA, H.L.; CORSEUIL, C.W.; MALUTTA, S.; GIGLIO,
J.N.; MOTA, A.A.; SANTOS, I.; RIBAS JUNIOR, U.; LANGA, R. Implementation of school
catchments network for water resoureces management of the Upper egro River region,
southern Brazil. In: TANIGUCHI, M.; BURNETT, W.C.; FUKUSHIMA, Y. HAIGH, M.;
UMEZAWA, Y. (eds.) From Headwaters to the Ocean: Hydrological Changes and Watershed
Management, London: Tayor & Francis Group, 2009. p.151-157.
Bibliografia recomendada (avanada)
BRUTSAERT, W. Evaporation into the atmosphere. London: D. Reidel Pub. Co., 1982. 299p.
DOORENBOS, J.; PRUITT, W.O. Guidelines for predicting crop water requirements. 2 ed.
Rome: FAO, 1992. 144p. (FAO Irrigation and Drainage Paper 24).
PEREIRA, A. R.; NOVA, N.A.V.; SEDIYAMA, G.C. Evapo(transpi)rao. Piracicaba: Fundao
de Estudos Agrrios Luiz de Queiroz, 1997. 183 p.
168
12. TOXICOLOGIA AMBIETAL E QUALIDADE DE GUA
William Gerson Matias
Ctia Regina Silva de Carvalho Pinto
Marcelo Seleme Matias
Cristina Henning da Costa
12.1 Generalidades sobre a toxicologia
12.1.1 Etimologia
"TO PHARMACON" significa, em grego, toda substncia que altera a natureza de um
corpo, toda droga salutar ou malfeitora.
A palavra "pharmacon" deve ser associada etimologicamente a "toxos", que significa,
primitivamente, o conjunto de arco e flecha. Na antigidade, essas flechas eram quase sempre
envenenadas. Foi Aristote de Stagire, o precedente de Alexandre o Grande, que primeiramente
mencionou o termo "toxicon pharmacon" , significando flecha envenenada.
Com o passar dos sculos esta expresso sofre degradaes lingisticas. O significado do
adjetivo pharmacon (envenenamento) se aproxima pouco a pouco do nome toxicon (flecha) e,
segundo a lei geral clssica de contrao que rege todas as linguagens, a expresso toxicon
pharmacon tornou-se, toxicon simplesmente com o significado no de flecha, mas de TXICO.
12.1.2 Toxicologia - Cincia aplicada
Segundo Chasin e Pedrozo (2003), esta cincia engloba uma multiplicidade de enfoques e
integra uma srie de conhecimentos que refora seu carter multidisciplinar e faz com que haja um
aporte de capacitaes e tecnologias que integram a construo de seu conhecimento. Segundo os
mesmo autores, com base em Loomis (1996), a natureza multidisciplinar da toxicologia pode ser
representada conforme a Figura 12.1.
Figura 12.1. Representao da natureza multidisciplinar da toxicologia.
169
A toxicologia tem por objetivo estudar os diversos problemas ligados aos txicos tanto sobre
o plano analtico, como do ponto de vista fisiolgico e bioqumico. Toda pesquisa por via analtica
de substncias qumicas nocivas, presentes em diversos meios ou no interior de organismos vivos,
tem relao com esta disciplina. Mas o termo toxicologia designa tambm o conjunto de
investigaes destinadas a avaliar a toxicidade dos poluentes sobre os seres vivos.
12.1.3 Ensaios Toxicolgicos
Os ensaios toxicolgicos atualmente praticados so destinados a pesquisar se um produto
apresenta ou no efeitos txicos ou nocivos e, se for o caso, qual a natureza destes efeitos e seu
grau de toxicidade.
Graas aos conhecimentos resultantes da experimentao pode-se avaliar o nvel de risco
que o produto testado apresenta para o homem e para o meio ambiente. O objetivo da avaliao do
risco no , portanto, provar que uma substncia no apresenta perigo, mas definir em quais
condies um produto potencialmente perigoso, mas de grande utilizao (talvez indispensvel),
pode ser empregado com o mnimo de risco para o homem e para o meio ambiente.
Antes de comear os ensaios toxicolgicos, indispensvel que as caractersticas fsicas e
qumicas sejam bem conhecidas. Essas informaes permitem:
- estabelecer a via de administrao a ser utilizada;
- verificar grau de pureza do produto a ser testado;
- prever a repartio entre os diferentes compartimentos ar, gua e solo; e,
- extrair e dosar o produto a ser testado.
Os estudos de efeitos biolgicos causados por um elemento xenobitico so de maneira
geral divididos em estudos in vitro e estudos in vivo.
Os mtodos de estudos ditos in vitro so caracterizados pelo fato que os organismos-teste
(reativos vivos) so isolados em compartimentos de laboratrio, que eram originalmente em vidros,
no qual eles so cultivados ou mantidos (cultura de clulas, de microorganismos, de tecidos ou
rgos isolados). A principal vantagem destes mtodos de permitirem um modelo experimental
simplificado, no qual um processo biolgico analisado mais facilmente e mais especificamente
(estudo do mecanismo de ao de um xenobitico, como por exemplo, os diversos testes que
estudam as interferncias do produto qumico com o material gentico das clulas). A desvantagem
reside no fato da dificuldade de extrapolao dos resultados.
Ao contrrio do precedente, os mtodos in vivo emprega o animal inteiro. Os modelos
integram assim o conjunto das influncias recprocas entre a substncia e organismo testado. A
vantagem est no fato que a substncia a ser testada passa pelo ciclo Absoro Distribuio
Transformao - Eliminao (Metabolismo).
12.1.4 Escolha do Organismo-teste (Reativo Biolgico)
sabido que certas espcies apresentam semelhanas biolgicas com o homem mas,
nenhuma delas, mesmo os primatas, permite uma extrapolao direta do conjunto dos resultados
dos ensaios toxicolgicos ao homem.
Na toxicologia a espcie de escolha no necessariamente aquela que apresenta mais
semelhanas com o homem, mas ser aquela que permitira melhor evidenciar o tipo de efeito
toxicolgico pesquisado (melhor sensibilidade). Por exemplo, para pesquisar o poder sensibilizante
170
cutneo a espcie mais adaptada a Cobaye. Este conceito extrapolado para a escolha de uma
espcie representativa de uma biocenose.
Consideraes de natureza estratgicas podem influenciar na escolha da espcie:
- Facilidade de reproduo
- Facilidade de cultivo
- Velocidade de crescimento e desenvolvimento
- Disponibilidade no mercado
- Facilidade de manipulao dos animais ou vegetais
Vejamos alguns exemplos clssicos:
- Os roedores possuem quase todos os pr-requisitos e por isso so apropriados e largamente
utilizados nos ensaios de toxicologia. Os ratos so utilizados nos estudos por via oral, por inalao e
injees.
- Para os estudos implicando a pele, o coelho preferido devido ao seu tamanho, sua
facilidade de manuteno e sua boa sensibilidade cutnea.
Na ecotoxicologia, os estudos do efeito agudo de produtos potencialmente txicos ao meio
ambiente so utilizados organismos-teste como os peixes, microcrustceos e algas, por serem
sensveis e representarem diferentes nveis trficos. Na Figura 12.2 pode-se visualizar o organismo-
teste Daphnia magna, amplamente utilizado em estudos de toxicidade aqutica.
Figura 12.2. Organismo-teste Daphnia magna (0,5 cm).
Fonte: Brentano e Lobo (2003).
12.1.5 Escolha da dose
A seleo das doses sempre difcil. Assim, em muitos tipos de ensaios, preciso utilizar o
recurso de testes preliminares para poder definir as concentraes mais adequadas da substncia a
ser estudada.
Os testes devem ser executados com doses escolhidas de tal forma que permitam o
conhecimento dos seguintes aspectos:
- a quantidade mxima de substncia que no causa nenhum efeito nocivo, noo importante
para os clculos das Margens de segurana;
- dose que comea a causar efeitos txicos;
- dose onde os efeitos se tornam importantes.
Para exemplificar, nos testes de toxicidade aguda, com organismos aquticos, para cada teste
so preparadas 5 diluies e um controle. As diluies so preparadas com preciso volumtrica,
em progresso geomtrica de razo 1,2 a 2. A determinao da faixa de diluio do teste depende
171
do conhecimento prvio da toxicidade da amostra a ser testada, podendo ser realizado um teste
preliminar.
Cada diluio testada com 20 organismos por diluio (10 em cada becker com volume de
25 mL). No controle usado o meio de cultura habitual, sendo aceito, no mximo, 5% de
imobilidade (Figura 12.3).
Aps o tempo de prova (48h) observa-se o nmero de indivduos imveis por concentrao.
A partir destes dados, calculou-se a porcentagem de mortalidade por concentrao. O resultado do
teste expresso em CE(I)50 48h (Concentrao Efetiva Inicial Mediana concentrao da amostra
no incio do ensaio, que causa efeito agudo a 50% dos organismos em 48h, nas condies de
ensaio).
importante que a dose escolhida esteja em uma faixa cuja menor concentrao no cause
efeito e cuja maior concentrao cause o efeito mximo (imobilidade de 20 organismos).
Figura 12.3. Reresentao da metodologia de testes de toxicidade aguda. A escolha da dose
fundamental na determinao da Concentrao de Efeito ou Concetrao Letal.
12.1.6 Durao do tratamento
Dependendo do objetivo do ensaio toxicolgico e as condies da experincia, certos efeitos
aparecem rapidamente e podem ser evidenciados com apenas um contato com o produto a ser
testado. o caso dos estudos da toxicidade aguda, estudo de tolerncia local cutnea ou ocular,
entre outros.
Nos casos em que o objetivo evidenciar eventuais efeitos que aparecem somente a longo
termo, aps contatos repetidos com o produto a ser testado, os protocolos experimentais comportam
administraes reiteradas segundo um ritmo estabelecido e durante um perodo definido.
A fixao da durao do tratamento depende, portanto, do tipo de ensaio e da espcie
considerada. Isto porque, espcies diferentes tm diferentes longevidades, o que interfere na
durao dos tratamentos.
As duraes clssicas de estudos de toxicidade geral sobre rato vo at quatro semanas para
os ensaios a curto termo, at 3 meses para os ensaios a mdio termo e at 2 anos para os ensaios a
longo termo.
172
12.1.7 Toxicidade aguda
Toxicidade aguda a manifestao de um efeito em um curto espao de tempo aps
administrao de uma dose nica de uma substncia. Em geral, o primeiro estudo realizado sobre
uma substncia quando no temos nenhuma noo ou somente noes tericas, muito restritas,
sobre a substncia a ser estudada.
O ensaio de toxicidade aguda permite:
- estabelecer uma relao entre a dose administrada e a intensidade de efeitos adversos
observados;
- calcular uma dose letal, uma concentrao letal ou uma concentrao de efeito (DL, CL ou
CE), que a expresso matemtica da dose ou a concentrao da substncia que provoca a morte ou
imobilidade a 50% da populao exposta (DL
50
, CL
50
ou CE
50
);
- estabelecer uma comparao da toxicidade de uma substncia com outras substncias na
qual a toxicidade conhecida;
- fornecer indicaes sobre os efeitos possveis de uma exposio ao homem; e,
- orientar os ensaios seguintes.
12.2 Princpio
O produto a ser testado administrado a diferentes doses (ou concentraes) a diversos
grupos de reativos biolgicos (animal, vegetal, etc.), a razo de uma dose (ou concentrao) por
grupo. As vias clssicas de administrao so cutnea, oral e respiratria.
Os organismos-teste so expostos e observados durante perodos que vo de algumas horas
at alguns dias, segundo as necessidades do ensaio e caractersticas da espcie. Neste perodo
observam-se sintomas eventuais de intoxicao, mortalidade (se acontecer), leses dos principais
rgos no momento da autopsia, influncia em mecanismos biolgicos (sntese de macromolculas,
atividade enzimtica, etc.).
Os resultados devero conter por cada grupo de dose ou concentrao, o nmero de animal
ao incio do ensaio, o momento da morte, o nmero de animais que apresentaram sinais clnicos
(imobilidade, apetite, etc.) e o resultados de autopsia.
O valor da DL
50
, CL
50
ou CE
50
ser determinado com seu intervalo de confiana e
precisando o mtodo de clculo utilizado.
Os resultados fornecem somente uma estimativa da toxicidade aguda global da substncia e
no pr-julgam de forma nenhuma os resultados de toxicidade subaguda e crnica. O valor da DL
50
,
CL
50
ou CE
50
utilizado para classificao de substncias txicas e para estimar o potencial de
inibio e induo de snteses biolgicas, por substncias txicas. Estes valores correspondem a
concentrao ou dose que imobiliza ou causa efeito deletrio em 50% da populao exposta, em um
perodo determinado de tempo. Na figura 8, representao da curva de um teste com a substncia
dicromato de potssio e a indicao da concentrao que causa efeito a 50% da populao exposta.
12.2.1 Toxicidade crnica
O objetivo de um estudo de toxicidade crnica caracterizar o perfil toxicolgico de uma
substncia em uma espcie, aps uma exposio repetida e prolongada, cobrindo o ciclo de vida de
173
forma representativa. Nas condies deste ensaio, devem se manifestar os efeitos que necessitam
um longo perodo de latncia ou que so cumulativos.
A metodologia proposta deve permitir a deteco da toxicidade geral compreendendo em
particular os efeitos sobre as principais funes fisiolgicas, os efeitos bioqumicos e
hematolgicos, assim como os efeitos anatomopatolgicos.
Os resultados obtidos devero permitir avaliar:
- a latncia de aparecimento dos efeitos em funo da dose ou da concentrao;
- a natureza dos efeitos (funo, rgos atingidos, etc);
- a dose nica sem efeitos txicos e a dose com efeitos txicos;
- a possibilidade de reversibilidade dos efeitos; e,
- a relao entre a quantidade do txico no sangue e nos tecidos.
Princpios
A substncia administrada durante um logo perodo a doses (concentraes) compatveis
com a sobrevivncia dos elementos teste.
A durao do ensaio pode ser muito varivel, no caso de ratos de seis meses a muitos anos.
Em geral, muitos estudos so realizados em 2 anos.
Por causa da durao do experimento e os sacrifcios intermedirios necessrios para alguns
estudos, o nmero de elementos testados deve ser mais importante que nos casos de estudos de
toxicidade aguda e subaguda. Trs grupos de reagentes biolgicos e um grupo controle so
utilizados, a razo de uma dose por grupo.
A escolha das doses (concentraes) em funo dos resultados obtidos nos ensaios de
toxicidade agudo e subagudo.
A escolha da via de administrao principalmente determinada em funo do modo de
exposio do homem ou a espcie (nvel trfico) substncia, se as condies tcnicas permitirem.
Como para o estudo de toxicidade subaguda, os organismos-teste so observados
regularmente de maneira a detectar todas manifestaes txicas. Mas a diferena entre toxidade
subaguda e toxicidade crnica esta no fato que a toxicidade crnica deve permitir revelar com mais
grande probabilidade os efeitos a longo termo, tais como os efeitos cumulativos ou a somatizao
dos mesmos.
Exames clnicos, bioqumicos, hematolgicos so efetuados a intervalos regulares. s vezes
uma parte dos elementos sacrificada durante o estudo a fim de observar a apario e evoluo de
leses anatomo-histopatolgica. O conjunto desses exames permite o acompanhamento do
desenvolvimento e evoluo dos efeitos txicos durante o tempo de vida.
Os testes estatsticos apropriados so aplicados sistematicamente aos resultados. Esses testes
devem ser interpretados com prudncia e esprito crtico.
conveniente salientar que o mtodo de estudo de toxicidade crnica distinto de mtodos
aplicados na carcinogenicidade. Em conseqncia, os resultados de toxicidade crnica no
permitem obter necessariamente informaes do potencial cancergeno eventual da substncia
testada.
O protocolo do estudo de toxicidade crnica pode variar bastante pois ele deve se adaptar a
cada caso particular da substncia estudada (natureza da substncia, tipo de utilizao, etc.).
174
12.3 Generalidades sobre qualidade da gua
12.3.1 Introduo
Este texto apresenta os principais fundamentos relacionados com a qualidade da gua de
bacias hidrogrficas e a influncia das aes antropogenicas nesta qualidade.
Manancial, do dicionrio nascente de gua, fonte abundante, uma definio conflitante
quando a relacionamos com o crescimento populacional advindo de um processo de urbanizao
intenso nas ltimas dcadas em ecossistemas antes estveis. No difcil perceber que o homem
sempre esteve ligado hidrografia que o circunda e que
muitas vezes, a fez modificar-se junto ao seu processo de
sedentarismo. Contudo, a complexidade surge quando
sinistros ambientais e sociais so notificados e a
problemtica passa a questionar certos modelos de vida.
Dentre diversos eventos que possamos nos deparar
ao relacionar o homem e o meio ambiente, percebemos que
imprescindvel o desenvolvimento de ncleos
populacionais, para isso questiona-se at onde podemos
variar nosso habitat sem que o mesmo torne-se inspito,
haja vista que a disponibilidade de seus recursos hdricos
apropriados ao consumo humano limitada.
Apenas 3% da gua do planeta doce. Quase toda essa gua, cerca de 99%
est em geleiras e calotas polares, ou profundezas do solo. Sendo apenas 1%
disponvel utilizao antrpica.
Segundo LAURENTI (1997) a gua um recurso renovvel, cujo ciclo dotado de um
elevado poder de autorregulao. Paralelamente a essa renovao, ocorre a poluio das fontes de
gua apropriadas ao consumo humano justamente promovida pela atividade antropognica, e
assim, a boa gesto da gua deve ser objeto de um plano que contemple os mltiplos usos desse
recurso, desenvolvendo e aperfeioando as tcnicas de utilizao, tratamento e recuperao de
nossos mananciais e programas institucionais de educao ambiental ( Matias et al, 2008).
Neste contexto importante ter-se a conscincia da influncia das aes antropognicas
sobre os recursos hdricos e noo de qualidade da gua, traduzida atravs de parmetros fsico-
qumicos, bacteriolgicos e toxicolgicos. Muitas vezes os resultados individuais de cada parmetro
no so suficientes para tomada de deciso, sendo necessria a anlise conjunta de todos os
parmetros. Neste caso so utilizados modelos para simplificar a anlise, e um dos mais utilizados
ndice de Qualidade da gua IQA, que ser apresentado neste curso.
12.3.2 A qualidade da gua
Quando procuramos entender qualquer interatividade em diferentes meios, ou ecossistemas,
entre espcies presentes, precisamos nos atentar aos padres timos de estabilidade ecolgica, e
175
indiscutivelmente os principais deles despontam sobre a gua, pois atravs dela que a vida cria
meios de perdurar.
Uma gua dita de boa qualidade quando propicia condies adequadas s interaes e
ciclos ocorrentes num determinado ambiente. No entanto, as diversas relaes com o homem vm
levando a uma srie de poluies e conseqentemente a uma srie de problemas ambientais. Tais
poluies podem ser geradas basicamente por trs formas:
- Qumica: so os efluentes industriais, compostos por poluentes
orgnicos e inorgnicos;
- Domstica: so os prprios efluentes domsticos, compostos por
poluentes orgnicos, nutrientes e bactrias;
- Agrcola: so os lixiviados, representados por fertilizantes, defensivos
agrcolas, fezes de animais e material em suspenso.
De um modo geral os impactos
que o ser humano causa nas guas
naturais so decorrentes da forma de
ocupao e uso do solo. Quando uma
rea ocupada desordenadamente, uma
das primeiras aes a retirada da
cobertura vegetal, sem ela a gua entra
em contato diretamente com o solo,
carreando partculas para leitos de rios e
lagos, afetando o ecossistema atravs do
assoreamento dos leitos.
Outros impactos so
relacionados com a produo de dejetos lquidos, resduos slidos e utilizao de substncias
txicas.
Falou-se at o momento sobre a influncia que o homem tem sobre a qualidade da gua
que o mesmo utiliza, tente agora imaginar de que forma o prprio meio ambiente pode interferir
nessa caracterstica qualitativa, levando em conta algumas palavras-chaves: precipitaes,
escoamento superficial e infiltrao.
12.3.3 Parmetros fsico-qumicos e bacteriolgicos
Ao qualificarmos guas naturais e eventuais interferncias que o homem possa realizar
necessitamos de caractersticas que a confiram particularidades, so seus parmetros fsico-
qumicos e bacteriolgicos (Resoluo CONAMA 357/2005), fala-se ento de ndices de pH,
turbidez, cor; quantidade de slidos, oxignio dissolvido; dos microorganismos envolvidos; entre
outros, cada qual com seus valores ou padres timos determinados pela biota envolvida. A seguir
trata-se com maiores detalhes aqueles mais citados em normas, decretos e leis ambientais.
176
Turbidez
A turbidez a medio da resistncia da gua passagem de luz. provocada pela presena
de material fino (partculas) em suspenso (flutuando/dispersas) na gua. A turbidez um
parmetro de aspecto esttico de aceitao ou rejeio do produto. De acordo com a Portaria 518/04
do Ministrio da Sade o valor mximo permissvel de turbidez na gua potvel distribuda de 5,0
NTU.
Cor
A Cor uma medida que indica a presena na gua de substncias dissolvidas, ou finamente
divididas (material em estado coloidal). Assim como a turbidez, a cor um parmetro de aspecto
esttico de aceitao ou rejeio do produto. De acordo com a Portaria 518/04 do Ministrio da
Sade o valor mximo permissvel de cor na gua distribuda de 15,0 U.C.
pH
O pH uma medida que estabelece a condio cida ou alcalina da gua. um parmetro de
carter operacional que deve ser acompanhado para otimizar os processos de tratamento de gua e
esgoto e preservar as tubulaes contra corroses ou entupimentos. A escala de pH constituda de
uma srie de nmeros variando de 0 a 14, os quais denotam vrios graus de acidez ou alcalinidade.
Valores abaixo de 7 e prximos de zero indicam aumento de acidez, enquanto valores de 7 a 14
indicam aumento da alcalinidade. s guas superficiais possuem um pH entre 4 e 9. s vezes so
ligeiramente alcalinas devido presena de carbonatos e bicarbonatos. Naturalmente, nesses casos,
o pH reflete o tipo de solo por onde a gua percorre. Em lagoas com grande populao de algas, nos
dias ensolarados, o pH pode subir muito, chegando a 9 ou at mais. Isso porque as algas, ao
realizarem fotossntese, retiram muito gs carbnico, que a principal fonte natural de acidez da
gua. Geralmente um pH muito cido ou muito alcalino est associado presena de despejos
industriais. um parmetro que no tem risco sanitrio associado diretamente sua medida. De
acordo com a Portaria 518/04 do Ministrio da Sade a faixa recomendada de pH na gua
distribuda de 6,0 a 9,5.
Alcalinidade
A alcalinidade representa a capacidade que um sistema aquoso tem de neutralizar cidos a
ele adicionados. Esta capacidade depende de alguns compostos, principalmente bicarbonatos,
carbonatos e hidrxidos.
Acidez
a capacidade das guas em neutralizar compostos de carter alcalino, propriedade devida
ao contedo de ons hidrnios livres.
177
Condutividade Eltrica
A condutividade eltrica a capacidade que a gua possui de conduzir corrente eltrica. Este
parmetro est relacionado com a presena de ons dissolvidos na gua, que so partculas
carregadas eletricamente. Quanto maior for a quantidade de ons dissolvidos, maior ser a
condutividade eltrica da gua. Em guas continentais, os ons diretamente responsveis pelos
valores da condutividade so, entre outros, o clcio, o magnsio, o potssio, o sdio, carbonatos,
carbonetos, sulfatos e cloretos. O parmetro condutividade eltrica no determina, especificamente,
quais os ons que esto presentes em determinada amostra de gua, mas pode contribuir para
possveis reconhecimentos de impactos ambientais que ocorram na bacia de drenagem ocasionados
por lanamentos de resduos industriais, minerao, esgotos, etc.
Temperatura da gua
A temperatura uma caracterstica fsica das guas, sendo uma medida de intensidade de
calor ou energia trmica em transito, pois indica o grau de agitao das molculas. Ela interfere
diretamente na vida dos organismos aquticos que podem sofrer efeitos que vo desde alteraes
comportamentais at a morte.
Alguns tipos de esgotos industriais tm temperaturas elevadas e se for lanados sem a
diminuio de sua temperatura pode causar mortalidade de vrias espcies. Para as medidas de
temperatura, podem ser utilizados termmetros simples de mercrio ou aparelhos mais sofisticados.
Oxignio Dissolvido OD
Conhecer a concentrao de oxignio dissolvido de fundamental importncia para avaliar
as condies naturais da gua e diagnosticar processos biolgicos ambientais como eutrofizao e
poluio orgnica.
O oxignio dissolvido uma varivel que influncia no equilbrio dos ecossistemas
aquticos, pois necessrio para a respirao da maioria dos organismos que habitam este meio.
Geralmente o oxignio dissolvido se reduz ou desaparece, quando a gua recebe grandes
quantidades de substncias orgnicas biodegradveis encontradas, por exemplo, no esgoto
domstico, em certos resduos industriais, fertilizantes, etc.
Os resduos orgnicos (ex: esgoto domstico) despejados nos corpos dgua so
decompostos por microorganismos que se utilizam do oxignio na respirao. Assim, quanto maior
a carga de matria orgnica, maior o nmero de microorganismos decompositores. Como
conseqncia haver maior consumo de oxignio e diminuio da concentrao de OD. Muitos
desastres ambientais, envolvendo mortalidade de peixes, tiveram como causa a diminuio brusca
da concentrao do OD, devido a poluio por esgoto domstico.
Demanda Bioqumica de Oxignio (DBO
A expresso Demanda Bioqumica de Oxignio (DBO), corresponde quantidade de
oxignio que consumida pelos microorganismos para degradar esgoto ou guas poludas com
matria orgnica.
178
Compostos de itrognio e Fsforo
O lanamento de esgoto nos rios pode aumentar a concentrao de compostos nitrogenados
e fosforados. Podemos avaliar o grau de poluio em um corpo aqutico com a avaliao da
concentrao de nitritos, nitratos e fosfatos. Por exemplo, a presena de nitrito denuncia a existncia
de poluio recente. Os compostos de fsforo so um dos mais importantes fatores limitantes vida
dos organismos aquticos. Despejos orgnicos, especialmente esgotos domsticos, bem como
alguns tipos de despejos industriais, podem enriquecer as guas com fsforo.
Coliformes
Uma fonte hdrica possui normalmente muitos tipos de bactrias, assim como vrias
espcies de algas e de peixes. Porm, quando cargas poluidoras so lanadas num determinado
meio, neste um certo grupo de bactria passa a crescer em demasia a qual pode ou no causar
doenas s pessoas que beberem dessa gua. Trata-se do grupo das bactrias coliformes. A espcie
Escherichia coli est associada com as fezes de animais de sangue quente.
A determinao da concentrao dos coliformes assume importncia sanitria por indicar
que a gua esteve em contato com fezes humanas, e conseqentemente, pode conter
microorganismos patognicos, responsveis pela transmisso de doenas de veiculao hdrica, tais
como febre tifide, desinteria bacilar e clera (de FREITAS, 2007).
12.3.4 ndice de Qualidade das guas
Na iniciativa de interpretar numericamente os parmetros fsico-qumicos e bacteriolgicos
de mananciais e ento os dispor em categorias que demonstrassem a qualidade da gua bruta dos
mesmos a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, desenvolveu o ndice de qualidade
das guas para correlacionar estes parmetros e traduzi-los para uma escala colorimtrica facilmente
compreensvel, sendo ento estabelecidos: coliformes fecais, pH, DBO, nitrognio total, fsforo
total, temperatura, turbidez, slidos totais e oxignio dissolvido. O princpio do ndice est em
dispor um peso relativo (w
i
) e uma curva mdia de variao de qualidade para cada parmetro e
correlacion-los em um produtrio ponderado, formulando uma escala numrica de 0 a 100 a qual
representa as diferentes categorias do corpo dgua, ou seja:
Categoria Ponderao
tima 80< IQA 100
Boa 52 < IQA 79
Aceitvel 37 < IQA 51
Ruim 20 < IQA 36
Pssima 0 IQA 19
Os pesos e as curvas so definidos de acordo com a importncia de cada parmetro frente
formulao do ndice, por isso cada qual apresenta o seu:
179
Com isso, mensurado cada parmetro, estipula-se o valor qi respectivo, eleva-se ao peso
correspondente e ponderam-se os mesmos segundo a frmula:
(Conceitos e grficos retirados da pgina da web: http://www.cetesb.sp.gov.br/)
O IQA pode ser utilizado para:
avaliar a evoluo da qualidade das guas interiores para cada ponto de amostragem;
propiciar o levantamento das reas prioritrias para o controle da poluio das guas;
subsidiar o diagnstico da qualidade das guas doces utilizadas para o abastecimento
pblico e outros usos;
dar subsdio tcnico para a elaborao dos Relatrios de Situao dos Recursos
Hdricos, realizados pelos Comits de Bacias Hidrogrficas;
180
identificar trechos de rios onde a qualidade dgua possa estar mais degradada,
possibilitando aes preventivas e de controle, como a construo de ETEs
(Estaes de Tratamento de Esgoto) por parte do municpio responsvel pela
poluio ou a adequao de lanamentos industriais.
12.3.5 Legislaes
Resoluo n 357, de 17 de maro de 2005 COAMA
Dispe sobre a classificao dos corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condies e padres de lanamento de efluentes, e d
outras providncias.
As guas doces, salobras e salinas do Territrio Nacional so classificadas, segundo a
qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade.
Das guas Doces
As guas doces so classificadas em:
Classe especial: guas destinadas:
a) ao abastecimento para o consumo humano, com desinfeco;
b) preservao do equilbrio natural das comunidades aquticas; e,
c) preservao dos ambientes aquiticos em unidades de conservao de proteo integral.
Classe 1: guas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para o consumo humano, aps tratamento simplificado;
b) proteo das comunidades aquticas;
c) recreao de contato primrio, tais como natao, esqui aqutico e mergulho.
d) irrigao de hortalias que so consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoo de pelcula; e,
e) proteo das comunidades aquticas em Terras Indgenas.
Classe 2: guas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, aps tratamento simplificado;
b) proteo das comunidades aquticas;
c) recreao de contato primrio, tais como natao, esqui aqutico e mergulho
d) irrigao de hortalias que so consumidas cruas e de fretas que se desenvolvam rentes
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoo de pelcula;
e) proteo das comunidades aquticas em Terras Indgenas; e,
f) aqicultura e atividade de pesca.
Classe 3: guas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, aps tratamento convencional ou avanado;
b) irrigao de culturas arbreas, cerealferas e forrageiras;
c) pesca amadora;
d) recreao de contato secundrio; e,
e) dessedentao de animais.
Classe 4: guas que podem ser destinadas:
a) navegao; e,
b) harmonia paisagstica.
181
Das guas Salinas
As guas salinas so assim classificadas
Classe Especial: guas destinadas
a) preservao dos ambientes em unidades de conservao de proteo integral; e,
b) preservao do equilbrio natural das comunidades aquticas.
Classe 1: guas que podem ser destinadas:
a) recreao de contato primrio;
b) proteo das comunidades aquticas; e,
c) aqicultura e atividade de pesca.
Classe 2: guas que podem ser destinadas:
a) pesca amadora; e,
b) recreao de contato secundrio.
Classe 3: guas que podem ser destinadas:
a ) navegao; e,
b) harmonia paisagstica.
Das guas Salobras
As guas salobras so assim classificadas
Classe Especial: guas destinadas
a) preservao dos ambientes aquticos em unidades de conservao de proteo integral;
e,
b) preservao do equilbrio natural das comunidades aquticas.
Classe 1: guas que podem ser destinadas:
a) recreao de contato primrio;
b) proteo das comunidades aquticas;
c) aqicultura e atividade de pesca;
d) ao abastecimento para consumo humano aps tratamento convencional ou avanado; e,
e) irrigao de hortalias que so consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoo de pelcula, e irrigao de parques, jardins,
campos de esporte e lazer, com os quais o pblico possa vir a ter contato direto.
Classe 2: guas que podem ser destinadas:
a) pesca amadora; e,
b) recreao de contato secundrio.
Classe 3: guas que podem ser destinadas:
a) navegao; e
b) harmonia paisagstica.
Portaria n518, de 25 de maro de 2004 Ministrio da Sade.
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilncia da
qualidade da gua para consumo humano e seu padro de potabilidade, e d outras providncias.
Portaria n 017/02 FATMA DE 18/04/2002.
Estabelece os Limites Mximos de Toxidade Aguda para efluentes de diferentes origens e d
outras providncias.
182
Referncias bibliogrficas
BATTALHA, B. L. et PARLATORE, A. C., Controle da Qualidade da gua para Consumo
Humano: Bases Conceituais e Operacionais, CETESB, 1977.
DE FREITAS, M. P. F. N., Monitoramento da Qualidade da gua da Bacia Hidrogrfica do
Campus da UFSC, 2007.
LAURENTI, A. Qualidade de gua I, Imprensa Universitria, Florianpolis, 1997.
MATIAS W.G. Toxicologia Ambiental: Apostila desenvolvida para a disciplina Toxicologia
Ambiental, ENS, UFSC. 2002.
MATIAS, W. G. et al., Curso: Recursos Hdricos e Sociedade, Projeto Tecnologias Sociais para a
Gesto da gua, 2008.
183
13. ISTALAO E MAUTEO DE ESTAES
HIDROMETEOROLGICAS DE TELEMETRIA COM BAIXO
CUSTO
Fernando Grison
Pedro Guilherme de Lara
Masato Kobiyama
13.1 Introduo
A partir da dcada de 80 com o surgimento da informtica e da telecomunicao as
informaes hidrolgicas puderam ser adquiridas em tempo real. Isso aconteceu devido ao processo
de medio automtica que possibilitou um maior numero de informaes. Segundo Mauro (2002),
a modernizao da telecomunicao teve como conseqncias: maior nmero de informaes
dirias; melhoria na qualidade dos dados; avaliao instantnea da disponibilidade hdrica;
melhor avaliao do potencial energtico; anlise de balano hdrico em tempo quase real; melhor
controle dos recursos hdricos e disposio de dados mais atualizados para a sociedade.
Apesar de toda a modernizao na obteno das informaes hidrolgicas o grande
problema do Brasil ainda o alto custo de um monitoramento hidrolgico. Na maioria das vezes os
custos de projetos de monitoramento so previstos para um curto perodo de tempo, o suficiente
para produzir uma tese. Isso acontece porque geralmente os aparelhos previstos para o
monitoramento so muito caros. Depois do trmino do estudo, os aparelhos so retirados ou
simplesmente abandonados por falta de recurso financeiro para manuteno e continuao do
estudo. Por isso, a instalao de estaes de baixo custo importante. Elas exigem menor custo de
manuteno e facilitam a permanncia do monitoramento por perodos mais longos o que
conseqentemente pode melhorar a qualidade dos resultados e das concluses de uma pesquisa.
13.2 Medio automtica
A medio automtica feita com uso de sensores conectados em aparelhos chamados de
dataloggers. Datalogger um aparelho responsvel por ler, armazenar e, em alguns casos,
transmitir os dados gerados na estao para um computador servidor. Segundo Braga (2005) uma
grande vantagem de um datalogger a crescente capacidade de memria instalada nesse tipo de
equipamento o que permite aumentar o intervalo de tempo das visitas de acompanhamento. Os
dataloggers em conjunto com outro aparelho, um modem, podem transmitir os dados a um servidor
(computador que recebe os dados). O modem serve para estabelecer a comunicao entre o
datalogger e o servidor. Para a configurao da comunicao entre o datalogger e o servidor
basicamente precisa-se apenas do IP (Internet Protocol) do servidor. O IP um nmero de endereo
de um computador que serve para identificar esse computador no mundo virtual. importante que o
184
IP seja do tipo fixo (e no dinmico) para evitar que ocorram mudanas no destino dos dados
durante a transmisso.
Para transmisso dos dados do monitoramento automtico utiliza-se a tcnica da telemetria
que geralmente est relacionada com a transmisso dos dados das estaes sem a utilizao de fios
(via celular, via satlite ou via rdio). As estaes realizam leituras por meio de sinais eltricos, os
quais so posteriormente equacionados pelo seu prprio microprocessador gerando parmetros, tais
como: nvel, precipitao, tenso, radiao solar, entre outros. Para que seja possvel o
monitoramento remoto a partir da telemetria, as estaes devem ter um datalogger acoplado. A
Figura 13.1 mostra um esquema de comunicao de um datalogger com sensores e com um
servidor.
Sistema de transmisso a radio
Microprocessador
Circuito de alimentao
Sensores
Servidor
Figura 13.1. Esquema de comunicao de um datalogger.
Para a transmisso de dados a longa distancia e de baixo custo pode ser usada a transmisso
via celular. Essa tecnologia utiliza o sistema GPRS (General Packet Radio Service) que tem como
base a tecnologia GSM (Global System for Mobile Communications), mas pode ser encontrado
disponvel no padro TDMA (Time Division Multiple Access). Tanto GMS quanto TDMA so
padres utilizados em comunicao mvel. A disponibilizao do sinal GPRS nos padres GMS e
TDMA torna-o flexvel, pois quase qualquer operadora de telefonia disponibiliza pacotes de
servios GPRS para transmisso de dados. A transmisso feita via comutao de pacotes (pacotes
de dados) onde ocorre a diviso da informao em partes para posterior reorganizao no endereo
de destinatrio. A localizao do datalogger e o relevo da regio so fatores importantes que
influenciam na qualidade do sinal de transmisso. Tambm importante ter uma antena da
prestadora de servio de comunicao mvel nas proximidades do local de monitoramento.
A transmisso de dados via satlite uma alternativa eficiente para trfego de dados. As
questes relacionadas com o revelo e a localizao no so problemas que afetam o sistema, pois os
satlites permanecem em rbita e conseguem cobrir todo o globo terrestre. Os dados transmitidos
so da alta qualidade e com baixa possibilidade de surgimento de rudos. A funo do satlite
receber, converter a freqncia recebida, amplificar e retransmitir. Entretanto um dos pontos
negativos na utilizao desse tipo de tecnologia o alto custo de implantao do sistema. O capital
necessrio para investir relativamente superior quando comparado a outros sistemas de
185
comunicao de dados. Por outro lado, o custo de manuteno nulo visto que esta tarefa feita
pela prestadora de servio.
A transmisso de dados via sinal de rdio uma alternativa de baixo custo. O sistema de
transmisso a rdio j vem acoplado no datalogger havendo a necessidade de ajustar o
posicionamento das antenas do transmissor e receptor do sinal. um sistema eficiente para
comunicao de informao, pois mantendo condies ideais de uso o sinal de alta qualidade e
com baixa possibilidade de surgimento de rudos. Entretanto o revelo afeta consideravelmente a
qualidade os dados e por isso pode ser necessrio a instalao de um retransmissor de sinal entre o
datalogger e o servidor, o que encarece o custo do sistema. Por isso, esse tipo de sistema aplicado
geralmente para pequenas distncias. Os dataloggers dispem de moduladores de baixa freqncia,
os quais possuem um pequeno raio de atuao de at 2000 m.
13.3 Intervalo de tempo de medio
Uma das primeiras dvidas que surge depois de montar um sistema de monitoramento
automtico sobre o intervalo de tempo de medio que se deve usar. Esse intervalo fundamental
para o entendimento dos fenmenos hidrometeorolgicos. com base nele que se pode descobrir,
por exemplo, qual o nvel mximo de um evento de vazo de um rio. Se o nvel mximo
permanecer por menos tempo do que o intervalo de medio pode ser que o nvel mximo no seja
registrado. A Figura 13.2 mostra um exemplo de como se comporta a vazo e a precipitao com
intervalo de medio horrio e dirio. No horrio tanto para a vazo como para a precipitao os
picos ficam bem definidos o que mostra um comportamento mais prximo da realidade. J no
intervalo dirio a vazo e a precipitao no so compreensveis, so muito subjetivas.
A definio do intervalo de tempo medio pode ser feita com base no Tempo de
Concentrao (TC) da bacia hidrogrfica monitorada. Segundo Singh (1976), Mulvany (1850) ao
relacionar com a mxima vazo definiu esse tempo como o tempo necessrio para chuva, que cai no
local mais distante da exutria, escoar at a mesma. Singh (1976) mostrou que, alm das
caractersticas morfomtricas (ou geomtricas) da bacia as caractersticas espacial e temporal de
precipitao influenciam o valor de TC. Segundo McCuen et al. (1984) e Silveira (2005) o TC a
diferena de tempo entre o fim da precipitao efetiva (que gera o escoamento superficial) e o fim
do escoamento superficial. Como muito difcil determinar a precipitao efetiva opta-se pelo fim
do evento da precipitao.
186
Precipitao diria
Precipitao horria
Vazo horria
Vazo diria
Figura 13.2. Exemplo do comportamento da vazo e da precipitao com intervalo de medio
horria e diria.
Para o comeo do monitoramento, como no existem dados medidos, o TC pode ser obtido
simplesmente por meio de frmulas matemticas. A Tabela 13.1 mostra algumas frmulas para o
clculo de TC. Para essas frmulas, os valores de rea, comprimento do talvegue (canal principal da
bacia) e desnvel da bacia podem ser obtidos por meio de um mapa.
187
Tabela 13.1. Frmulas para estimar o TC em minutos. A a rea da bacia hidrogrfica em
km, L o comprimento do talvegue em km, H o desnvel da bacia em km, i a intensidade mdia de
precipitao de um evento e S = H/L a declividade do talvegue.
ome Frmula Fonte
Kirpich
385 , 0
77 , 0
989 , 3
S
L
TC =
Kirpich (1940)
Dooge
17 , 0
41 , 0
88 , 21
S
A
TC =
Porto (1995)
Carter
3 , 0
6 , 0
862 , 5
S
L
TC =
Carter (1961)
Federal Aviation Agency
( )
33 , 0
5 , 0
1 , 1 73 , 22
S
L
C TC =
Federal Aviation Agency (1970)
McCuen
2070 , 0
5552 , 0
7164 , 0
135
S
L
i
TC =
McCuen et al. (1984)
preciso ressaltar que as frmulas da Tabela 13.1 foram desenvolvidas para bacias
especficas. Por isso importante que a partir das primeiras medies o TC seja estimado
hidrologicamente, a fim de confirmar ou no o valor de TC obtido pela anlise morfomtrica. No
caso da no confirmao dos valores de TC, ou seja, a anlise hidrolgica diferir significativamente
da morfomtrica, se opta pela hidrolgica. Mas preciso ter cuidado com os dados utilizados, pois
podem ter erros dos prprios aparelhos de medio. Para a estimao hidrolgica de TC constri-se
um hidrograma (Vazo & Tempo) junto com um hietograma (Precipitao & Tempo). O TC o
tempo entre o fim da precipitao e o fim do escoamento superficial (Figura 13.3).
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2
3
:
0
5
2
3
:
1
3
2
3
:
2
1
2
3
:
2
9
2
3
:
3
8
2
3
:
4
6
2
3
:
5
4
0
:
0
2
0
:
1
0
0
:
1
8
0
:
2
6
0
:
3
4
0
:
4
2
0
:
5
0
0
:
5
8
1
:
0
6
1
:
1
4
1
:
2
2
1
:
3
0
1
:
3
8
1
:
4
6
1
:
5
4
2
:
0
2
2
:
1
0
Tempo(min)
V
a
z
o
(
m
3
/
s
)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
P
r
e
c
i
p
i
t
a
o
(
m
m
)
TC
Tempo
inicial
Tempo
final
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2
3
:
0
5
2
3
:
1
3
2
3
:
2
1
2
3
:
2
9
2
3
:
3
8
2
3
:
4
6
2
3
:
5
4
0
:
0
2
0
:
1
0
0
:
1
8
0
:
2
6
0
:
3
4
0
:
4
2
0
:
5
0
0
:
5
8
1
:
0
6
1
:
1
4
1
:
2
2
1
:
3
0
1
:
3
8
1
:
4
6
1
:
5
4
2
:
0
2
2
:
1
0
Tempo(min)
V
a
z
o
(
m
3
/
s
)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
P
r
e
c
i
p
i
t
a
o
(
m
m
)
TC
Tempo
inicial
Tempo
final
)
(
m
/
s
)
Figura 13.3.Estimativa hidrolgica do tempo de concentrao.
188
13.4 Instalao e manuteno de estaes de monitoramento
Uma estao de monitoramento hidrometeorolgico pode ser composta por vrios sensores
de medio de vrios parmetros. A seguir so apresentados os aparelhos que formam uma estao
de monitoramento do processo chuva-vazo:
Sensor de nvel (de presso): um sensor usado para medir o nvel dgua de um rio. Ele
fica instalado embaixo da gua, mergulhado no rio, e por meio da presso da coluna
dgua produz sinais eltricos que so enviados ao datalogger e convertidos em dados de
nvel dgua;
Rguas linimtricas: So rguas graduadas em centmetros que servem para visualizar o
nvel dgua de um rio. Geralmente so feitas de metal, madeira ou formadas por uma
pintura em alguma superfcie plana. Alm da medio de nvel dgua as rguas tambm
so importantes para conferir a leitura do sensor de nvel;
Sensor de turbidez: um sensor utilizado para medio de turbidez da gua. No caso de
monitoramento hidrolgico comum utilizar esse tipo de sensor para medio de slidos
suspensos. O sensor fica instalado embaixo da gua, mergulhado no rio onde emite um
feixe de luz de uma determinada freqncia. Essa luz se reflete nas partculas em
suspenso da gua mudando sua freqncia. A mudana de frequencia da luz captada e
interpretada pelo sensor e transmitida na forma de sinais eltricos ao datalogger. O
datalogger converte esses sinais eltricos em dados de turbidez ou quantidade de slidos
suspensos;
Pluvigrafo (de bsculas): Aparelho utilizado para medio de precipitao (chuva).
formado basicamente por um funil que conduz a gua da chuva para um sistema de duas
bsculas de volume conhecido. Quando uma bscula enche automaticamente ela vira para
esvaziar e a outra bscula passa a coletar a gua. As bsculas so unidas por um eixo que
contm um im acoplado. Quando ocorre a virada das bsculas esse im passa em frente
a um dispositivo que fecha um circuito que emite um pulso eltrico ao datalogger. Cada
pulso transmitido convertido em milmetros de chuva (conforme o volume da bscula).
A Figura 13.4 abaixo mostra os aparelhos de uma estao de monitoramento do processo
chuva-vazo.
189
(a)
(b)
(c)
(d)
Figura 13.4. Aparelhos usados para monitorar chuva e vazo. (a) Sensor de nvel; (b) Seo de
rguas linimtricas; (c) Sensor de turbidez; (d) Pluvigrafo de bsculas.
A qualidade dos dados de uma rede de monitoramento no depende apenas da tecnologia
dos aparelhos de medio. Depende tambm de aspectos como a localizao do aparelho de
medio em relao bacia de monitoramento, da fixao desse aparelho e da sua manuteno
peridica. A Tabela 13.2 abaixo apresenta alguns dos principais aparelhos utilizados nas estaes
de monitoramento hidrolgico com algumas recomendaes de instalao.
190
Tabela 13.2. Principais aparelhos utilizados nas estaes de monitoramento hidrolgico e algumas
recomendaes de instalao.
APARELHO RECOMEDAES DE ISTALAO
Sensor de nvel (de presso) Instalar em trecho do rio alinhado e a montante de sees de
controle (trechos naturais do rio que controlam a vazo);
Em local de pouca turbulncia e ondulao da gua
(geralmente onde se formam piscinas no rio);
Colocar o sensor dentro de alguma tubulao para que fique
protegido de algum impacto;
Se possvel colocar o sensor fora do canal do rio e de fcil
acesso em caso de cheia;
Instalar o sensor prximo seo de rguas linimtricas
(importante para a calibrao do sensor).
Seo de rguas linimtricas Instalar em trecho alinhado do rio e a montante de sees de
controle;
Em local de pouca turbulncia e ondulao da gua
(geralmente onde se formam piscinas no rio);
Montar a seo das rguas em forma de degraus comeando
no leito do rio e terminando no nvel mximo de gua observado em
alguma enchente histrica;
Nivelar as rguas com referncia na primeira rgua do leito
do rio;
Instalar uma referencia de nvel para que em caso de
deslocamento das rguas elas possam ser reinstaladas na mesma
posio (mesma cota).
Sensor de turbidez Instalar prximo ao sensor de nvel;
Se possvel em profundidade livre da influencia da luz solar;
Instalar o sensor dentro de alguma tubulao para que fique
protegido de algum impacto;
Posicionar o sensor de forma perpendicular direo do fluxo
de gua do rio.
Pluvigrafo (de bsculas) Instalar o mais afastado possvel de vegetao, construes,
estradas, etc, que provoquem interferncias na captao da gua da
chuva;
Instalar o pluvigrafo a uma altura mdia de 1,5 metros do
solo para que fique mais representativo da precipitao local e de
fcil acesso para manuteno;
Cercar uma pequena rea ao redor do aparelho para evitar a
aproximao de animais e algum tipo de vandalismo.
191
A Figura 13.5 abaixo mostra um esquema bsico de instalao de uma estao de
monitoramento hidrolgico automtico. Essa estao mede nvel de gua, slidos suspensos e
precipitao. Os dados ficam armazenados em um datalogger que por meio de um sistema com
sinal de celular transmite os dados at um computador servidor. Os dados tambm podem ser
obtidos diretamente do datalogger com um computador porttil.
Rgua linimtrica
Sensor de nvel
(presso)
Sensor de SS*
Datalogger
Pluvigrafo
Painel solar
Antena
Antena de celular
Computador servidor
* SS = Sedimento em suspenso
RN
Figura 13.5. Esquema bsico de instalao de uma estao de monitoramento hidrolgico
automtico.
A Figura 13.6 mostra uma estao de monitoramento instalada de forma semelhante ao
esquema da Figura 13.5.
(a)
Sensor de turbidez
Rgua linimtrica
Sensor de nvel
(b)
Figura 13.6. Estao de monitoramento de nvel dgua, sedimento em suspenso e precipitao.
192
Alm da preocupao com a instalao de uma estao preciso tambm se preocupar com
a manuteno da mesma. De nada adianta ter uma estao bem instalada se ela no passar
periodicamente por uma manuteno adequada. Por mais que o monitoramento seja automtico as
visitas aos locais de medio so indispensveis para manter a calibrao dos sensores e a qualidade
dos dados. Tambm, importante que cada problema encontrado seja relatado, pois assim, quando
o banco de dados for analisado os erros encontrados podem ser mais facilmente resolvidos. Por
exemplo, em visita a uma determinada estao encontra-se um pluvigrafo entupido. Se for anotado
essa alterao quando os dados do local forem analisados haver uma falha de dados de chuva que
ser facilmente compreendido o porqu no foi registrado. A Tabela 13.3 abaixo mostra alguns dos
problemas que podem ocorrer pela falta de manuteno dos aparelhos de medio.
Tabela 13.3. Alguns problemas devido falta de manuteno.
APARELHO PROBLEMAS
Sensor de nvel (de presso) Formao de ferrugem e processo de corroso;
Deslocamento da posio de medio.
Seo de rguas linimtricas Desnivelamento da seo de medio;
Formao de camada de algum tipo de limo ou acmulo de
sujeira que dificulta a leitura do nvel de gua, principalmente
nas rguas que ficam o tempo todo na gua.
Sensor de turbidez Acmulo de sedimento na frente do sensor, o que dificulta a
leitura;
Deslocamento da posio de medio.
Pluvigrafo (de bsculas) Entupimento com poeira, folhas e com ninho de insetos;
Desnivelamento.
A Figura 13.7 mostra alguns problemas encontrados pela falta peridica de manuteno dos
aparelhos de um monitoramento hidrolgico.
193
(a)
(b)
(c)
(d)
Figura 13.7. Problemas da falta de manuteno. (a) Pluvigrafo entupido com ninho de insetos; (b)
Pluvigrafo com marcas de vandalismo; (c) Sensor de turbidez com sedimento acumulado ao redor;
(d) Rgua linimtrica com camada de resduo que dificulta a leitura correta do nvel dgua.
13.5 Consideraes finais
O avano da tecnologia de comunicao beneficia a cincia hidrolgica com a obteno de
dados em tempo real. Isso acontece devido ao sistema de medio automtica juntamente com a
telemetria. A medio automtica realizada com uso de dataloggers, aparelhos responsveis pelo
armazenamento e transmisso de dados. Entre os principais sistemas telemtricos utilizados para
transmisso de dados hidrolgicos encontram-se os sistemas via sinal de rdio, celular e satlite. A
Tabela 13.4 mostra algumas vantagens e desvantagens desses trs sistemas de comunicao.
194
Tabela 13.4. Principais vantagens e desvantagens dos sistemas de telemetria
Tecnologia de
comunicao
Vantagens Desvantagens
GPRS - Sistema de fcil operao e
manuteno;
- Sistema de baixo custo;
- Dificuldade em manter a
qualidade do sinal;
- Relevo pode interferir na
transmisso do sinal;
-Aparecimento de rudos nas
matrizes de dados;
Satlite - Alta qualidade na transmisso de
dados;
- Sistema de fcil manuteno;
- Alto custo de implantao do
sistema;
Rdio - Baixo custo de implantao e
manuteno do sistema;
- Sistema de fcil operao;
- Sistema bom para monitoramento
em pequenas distncias;
- Relevos acidentados afetam a
qualidade no sinal (AM ou FM);
- Sistema ruim para monitoramento
em grandes distncias;
A Hidrometria, ferramenta hidrolgica responsvel pela medio de dados primrios, a
base do sucesso de qualquer estudo hidrolgico. Porm, muitas vezes, e isso depende do que se
busca na hidrometria, as verdadeiras concluses de um experimento s aparecem em longo prazo.
Ou seja, depois de um longo perodo de monitoramento e com muitas medies. Por isso, muito
importante analisar os custos de montagem e manuteno de um sistema de monitoramento
principalmente pela importncia de sua continuao.
195
Referncias bibliogrficas
BRAGA, S. M. (2005). Anlise do Potencial de Utilizao de Sensores Automticos
Hidroambientais: Estudo de Caso da Bacia do Rio Barigui. Dissertao (Mestrado em
Engenharia de Recursos Hdricos e Ambiental) - Setor de Tecnologia da Universidade Federal do
Paran, Curitiba - PR, p.146.
CARTER, R.W. (1961). Magnitude and frequency of floods in suburban areas. USGS
Professional Paper 424-B, p.9-11.
FEDERAL AVIATION AGENCY (1970). Dept of Trans. Advisory Circular on Airport
Drainage. FAA Washington (Rep. A/C 150-5320-5B).
KIRPICH, Z.P. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil
Engineering 10(6), p.362.
MAURO, S. R. (2002). Controle de Qualidade On-Line de Dados Hidrolgicos
Teletransmitidos. Dissertao (Mestrado em Cincias em Engenharia da Energia) - Programa de
Ps-Graduaco em Engenharia da Energia da Universidade Federal de Itajub, Itajub MG, p.157.
McCUEN, R.H.; WONG, S.L.; RAWLS, W.J. (1984). Estimating urban time of concentration.
Journal of Hydraulic Engineering 110(7), p.887-904.
MULVANY, T.J. (1850). On the use of self registering rain and flood gouges. Proc. Inst. Civ.
Eng. (Irel.) 4(2), p.1-8.
PORTO, R.L.L. (1995). Escoamento superficial direto, in Drenagem Urbana. Org. por Tucci,
C.E.M.; Porto, R.L.L. e Barros, M.T., ABRH, ed. UFRGS, Porto Alegre RS, pp. 107 165.
SILVEIRA, A.L.L. (2005). Desempenho de formulas de tempo de concentrao em bacias
urbanas e rurais. Revista Brasileira de Recursos Hdricos 10, p.5-23.
SINGH, V.P. (1976). Derivation of time of concentration. Journal of Hydrology 30, p.147-165.
196
14. PROCESSOS FSICOS EM AMBIETES ESTUARIOS
Davide Franco
Henrique Frasson de Souza Mrio
Gilmar de Oliveira Gomes
Raphael Fernando de Andrade Martins
Vincius Ternero Ragghianti
14.1 Definio e terminologia
Esturios so ambientes de transio entre o continente e o oceano, onde rios encontram o
mar, resultando na diluio mensurvel da gua salgada. Em mdia as guas estuarinas so
biologicamente mais produtivas do que as do rio e oceano adjacente, devido s caractersticas
hidrodinmicas da circulao que, aprisionam nutrientes alguas e outras plantas, estimulando a
produtividade desses corpos de gua. A palavra esturio derivada do adjetivo latino aestuarium,
cujo significado mar, ou onda abrupta de grande altura, fazendo referncia a um ambiente
altamente dinmico, com mudanas constantes em resposta forantes naturais (Miranda et al,
2002).
A foz de grandes rios ao longo do mundo formam os esturios economicamente mais
significativos, pois diversos servios como os portos e grandes centros de comrcio so encontrados
nos esturios. Cerca de 60% das grandes cidades esto localizadas nas suas proximidades. Muitos
esturios tambm so fonte de recursos pesqueiros. Muitas baas, canais, golfos e similares tambm
so considerados esturios por definio. Como o caso da baa de Florianpolis, lagoa da
Conceio, etc..
Segundo Kjerfve (1987), esturio um ambiente costeiro que apresenta conexo restrita
com o oceano adjacente. Tal conexo permanece aberta pelo menos intermitentemente. Esse
ambiente pode ser subdividido em trs zonas:
Zona de mar do rio (ZR) parte fluvial com salinidade praticamente igual a zero, mas
ainda sujeita influncia de mar;
Zona de mistura (ZM) regio onde ocorre a mistura da gua doce da drenagem continental
com a gua do mar;
Zona costeira (ZC) regio costeira adjacente que se estende at a frente da pluma estuarina
que delimita a camada limite costeira ( CLC).
197
Figura 14.1 Seo longitudinal de um sistema estuarino indicando: Zona de mar do rio (ZR); Zona
de mistura (ZM); e Zona Costeira (ZC). So tambm apresentadas as caractersticas da estrutura
vertical de salinidade e circulao mdias. Qf denota a descarga fluvial ou vazo do rio. (Adaptada
de Simpson, 1997).
14.2 Origem
Essencialmente todos os esturios existentes hoje em dia tm a sua origem devido s
mudanas do nvel do mar nos ltimos 18000 anos. Um aumento do nvel do mar de
aproximadamente 120m resultante do derretimento da maior glaciao continental que cobria
pores da Amrica do Norte, Europa e sia durante a poca do Pleistoceno, mais comumente
conhecida como a era do gelo. Quatro maiores classes de esturios podem ser distinguidas
(Thurman, 1994 e Miranda et al, 2002):
1. Esturio de plancie costeira formado pelo aumento do nvel do mar fazendo com que o
oceano invada o vale do rio existente;
2. Fiordes so vales em formato de U gerados por glaciao, com paredes ngremes.
Eles geralmente possuem um depsito glacial formando um dique prximo entrada do
oceano. Fiordes so comuns ao longo da Noruega, Canad e Nova Zelndia;
3. Esturios construdos por barra so esturios rasos separados do oceano por barras
compostas de areia depositadas paralelas linha de costa devido a ao das ondas. Lagunas
separando a ilha-barreira do continente so esturios construdos por barra.
4. Esturios tectnicos so produzidos por falhamentos ou dobramentos, que formam uma
depresso numa rea restrita em que o rio flui. O esturio do tipo ria formou-se por
elevao da parte continental onde estava localizado o vale interior do rio, aliviado do peso
de glaciares durante o descongelamento. O rio foi inundado com a elevao do nvel do
mar, formando esse esturio tpico de regies montanhosas.
5. Outros esturios so formados por processos de sedimentao recentes nos ltimos
milnios, dando-se destaque aos deltas e rias. Nas regies de macro ou hipermar, com
ao moderada ou grande de ondas e com transporte fluvial de alta concentrao de
sedimentos em suspenso, o processo denominado delta estuarino ou delta de enchente,
como o delta do Rio Amazonas. Em regies de micro-mar, com ao de ondas de energia
moderada, a sedimentao tem lugar na plataforma continental interna, formando bancos
de areia e ilhas, dando origem ao delta de vazante, como o delta do Rio Mississipi.
198
Figura 14.2. Tipos fisiogrficos de esturios (adaptado de Fairbridge, 1980).
14.3 Classificao de acordo com a salinidade
De acordo com a estratificao vertical de salinidade temos os seguintes tipos de esturios
(Stommel, 1950, Pritchard, 1955, Officer, 1977, Thurman, 1994, Miranda et al, 2002):
1. Cunha salina: so dominados pela descarga fluvial e pelo processo de entranhamento,
que responsvel pelo aumento de salinidade da camada superficial, e a mistura por difuso
turbulenta desprezvel. Devido as variaes da descarga fluvial e da mar, a cunha salina
no se mantm estacionria, movendo-se lentamente, buscando sempre uma posio de
equilbrio. Este esturio tpico onde a foz profunda e o rio transporta grandes volumes de
gua. No h gradiente horizontal de salinidade na superfcie, mas h um gradiente
horizontal no fundo, j o gradiente vertical muito grande, que se manifesta em uma forte
haloclina, que ser mais rasa e mais bem desenvolvida prximo foz do esturio.
2. Parcialmente misturado : com a co-oscilao da mar, todo volume de gua no interior
do esturio agitado periodicamente. Isso ocorre para pequena altura de mar, entretanto,
somente para pequenos valores da razo de fluxo a agitao ser suficientemente intensa
para ocasionar eroso mais acentuada da haloclina. Esturios com gradientes verticais
199
moderados de salinidade so denominados parcialmente misturados. A energia da mar
envolvida nesse processo deve ser suficientemente grande para realizar trabalho tanto contra
o atrito nos limites geomtricos do esturio, quanto contra a ao estabilizadora do empuxo,
produzindo turbulncia interna. So esturios relativamente rasos em que a salinidade
aumenta de montante para jusante ao longo de toda a profundidade. Duas massa de gua
bsicas podem ser identificadas, a de baixa salinidade, superior, formada pelo rio e a de alta
salinidade, mais profunda, separadas por uma zona de mistura.
3. Altamente estratificado: tpico de esturios profundos em que a salinidade nas camadas
superiores aumenta de montante para jusante, terminando com valores prximos a de guas
de oceano aberto. A camada de gua profunda, muitas vezes, possui uma taxa uniforme de
salinidade em qualquer profundidade ao longo do comprimento do esturio. O balano de
fluxo das duas camadas similar aos esturios parcialmente misturados, exceto que o
balano da mistura que acontece na interface entre a gua superior e inferior da massa de
gua profunda em direo gua superior. A massa de gua menos salina da superfcie
parece no diluir a massa de gua profunda e simplesmente se move em direo jusante do
esturio, tendo sua salinidade aumentada medida que a gua do fundo vai se misturando.
Desenvolvem-se haloclinas relativamente fortes no contato entre as massas de gua inferior
e superior.
4. Verticalmente bem misturado: em canais estuarinos estreitos, o cisalhamento lateral
poder ser suficientemente intenso para gerar condies homogneas lateral. Nessa
condies, a salinidade aumenta gradativamente esturio a baixo e o movimento mdio est
orientado nessa direo em todas as profundidades. Nesses esturios o cisalhamento das
correntes de mar gera difuso turbulenta com intensidade bem maior do que nos outros
tipos de esturio.
Figura 14.3. Classificao dos esturios com base no grau de mistura (adaptado de Thurman,
1994).
14.4 Circulao e mistura nos esturios
Um esturio um ambiente costeiro de transio entre o continente e o oceano, onde a gua
do mar diluda pela gua doce da drenagem continental. Esse ambiente forado por agentes
locais e remotos gerados pela ao de eventos climticos, oceanogrficos, geolgicos, hidrolgicos,
biolgicos e qumicos, que ocorrem na bacia de drenagem e no oceano adjacente muitas vezes a
dezenas, centenas e at milhares de quilmetros de distncia (Miranda et al, 2002).
200
O vento uma forante que promove a aerao e a mistura das guas do esturio. Tambm
pode provocar ondas e correntes nos esturios com grande rea superficial, intensificando a mistura
(Miranda et al, 2002).
O balano entre precipitao, descarga fluvial e evapotranspirao na bacia de drenagem do
esturio sempre positivo, isto , a soma entre as fontes de gua (precipitao e descarga) sempre
maior do que a evapotranspirao. Condies de equilbrio entre a entrada de gua doce na
cabeceira e a sada dessa gua para a regio costeira so, em geral, mantidas em condies
meteorolgicas normais. Sendo assim, o valor mdio do transporte de volume resultante do esturio,
durante vrios ciclos de mar, so praticamente iguais. Os fenmenos de evapotranspirao,
precipitao e percolao no prprio esturio tem uma contribuio pequena para o balano de gua
doce no sistema (Miranda et al, 2002).
Os movimentos neste ambiente costeiro so gerados por variaes do nvel do mar, pela
descarga de gua doce, pelo gradiente de presso devido a influncia termohalina da salinidade
sobre a densidade, pela circulao na plataforma continental e pelo vento agindo diretamente sobre
a superfcie livre. Essas forantes so funo do espao e do tempo e atuam simultaneamente sobre
corpo de gua estuarino (Miranda et al, 2002).
Entretanto, embora a escala espacial e temporal de variao das forantes num esturio seja
muito ampla e com ocorrncia simultnea, as caractersticas hidrodinmicas dos esturios so
controlados principalmente pelas mars semidiurnas e diurna (Miranda et al, 2002).
14.5 Mars
Mar o nome dado para as subidas e descidas do nvel do mar com um perodo mdio de
12,4h (semidiurnas) e 24,8h (diurnas). As subidas e descidas so as caractersticas mais observadas,
mas fundamentalmente o primeiro fenmeno so as correntes horizontais. As subidas e descidas do
nvel prximas costa so conseqncia da convergncia e divergncia ocorrendo quando as
correntes de mar fluem em direo ou para fora da costa (Pond e Pickard, 1983).
As subidas e descidas regulares e as correntes de mar tem sido observadas pelos moradores
desde os tempos pr-histricos; por volta do sculo treze, observaes levaram tcnicas de
previses empricas relacionadas aos movimentos da lua. Entretanto, apenas depois de Newton, por
volta de 1687, ter aplicado a Lei da Gravitao para explicar a fsica bsica causadora das mars,
que mtodos sistemticos foram desenvolvidos para a previso (Pond e Pickard, 1983).
A altura da onda de mar (H
0
) por definio a diferena entre os nveis mximo (crista) e
mnimo (cavado) e a distncia entre duas cristas ou cavados consecutivos o comprimento de onda
(). A propagao desses eventos uma ou duas vezes por dia constitui o ciclo de mar e o intervalo
de tempo desses ciclos, aproximadamente iguais a 12,4h (semidiurnas) e 24,8h (diurnas), o
perodo (T) (Figura14.4).
201
Figura 14.4 Oscilao peridica simtrica da mar em relao ao nvel mdio. H
0
, e T denotam a
altura, o comprimento de onda e o perodo (fonte: Miranda et al, 2002)
Alm das flutuaes semidiurnas e diurnas que so dominantes, a mar tem componentes de
longo perodo, quinzenal, mensal e anual, principalmente. Os componentes quinzenais so
moduladas pelas fases da Lua e a altura na sizgia (Lua cheia ou nova) maior do que na quadratura
(quarto crescente ou minguante) (figura 14.5). As oscilaes com periodicidade sazonal fazem com
que no outono e na primavera a mar de sizgia alcance o valor mximo, enquanto o mnimo ocorre
no inverno e no vero.
Figura 14.5 Ciclos de mar de sizgia e quadratura associados s fases de lua cheia, lua nova,
quarto crescente e quarto minguante em funo do efeito conjugado de atrao gravitacional
exercido pelo sol e pela lua. (Adaptado de Thurman, 1994).
202
As mudanas de mar em um determinado local so o resultado da mudana de posio do
sol e da lua em relao Terra acopladas aos efeitos da rotao da terra, da batimetria dos oceanos,
mares ou esturios. O nvel do mar pode variar fortemente devido ao efeito do vento e outras
forantes como a batimetria. Sendo assim, podemos separar a mar em duas partes, uma
determinstica e outra estocstica.
A parte determinstica aquela em que cada varivel unicamente determinada por
parmetros do modelo e por um conjunto de premissas dessas variveis. No caso das mars, a parte
determinstica atribuda aos efeitos astronmicos no nvel do mar, por isso chamada de mar
astronmica. a mar astronmica que est prevista nas famosas tbuas de mars da marinha.
A parte estocstica aquela em que padres surgem atravs de eventos aleatrios. No caso
das mars, a parte estocstica atribuda aos efeitos do vento e alguns efeitos da morfologia da
parte submersa do esturio (batimetria), por isso chamada de mar meteorolgica.
Para fazer a previso da mar astronmica so utilizadas as constantes harmnicas. Para
calcular estas constantes utiliza-se programas como o T_TIDE descrito em Pawlowicz et al. (2002).
14.6 Esturios de Santa Catarina
A seguir so apresentados alguns resultados obtidos pelo grupo de pesquisas do Laboratrio
de Hidrulica Martima LaHiMar da Universidade Federal de Santa Catarina.
14.6.1 Esturio da Lagoa da Conceio
Durante o perodo de 17 de agosto a 1 de setembro de 2005 foram monitorados a mar, as
correntes, a temperatura das guas e as condies meteorolgicas no canal de ligao da Lagoa da
Conceio com a regio marinha adjacente. Este canal o que torna a Lagoa um dos principais
sistemas estuarinos da Ilha de Santa Catarina. As figuras 14.6 e 14.7 mostra a localizao do
monitoramento.
203
Figura14.6. Localizao do monitoramento realizado no canal que liga a Lagoa da Conceio ao
mar.
A instalao dos aparelhos que mediram corrente, temperatura e nvel, foram realizadas
atravs de mergulho autnomo. Os aparelhos utilizados foram um correntgrafo (Figura 14.8), que
mede direo, velocidade e temperatura das correntes, e um sensor de presso que mede o nvel da
gua sobre o aparelho. J para a medio dos dados meteorolgicos foi instalada uma estao
meteorolgica nas dependncias do campus avanado da UFSC na Barra da Lagoa, local bem
prximo ao canal.
Figura 14.7. Foto do canal da barra. As bias indicam a posio onde o correntgrafo foi instalado.
204
Figura 14.8 Foto do sistema de fundeio utilizado para instalao do correntgrafo. De cima para
baixo de cor amarela uma bia de meia-gua, de cor encarnada o correntgrafo e de cor laranja uma
poita (peso) para que o sistema permanea imvel no fundo.
O correntgrafo foi posicionado no talvegue do canal para que pudesse realizar medies, o
quanto mais representativas possvel, do escoamento no canal e ao mesmo tempo evitar que
houvesse um abalroamento por alguma embarcao, depredao ou furto do aparelho. Para a
medio da mar um sensor de nvel submerso prximo a margem foi suficiente (Figura 14.9).
Figura 14.9. Perfil do canal da barra, indicando a posio de instalao dos aparelhos.
Nos resultados possvel observar que de uma maneira geral, tanto o nvel e a temperatura
da gua, quanto a direo e velocidade das correntes apresentam uma variao bastante clara com o
perodo semidiurno (12,4h). Com o nvel descendo as correntes vo em direo a jusante (vazante)
205
e a temperatura aumenta, ocorrendo o contrrio com o nvel subindo, quando as correntes vo em
direo a montante e a temperatura diminui (Figura 14.10).
Figura 14.10. Variao do nvel, velocidade e direo das correntes e temperatura da gua.
Na Figura14.10 possvel observar fenmenos com a escala de algumas horas, compatveis
com a escala de tempo diurna e semidiurna. Mas se quisermos comear a entender quais os
processos esto envolvidos numa escala de tempo de alguns dias, como a passagem de uma frente-
fria, temos que olhar para um conjunto maior de dados. A Figura14.11 mostra o perodo inteiro
analisado, j sendo possvel identificar alguns perodos com caractersticas bastante diferentes que
as observadas na figura passada. Dois perodos anmalos esto assinalados na Figura14.11, perodo
A e perodo B, no perodo A ocorre um aumento do nvel que perdura em ascendncia por mais de
24, seguido pela intensificao das correntes de enchente e diminuio das temperaturas. Em
seguida o efeito inverso acontece no perodo B.
206
Figura 14.11. Variao do nvel, velocidade e direo das correntes e temperatura da gua.
Para tentar entender melhor este fenmeno, vamos observar a figura14.12, que mostra a
intensidade e direo dos ventos e a quantidade de precipitao em comparao com o nvel da
mar. Percebe-se que um pouco antes e durante parte do perodo assinalado com a letra A os ventos
possuem direes vindas do quadrante, indicando que h uma relao deste aumento de nvel das
guas, com o padro de ventos, uma vez que a precipitao no significativa neste perodo.
No perodo assinalado com a letra B fica evidente o retorno dos ventos ao quadrante de
norte para sul, momento em que a vazo completamente em direo a jusante, compensando o
tempo em que ficou em sentido contrrio.
207
Figura 14.12. Variao do nvel, velocidade e direo das correntes e temperatura da gua.
O estudo realizado no canal da barra elucidou alguns fatos da circulao no sistema
estuarino da Lagoa da Conceio, mas tambm fez surgir ainda mais dvidas sobre este to
importante recurso hdrico de Santa Catarina.
O mtodo para as medies de correntes impossibilita uma anlise integral da vazo do
canal, pois os valores de velocidade e direo se concentram em apenas uma profundidade, e como
pudemos observar, muitas vezes h grandes diferenas ao longo da profundidade.
Mtodos de medio acstico poderiam ser melhor empregados, uma vez que podem medir
a velocidade em toda a coluna de gua, entretanto, nem sempre a disponibilidade de equipamentos e
a demanda por estes dados podem suprir algo ideal. Por isto, inmeros estudos de modelagem tem
sido realizados, pois estes muitas vezes dispensam a utilizao de muitos aparelhos de medio,
sendo necessrio apenas alguns dados que sirvam para a comparao e/ou calibrao dos modelos.
14.6.2 Esturio da Baa de Florianpolis
Com diversos rios desaguando na Baa de Florianpolis, possvel considerar o conjunto
Baa Norte e Baa Sul um grande esturio que se comunica com a regio costeira atravs de suas
duas extremidades norte e sul.
Como vimos at o momento, a variao de mar um dos fatores mais importantes na
circulao e mistura das guas de um esturio, juntamente com os ventos e as diferenas de
densidade. Pensando nisto o LaHiMar implantou uma estao permanente de monitoramento do
nvel do mar, atravs de um sensor de presso, na extremidade norte da Baa de Florianpolis, mais
especificamente na praia de Jurer.
A Figura 14.13 mostra a localizao de locais estudados pelo LaHiMar, sendo que o ponto
amarelo com a sigla NIV mostra o local onde est localizada a estao maregrfica do Jurer.
208
Figura 14.13. Localizao de locais estudados pelo LaHiMar.
Figura 14.14. Desenho esquemtico da estao maregrfica de Jurer.
209
Os sensores de presso so prticos e baratos, entretanto apresentam uma srie de
problemas, como perda de preciso ao longo do tempo, sendo necessrias limpezas e calibraes
peridicas constantes, para que o sinal medido seja equivalente ao nvel verdadeiro. Estes sensores
tambm apresentam erros devido a diferenas de salinidade e temperatura. Outros sensores como os
sensores ultrasnicos e tambm os margrafos de bia e contrapeso so mais recomendados para
uma estao maregrfica. A pesar destas dificuldades o nvel na praia de Jurer vem sendo medido
h mais de 1 ano, o que constitui material nico em Florianpolis.
A Figura 14.14 mostra o esquema de instalao do margrafo, que constitudo basicamente
de um sensor de presso, dentro de um tubo estabilizador de ondas que tambm inibidor de
crescimento de organismos no sensor, devido a diminuio da luminosidade. Este sensor est ligado
a uma unidade armazenadora de dados, que ligada a uma bateria, um painel solar e um modem
GSM. sempre importante que todas as medidas estejam referenciadas uma RN (referncia de
nvel), no caso de ocorrer o deslocamento do aparelho, ou for necessrio a sua remoo e
reinstalao. Isto necessrio para que seja possvel relacionar os dados antes e aps qualquer
alterao.
A partir de um computador conectado a uma linha telefnica, faz-se uma ligao para a
estao maregrfica e os dados podem ser baixados e a estao reprogramada. O tamanho da
memria permite que sejam gravados aproximadamente 2 meses de dados, mas as recuperaes
devem ser num perodo menor, pois isto ajuda a detectar algum problema que pode ocorrer no
sensor ou em alguma parte da estao.
Na Figura 14.15 possvel observar a mar medida pela estao maregrfica de Jurer.
Nesta mesma figura, no painel inferior esto separadas a parte determinstica da estocstica do sinal
de mar. Para isto foi utilizado o programa T_TIDE. Na figura possvel tambm identificar
perodos de mar de sizgia e de quadratura.
Figura 14.15. No quadro superior a mar medida e no inferior as partes determinstica
(astronmica) e estocstica (meteorolgica) do sinal de mar.
210
Figura 14.16 Margrafo de Jurer.
Referncias bibliogrficas
Kjerfve, B. 1987. Estuarine Geomorphology and Physical Oceanography. In: Day Jr., J. W., C. H. A.
S. Hall, Kemp W. M. & Yez-Aranciba, A. (eds.). Estuarine Ecology. New York, Wiley, pp. 47-78.
Officer, C. B. 1976. Physical Oceanography of Estuaries (and Associated Coastal Waters). New York,
Wiley. 465p.
Stommel, H. M. 1950. Proceedings of the Colloquium on the Flushing of Estuaries. Woods Hole:
Woods Hole Oceanographic Institution.
Miranda, L. B., Castro, B. M., e Kjerfve, B.. 2002. Princpios de Oceanografia Fsica de Esturios.
Editora da Universidade de So Paulo. 414 pp.
Pritchard, D. W. 1955. Estuarine Circulation Patterns. Proc. Am. Soc. Civ. Eng., 81:717:1-11
Thurman, H. V. 1994. Introductory Oceanography. 7 ed. Ed. Macmillan, Englewood Cliffs. p. 310, 550p.
Garrison, T. S. 1999. Oceanography - an Invitation to Marine Science. Brooks Cole, 544 p.
Pawlowicz, R., Beardsley, B. e Lentz, S. Classical tidal harmonic analysis including error estimates in
MATLAB using T_TIDE. Elsevier Science Ltd. Pergamon. Computer & Geosciences n. 28, p. 929-937.
2002.
Pond, S.; e Pickard, G. L.. Introductory Dynamical Oceanography. 2 ed. Ed. Butterworth Henemann,
Linacre House, Jordan Hill, Oxford. Reed Elsevier group. 329 p. 1983.
211
15. COCLUSES
Masato Kobiyama
Fernando Grison
Como foi mencionado, a hidrologia uma cincia bsica e fundamental no gerenciamento
de recursos hdricos. Tentando controlar o excesso e a falta de recursos hdricos, minimizando
danos socio-economico-ambientais da sociedade, e garantindo o saneamento bsico, a meta final do
gerenciamento de recursos hdricos garantir a sade dos indivduos e da sociedade.
O fenmeno e o objeto (sistema) principal da hidrologia so o ciclo hidrolgico e a bacia
hidrogrfica, respectivamente. Os componentes do primeiro se chamam processos hidrolgicos tais
como precipitao, interceptao, entre outros. Os componentes (sub-sistemas) do segundo so copa
da vegetao, solo, rede fluvial, entre outros. Como cada sub-sistema possui diferente capacidade
de armazenar e transportar gua, ocorrem heterogeneidades temporais e espaciais dos recursos
hdricos em quaisquer locais e momentos.
Recentemente, a mudana climtica global torna-se destaque mundial. A maioria dos
cientistas que trabalham com isso e tambm a mdia geral se manifesta sobre aquecimento global
alertando que no futuro os eventos hidrolgicos extremos se intensificaro, ou seja, acontecero
mais chuvas fortes e estiagens fortes. Embora sendo a minoria, existem pesquisadores que
defendem a teoria do esfriamento global. Segundo alguns pesquisadores que apiam o esfriamento
global, os eventos extremos no processo de esfriamento ficaram ainda mais severos do que no
aquecimento. Portanto, independente de aquecimento ou esfriamento, a sociedade deve preparar-se
ainda mais contra os eventos hidrolgicos extremos. Para isso, indispensvel monitorar os
processos hidrolgicos com o maior tempo e o maior nmero de locais possveis.
Os processos hidrolgicos so fortemente no-lineares, o que gera a complexidade. Segundo
KAN (2005), quando aumenta a rea de bacia, aumenta a linearidade. Ento, no caso de uma bacia
pequena, precisa-se considerar ainda mais esta no-linearidade. As bacias teis para abastecimento
normalmente so pequenas. Ento, o sistema do monitoramento hidrolgico para tais bacias deve
ser bem estruturado. A conservao de mananciais e seu uso dependem totalmente do
monitoramento, ou seja, da hidrometria. Com correto conhecimento da hidrologia e adequadas
tcnicas de hidrometria, cada manancial deve ser monitorado.
Os cursos de capacitao na rea de recursos hdricos so uma ferramenta bsica do
processo de preservao dos mananciais. Eles podem ser considerados uma educao ambiental
avanada, na qual profissionais de vrios setores do meio ambiente buscam enriquecer suas
informaes sobre a preservao dos recursos hdricos. Por isso, as instituies de ensino buscam
promover esses cursos como uma misso com a comunidade e com a preservao do meio
ambiente.
Referncias bibliogrficas
KAN, A. Estimativa de evapotranspirao real com base na anlise de recesso dos
hidrogramas. Curitiba: UFPR, 2005. 257p. (Tese de doutorado em Mtodos Numricos em
Engenharia).
You might also like
- 2020 c3d Content Brazil Doc Portuguese-BrDocument174 pages2020 c3d Content Brazil Doc Portuguese-BrfilomenaNo ratings yet
- Manual de CAD - 3 Edição PDFDocument76 pagesManual de CAD - 3 Edição PDFMarcelle GoliniNo ratings yet
- Sopradores RobuschiDocument14 pagesSopradores RobuschiMarcelle GoliniNo ratings yet
- Manual Tratamento Efluentes IndustriaisDocument3 pagesManual Tratamento Efluentes IndustriaisEngenharia Sanitaria E Ambiental17% (6)
- P8B PDFDocument29 pagesP8B PDFMarcelle GoliniNo ratings yet
- Cartilha Residuos Da Construcao CivilDocument45 pagesCartilha Residuos Da Construcao CivilRAFAMDSNo ratings yet
- TR Laudo Hidrogeologico GeralDocument3 pagesTR Laudo Hidrogeologico GeralJosé Fabio HaesbaertNo ratings yet
- Candido Bordeaux Rego Neto 1410577 PDFDocument18 pagesCandido Bordeaux Rego Neto 1410577 PDFMarcelle GoliniNo ratings yet
- Manual Tratamento Efluentes IndustriaisDocument3 pagesManual Tratamento Efluentes IndustriaisEngenharia Sanitaria E Ambiental17% (6)
- Gestão da Qualidade em ProjetosDocument15 pagesGestão da Qualidade em ProjetosGilberto Ricardo0% (1)
- Pedro Alem SobrinhoDocument38 pagesPedro Alem SobrinhoMarcelle GoliniNo ratings yet
- Laudo Hidrológico Pelotas - Estudo Canal São GonçaloDocument14 pagesLaudo Hidrológico Pelotas - Estudo Canal São Gonçalodouglas angeieskiNo ratings yet
- Metodologia de Controle A Poluição - Capitulo 7Document93 pagesMetodologia de Controle A Poluição - Capitulo 7crisfrancisco100% (1)
- .. Eadcoc Docenteonline Arquivos MateriaisDocument12 pages.. Eadcoc Docenteonline Arquivos MateriaisMarcelle GoliniNo ratings yet
- Famac 2016 2 PQ PDFDocument60 pagesFamac 2016 2 PQ PDFMarcelle GoliniNo ratings yet
- 2013 Avaliacao CamadaSiplesXDuplaDocument7 pages2013 Avaliacao CamadaSiplesXDuplaeustaccoNo ratings yet
- Gestão da Qualidade em ProjetosDocument15 pagesGestão da Qualidade em ProjetosGilberto Ricardo0% (1)
- Gerenciamento de Riscos - EbookDocument62 pagesGerenciamento de Riscos - EbookMarcelle GoliniNo ratings yet
- Pac X TanflocDocument10 pagesPac X TanflocMarcelle GoliniNo ratings yet
- Linha de ar comprimido para energia limpaDocument39 pagesLinha de ar comprimido para energia limpajulio_cesar_w100% (1)
- Ficha de Trabalho de Matemática com 15 questões sobre Geometria, Álgebra e FunçõesDocument8 pagesFicha de Trabalho de Matemática com 15 questões sobre Geometria, Álgebra e FunçõesMarcelle GoliniNo ratings yet
- Tese Sensores OD RevisadaDocument156 pagesTese Sensores OD RevisadaEderson MafraNo ratings yet
- Empalsul - 16.11.2015 PDFDocument2 pagesEmpalsul - 16.11.2015 PDFMarcelle GoliniNo ratings yet
- Clarificacao de Agua de Abastecimento PublicoDocument101 pagesClarificacao de Agua de Abastecimento PublicoMarcelle GoliniNo ratings yet
- Gestão de fontes estacionárias de poluição atmosféricaDocument106 pagesGestão de fontes estacionárias de poluição atmosféricaMarcelle Golini100% (1)
- 09 Sisagua 2013-1Document49 pages09 Sisagua 2013-1Marcelle GoliniNo ratings yet
- Metodologia de Controle A Poluição - Capitulo 7Document93 pagesMetodologia de Controle A Poluição - Capitulo 7crisfrancisco100% (1)
- Aula Projeto de Barragens FRP (Modo de Compatibilidade)Document51 pagesAula Projeto de Barragens FRP (Modo de Compatibilidade)Fernanda Luiza100% (4)
- Manual Art Crea SCDocument35 pagesManual Art Crea SCfrancescogregorioNo ratings yet
- Guia de símbolos de geometria sagradaDocument20 pagesGuia de símbolos de geometria sagradaPaulo DiasNo ratings yet
- Criatividade e Rotina em PesquisaDocument13 pagesCriatividade e Rotina em PesquisaRafael LemosNo ratings yet
- GPC-006 Usp PDFDocument3 pagesGPC-006 Usp PDFCamylla GarciaNo ratings yet
- Guia de Treinamento CROSSFITDocument124 pagesGuia de Treinamento CROSSFITpoke0303No ratings yet
- Limites Operacionais e de Projeto SegurosDocument7 pagesLimites Operacionais e de Projeto SegurosRobson MauroNo ratings yet
- Exu A Pedra PrimordialDocument33 pagesExu A Pedra PrimordialAnderson SilvaNo ratings yet
- Antônio Carlos Robert de Moraes, Geografia Histórica Do BrasilDocument4 pagesAntônio Carlos Robert de Moraes, Geografia Histórica Do BrasilJean Da Silva Cruz CruzNo ratings yet
- Catálogo Técnico HenningsDocument266 pagesCatálogo Técnico HenningskeinersvasconcelosNo ratings yet
- A Existência segundo HeideggerDocument16 pagesA Existência segundo HeideggerRobson BarbosaNo ratings yet
- Como se preparar para um sismoDocument2 pagesComo se preparar para um sismoAna PaivaNo ratings yet
- Introdução Sig SFFJDocument41 pagesIntrodução Sig SFFJServelinoNo ratings yet
- Ficha Técnica - Junta GibaultDocument2 pagesFicha Técnica - Junta GibaultRodrigo MedeirosNo ratings yet
- Erros texto Menina MarDocument2 pagesErros texto Menina MarFilipa EstrelaNo ratings yet
- Mactor Portugues PDFDocument40 pagesMactor Portugues PDFJoaquin JimenezNo ratings yet
- Lista de Hidraulica 1Document4 pagesLista de Hidraulica 1vicenteengcivilNo ratings yet
- 7a MD Ciencias Vol121Document66 pages7a MD Ciencias Vol121Joey de FariasNo ratings yet
- Planilha AmarracaoDocument6 pagesPlanilha Amarracao084250No ratings yet
- 1 Ts 5 12-28 - Como Cultivar Relacionamentos Saudáveis Na IgrejaDocument12 pages1 Ts 5 12-28 - Como Cultivar Relacionamentos Saudáveis Na IgrejaVinicius ViganigoNo ratings yet
- Aula TJ-PI Português classes palavrasDocument70 pagesAula TJ-PI Português classes palavrasErick Caíque De LimaNo ratings yet
- Gabigol NeymarDocument3 pagesGabigol NeymarRaposaDraw aNo ratings yet
- Uf 83Document28 pagesUf 83RobertoBarbosaNo ratings yet
- SUESSEN Premium Parts. para As Máquinas de Fiação A Rotor AutocoroDocument116 pagesSUESSEN Premium Parts. para As Máquinas de Fiação A Rotor AutocoroAbraão CostaNo ratings yet
- A política e a natureza dos factos em AngolaDocument35 pagesA política e a natureza dos factos em AngolaFrancisco Antonio Manuel KIlsonNo ratings yet
- Perguntas e Respostas Sobre A Aplicacao Do REG 1169-2011 - Prestacao de Informacoes Aos Consumid Sobre Generos AlimenticiosDocument32 pagesPerguntas e Respostas Sobre A Aplicacao Do REG 1169-2011 - Prestacao de Informacoes Aos Consumid Sobre Generos Alimenticiosmiguel521No ratings yet
- Homeopatia: Apis Mellifica e Futuro da PráticaDocument18 pagesHomeopatia: Apis Mellifica e Futuro da PráticaJessyca Paes100% (1)
- Mushoku Tensei Vol 8Document263 pagesMushoku Tensei Vol 8rafaelNo ratings yet
- 1 - Estrutura Do Acto de ConhecerDocument7 pages1 - Estrutura Do Acto de ConhecerTiago LopesNo ratings yet
- PCC de Aspectos Antropológicos e Sociológicos Da Educação.Document5 pagesPCC de Aspectos Antropológicos e Sociológicos Da Educação.História DiretaNo ratings yet
- ACCESS - Enunciados Aclaradores e Perguntas.Document5 pagesACCESS - Enunciados Aclaradores e Perguntas.Patricia Alessandra Fukura de Abreu99% (87)