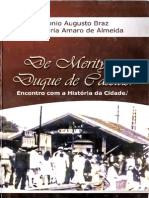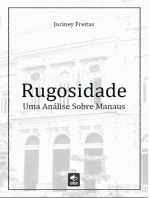Professional Documents
Culture Documents
Sobre Os Trilhos Do Bonde - cp000287
Uploaded by
ESTUDANTE_SP0 ratings0% found this document useful (0 votes)
58 views134 pagesOriginal Title
Sobre Os Trilhos Do Bonde_cp000287
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
58 views134 pagesSobre Os Trilhos Do Bonde - cp000287
Uploaded by
ESTUDANTE_SPCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 134
1
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANAS
CURSO DE PS-GRADUAO EM HISTRIA
SOBRE OS TRILHOS DO BONDE, OS CAMINHOS DE UMA CIDADE
BRASILEIRA
Mara Regina do Nascimento
Dissertao apresentada como requisito
parcial e ltimo para a obteno do grau
de Mestre em Histria do Brasil, sob a
orientao da Prof
a
Dr
a
La Freitas
Perez.
Porto Alegre
1996
2
Curso de Ps-Graduao em Histria
SOBRE OS TRILHOS DO BONDE, OS CAMINHOS DE UMA CIDADE
BRASILEIRA
Mara Regina do Nascimento
Porto Alegre
1996
3
AGRADECIMENTOS
Este trabalho, realizado com o suporte financeiro do CNPq, tornou-se possvel
tambm graas a um conjunto de esforos e afetos para os quais gostaria de expressar o
meu agradecimento.
A La Freitas Perez que, alm de uma orientao criteriosa e de singular
competncia, tributou-me sua inestimvel amizade. Devo a ela o reconhecimento da
importncia de uma nova viso, mais generosa e potica, sobre a Histria do Brasil.
A Marion Kruse Nunes, pela oportunidade que ofereceu-me em 1992 de
trabalhar pela primeira vez na pesquisa histrica sobre a Carris, juntamente com a
equipe sob a sua coordenao no Centro de Pesquisas Histricas da Secretaria
Municipal de Cultura. A ela agradeo tambm pela prontido com que cedeu-me, nos
ltimos meses, todo acervo coletado naquela ocasio para que eu pudesse novamente
consult-los.
Aos colegas de curso Mozart, Dinah, Centurio, Jussara e Manolo pela amizade
e pelo saudvel exerccio de troca de idias, realizado ao longo desses dois anos.
A Sra. Mirian Ribeiro Antonini, pelo emprstimo de seus antigos e valiosos
cartes postais da cidade de Porto Alegre, que serviram para ilustrar parte desse
trabalho.
A Carla Helena Carvalho Pereira e Rosana dos Santos Sanches, pela prontido e
disponibilidade com que sempre me ajudaram a resolver as antipticas, mas
necessrias, questes burocrticas que requer a realizao do curso.
E, em especial, ao Andr que, ao entrar na minha vida, ajudou-me a lembrar o
que eu, como mestranda, estive sujeita a esquecer: o ato de escrever exige muito mais
da alma do que da razo.
4
SUMRIO
NO TRNSITO E NO MOVIMENTO DA CIDADE BRASILEIRA............... 8
1. A CIDADE E A MODERNIDADE............................................................. 16
1.1 OCUPAR PARA CIVILIZAR......................................................... 22
1.2 MODERNIZAR PARA CIVILIZAR .............................................. 28
2. OS TRAJETOS DOS BONDES E A TRAJETRIA HISTRICA DA
CIDADE ............................................................................................................... 43
2.1 DOS CAMINHOS E DOS TRILHOS NUM PORTO ALEGRE........... 50
2.2 UMA LEBRE DE TRS ANOS CORRE MAIS QUE UM BURRO
DE CEM ................................................................................................................. 56
3. A URBANIDADE E A FESTA ......................................................................... 87
3.1 O LUGAR DO CARNAVAL .................................................................. 94
3.2 NO ANDAR DO BONDE, A VIVNCIA DA CIDADE....................... 105
A SOCIEDADE BRASILEIRA TOMA O BONDE............................................... 126
LINHA DE TEMPO............................................................................................... 131
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 136
FONTES PRIMRIAS.......................................................................................... 143
LISTA DE ILUSTRAES ................................................................................. 147
NO TRNSITO E NO MOVIMENTO DA CIDADE BRASILEIRA
149
H, na historiografia brasileira, um certo consenso terico que insiste em
enquadrar o desenvolvimento das nossas cidades em um processo de evoluo
capenga, incompleta ou s avessas. A cidade brasileira dificilmente encarada como
um fenmeno que passou a existir em funo do desencadeamento de outros; ao
contrrio, sempre vista como coisa autnoma e independente, como um corpo
estranho ou artificial, que chega para interromper um curso, cujo fim no se sabe muito
bem qual seria. como se a sociedade brasileira, historicamente representada pelos
senhores de engenho e seus escravos, ou pelos bares do caf e os imigrantes ou os
donos das primeiras indstrias e a classe operria emergente do sculo XIX, no
estivesse pronta ainda para a selvagem vida no meio urbano.
Essa idia traz como centro um equvoco terico-metodolgico, que procura,
nos fatos histricos relativos ao urbanismo, a parcialidade e a linearidade, e despreza o
relativismo, a rede de inter-relaes e a simultaneidade que tais fatos comportam.
Tomadas como desordenadas, improvisadas e apressadas, nossas cidades no
so at hoje perdoadas, ou melhor, bem assimiladas, naquilo que tiveram de mais rico e
peculiar: a mistura de cdigos, a miscigenao entre o tradicional e o moderno, a
convivncia cotidiana, por exemplo, entre a escravido e o surgimento das mquinas
industriais, dos projetos cientificistas de higienizao com a vivncia concreta da
distribuio de gua populao pelos carros-pipa ou do despejo das fezes humanas no
rio mais prximo, do desejo circunspeto progressista e modernizante na implantao
dos componentes materiais urbanos, que so os meios de transporte, a luz eltrica, a
canalizao de gua com a transgresso, a plasticidade, o riso e a falta de prudncia da
atividade carnavalesca...
150
Tomando como ponto de partida uma estrada de via nica que leva somente
histria e ao tempo europeus, historiadores que tm a cidade brasileira como tema
esqueceram-se de relativizar ou olhar com cuidado o tempo e a histria brasileiros
como processos que, partindo de uma forte ligao com o iderio moderno europeu,
no fizeram desse iderio um fim em si mesmo, mas misturando-se a ele, tornaram o
cotidiano do espao urbano algo original, gerando uma nova configurao que permitiu
o aparecimento de uma estrada de mltiplas vias.
Edgar Morin diz que, ao tratarmos da relao de interdependncia entre o
passado, o futuro e o presente, deveramos levar em conta que a realidade social
multidimensional. A dialtica no anda nem sobre os ps nem na cabea; ela gira
porque, antes de tudo, jogo de inter-reaes, isto , circuito em perptuo movimento.
Tudo o que evolutivo obedece a um princpio policausal. E at mesmo os processos
que chamamos de evolutivos no so nem eles mecnicos ou lineares. As invenes,
inovaes, criaes, tcnicas culturais, ideolgicas modificam a evoluo e at a
revolucionam, e fazem, da em diante, com que os princpios de evoluo evoluam
1
.
Quanto mais a ao do homem der existncia a desvios ou imprevistos nos processos
histricos, mais rico em complexidades eles tornar-se-o; justamente por isso que a
histria, por um lado feita de rupturas e de crises, tambm, ao mesmo tempo, repleta
de criaes e de inovaes. Morin diz, por analogia, que: ao procurar a ndia, o
homem foi parar [na] Amrica
2
.
Ao pensar a cidade brasileira, que foi gerada no momento em que nosso pas
passou a integrar-se na chamada era planetria
3
, inaugurada com os grandes
descobrimentos martimos, a percebo como um fenmeno rico e complexo que se
frutificou a partir do projeto moderno europeu, e inesperadamente deu novo destino a
ele as cidades do Novo Mundo foram inventadas com a modernidade e, por causa
delas e dentro delas, a modernidade foi reinventada.
1
MORIN, Edgar. Para sair do sculo XX. 1986, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 311.
2
MORIN, Edgar. O paradigma perdido. A natureza humana. 1973, Lisboa: Publicaes Europa-Amrica, 5 ed.,
p. 23.
3
MORIN, Edgar e KERN, Anne Brigitte. Terra-Ptria. 1995, Porto Alegre: Editora Sulina, p. 19.
151
Dentro da cidade, as edificaes, as melhorias tecnolgicas, os equipamentos
materiais, como os meios de transporte coletivos, so o reflexo desta complexidade. As
grandes invenes como os trilhos de ferro, a tcnica da macadamizao (calamento
com brita aglutinada e comprimida, com 30 cm de espessura, que antecedeu as tcnicas
atuais de calamento de ruas), o uso de animais primeiro, e depois dos cabos eltricos
para a movimentao dos bondes, a construo de casas assobradadas e frontalmente
ajardinadas, o surgimento dos cortios, o uso de cores sbrias nas roupas dos homens e
das mulheres, os projetos urbansticos de organizao moral e espacial da cidade so
todos exemplos de mudanas ocorridas em concomitncia temporal com a Europa e
tambm com os Estados Unidos.
clara a cumplicidade de facto do Brasil com o restante do mundo ocidental no
plano dos ideais urbanos; a diferena esteve na maneira como aqui se propagaram ou
se concretizaram tais ideais, que tiveram de se moldarem ao contexto social,
geogrfico, poltico e econmico brasileiros, e por isso perderam as formas que
possuam originalmente, para aqui adquirir outras e a isso grande parte dos
historiadores apressadamente chamou de tentativa frustada ou atrapalhada de copiar o
que vem de fora.
Perdeu-se muito tempo tentando provar a inferioridade tecnolgica, econmica
ou poltica do Brasil em relao ao Primeiro Mundo, desde que este nos conquistou, e
deixamos de enriquecer nossas pesquisas, pois no levamos em conta a rede de
complexidades e reciprocidades, surgidas a partir do momento em que o mundo
tornou-se efetivamente redondo, sobretudo no que diz respeito compreenso das
diversidades culturais que um projeto que, mesmo pretendendo ser uno e evolutivo,
no conseguiu sufocar completamente.
Foi no meio urbano, sob a forma de uma harmonia conflitual
4
, que se
desenrolaram ao mesmo tempo, o anseio do esquadrinhamento moderno como idia
e a improvisao como coisa no projetada.
4
Termo que tomo emprestado de Michel Maffesoli, em O Tempo das Tribos. O Declnio do Individualismo nas
sociedades de massa, ao ver a vitalidade do interior da cidade ligada a um equilbrio entre elementos
152
Perceber a cidade brasileira a partir desse prisma lanar um novo olhar sobre
ela, seguindo o que sugere Peter Burke: Cada vez mais historiadores esto comeando
a perceber que seu trabalho no reproduz o que realmente aconteceu, tanto quanto
o representa de um ponto de vista particular.
5
tambm ressaltar que, como diz
Hayde White, o historiador poderia ser visto como algum que, a exemplo do artista e
do cientista [procuraria enfatizar a importncia de se perceber] o carter singular das
coisas comuns.
6
A partir de reflexes como estas que me proponho a analisar a relao da
cidade brasileira com a modernidade, desde a ltima metade sculo XIX s primeiras
dcadas do XX, sob o prisma dos seus meios de transporte coletivos urbanos, tendo
como caso privilegiado a cidade de Porto Alegre.
No primeiro captulo, procuro conceituar duas idias-chave que permeiam e
norteiam a linha terica do trabalho. Essas idias so o conceito de civilizao de
Norbert Elias, cuja definio considero mais adequada, e a de modernidade, que, dentre
as concepes existentes, optei por aquela elaborada por Jean Baudrillard; ambas
contextualizadas no lugar onde se concretizaram: a cidade ocidental. Para tal, utilizo as
tipologias de Max Weber sobre a cidade e sua inerente delimitao territorial ligada s
demarcaes administrativa, afetiva e religiosa, categorias essas que esto sempre em
relao umas com as outras.
Julgando que a cidade o territrio da modernidade, procuro situ-la
historicamente, num primeiro momento, a partir do movimento europeu das
descobertas martimas e a conseqente fundao das cidades no Novo Mundo. Essas
cidades nasceram sob o signo do pensamento moderno e sob os dogmas do capitalismo
comercial, que so a secularizao, a racionalidade e a homogeneizao. A urbanizao
heterogneos. Tambm Gilberto Freyre, em Casa-Grande & Senzala. Formao da Famlia Brasileira sob o
Regime da Economia Patriarcal, utiliza-se dessa idia ao falar de equilbrio de antagonismos para caracterizar a
sociedade brasileira. (Ver captulo I).
5
BURKE, Peter (org.) A Escrita da Histria, novas perspectivas. 1992, So Paulo: Editora UNESP, 2. ed., p.
337.
6
WHITE, Hayde. Apud: KRAMER, Lloyd. Literatura, Crtica e Imaginao Histrica: o desafio literrio de
Hayden White e Dominick LaCapra. In: HUNT, Lynn. A Nova Histria Cultural. 1995, So Paulo: Martins
Fontes Editora Ltda., pp. 131-173, p. 160.
153
era o instrumento que possibilitava a realizao do processo civilizador, de carter
messinico e redentor, que precisava sair da Europa e espalhar-se pelo mundo tal
como a modernidade.
No Brasil dos sculos XVI, XVII e XVIII, o moderno traduziu-se pelas atitudes
que os colonizadores tomaram para possuir o territrio que lhes pertencia: as medidas
poltico-administrativas da coroa portuguesa, o uso da mo-de-obra escrava, a
monocultura agrcola e pecuarista, a implantao de freguesias e feitorias (os embries
de nossas cidades) e o estabelecimento da estrutura social patriarcal e familiar. O
resultado de tais atitudes criaram, dentro das cidades brasileiras, uma ordem social
complexa e peculiar, ancorada em antagonismos miscveis, de uma riqueza hbrida
incomparvel, conforme interpretou Gilberto Freyre
7
.
Procuro, ainda, desenvolver a idia de que no sculo XIX o moderno das
cidades brasileiras expressou-se pela via das transformaes modernizantes em
concomitncia com a industrializao inglesa e francesa. A higienizao, a
preocupao com o desenvolvimento tecnolgico, o desejo do devir e o
desencantamento marcaram de maneira singular a cidade desse perodo. Se, por um
lado, a cidade do sculo XIX vivia o momento de uma tendncia a enobrecer as
necessidades tcnicas, fazendo delas objetos artsticos e agentes da implantao do
novo, sob o ritmo efmero da moda (como disse Walter Benjamin
8
) por outro, a
modernidade tomou a forma da modernizao, tout court, ligando-se busca do
progresso como o elemento fundamental para, concretamente, melhorar a infra-
estrutura urbana, incrementar a industrializao e disciplinar as formas de produo e
de trabalho. Para Alain Touraine, no sculo XIX, era preciso trabalhar, organizar-se e
investir para criar uma sociedade tcnica geradora de abundncia e de liberdade. A
modernidade era uma idia, ela se torna por acrscimo uma vontade, [pois no sculo
7
A miscigenao como caracterizao do processo da formao urbana brasileira conceito-chave em duas obras
fundamentais de Gilberto Freyre, utilizadas aqui. So elas: Casa-Grande & Senzala. Formao da Famlia
Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal e Sobrados e Mucambos. Decadncia do Patriarcado Rural e
Desenvolvimento do Urbano.
8
BENJAMIN, Walter. Paris, capital do sculo XIX. In: KOTHE, Flvio. Walter Benjamin. Coleo
Sociologia, 1991, So Paulo: Editora tica. pp. 30-43, p. 42
154
oitocentista] no se tratava mais simplesmente de dar passagem razo afastando os
obstculos do seu caminho; era preciso querer e amar a modernidade; era preciso
organizar uma sociedade criadora de modernidade, automotriz
9
.
Foi nessa atmosfera que os meios de transporte coletivos, os bondes, passaram a
ter importncia fundamental dentro do meio urbano, como uma imagem de progresso
que poderia ser concretizada: mquinas com estruturas de ferro ambulantes, sobre
trilhos tambm de ferro, que concorreriam com as ingnuas carroas. Era o avano da
tcnica em oposio estabilidade do tradicional. As carroas, os tlburis, as caleas
bem mais fceis de pilotar, as cadeirinhas e os palanquins, movidos pela fora do
homem negro, podiam carregar menos pessoas, como uma famlia ou indivduos
isoladamente, e ainda ligavam-se idia de cidade pequena, familiar. Mas os bondes,
no. Eles anunciavam, pelos seus itinerrios, que a cidade expandia-se e que as
necessidades da populao em se locomover aumentavam. Eram sinal de mudanas.
Viajar, ou passear, por um quarto de hora ou por meia hora ao lado de um
desconhecido, sem dirigir-lhe a palavra, ou ento trocar conversa formalmente sobre a
poltica ou os costumes, com algum que no se sabe exatamente quem , era o sinal de
novos tempos que o bonde poderia proporcionar. A eletricidade, fora motriz oculta
para os olhos, que no podia ser vtima de chacotas ou apelidos como os burros,
reforou ainda mais a venerao do progresso industrial e dos avanos da racionalidade
cientfica, na primeira dcada do sculo XX.
No segundo captulo, fao uma anlise mais especfica sobre a cidade de Porto
Alegre, retomando as concepes acerca da modernidade, tratadas no captulo anterior.
A modernidade como um modo de civilizao, que no se restringiu apenas ao Velho
Mundo, tambm fez parte do iderio do cidado porto-alegrense na relao que ele
mantm com a sua urbe.
Como no Brasil o hibridismo e a plasticidade so princpios fundamentais de
organizao social, nossas cidades propiciaram a atmosfera da festa espao plural,
9
TOURAINE, Alain. Crtica da Modernidade. 1994, Petrpolis: Editora Vozes, p. 68.
155
onde as diferenas se congregam e a rigidez amolecida; onde a atitude coletiva est
ancorada na sensibilidade.
Para alm de uma concepo histrica unidimensional, que ignora a
complexidade e a multiplicidade da realidade humana com seu cosmos de sonhos e de
fantasmas, considero a perspectiva carnavalesca da histria uma excelente pista para
auxiliar o historiador a escrever sobre o mundo. Segundo Dominick LaCapra, parceiro
terico de Hayde White, o carnaval testa e contesta todos os aspectos da sociedade e
da cultura atravs do riso festivo: os que so questionveis podem ser preparados
para a mudana; os que so considerados legtimos podem ser consolidados.
10
Por essa razo, reservo o terceiro captulo para tratar, com base nas concepes
da Escola de Chicago, a cidade como um estado de esprito, que, no Brasil, se revela
atravs da festa religiosa e do carnaval. Fazendo uso das idias de Roberto DaMatta,
Gilberto Freyre, Mikhail Bakhtin e Jean Duvignaud, discuto a festa brasileira no
somente na sua forma institucional e etnogrfica, mas tambm como um modo cultural
que est entranhado na viso de mundo, na sensibilidade sobre as coisas e na relao
que o brasileiro tem com o meio urbano. Fundada com o aval dos princpios ticos,
religiosos, cientficos e arquitetnicos da modernidade, a festa no Brasil (que est
visceralmente ligada cidade) carnavalizou esses princpios e deu-lhes uma cara nova,
sem aniquil-los, mas enriquecendo-os e aumentando-lhes a complexidade.
10
LACAPRA, Dominick. Apud: KRAMER. Literatura, Crtica e Imaginao Histrica. In: HUNT. A Nova
Histria Cultural. Op. cit., p. 163.
156
1. A CIDADE E A MODERNIDADE
157
Na cultura ocidental, desde o sculo XV, civilizao e posse do espao no se
separam. E onde a conquista territorial se efetivou, um empreendimento organizador do
espao foi arquitetado. Em nome do ideal civilizador, o mundo ganhou uma nova
configurao a de mundo moderno e tanto para a Europa como para a Amrica, a
sia e a frica, novos elementos foram adicionados sua antiga estrutura social,
poltica e econmica. Depois das descobertas martimas, o mundo nunca mais foi o
mesmo. Assim, simultaneamente existia para os europeus a preocupao com a
ocupao espacial e a percepo de que o mundo havia se alargado. A aldeia global
aumentava seu dimetro num mesmo projeto de civilizao. E a Amrica passou a
fazer parte do jogo de inter-relaes a que o homem europeu e o asitico j haviam
iniciado, timidamente, na Idade Mdia. Edgar Morin diz:
Durante a Idade Mdia ocidental, e embora suas Histrias no se comuniquem,
embora suas civilizaes permaneam hermticas umas s outras, frutas, legumes,
animais domsticos so transportados e aclimatados do Oriente ao Ocidente, da sia
Europa, assim como seda, pedras preciosas, especiarias. A cereja parte do mar
Cspio para o Japo e a Europa. O damasco vai da China at a Prsia, da Prsia ao
Ocidente. A galinha se espalha da ndia para toda a Eursia. A atrelagem de tiro,
depois o uso da plvora, da bssola, do papel, da impressa chegam da China Europa
e fornecem os conhecimentos e instrumentos necessrios para seu progresso e em
particular para o descobrimento da Amrica. As civilizaes rabes introduzem o zero
indiano no Ocidente. Antes dos tempos modernos, os navegadores chineses, fencios,
gregos, rabes, vikings descobrem largos espaos do que eles no sabem ainda ser um
planeta, e cartografam ingenuamente o fragmento que conhecem como sendo a
totalidade do mundo. Em suma, o Ocidente europeu, essa pequena extremidade da
Eursia, durante a sua longa Idade Mdia, recebeu do vasto Extremo Oriente as
tcnicas que lhe permitiro reunir os conhecimentos e os meios de descobrir e de
158
chamar razo a Amrica.
11
Para esse autor, a era moderna, preparada lentamente em
diversos pontos do Globo e inaugurada a partir dos descobrimentos martimos,
inaugurou tambm a era planetria, e a sua concepo de que ideais de civilizao
podem ser exportados.
As palavras moderno ou modernidade, quando utilizadas aqui, tm a conotao
dada por Jean Braudrillard e Alain Touraine.
Jean Baudrillard diz: A modernidade no um conceito sociolgico, nem um
conceito poltico, nem propriamente um conceito histrico. A modernidade um modo
de civilizao caracterstico que se ope ao modo da tradio, isto , a todas as outras
culturas anteriores ou tradicionais: face diversidade geogrfica e simblica destas
outras culturas, a modernidade se impe como una, homognea, se irradiando
mundialmente a partir do Ocidente. [Ela] uma estrutura histrica e polmica de
mudana e crise. Sob esta forma, a modernidade localizvel somente na Europa a
partir do sculo XVI e no toma seu sentido seno a partir do sculo XIX.
Para Jean Baudrillard, a modernidade , por isso, o jogo de signos, de costumes
e de cultura que resultaram das mudanas tcnicas, cientficas e polticas ocorridas
desde o sculo XVI
12
. Historicamente, segundo o autor, ela tem se desenrolado desde a
chegada de Colombo Amrica, no sculo XV, passando pela descoberta da tipografia
e das descobertas de Galileu, que inauguraram o humanismo do Renascimento; aparece
tambm nas intenes da Reforma Luterana e sua repercusso no mundo catlico; nos
fundamentos filosficos de Descartes e na filosofia do Iluminismo, que originaram o
pensamento individualista e racionalista do mundo ocidental. Ela tambm esteve
presente nas tcnicas administrativas do Estado monrquico centralizado, que
substituiu o sistema feudal; e, culturalmente, a modernidade relaciona-se com a
secularizao total das artes e das cincias. [A modernidade] tomou uma tonalidade
burguesa liberal que no cessar depois de marc-la ideologicamente
13
.
11
MORIN e KERN. Terra-Ptria. Op. cit., p. 18-19.
12
BAUDRILLARD, Jean. Modernit. In: Biennale de Paris. La modernit ou lesprit du temps. 1982, Paris:
Editions LEquerre, pp. 28-31, p. 28.
13
BAUDRILLARD. Modernit. Op. cit., p. 28.
159
Alain Touraine tambm a define: A modernidade no mais pura mudana,
sucesso de acontecimentos; ela difuso de produtos da atividade racional,
cientfica, tecnolgica, administrativa.
A modernidade exclui todo o finalismo. A secularizao e o desencanto de que
nos fala Weber, que definiu a modernidade pela intelectualizao, manifesta a ruptura
necessria com o finalismo religioso que exige sempre um fim da histria, realizao
completa do projeto divino ou desaparecimento de uma humanidade pervertida e infiel
sua misso.
A idia de modernidade substitui Deus no centro da sociedade pela cincia,
deixando crenas religiosas para a vida privada.
14
A palavra civilizao designa, aqui, o objetivo que o homem ocidental se
props a perseguir, para a realizao do seu modo de vida e de comportamento e que
terminou por constituir-se em um processo, encarado como evolutivo, que deve ser
prosseguido. Aliado razo, o processo de civilizao tem carter de instrumento til
que serve para aperfeioarem-se os governos, as leis, a educao, as instituies, o
conhecimento cientfico e os costumes ocidentais, no importando as fronteiras
territoriais, j que o homem moderno julga-se capacitado de levar a civilizao a
qualquer lugar que considere ainda no suficientemente civilizado. Encarada como
uma propriedade e obra acabada, a civilizao o trunfo do homem ocidental sobre os
outros povos.
Sobre o nascimento do conceito de civilizao at a sua transformao em
processo progressivo, Norbert Elias diz: Ao contrrio do que acontecia no momento da
gnese do conceito, a partir de agora o processo de civilizao considerado pelos
povos como acabado, no interior das suas prprias sociedades: eles sentem-se
essencialmente portadores de uma civilizao existente ou acabada, que tm de
transmitir a outros, como porta-estandartes da civilizao para o exterior. Do
processo que fica para atrs, de todo processo civilizacional, a conscincia guarda
apenas uma vaga lembrana. Aceita-se o resultado desse processo como manifestao
14
TOURAINE. Crtica da modernidade. Op. cit., p. 17.
160
do fato de ser superiormente dotado. Que esse comportamento civilizado tenha levado
sculos a atingir no interessa, como no interessa saber de que maneira se atingiu. A
partir de agora, pelo menos para as naes que se fizeram conquistadoras e
colonizadoras, e por isso se tornaram uma espcie de camada superior para vastas
extenses do mundo extra-europeu, a conscincia da sua superioridade, a conscincia
dessa civilizao, serve para justificar o seu domnio, tal como outrora politesse
e civilit, os antepassados do conceito de civilizao, haviam servido camada
superior aristocrtica da corte para justificar o seu.
Conclui-se, efetivamente, uma fase essencial do processo civilizacional no
momento em que a conscincia da civilizao, isto , a conscincia da superioridade
do comportamento prprio e das suas substancializaes em cincia, tcnica ou arte,
comea a alastrar-se por naes inteiras do Ocidente.
15
Conceitualmente, modernidade e civilizao entram em comunho quando
expressam, juntas, a idia de que existem padres tcnicos, cientficos e culturais que
devem ser disseminados, por serem tomados como verdade absoluta. Num processo de
dentro para fora, iniciado na Europa, o Ocidente, sente-se capaz e responsvel por
transmitir tais padres aos outros povos.
No que concerne questo urbana, a modernidade, como o modo da civilizao
ocidental, ps-se em marcha, num primeiro momento, como expanso territorial pelo
mundo do alm-mar, tendo na fundao das cidades e na busca da globalizao do
formato econmico e social destas, os elementos fundamentais deste processo
16
, e,
depois, mais tarde, a partir do sculo XIX, sob um aspecto mais particular, que foi o da
15
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizacional. 1989, Lisboa: Publicaes Dom Quixote, 1
o
vol., (primeira edio
em 1939), p. 100.
16
Para La Perez, este momento da histria ocidental se situa num contexto em que as relaes da economia
urbana e o processo de urbanizao ultrapassam as fronteiras das naes para assumirem um carter
internacional. A autora coloca: A economia europia se abre a novos horizontes, as inovaes tecnolgicas
transformam o ciclo da vida. A expanso territorial d organizao do espao uma nova configurao em
escala global. Neste sentido, a configurao urbana brasileira contempornea desse processo e, ainda mais
particularmente, ela tributria do desenvolvimento do capitalismo comercial europeu. Ver: PEREZ, La
Freitas. A Constituio da Rede Urbana Brasileira nos Quadros da Formao do Mundo Ocidental Moderno.
In: Estudos Ibero-Americanos. 1993, Porto Alegre: PUCRS, v. XIX, n. 2, pp. 117-138, p. 117.
161
crena na modernizao do meio urbano como caminho nico que levaria ao
desenvolvimento pleno.
no sculo XIX que a modernidade concentra-se mais nos espaos internos da
cidade, nos seus projetos arquitetnicos e avanos tecnolgicos. A modernizao, via
industrializao, prepara o triunfo da modernidade. A racionalidade componente
indispensvel da modernidade, se torna alm disso, um mecanismo espontneo e
necessrio de modernizao.
17
A modernizao endgena da modernidade e no o
contrrio.
sabido que diferentes, variados e sinuosos caminhos foram percorridos pela
sociedade ocidental entre os sculos XVI, XVII, XVIII e XIX, no entanto, parece ter
havido um consenso das sociedades desses perodos de que o ato de civilizar se realiza
num movimento progressivo, linear, messinico e redentor. Foi na cidade que esse
fenmeno se deu, inicialmente, na busca da padronizao ideal de comportamentos e, a
posteriori, pela sua realizao plena, utilizando-se para isso, como se fez no sculo
XIX, a racionalizao intimamente ligada melhoria tecnolgica e crena quase cega
nos modelos cientficos.
17
TOURAINE. Crtica da modernidade. Op. cit., p. 19.
162
1.1 OCUPAR PARA CIVILIZAR
A concepo da importncia de se ocupar espacialmente uma regio varia
conforme a poca e as necessidades poltico-administrativa, econmica e
psicossociolgica de uma sociedade. Ocupar e civilizar at o sculo XVIII teve, na
Europa, por um lado, devido s descobertas de um mundo novo, praticamente virgem e
possuidor de uma natureza bruta dominante, um carter quase pico, com legado
renascentista, que via homem e natureza como duas extremidades opostas e
conflitantes. Preparados militarmente e imbudos de mentalidade redentora, os
europeus partem para a Amrica convencidos da necessidade de levar a civilizao,
que se traduzia na evangelizao, ao homem primitivo. Nessa concepo, o ato de
Civilizao consistia em provar a superioridade do branco sobre a gente selvagem dos
trpicos.
No Brasil, particularmente, o europeu no encontrou, como na ndia, nenhuma
riqueza comercial imediata; aqui o ato civilizatrio, para dominar o homem e a
natureza foi o de, primeiramente, organizar, sob o arrimo religioso, a empresa agrcola
e a sociedade escravocrata, possibilitando o sedentarismo e a ocupao efetiva
18
.
Com a formao das cidades, a metrpole garantia a sua continuidade na
ocupao colonial, e depois, mais tarde, a partir do sculo XIX, momento em que o
sistema colonial se desfez, as cidades, mais aperfeioadas tecnicamente, passaram a
servir como termmetro da auto-suficincia e do progresso material alcanados.
18
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Formao da Famlia Brasileira sob o Rregime da Economia Patriarcal.
1992, Rio de Janeiro: Record, 29.
ed., (primeira edio em 1933), p. 24.
163
Segundo La Perez, o processo de colonizao do Brasil foi um
empreendimento moderno que combinou aes comerciais e militares e cruzada
civilizadora. A terra foi consolidada nas mos portuguesas pela via da fora armada,
uma conquista militar. O prprio empreendimento ultramarino foi feito sob as graas
papais, como uma cruzada moderna, cujas bulas reconheciam e aprovavam os
primeiros passos.
19
Aqui, o portugus encontrou o elemento de objetivao da ao
civilizadora e colonizadora: as almas para Jesus Cristo
20
, como disse Gilberto Freyre.
A permanncia no territrio, e o ato de conquist-lo espacialmente, uma
faanha do esforo civilizatrio do homem moderno; e temos na constituio das
cidades brasileiras, um modelo dessa preocupao, como analisou Gilberto Freyre ao
tratar do perodo colonial brasileiro, mostrando-nos como a posse e a demarcao do
territrio caracterizam uma das faces da modernidade. Ele diz: De qualquer modo o
certo que os portugueses triunfaram onde outros europeus falharam: de formao
portuguesa [o Brasil] a primeira sociedade moderna constituda nos trpicos com
caractersticas nacionais e qualidades de permanncia. Qualidades que no Brasil
madrugaram, em vez de se retardarem como nas possesses tropicais de ingleses,
franceses e holandeses.
21
Para novos desafios que se traduziam no desejo de conquistar e dominar o
que as novas terras reservavam , foram aproveitadas pragmaticamente velhas
frmulas. Os europeus do sculo XVI eram h muito homens citadinos
22
e desde o
medievo vinham ampliando e aperfeioando-se nas relaes capitalistas de tipo urbano
e comercial; sabiam, por experincia, que a cidade, como instituio, era a geradora da
nova ordem. Por que, ento, no implant-las no Novo Mundo?
19
PEREZ, La Freitas. Para alm do bem e do mal: um novo mundo nos trpicos. In: Estudos Ibero-
Americanos. 1995, Porto Alegre: PUCRS, v. XXI, n. 1, pp. 49-59, p. 52.
20
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Op. cit., p. 242.
21
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Op. cit., p. 12.
22
importante lembrar que em Portugal os elementos caracterizadores da urbanidade madrugaram em relao ao
resto da Europa; l o esprito poltico e de realismo econmico e jurdico foram elementos decisivos da formao
nacional. A burguesia martima portuguesa desde o sculo XIV predominou fortemente sobre a nobreza rural.
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Op. cit., p. 54.
164
No Brasil, assim foi feito. A implantao de estabelecimentos comerciais ou de
instituies poltico-administrativas no obedeceu mesma ordem cronolgica pela
qual passaram as cidades europias desde o medievo, mas nossas cidades foram criadas
a partir do modelo destas, mesmo que inicialmente mais rudimentares tecnicamente; e
ao longo da sua formao, sofreram adaptaes exigidas pelo clima, pela gente que
aqui se misturou e pelas situaes histricas particulares.
Iniciando pelas feitorias
23
, que serviam como mercados regulares, passando pela
construes de fortificaes ou muros, seguido da implantao da instituio religiosa
e do aparato poltico-administrativo local, nossas cidades nasceram sob o feitio
moderno, de feio comercial, tpica dos sculos XVI, XVII e XVIII, num processo
rpido e desimpedido dos entraves feudais. Muitas delas, entre os primeiros 20 ou 30
anos de existncia, j tinham o seu traado urbano desenvolvido, eram sede de governo
ou possuam mais de uma praa de comrcio elementos que, para Max Weber,
caracterizam o local como cidade.
Sob o prisma da anlise weberiana, observamos que a categoria tamanho ou
nvel de avano material por si s no torna uma cidade mais moderna que a outra, mas
sim outras classificaes mais complexas e indissociveis.
24
Segundo Ruben Oliven, o enquadramento conceitual que Max Weber (e tambm
Karl Marx) d para a cidade a classifica como uma Varivel Dependente, ou seja, uma
organizao social que no se auto-explica; que no uma totalidade sozinha, mas uma
objetivao de uma totalidade na qual se insere. Ela uma Varivel Dependente de um
complexo entrelaamento de fatores econmicos, polticos, militares, religiosos.
Para Ruben Oliven, em Max Weber, a cidade o primeiro pressuposto do
capitalismo moderno, mas posteriormente o seu desenvolvimento resultado dele. A
cidade se originou na comunidade relativamente autnoma de burgueses livres que
23
Sobre o nascimento das cidades brasileiras e a sua relao com a implantao das feitorias, Aroldo de Azevedo
afirma: as feitorias foram, sem dvida, os primeiros povoados surgidos no pas, os mais remotos embries das
nossas cidades. AZEVEDO, Aroldo de. Embries das Cidades Brasileiras. In: Boletim Paulista de Geografia,
1957, So Paulo: Departamento de Geografia da Universidade de So Paulo, n. 25, pp. 31-69, p. 37.
24
WEBER, Max. La dominacin no legtima (Tipologa de las ciudades). In: Economia y Sociedad. Esbozo de
sociologia comprensiva. 1944, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, pp. 938-1024.
165
existiu no perodo de transio do feudalismo para o capitalismo, mas estas
comunidades rapidamente perderam sua independncia e tornaram-se o alicerce do
Estado-nao.
25
Por isso uma estrutura social muito alm da rea urbana; ao
mesmo tempo um modo de habitar (civismo, civitas) e uma forma de participar
(poltica, plis).
Em Max Weber, a cidade o lugar onde a relao de vizinhana entre os seus
habitantes, que formam uma comunidade regida por interesses comuns, est sob uma
ordem poltico-administrativa que se preocupa com a demarcao do territrio e com o
controle poltico das relaes sociais urbanas. O nvel poltico-administrativo,
essencial, somado atividade produtiva e existncia de um mercado local regular e
variado quesitos obrigatrios para caracterizar economicamente o lugar como
cidade formam os trs elementos essenciais da cidade ocidental moderna.
importante chamar a ateno que, na anlise weberiana, a categoria poltico-
administrativa para a caracterizao da cidade mais importante que a econmica.
26
A partir desses critrios que Max Weber situa as cidades medievais, que, sob
ponto de vista poltico-administrativo, nasceram como fortalezas e postos de guarnio,
onde havia a preocupao com a regulamentao da propriedade fundiria e com a
organizao do poder que regia a comunidade. Em volta dessa estrutura se encontrava
o mercado local de trocas, que reunia sob o mesmo interesse os habitantes do lugar.
27
necessrio, ainda, observar que Max Weber considera importante, alm dos
fatores j citados, caracterizar a cidade como sendo uma associao fraternal, que se
realiza em nvel religioso, quando a unio de seus habitantes promovida pela crena
em um deus ou santos comuns, tornados oficiais pela presena de uma igreja ou capela
do lugar.
28
25
OLIVEN, Ruben George. Urbanizao e Mudana Social no Brasil. 1984, Petrpolis, Editora Vozes, 3. ed.,
pp. 14 e ss.
26
Apud. PEREZ, La Freitas. Dois olhares sobre o urbano: Max Weber a Escola de Chicago. In: Revista
Vritas, 1994, Porto Alegre: PUCRS, v. 39, n. 156, pp. 621-637, p. 623.
27
PEREZ. Dois olhares sobre o urbano. Op. cit., p. 622-623.
28
PEREZ. Dois olhares sobre o urbano. Op. cit., p. 264.
166
Assim, a cidade ocidental moderna, que nasceu da medieval, um espao que,
orquestrado por uma lgica racional de organizao, rene em seu interior elementos
poltico-administrativos, juridicamente concebidos, aliados a uma dinmica economia
de troca, em forma de um mercado local variado e regular, marcado pela especializao
permanente da produo econmica; e tambm o lugar em que as pessoas, ligadas por
laos de fraternidade e de culto, formam uma comunidade.
Sob este aspecto Max Weber e Michel Maffesoli comungam da idia de que a
cidade um somatrio entre o espao geogrfico de dimenso demarcada
concretamente pelo poder do Estado e o espao social delineado, este sim sem limites e
fronteiras, por mltiplos grupos fortemente unidos em um sentimento comum que
estrutura e assegura, na diversidade, a unidade da cidade. Para Michel Maffesoli, a
dinmica prpria da urbe propicia uma relao afetiva com o territrio.
As fronteiras administrativas e jurdicas da cidade esto, para este autor,
preenchidas e demarcadas tambm por outras entidades do mesmo gnero, como
bairros, grupos tnicos, corporaes, tribos diversas que vo se organizar em torno de
territrios (reais e simblicos) e de mitos comuns. (...) Assim, a experincia do vivido
em comum que fundamenta a grandeza de uma cidade.
29
Outrossim, para explicar conceitualmente a cidade sob o prisma da sua potncia
social como pulsaes vitais, a Escola de Chicago, que inaugurou a Sociologia Urbana
nos Estados Unidos, entre as dcadas de 1920 e 1930, o recorte mais adequado.
Para esta corrente, a cidade capaz de gerar, com sua influncia, os mais
variados efeitos na vida social. o que Ruben Oliven classifica como uma Varivel
Independente
30
, ou seja, a cidade, sem importar muito como se formou historicamente,
vale mais pelo o que j . Robert Erza Park e Louis Wirth, principais representantes da
Escola de Chicago, encararam a cidade como um organismo social, vivo, e portanto
sujeito a patologias ou estado de esprito.
29
MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos. O Declnio do Individualismo nas sociedades de massa. 1987, Rio
de Janeiro: Forense Universitria, p. 171.
30
OLIVEN. Urbanizao e Mudana Social no Brasil. Op. cit., p. 19.
167
Robert Erza Park formulou a idia de que a cidade um corpo de costumes, de
tradies e de sentimentos e atitudes organizados. Para este autor, a cidade algo mais
do que um amontoado de homens individuais e de convenincias sociais, ruas
edifcios, luz eltrica, linhas de bonde, telefone, etc.: algo mais tambm que uma mera
constelao de instituies e dispositivos administrativos tribunais, hospitais,
escolas, polcia e funcionrios civis de vrios tipos. Antes, a cidade um estado de
esprito, um corpo de costumes e tradies e dos sentimentos e atitudes organizados,
inerentes a estes costumes e transmitidos por essa tradio.
A cidade est envolvida nos processos vitais das pessoas que a compem; um
produto da natureza, e particularmente, da natureza humana.
31
Para Louis Wirth, discpulo de Robert Park, a densidade demogrfica como
critrio para caracterizar o lugar como cidade s serve se for associada ao contexto
cultural geral. Dever-se-a levar em conta, alm das diferenas e variaes entre as
cidades (existem as comerciais, as de minerao, as pesqueiras, as industriais, as
universitrias, as capitais), a idia de que a cidade uma associao humana, mesmo
que heterognea.
32
Estas duas orientaes conceituais a weberiana e a da Escola de Chicago
sobre o que trazem de mais caracterstico, cada uma a seu tempo, servem para analisar
as cidades brasileiras, desde a sua fundao, sob a orientao poltico-administrativa e
religiosa portuguesa, no incio da chamada era planetria at a sua cumplicidade
industrializante com a Europa oitocentista.
31
PARK, Robert Erza: A cidade: sugestes para a investigao do comportamento humano no meio urbano.
1916. In: VELHO, Otvio Guilherme. (org.) O Fenmeno Urbano. 1987, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 4.
ed., pp. 26-67, p. 26.
32
WIRTH, Louis. O Urbanismo como Modo de Vida. 1938. In: VELHO. O Fenmeno Urbano. Op. cit., pp.
90-113, p. 92-95.
168
1.2 MODERNIZAR PARA CIVILIZAR
Se nos sculos XVI, XVII e XVIII a modernidade se traduziu no ato evanglico
de dominao territorial, que inclua o esforo desbravador de implantao de ruas,
regimentos, normas de conduta e traados urbanos, no sculo XIX, ela realizou-se pela
via da modernizao, que tambm no deixou de ser encarada como um dogma. As
cidades ganharam a atribuio de serem tambm palcos da industrializao e, por isso,
civilizar, no sculo XIX, foi intencionar prover com mais rapidez a urbe, dotando-a de
equipamentos mais requintados e industrializados.
no sculo XIX que a sociedade moderna, segundo Jean Baudrillard, se pensa
em si mesma enquanto tal, em termos de modernidade; miticamente. A modernidade se
torna ento um valor transcendente, um modelo cultural, uma moral um mito de
referncia presente em todo o lugar, em parte mascarando as estruturas e as
contradies histricas que lhe deram nascimento. [ neste momento que a
modernidade marcada como] a era da produtividade: intensificao do trabalho
humano e da dominao humana sobre a natureza, um e outro reduzidos ao estatuto
de foras produtivas e aos esquemas de eficcia e de rendimento mximo
33
.
Dada a ausncia de uma revoluo poltica e industrial nos pases do Terceiro
Mundo, a industrializao dos pases do Primeiro Mundo tornou exportveis os
aspectos mais tcnicos da modernidade: os objetos de produo e de consumo
33
BAUDRILLARD. Modernit. Op. cit., p. 28.
169
industrial. em sua materialidade tcnica e como espetculo que a modernidade as
investiu em primeiro lugar e no segundo o longo processo de racionalizao
econmica e poltica que se operou no Ocidente.
34
A modernizao um mito da modernidade, por isso no foi por acaso que
surgiram, entre as dcadas de 1950 e 1970, as teses da modernizao que postulavam
um modelo a-histrico e linear de mudana social e de evoluo. Essas teorias, como
explicou Ruben Oliven, sustentavam que, dadas certas condies, todas as sociedades
poderiam mover-se do extremo tradicional ao moderno. Todas as sociedades estariam
em algum ponto do continuum (da barbrie civilizao), e poderiam avanar ou
recuar nele. O que faria uma sociedade avanar ou recuar seria o seu nvel de
modernizao.
35
Estas teorias do sculo XX, to modernas quanto as que surgiram no sculo XIX
como o marxismo e o positivismo, criaram postulados que faziam crer na
modernizao como via nica para levar uma sociedade para o grau ideal de
civilizao.
Sou tributria da idia de que o que ocorreu neste perodo da industrializao e
da modernizao no foi uma mudana radical no percurso do projeto civilizador, mas
sim, sobretudo na tcnica de produo; foi institudo um novo ritmo, mais veloz, na
insistente tentativa de homogeneizao da vida social.
Uma idia anloga a esta que construo pode ser a de Norbert Elias a respeito do
desenvolvimento da padronizao dos modos e dos costumes sociais civilizadores,
como, por exemplo, o comportamento mesa. O autor diz que a prtica de usar-se o
garfo e a faca nas refeies foi lentamente, atravs de sculos, tornando-se fundamental
nos rituais cotidianos da sociedade ocidental, at o momento de esse costume ser
considerado natural. A partir da, no sculo XIX, verifica-se que se alteram ainda
alguns pormenores; acrescentam-se novas normas e, das antigas, algumas tornam-se
mais permissivas; surge uma quantidade de variaes nacionais e sociais sobre as
34
BAUDRILLARD. Modernit. Op. cit., p. 30.
35
OLIVEN. Urbanizao e Mudana Social no Brasil. Op. cit., p. 30-31.
170
maneiras mesa; entre as massas populares, as camadas mdias, o operariado e o
campesinato, diverso o grau de penetrao do uniforme da civilizao e da
regulao dos impulsos exigida pelo manejo desse ritual. Mas os aspectos
fundamentais daquilo que o trato social numa sociedade civilizada requer e daquilo
que considerado interdito o padro da tcnica de comer, a maneira de usar a
faca, o garfo, a colher, o prato, o guardanapo e restantes utenslios permaneceram
inalterados no essencial. H apenas a diferenciao e disposio dos utenslios na
mesa, conforme a classe social ou o costume do pas garfos para a entrada, para o
peixe e para a carne; garfos, facas e colheres para doces; alguns talheres mais
pontiagudos, outros mais arredondados ... Tratam-se de variaes sobre o mesmo tema,
diferenciao dentro do mesmo padro
36
.
Assim tambm vejo a industrializao do sculo XIX: uma nova roupagem para
um modo de civilizao que se calcou em algo maior: a modernidade.
Como observou Max Weber em A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo
caracterstica da civilizao ocidental moderna sistematizar e racionalizar todas as
reas do saber e do fazer humano: a geometria, o Direito, a Arte, a Arquitetura, as
Universidades. Esse fenmenos culturais j faziam parte da cultura de outras
civilizaes, mas o aspecto do tratamento racionalizado, sistemtico e de utilidade
prtica essencialmente ocidental
37
. A produo de bens atravs do trabalho humano
foi, com a industrializao, tornada mais eficaz no sentido de acelerao, de
velocidade; mas no racionalizada por ela.
Ao tratar do nascimento do capitalismo moderno, Max Weber busca exemplos
da dinmica econmica do sculo XVI, nos monoplios e nos privilgios concedidos
ao comrcio ultramarino. E quando o autor trata tambm do momento de iniciao da
industrializao no sculo XIX, antes do fenmeno tomar dimenses mundiais, ele diz:
A forma de organizao era, em todos os aspectos, capitalistas; a atividade do
empreendedor era de carter puramente comercial; o uso do capital, em giro, no
36
ELIAS. O Processo Civilizacional. Op. cit., pp. 152-154.
37
NASCIMENTO, Mara Regina do. A Moderna Maxambomba. In: Revista Porto e Vrgula. 1994, Porto
Alegre: Secretaria Municipal de Cultura, n. 19, ano 3, pp. 10-12, p. 10.
171
negcio era indispensvel; e finalmente, o aspecto objetivo do processo econmico, a
contabilidade, era racional. Era, todavia, se se considerar o esprito que animava o
empreendedor, um negcio de cunho tradicionalista: o modo de vida tradicional, a
taxa tradicional do lucro, a quantidade tradicional do trabalho, a maneira tradicional
de regular as relaes com o trabalho, o crculo essencialmente tradicional de
fregueses e a maneira de atrair os novos. (...) Ora, em determinada poca esta vida de
lazer foi subitamente convulsionada, e freqentemente sem nenhuma mudana
essencial na forma da organizao, tais como a transio para uma fbrica unificada,
para a tecelagem, apenas isto: um jovem qualquer, de uma das famlias produtoras sai
para o campo, escolhe cuidadosamente teceles para empregados, aumenta
grandemente o rigor de sua superviso sobre seu trabalho e transforma-os, assim, de
camponeses em operrios. Por outro lado, comea a mudar seu mtodo de mercado,
buscando tanto quanto possvel o consumidor final, toma em suas mos os mnimos
detalhes, cuida pessoalmente dos fregueses, visitando-os anualmente, e,
principalmente, ajusta diretamente a qualidade do produto s necessidades e desejos
destes fregueses
38
.
No foi o investimento econmico da indstria que ocasionou tais mudanas,
mas sim a instalao de um novo esprito, j instaurado anteriormente: aquele a que
Max Weber chamou de o esprito do capitalismo moderno. Quando a
industrializao chegou, o esprito moderno no era novo, mas, ao contrrio, j estava
h muito interiorizado pelo homem moderno.
A industrializao e a forma como ela prov a cidade oitocentista no , pois, o
que podemos chamar de nascimento da modernidade, mas sim uma forma de
transformar pensamentos racionais, nascidos em outra poca, em fins sociais e polticos
mais concretos. Por isso a urbanizao ligada industrializao, como disse Alain
Touraine, a obra da prpria razo e, portanto, principalmente da cincia, da
38
WEBER, Max. A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo. 1985, So Paulo: Livraria Pioneira Editora,
4. ed., pp. 43-44.
172
tecnologia e da educao
39
. E que: A modernidade era uma idia, ela se torna por
acrscimo uma vontade, mas sem que seja rompido o vnculo entre a ao dos homens
e as leis da natureza e da histria, o que assegura uma continuao fundamental entre
o sculo das luzes e a era do progresso. (...) A modernidade, portanto, no est
separada da modernizao, o que j era o caso na filosofia do Iluminismo, mas ela
reveste de muito mais importncia num sculo em que o progresso no mais
unicamente o das idias, mas torna-se o das formas de produo e de trabalho, onde a
industrializao, a urbanizao e a extenso da administrao pblica transtornam a
vida da maioria.
40
nessa atmosfera que as Exposies Universais, promovidas pelas indstrias
europias do sculo XIX, tornaram-se o centro de peregrinao ao fetiche mercadoria,
como disse Walter Benjamin; elas transfiguraram o valor de troca das mercadorias.
Criaram uma moldura em que o valor de uso da mercadoria passa para segundo
plano. Inauguraram uma fantasmagoria a que o homem se entregava para se distrair.
As exposies universais construam o universo das mercadorias.
41
Atravs delas o
mundo planejava e imaginava a industrializao para todo o planeta.
Paris e Londres comandaram as exposies em 1851, 1855, 1862 e 1867; em
1873 foi a ustria a promover outra exposio (e desta, o Brasil tambm participou
42
).
A industrializao, alm de proporcionar o espetculo a que me referi, tambm
ps em xeque antigas crenas e vivncias urbanas, fazendo a cidade olhar-se e sentir-se
enferma, com necessidade de cura. Nesse sentido, pode-se dizer que o processo
industrial trouxe para dentro da cidade a crise, que se refletiu no drama de reconhecer
que precisava reorganizar-se e melhorar, como se fosse possvel e preciso fazer a
cidade passar por um processo de refino. Assim, a cidade concentrava, ao mesmo
39
TOURAINE. Crtica da Modernidade. Op. cit., pp. 18-19.
40
TOURAINE. Crtica da Modernidade. Op. cit., pp. 68-71.
41
BENJAMIN. Paris, capital do sculo XIX. In: KOTHE. Walter Benjamin. Op. cit., p. 35 e ss.
42
Em Porto Alegre tambm tivemos Exposies Universais significativas: entre elas a Brasileiro-alem, de 1881,
ocorrida em local onde hoje encontra-se a av. Lima e Silva e a de 1901 intitulada Grande Exposio, onde havia,
alm dos pavilhes especficos dos municpios do Rio Grande do Sul, os pavilhes dos motores a vento Berta,
dos tecidos Rheingantz, das fotografias Ferrari e o Pavilho das Machinas. MACEDO, Francisco Riopardense de.
Porto Alegre, Histria e Vida da Cidade. 1973, Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 105.
173
tempo, a idia de doena, representada pela crise, e de cura, materializada pelo
progresso industrial.
Quando utilizo a palavra crise, no quero referir-me morte ou esquizofrenia
de um determinado processo, mas, ao contrrio, tomo o sentido dado por Edgar Morin,
que v a crise como elemento que configura e d formato sociedade moderna,
sociedade esta que se submete constantemente a um fluxo complexo de
transformaes. Nela, desenvolvimento e crise so inseparveis, porque o primeiro
dependente da segunda para existir.
Sobre a crise na sociedade ocidental, Edgar Morin diz: Assim, no que diz
respeito s sociedades ocidentais, a crise de civilizao, a crise cultural, a crise dos
valores, a crise da famlia, a crise do Estado, a crise da vida urbana, a crise da vida
rural, etc. so outros tantos aspectos do ser das nossas sociedades, que esto
evidentemente ameaadas pela crise mas tambm vivem da crise
43
.
Para cada projeto, mudana ou idia tem havido uma ruptura, um rumo que no
se esperava e assim a histria do Ocidente tem sido caracterizada e moldada pelas suas
incertezas, crises e desvios. E justamente essa configurao, essa dinmica, que d
vida evoluo e forma do desenvolvimento. Sem perturbaes ou crises a
modernidade, tout court, no se concretizaria, j que a busca do futuro cessaria. As
incertezas do devir que provocam a incessante busca da realizao do que foi
planejado; a evoluo s evoluo apenas quando ela no seguiu um processo
provvel
44
.
Neste sentido, a modernidade nas suas idias de progresso e de projeo para
o futuro necessita, infinitamente, de atos inaugurais para ser autntica e aquilo que
foi inaugurado precisa de um segundo ato, para que o anterior seja considerado o
primeiro: como o alvo o futuro, necessrio que o primeiro seja seguido pelo
segundo para ser realmente o primeiro.
43
MORIN. Para Sair do Sculo XX. Op. cit., p. 318.
44
MORIN. Para Sair do Sculo XX. Op. cit., p. 313.
174
Francisco Coelho dos Santos, ao referir-se s idias de linearidade e de
universalidade da evoluo histrica na modernidade, com sua busca de causas
primeiras e de finalidades, diz: O primeiro no o primeiro se no seguido por um
segundo. Em conseqncia, o segundo no simplesmente uma espcie de retardatrio
que vem depois do primeiro, pois ele que permite ao primeiro ser o primeiro. Assim,
o primeiro no consegue ser o primeiro sozinho, por suas prprias foras. Ele precisa
que o segundo, pela fora de seu retardo, o ajude a s-lo.
45
Por isso, o pensamento do homem urbano se divide entre fascnio e tristeza, pois
a modernidade deixa irresolvel o vcuo existente entre as intenes e a realidade;
entre a soluo de uma crise e o desejo de que haja um fluxo contnuo do progresso.
Max Weber, secundado por Julien Freund, explica esse fenmeno da seguinte
forma: O homem racionalizado sabe que vive no provisrio, no incerto; sofre, porque
a felicidade para amanh, ou para depois de amanh, e porque se encontra situado
em um movimento que no cessa de maravilh-lo e de decepcion-lo com novas
promessas. A racionalizao tem pois um carter utopista: deixa acreditar que a
felicidade para os filhos, para os netos e assim por diante.
46
Mas, por outro lado, este
sentimento de desencantamento e hesitao, ligado certeza de que o presente lhe
pertence, o que move os habitantes da cidade.
Para Max Weber, o emprego dos mtodos cientficos e a intelectualizao, que
geraram os progressos da tcnica, trouxeram como conseqncia a descrena do
homem nos poderes mgicos, nos espritos e nos demnios, ficando perdidos os
sentidos proftico e sagrado das coisas. Ele observa que assim como a racionalizao
ocidental exprime um desencanto do mundo, traduz tambm uma espcie de confiana
por assim dizer desarrazoada do homem em suas obras e criaes. Neste sentido ela
correlata da importncia crescente que assumem a tcnica e o artifcio que somos os
45
SANTOS, Francisco Coelho dos. O Acaso das Origens e o Ocaso das Finalidades. 1995. Em palestra proferida
na disciplina de Teorias da Histria, no Mestrado em Histria, da PUCRS, pp. 1-11, p. 9.
46
FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. 1987, Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 4.. ed., p. 22.
175
donos, diferentemente dos fenmenos naturais
47
. A modernidade produz e produto do
desencantamento.
A doena, que no sculo XIX, passa a ter um tratamento de fundamentao
racional e no mais uma correlao com a magia, estendeu-se cidade
48
. Pensou-se, no
sculo XIX, que a crise urbana poderia ser sanada atravs da higienizao, por isso,
Pierre Lavedan, especialista em urbanismo, observou que a histria da cidade
oitocentista foi a histria de uma enfermidade
49
. Por sentir-se doente, essa cidade
depositou na tecnologia industrial as expectativas para curar-se e, assim, razo e
tcnica passaram a ser, paradoxalmente, encaradas, com f, como um caminho para a
salvao.
Seguindo os rastros da medicina social e do direito, que uniram-se para impor o
mesmo padro de comportamento ideal para a sociedade, arquitetos e urbanistas
trataram de arrumar a cidade para cur-la da desordem, que crescia como uma
doena viral e, por isso, a idia de civilizao eficiente tornou-se tambm sinnimo de
profilaxia. A preocupao com o saneamento ou com a higiene pblica atingiu todo o
meio urbano depois que prises e hospitais foram reconhecidos como focos principais
de doenas contagiosas, como a peste, a malria, a clera ou a tifide.
Foi no sculo XIX que ocorreram os primeiros investimentos em relao ao
encanamento de gua e a construes arquitetnicas, que previam ambientes com
47
FREUND. Sociologia de Max Weber. Op. cit., p. 109.
48
A preocupao com a causa da disseminao das doenas contagiosas, a sua profilaxia e o tratamento mais
adequado inquietavam os homens citadinos do sculo XIX. Norbert Elias, em seu estudo sobre os padres de
comportamento que a civilizao ocidental adquiriu, ao longo dos sculos, em relao ao controle das funes
naturais como dormir, cuspir, urinar ou comer e o emprego ideal delas no meio urbano, observa que os
sentimentos de vergonha e repugnncia, que temos hoje em dia, a cerca de tais necessidades fisiolgicas,
deixaram de se concentrar na imagem de deuses ou influncias mgicas, como o era no sculo XVI, para adquirir
a partir do sculo XIX, atravs do conhecimento cientfico, a imagem de doenas e de seus bacilos. As medidas
de ordem higinica que foram tomadas na cidade oitocentista revelaram, alm de uma valorizao exacerbada nos
diagnsticos da cincia, a crena na importncia em homogeneizarem-se os comportamentos para poder aplicar-
lhes leis mais claramente apreensveis. Ver: ELIAS. O Processo Civilizacional. Op. cit. Alm disso, as cidades
passaram a ser vistas como os principais lugares de irradiao e concentrao das doenas que afetavam a
civilizao. No difcil deduzir que a associao de idias como controle de comportamento, profilaxia de
doenas e organizao higinica da cidade afetaram todos os setores organizadores da urbe, como as diretrizes
polticas, o padro econmico, o planejamento urbano e arquitetnico, as estratgias da medicina, os projetos
tecnolgicos e a dinmica das relaes sociais.
49
Apud. MUMFORD, Lewis. A Cidade na Histria. Suas origens, suas transformaes, sua perspectivas. 1965,
Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada 12. ed., (2 Vols.), p. 677.
176
muita ventilao para a entrada do sol, do ar e da luz e a planos urbansticos para
parques e jardins, que consideravam as reas verdes pblicas os pulmes que toda a
cidade necessitava ter.
50
Assim, aos poucos, as ruas transformaram-se no palco, onde desenvolver-se-a a
cena do progresso industrial e do desenvolvimento. Na busca de um aproveitamento
mais alinhado dos prdios e das ruas da cidade desses tempos, evidenciou-se a opo
pela profilaxia civilizatria; ela ligou-se ao fato de existir um desejo de que a cidade
fosse a representao do xito do avano material atingido pela sociedade, mesmo
reconhecendo-se, concomitantemente, que no seria possvel negar-se que ela era
tambm o smbolo de desorganizao da aglomerao humana.
Fig. 01: A cidade como medida de progresso (fonte: Mirian Antonini, acervo pessoal)
50
No sculo XIX, no esqueamos, Pasteur provou que organismos microscpicos causadores de doenas
multiplicavam-se na sujeira e poderiam ser eliminados, em grande parte, atravs do uso da gua e sabo ou se
expostos ao sol. Seus estudos alteraram a concepo de ambiente externo e preveno de doenas, contribuindo
para a padronizao de costumes e medidas profilticas. Sobre o assunto ver: MUMFORD. A Cidade na Histria.
Op. cit., p. 604.
177
interessante notar que, em cidades importantes ou capitais brasileiras, a partir
do sculo XIX, os cadernos intitulados Comisso de Construo e Melhoramentos do
Municpio, que reunia o fruto do trabalho de vereadores e urbanistas, ganham a partir
de 1890, mais um ttulo: Construo, Melhoramentos e Embelezamento do
Municpio.
O emprego da palavra embelezamento nos relatrios de tais comisses, no
por acaso: a funo era a de expressar o sentimento no qual estavam mergulhados os
cidados desse perodo, que viam a cidade tornar-se feia e deformada, apesar de ser
encarada tambm como pronta e construda. Melhorar e embelezar era crer que o
progresso, encarado como avassalador, destruiria o primitivo e implantaria o moderno.
Melhorar e embelezar, que aparentemente revelavam um objetivo libertador,
terminaram por aprisionar o homem citadino em perseguir o que jamais se cumpriria
em sua plenitude.
Propiciou-se a fcil correlao do primitivo e do moderno com o velho e o novo;
para a cidade tornar-se bonita e, claro, limpa, era necessrio destruir ou suplantar o
velho as doenas, os esgotos a cu aberto, as ruelas esburacadas e cheias de poas
de chuva, os becos desalinhados, o trfego confuso entre carroas, cadeirinhas ou
tlburis, a trao manual exercida pelos negros, por exemplo. Arrumar tudo isso tornou-
se um projeto do devir, mas no concretiz-lo gerou a frustrao. O homem da cidade
moderna desejava o novo, mas tinha que, obrigatoriamente, de conviver com a
tradio, muitas vezes irresolvel para a cincia.
Essa mesma situao processou-se no Brasil. Apenas com uma diferena
fundamental: em nosso pas, j que nascemos sob o signo da miscigenao, o velho e o
novo coexistem e no so incoerentes. Aqui o conflito transformou-se em mistura e
desejar a novidade sem saber se livrar do antigo apenas mais um dos elementos que,
somados ao nosso processo histrico-social, colaboram para fomentar o que temos de
especial: o equilbrio de antagonismos, como bem mostrou Gilberto Freyre, em Casa-
Grande & Senzala, ao analisar a gnese do nosso complexo cdigo de mestiagem que
178
se expressa em todos os segmentos da formao nacional, seja na poltica, na
arquitetura, na urbanizao, na economia, na educao, na sociedade ou na religio.
51
Nosso hibridismo, alm de estar na congregao de diferentes etnias est
tambm, para o autor, ligado aos valores da famlia como unidade civilizadora, que
estiveram presentes desde o incio da nossa formao social. Para ele, a famlia,
unidade que em sua origem estabilizadora pelos valores que carrega, aqui teve de ser
civilizadora e dinmica para ocupar espaos e transform-los. A famlia ocidental o
ncleo social mais conservador, mas no Brasil ela foi utilizada tambm como elemento
transformador e implantador de uma nova civilizao. Ela precisava ter esprito
aventureiro e audacioso, mas sem perder suas caractersticas fundamentais de
hierarquia rgida.
Assim, o brasileiro esteve, desde a sua formao, mergulhado em uma
hibridizao de cdigos, que no o assusta e nem o intimida. uma mistura que, se
transportada para outras esferas dos nossos princpios ou padres, desvela o
comportamento sincrtico que temos diante do novo e do antigo, do tradicional e do
moderno, da nostalgia e da deciso, da festa e do trabalho, do preconceito de cor e da
miscigenao, da casa e da rua, da razo e do entusiasmo, da generosidade e da
perverso. Para o brasileiro, cada um desses lados permite esquecer o outro, como
as duas faces de uma mesma moeda. E no entanto, os dois fazem parte e constituem
expresses ou reflexes de uma mesma totalidade, de uma mesma coisa
52
.
na mistura de oposies, na hibridizao, que caracteriza nossa sociedade, que
podemos ver o projeto moderno. Sem desprezar a homogeneidade, conseguimos criar
diferenas culturais e religiosas, que se adaptaram ao projeto moderno dando-lhe uma
nova configurao, sem anul-lo.
Roger Bastide, a respeito da nossa uniformidade nas oposies, observou os
contrastes urbanos existentes entre So Paulo e Rio de Janeiro, e concluiu que, para
entender o Brasil, seria necessrio, em lugar de conceitos rgidos, descobrir noes de
51
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Op. cit., p. 53.
52
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. 1994, Rio de Janeiro: Editora Rocco, 7. ed., (primeira edio
em 1984), p. 68.
179
certo modo lquidas, capazes de descrever fenmenos de fuso, de ebulio, de
interpenetrao, noes que se modelariam conforme um realidade viva, em perptua
transformao.
53
Para este autor, os contrastes em que vive o brasileiro podem ser vistos em
qualquer lugar; pode ser s ruas, nas construes arquitetnicas, nas paisagens
marcadas e delineadas, ao mesmo tempo, pelo verde das montanhas e o azul das guas.
Dentro de um mesmo pas, o autor v duas cidades que se contrastam pela forma at
como seus habitantes conduzem o seu dia-a-dia. Em So Paulo a cidade que
endeusa o trabalho e que, dizem, nunca dorme o vagabundear (que raramente
acontece) d-se numa rpida escapadela s confeitarias para tomar de um s gole, em
p no balco, uma xcara de cafezinho
54
.
Num ritmo frentico, a cidade paulista no chega a reter recordaes ou imagens
do passado em seus conjuntos arquitetnicos: o cenrio sempre provisrio para que se
possa acompanhar as mudanas mundiais. Em So Paulo, construir e destruir so
apenas duas faces da mesma moeda; sem sentimentalismo, o importante estar atual.
No Rio de Janeiro, o autor diz que espera-se tudo da sorte, do acaso, do
imprevisto, e a especulao que move a classe mdia na busca da fortuna, o dinheiro
o novo Deus adorado no Brasil, sentencia. L, nos cafs, depois dos escritrios,
grupos sentados s mesinhas buscam um bom negcio, um terreno que se compre para
vender pelo dobro no dia seguinte, um automvel velho que se remende para faz-lo
passar por novo...
55
Drstica ou lentamente, com qualidade tcnica ou no, buscar a substituio do
antigo tem sido o savoir-vivre das cidades brasileiras. Dentro delas experimenta-se
constantemente o passageiro; se um novo produto ou uma nova inveno aparece, no
tardar muito para que o seu correspondente citerior seja logo considerado ultrapassado
ou antiquado sabemos do fato antes mesmo de que ocorra efetivamente o seu
53
BASTIDE, Roger. Brasil, Terra de Contrastes. 1964, So Paulo: Difuso Europia do Livro, 2. ed., (Primeira
edio em 1957), p. 15.
54
BASTIDE. Brasil, Terra de Contrastes. Op. cit., p. 136.
55
BASTIDE. Brasil, Terra de Contrastes. Op. cit., p. 145.
180
desaparecimento definitivo da paisagem urbana. No entanto, por paradoxal que seja, de
maneira dinmica, o velho e o novo convivem simultaneamente, numa substituio
interminvel, em que para o antigo sempre haver a novidade at o momento desta
ltima logo tornar-se tambm passado.
Entre a concepo de Freyre e a de Bastide a respeito do Brasil o primeiro
mostra o equilbrio de antagonismos e o segundo, a uniformidade nas oposies
no h discordncia; para eles, os fenmenos sociais brasileiros so originais porque,
apesar de vivermos sob o mesmo modo de civilizao em que vive o mundo ocidental,
temos peculiaridades que nos diferenciam e no nos excluem dele. Aqui, desde o
sculo XVI, a hibridizao de cdigos, a miscigenao, operou naquilo em que o
Ocidente possui e mais se orgulha de possuir: a racionalizao, o direito, o Estado-
nao, a religio monotesta, o cientificismo, a vida urbana...
Num jogo imbricado, a modernidade brasileira do sculo XIX, que como iderio
queria realizar-se via modernizao das cidades com os equipamentos ingleses e
franceses, teve como contrapartida a vivncia urbana concreta, viabilizada pelos
elementos antigos e tradicionais, com caractersticas luso-brasileiras, que no momento
se faziam indesejveis. Como peas de um quebra-cabeas, a negao do antigo e a
inesperada miscigenao do novo com o antigo, foram se encaixando para dar forma a
essa modernidade. Aqui a escravido no impossibilitou o desenvolvimento do
capitalismo industrial.
56
Ao analisar o sculo XIX, Gilberto Freyre tambm tratou de um outro processo
de hibridizao e chamou-o de reeuropeizao. Foi o momento em que as atitudes
estiveram sempre voltadas para a recusa do passado e para a apologia do novo: o novo,
o padro ingls de vida, e o passado, a estrutura moral luso-brasileira. Esta passou a ser
56
No concordo com alguns autores que vem a abolio da escravatura, no final do sculo XIX, como o
primeiro passo para o Brasil ingressar no capitalismo e modernizar-se de vez, nos anos subseqentes. Tais
autores, da vertente materialista, como Paul Singer, por exemplo, colocam que a eliminao da mo-de-obra
escrava facilitou a introduo no pas de tcnicas industriais modernas e que, mesmo assim, a abolio da
escravatura e a proclamao da Repblica no tiveram uma repercusso marcante sobre o capitalismo mundial,
[j que] a nossa integrao na economia internacional era bastante parcial, durante o sculo passado e mesmo
durante os trs primeiros decnios deste. SINGER. Paul. O Brasil no Contexto do Capitalismo Internacional.
1889-1930. In: BORIS, Fausto (dir.). Histria Geral da Civilizao Brasileira. O Brasil Republicano. Tomo III,
1
0
volume, 4. ed., pp. 347-390, p. 350.
181
rejeitada e negada e aquele, super valorizado. Dentro da cidade, alguns elementos
foram se tornando essenciais nossa vida, desde as vestimentas moda inglesa e
francesa como os chapus, os relgios, os vestidos para senhoras com cores sbrias e
discretas at o uso da carruagem e do bonde de trao animal, este ltimo
representando a velocidade necessria vida urbana, at ser ultrapassado pelo bonde
eltrico.
A modernizao oitocentista reforou a lgica moderna de ignorar-se a mistura e
desejar-se, infinita e incansavelmente, o devir. Sempre em sintonia com os
acontecimentos mundiais, o Brasil viveu os efeitos mticos da modernidade, gerados
pela cincia e pela tcnica. (Jean Baudrillard diz que nem a cincia, nem a tcnica so,
elas mesmas modernas: so os seus efeitos que o so.
57
)
Depois da chegada de Dom Joo VI, o contato entre brasileiros e ingleses se
acentuou e misturaram-se, novamente, no Brasil o estilo de vida, a arquitetura e a moda
nacional e estrangeira
58
. Os servios urbanos, como iluminao, calamento e
saneamento, se aperfeioaram. Mau e os ingleses modernizaram a tcnica do
transporte. Os filhos das famlias ricas voltavam doutores formados da Frana, da
Alemanha ou da Inglaterra e peras italianas eram cantadas nos teatros. Os bares do
caf cresciam em importncia social. Era tambm a poca da abertura dos bancos, da
criao das companhias de navegao, das discusses abolicionistas, do engrossamento
das levas de imigrantes, da inaugurao das fbricas de cerveja, chapu, sabo,
57
BAUDRILLARD. Modernit. Op. cit., p.31.
58
A Corte, impregnada pelas novidades inglesas e francesas, serviu de modelo s outras cidades do pas, no s
na moda para os cavalheiros e damas, mas nas construes arquitetnicas ou alinhamentos urbanos, conforme
afirmou a arquiteta Clia Ferraz de Souza: (...)Desde o incio do sculo 19, estava no Brasil e, em particular no
Rio de Janeiro, a Misso Artstica Francesa, que fundou a primeira Escola de Arquitetura - Grandjean de
Montigny - expandindo os conhecimentos das tcnicas e arte francesas - cole des Beaux Arts. Mas somente a
partir de meados do sculo 19, foi que essa influncia se generalizou por todo o Brasil, atingindo especialmente
prdios pblicos e de uso pblico como a Beneficncia Portuguesa, o Teatro So Pedro, para citar alguns
exemplos de estilo neoclssico em Porto Alegre. De maneira geral, o aparecimento das platibandas em todas as
construes uma das principais respostas dessa influncia, que passou a ser um elemento regulador da
arquitetura. SOUZA, Clia Ferraz de. Morfologias e Tipologias Urbanas. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy
(coord). O Espetculo da Rua. 1992, Porto Alegre: Editora da Universidade e Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, pp. 11-12, p. 11.
182
tecidos..., confeccionados em outros tempos no interior das casas ou mandados vir da
Europa.
Juntamente com tantos avanos tcnicos, o movimento, a elasticidade e a
mistura se perpetuaram; numa congregao cuja a correlao conceitual mais adequada
a festa.
Fig. 02: O estilo neoclssico da BenefIcncia Portuguesa, acompanhado do bonde a burro que percorria,
ao longe, o meio da rua. (fonte: Mirian Antonini, acervo pessoal)
183
2. OS TRAJETOS DOS BONDES E A TRAJETRIA HISTRICA DA
CIDADE
184
Partindo do que foi tratado no captulo anterior, projetar e planejar os
itinerrios dos bondes tambm uma atitude que pode ser entendida como
profiltica, se se levar em conta que esta era uma forma de ordenar o trfego e
organizar de maneira mais "limpa" o rumo que os habitantes deveriam tomar para
circular dentro do espao urbano. O bonde era associado idia de cidade
maravilhosa, organizada e asseada. Ao v-lo passar, o habitante citadino podia
admirar-se com o desenvolvimento tecnolgico que sua cidade alcanara, e quando
nele andava, era participante e testemunha desse progresso.
Submeter-se s regras de conduta e comportamento exigidas pelos
motorneiros e cobradores no o intimidava, pelo contrrio, andar bem trajado, sbrio
e respeitador dentro do bonde o colocava em harmonia com a inteno maior da
cidade. As regras de boa conduta ordenavam: Os conductores de bonds no
consentiro em seus carros, pessoas vestidas ou trajadas sem a necessaria
decencia, ou em estado de embriaguez, e nem proferindo palavras ou gestos
offensivos moral publica.
Alm disso, das grandes janelas ou aberturas do bonde o passageiro podia
observar os antigos, mas resistentes, meios de transporte a carroa, o cavalo, as
carruagens, etc. e sentir-se orgulhoso e superior. No entanto, por outro lado, o
desconhecido a mquina causava-lhe medo e insegurana.
Tais consideraes, aqui generalizadas, se enfocadas um pouco mais para
anlise do Brasil urbano no sculo XIX, mostram que em nosso pas o
desencantamento, o fascnio e o medo, advindos da modernizao, se traduziram em
185
dois aspectos: o primeiro foi o de deixar mostra a diferena entre a tecnologia mais
antiga a mo-de-obra escrava e a mais recente o uso da mquina industrial.
O avano da industrializao fez a aristocracia rural e a populao da cidade
fascinarem-se mas tambm resistirem inicialmente s mquinas e a demorarem-se a
deixar de utilizar a conhecida e familiar mo-de-obra escrava para o trabalho. Por
isso, mesmo impondo a novidade, a industrializao no impossibilitou, a princpio,
a convivncia simultnea entre o que j poderia ser considerado passado e a
expectativa do que j era futuro: em nossas cidades, a introduo de tcnicas
industriais ocorreu, de maneira hbrida, reforo, com a escravido.
No tocante ao desenvolvimento tecnolgico brasileiro deste perodo, Gilberto
Freyre, ao comentar a impactante substituio do escravo pelas mquinas nas
cidades brasileiras, conta que durante as primeiras dcadas do sculo passado, na
poca em que na Europa ocidental e nos Estados Unidos j comeava o declnio do
cavalo, do burro e do boi como animais de trao e sua substituio pela trao a
vapor, na antiga capital do Brasil cidade da maior importncia comercial, e no
apenas poltica, entre as do Imprio a trao humana no s no fora ainda
superada pela animal como continuava quase a nica. No se enxergavam cavalos
nem burros. Nem carruagens nem carroas. S palanquins.
Mas, por outro lado, embasbacados com os produtos ingleses, sempre em
hibridizao, os brasileiros passaram a valorizar a velocidade, a mquina, a fora
mecnica, o "antinatural". Segundo Gilberto Freyre, no Rio de Janeiro, as prprias
carruagens foram se distanciando, em estrutura e forma de palanquins e liteiras
para se tornarem, cada dia mais "trens", "mquinas", obras de mecnica ou de
engenharia que ao conforto e s vezes ao luxo dos forros de veludo e das lanternas
de prata juntavam capacidade de rodarem com extrema velocidade pelas ruas e
pelas estradas.
O gosto pela velocidade apoderou-se de no raros brasileiros, como um
demnio, fazendo de alguns quase uns endemoniados.
186
Ao confiar cegamente na eficcia dos produtos ingleses e franceses, a
populao urbana deste perodo, se viu envolvida concretamente em uma fase de
transio, que evidenciou ainda mais a mistura entre o novo e o antigo.
Fig. 03 : Bondes: elementos modernizadores e modernizados. A legenda diz: "Essa comparao
mostra claramente o tempo economizado pelos moradores da Tijuca graas aos transportes modernos e esse
tempo ganho em todas as linhas modificou sensivelmente o rythimo da vida e da cidade. (anncio da revista
Ligth de 1932, fonte: STIEL. Histria do Transporte Urbano no Brasil. 1984, Braslia: Editora Pini Ltda, p. 312)
Neste cenrio surgiu na Corte a maxambomba, primeira diligncia sobre
carris, sob a responsabilidade da Companhia de Ferro da Tijuca.
Como uma promessa de algo novo, este meio de transporte serviria para
superar os outros, que passaram a ser considerados inferiores a ela e, portanto,
inadequados para o desenho modernizador que se pretendia alcanar poca.
Quando a maxambomba foi substituda pelos bondes puxados a burro, ou quando
estes mais tarde foram colocados em escala de comparao aos de trao eltrica, o
discurso sobre o novo repetiu-se. A cada tentativa ou experincia de um meio de
transporte diferente vivia-se a sensao da entrada em uma nova era. O desejo,
sempre implcito, era o de sepultar a tradio e avivar a novidade.
187
Com sensibilidade, um escritor, ao tratar da chegada do bonde em sua cidade,
soube expressar bem essa mistura de fascnio e medo que os novos inventos traziam:
Uma febre de curiosidade tomou as famlias, as casas, os grupos. Como seriam os
novos bondes que andavam magicamente, sem impulso exterior? Eu tinha notcia
pelo pretinho Lzaro, filho da cozinheira de minha tia, vinda do Rio de Janeiro, que
era muito perigoso esse negcio de eletricidade. Quem pusesse os ps nos trilhos
ficava ali grudado e seria fatalmente esmagado pelo bonde. Precisava pular. (...)
Um amigo de casa informava: O bonde pode andar at a velocidade de nove
pontos. Mas, a uma disparada dos diabos. Ningum agenta. capaz de saltar
dos trilhos e matar todo mundo...
No entanto, nas dcadas seguintes, lentamente, um novo ritmo de trabalho e
de produo imps-se com a substituio definitiva do negro pelo animal e pela
mquina a vapor, das cadeirinhas, tlburis, carroas e carruagens pelo bonde, do
modelo de vida portugus pelo ingls e francs. Mas por quase um sculo a
admirao e a avidez do brasileiro pelo produto estrangeiro conviveram lado a lado
com o seu conservadorismo escravista. Nas cidades brasileiras, negros, carregadores
dos fedorentos tigres, dividiam a rua com o bonde, de modelo ingls, puxado por
mulas; enquanto elegantes e velozes carruagens eram pilotadas por escravos
castigados e estafados.
A crena exacerbada nos poderes da cincia, do direito, ou dos plantas
urbansticas, como elementos redentores do nus da civilizao, transformou a
cidade do sculo XIX no espao da racionalizao e da tcnica; e tais elementos
passaram a ser entendidos como elementos possibilitadores das melhorias urbanas
em relao infra-estrutura; mas essa mesma razo e essa mesma tcnica
terminaram por trazer tambm, para o habitante da cidade, um amargo e nostlgico
sentimento de ingenuidade perdida, ou da infncia que se vai e no pode mais
retornar. O ritmo frentico da mquina era, ao mesmo tempo admirado e temido e
trazia uma sensao de perda e de desencantamento.
188
Existiam, nestas intenes modernizadoras, alguns propsitos que sempre
foram buscados e desejados, mas que nem sempre foram atingidos. No Brasil, em
especial, os ventos da modernizao e da tecnologia, associadas aos modelos ingls
e francs de vida, fizeram soprar uma rejeio drstica ao antigo ou ultrapassado, ou
daquilo que estivesse materialmente associado energia animal ou manual, como no
caso dos meios de transporte; e fez, por outro lado, acender um desejo de viver
intensamente a venerao pelo progresso, corporificado no produto novo, vindo do
exterior. Foi o desvio (no sentido dado por Edgar Morin) desse momento as
formas tradicionais de meio de transporte, como a cadeirinha ou as carruagens
que gerou a possibilidade de se buscar o melhor para a cidade o bonde. Assim, se
evidenciou a complexidade das relaes entre a tradio e a modernidade, nas quais
esta ltima fez com que a primeira fosse reconhecida, apercebida, mas negada.
189
Fig. 04 e 05: Entrecruzamento: charretes, postes eltricos, trilhos de bonde e prdios de estilo
arquitetnico conforme a tendncia da poca, no mundo ocidental. (fonte: Mirian Antonini, acervo pessoal)
190
2.1 DOS CAMINHOS E DOS TRILHOS NUM PORTO ALEGRE
a partir desse contexto que a histria da cidade de Porto Alegre tambm
pode ser estudada. Analisando, em linhas gerais, a formao e o desenvolvimento da
nossa cidade, observamos que ela no fugiu ao tipo de organizao e da lgica em
que se fundaram as outras cidades ocidentais, no contexto histrico dos sculos XVI
e XVII. Ela j nasceu moderna, em seu esquadrinhamento urbano e nos seus ideais
urbansticos: as defesas, assentadas em fortificaes ou trincheiras, mesmo que
feitas de pau-a-pique, reservavam dentro de si a sua base institucional que regulava
as decises polticas, econmicas e sociais da urbe as igrejas, ou as capelas, e as
cmaras municipais, ou as intendncias.
A ponta da pennsula foi cercada, distncia, na beira do Jacu, pelo Forte de
Santo Amaro, a sudeste pelo presdio Jesus-Maria-Jos, criado em 1737, em Rio
Grande e mais ao norte pela fortificao de Rio Pardo. Tais fortalezas serviram para
combater ou evitar o avano espanhol. Alguns anos mais tarde, Jos Marcelino, a
quem coube organizar o povoamento, tambm mandou erguer trincheiras elevadas,
em torno do que acabaria por ser o permetro urbano de Porto Alegre.
Devido preocupao de possuir politicamente, de forma definitiva, o
extremo-sul do Brasil, houve o envio de famlias de aorianos, em 1752, para povoar
o que anteriormente pertencia aos espanhis. Um grupo se estabeleceu no Stio do
Dornelles, como era conhecido o porto que se situava dentro da fazenda do sesmeiro
Jernimo de Ornellas, que j ocupava o territrio desde 1740. Sabe-se, no entanto,
que desde 1730 os Campos de Viamo (incio da povoao lusa no extremo-sul) j
se achavam ocupados, pois l foi mandada erigir uma capela Nossa Senhora da
Conceio e Santana.
191
Os casais aorianos, colonos agrrios e pastoris, que iriam ser levados
regio das Misses, terminaram por ficar no lugar em que hoje o bairro central de
Porto Alegre. Com esforo e empenho de desbravadores, e tambm de civilizadores,
praticaram o que sabiam fazer: plantaram, colheram, pescaram, fizeram comrcio,
utilizaram-se do rio, do riacho, construram pontes, o Chico da Azenha construiu o
moinho d'gua para moer trigo, o Joozinho da Olaria aproveitou o barro da regio e
fabricou tijolos e telhas e, por entenderem que aqui seria o seu novo lar, que aqui
seria a terra onde criariam seus filhos, efetivaram a relao afetiva e, ao mesmo
tempo, administrativa, com a terra, fundando uma praa de comrcio e a primeira
capela, em 1768; uma capela de barro, coberta de palha, [mas que era] um rgo da
comunidade nascente, por ela criado e mantido, para suas necessidades espirituais
e para a soluo de certos problemas prticos de organizao, comunicao e
contato humano. Assim continuou sendo por muito tempo, e assim seria nas outras
povoaes que aqui surgiram. Quatro anos depois, em 26 de maro de 1772, a
metrpole criou a Freguesia de So Francisco de Chagas, freguesia esta, que para o
autor Riopardense de Macedo, implicava no estabelecimento dos primeiros limites
do povoado. No ano seguinte, a freguesia foi elevada categoria de parquia e
passou a chamar-se Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. O ato de criar
freguesias e parquias revela o carter eclesistico da poltica de povoao
portuguesa, para aglutinar sentimentos comuns entre os habitantes do novo
territrio.
Tambm fazia parte dessa essa poltica, conceder terras a sesmeiros que
teriam por obrigao comandar a ocupao do solo, de maneira a torn-lo o mais
produtivo e aproveitvel possvel, justificando os gastos de um empreendimento to
dispendioso.
A estncia de Jernimo de Ornellas, por exemplo, Santa Ana, localizada em
local elevado, j nos primeiros anos possua um complexo de casas e galpes,
telheiros e senzalas, uma atafona, casa de hspedes, ranchos, currais e algumas
centenas de rvores frutferas e (...) beira d'gua, na ponta da pennsula, [havia]
192
um punhado de posteiros, aplicados pesca e navegao fluvial. Foi prximo a
essa regio que se construiu tambm uma capela, onde hoje a rua dos Andradas,
entre a praa Senador Florncio e a rua Caldas Jnior.
Em 1772, juntamente com a criao da Freguesia de So Francisco de
Chagas, foram iniciados os trabalhos de marcao das ruas e a construo da igreja
no Alto da Praia, atual Praa Marechal Deodoro. Em 24 de julho de 1773 Jos
Marcelino de Figueiredo instalou na regio o seu governo e outros rgos
administrativos.
Pelo traado de Alexandre Montanha, tambm realizado em 1772, quando
foram marcadas as primeiras datas para os colonos e a "praa do novo lugar", o
permetro urbano de Porto Alegre comeou a ser desenhado: a cidade seria limitada
ao sul pela rua da Varzinha (na linha onde hoje est a rua Demtrio Ribeiro) e a leste
pela atual rua Marechal Floriano, antiga Rua da Bragana; a leste desta, uma
extenso da rua do Cotovelo (atual rua Riachuelo) e das ruas Formosa e So Jos
(atual rua Duque de Caxias) iam marcar a entrada da cidade, na altura do que hoje
fica a avenida Independncia, numa regio conhecida como porto. Este era o
traado bsico da cidade. A partir dele que se deu a configurao urbana de Porto
Alegre nos anos subseqentes.
Como nas cidades europias, bem prximo capela ficava a Praa de
Comrcio, que manteve esse nome durante mais de sessenta anos: s em 1815
adotou o nome de Praa da Alfndega. Antes ainda, no sculo XVIII, mais ao norte
da pennsula, j haviam se instalado os primeiros estaleiros dos quais o mais
importante teria sido a Praa Rui Barbosa, antiga Praa dos Bombeiros. Ali teriam
se reunido, at o fim do sculo, artesos das mais diversas especialidades, tais
como serradores, falquejadores, calafates e ferreiros.
A partir de um sistema de regras de colonizao que procurava gerenciar, em
princpio, religio, desenvolvimento do comrcio, administrao poltico-territorial
com o objetivo de fundar cidades, Portugal deu incio ao hibridismo de cdigos nos
trpicos: as capelas, alm de serem local de culto, tambm misturavam-se em
193
importncia a outros rgos importantes para a jurisdio do lugar, como a
intendncia, os fortes, os muros e os mercados.
A forma como a poltica portuguesa misturou tudo isso fez da religio um
lugar, como disse Michel Maffesoli, ao tratar da agregao de grupos em torno de
um espao como uma forma bsica de socialidade; lugar onde a relao do homem
urbano com o territrio que ele habita fundamenta a histria cotidiana da cidade e
mistura-se sua histria individual. Para esse autor: h momentos em que o
indivduo significa menos do que a comunidade na qual ele se inscreve.
Aqui, a "religio que se tornou um lugar", teve como primeiro nome de Porto
de So Francisco dos Casais e, em seguida, Freguesia de So Francisco de Chagas,
para, por fim, chamar-se Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre.
Foi a feio religiosa da ocupao portuguesa que fortaleceu a relao afetiva
dos aorianos com o territrio que ocuparam. Eles no eram aventureiros procura
de riqueza fcil, mas sim grupos de casais (o mito gira em torno de sessenta deles)
que, com coragem e em busca de trabalho, deixaram a sua terra natal, para
habitarem outra e torn-la sua, afetivamente; transformando o espao fsico,
demarcado e resguardado por muros e fortes, em espao ocupado tambm pelo
sentimento.
Para a fixao dos aorianos na pennsula fez-se uso de uma clusula
existente na carta de concesso que determinava que sesmarias margem dos rios
navegveis poderiam ser utilizados como logradouros pblicos e, portanto, serem
ocupados pelos que no tivessem propriedade. E assim foi feito. Vinte anos depois
de chegarem, os aorianos receberam as terras que, mais tarde, tornaram-se as
primeiras ruas de Porto Alegre, obedecendo nova ordem poltica e econmica
mundial de tomar posse do territrio plantando e instituindo cidades.
Assim, fazendo tbua rasa do passado e projetando-se sempre para o futuro,
como lhe peculiar, a modernidade colocou em ato, no sul do pas, o duplo jogo da
cruzada civilizatria: domnio territorial e agregao de sentimentos e desejos
comuns.
194
No sculo XIX, como veremos, tendo a industrializao como porta-
estandarte, ela continuar a espalhar-se como iderio do modo de vivncia social e
urbana, como definiu Jean Baudrillard, numa prtica social e modo de vida
articulado sobre a mudana, a inovao, mas tambm sobre a inquietude, a
instabilidade, a contnua mobilizao, a subjetividade movente, a tenso, a crise e
como representao ideal ou mitolgica.
195
Fig. 06: A planta de Porto Alegre em 1835 (fonte: LIMA, Olympio de Azevedo. Resultado do
Recenseamento da Populao do Municpio de Porto Alegre, 1917. Officinas Graphicas da Livraria do
Commercio, p. 78)
196
2.2 Uma lebre de trs anos corre mais que um burro de cem
Se a modernidade caracteriza-se por um modo de civilizao, cujas idias
reitoras, como colocou Michel Maffesoli, tm como caracterstica a propenso para
lanar-se no futuro, a cidade o lugar da modernidade tambm se construiu a
partir dessa concepo linear. O amanh o alvo.
No sculo XIX, essas idias de projeto para o futuro e de progresso, que
sempre estiveram presentes dentro das cidades modernas, ganham uma
peculiaridade: a modernizao como a modernidade em ato, como um processo
inteiramente endgeno, conforme Alain Touraine. O capitalismo industrial e sua
modernizao econmica acelerada teve como conseqncia principal transformar
os princpios do pensamento racional em objetivos sociais e polticos gerais, (...) no
sculo XIX a mobilizao social e poltica, o desejo de felicidade que atuam
como motores do progresso industrial .
A industrializao, para o Terceiro Mundo, em conjunto com o surgimento
do Estado-nao, com a constituio das instituies, como a escola e a famlia que
emolduram o indivduo, e com a elaborao das grandes ideologias, como por
exemplo o marxismo e o positivismo, contribuiu para marcar e reforar as outras
caractersticas essenciais da modernidade: a homogeneizao, a reduo unidade e
a sua mobilidade e capacidade de amlgama com os elementos da Tradio.
Neste sentido, a cidade, como o lugar onde a industrializao criou razes,
como disse Ruben Oliven, permitiu que os componentes homogeneizadores e de
mobilidade da modernidade se tornassem evidentes.
Porto Alegre no ficou fora deste quadro. Em nossa cidade o processo de
industrializao tambm fez as solues urbansticas calcarem-se na higienizao e
na modernizao tcnica como projeto ideal. Tambm as ruas de Porto Alegre
serviram como o palco por onde se desenrolou a cena da cruzada civilizatria para
"limpar" e "arrumar" a cidade.
197
A ttulo de exemplo, pode-se citar que, entre as dcadas de 1850 e 1860,
foram construdos o cemitrio da Azenha, o Hospital da Beneficincia Portuguesa e
a Casa de Correo. Tambm surgiram as primeiras torneiras a domiclio, depois de
fundada a Companhia Hidrulica Porto-Alegrense e foram efetuadas as obras de
canalizao do arroio existente nos fundos do Teatro So Pedro; por essa poca os
chafarizes, instalados nas praas centrais, serviam de pontos distribuidores da boa
gua populao.
A respeito de como vem sendo tratada pela historiografia gacha a relao da
nossa cidade com o incio da industrializao do mundo ocidental, no sculo XIX,
h, a exemplo de parte das anlises histricas nacionais, como j me referi no
captulo anterior, um concenso equivocado de que a modernizao de nossa cidade
chega de sbito e com um acontecimento definitivo: a abolio da escravatura, com
efeitos sentidos, portanto, s a partir do incio do sculo XX.
Na verdade, a preocupao com o provimento tcnico do espao urbano de
Porto Alegre j anterior ao sculo XX e a escravido vista pela doxa como uma
mancha que sujou o nosso desenvolvimento econmico ou como um entrave para
avanarmos mais rapidamente no contexto mundial do capitalismo industrial em
nada interferiu no sentido de impedir um novo modo de ver e pensar a cidade, que se
traduziu na necessidade de prov-la de uma infra-estrutura urbana que estivesse em
concordncia com o contexto mais global da industrializao. Como no restante do
Brasil, a capital gacha do sculo passado presenciou ao mesmo tempo o uso da
mquina inglesa ou americana e o emprego da mo-de-obra escrava.
As documentaes de arquivo referentes ao incio ou meados do sculo XIX,
como relatrios dos presidentes da provncia ou dos intendentes, atas da cmara
municipal, os cdigos de posturas, termos de contratos com empresas de iluminao,
transporte, melhoria de pontes ou abertura de ruas, contm consistente comprovao
de que melhorar a cidade e seus espaos pblicos no so caractersticas que
privilegiam somente a ltima dcada do sculo XIX ou as primeiras do XX, como se
tem propagado.
198
Em Porto Alegre, os exemplos so muitos. Em 1873, a Cmara Municipal de
Porto Alegre pediu: que se mande orar uma calha na estrada dos Moinhos de
Vento, adeante da chacara de D. Donanciana, e que se d execuo esta obra;
que nenhum requerimento seja apresentado para alinhamento e altura de soleiras,
sem que venha junto ao mesmo conhecimento de haver pago a taxa, a que estiver
sugeito; que se obrigue aos fiscais a cumprirem a lei que lhes determina darem
semanalmente parte das multas impostas, alinhamento e licenas dadas, com
declarao de nomes, datas, quantias, (...) e que essas partes sejo archivadas; que
se pea presidencia da Provincia para mandar dar camara a quantia de cinco
contos de ris consignada no oramento provincial para a compostura da estrada
do Moinhos de Vento, afim de se proceder em tempo a esse melhoramento.
Ou ainda que: A Camara resolve mandar calar a rua do General Victoreiro,
descendo pela rua do Senhor dos Passos at encontrar a rua dos Andradas. (...)
A Camara resolve (...) que a primeira quadra que se tenha de calar seja a
rua dos Andradas entre as de Santa Catarina e rua do Senhor dos Passos. (...)
Passando a receber propostas para as calhas e abahulamento da rua da
Unio, (...) a Camara reputando mais vantajosa a do primeiro destes proponentes,
que se obriga a faser a obra, inclusive as calhas na rua dos Voluntarios da Patria
pela quantia de tres contos e setecentos mil ris. (...)
O presente officio da comisso incumbida de orar os reparos de que carece
a estrada do Passo d'Areia, desde o arroio deste nome at a desembocadura do
beco do Barbosa, orando os mesmos repasses na importancia de dous contos cento
e cincoenta e tres mil ris. (...)
Como a pauta era o zelo e ateno cidade a cmara: (...) resolve ordenar ao
seu engenheiro que, tendo em atteno as calhas, examine com dado cuidado o
calamento feito pelas companhias de gas e de bonds.
O Sr. Vereador Martins de Lima, dando parte da comisso de que fora
encarregado pela Camara dis que entendendo-se com o administrador das obras da
companhia de bonds, e proprietario do terreno beira rio da Praia do Riacho entre a
199
rua da Varzinha e Praia do Arsenal, sobre o aterro e paredo respectivos,
obriguem-se os mesmos a faser cara obra, orada em mais de tres contos de ris,
uma ves que para ela tambm concorra a approvao municipal; resolve esta
mandar entregar ao administrador da citada companhia, por conta da verba do
aterro e composturas de ruas do exercicio futuro, a quantia de um conto de ris
para a realizao deste melhoramento.
Estes so apenas alguns dos inmeros textos de atas da Cmara Municipal de
Porto Alegre e dos documentos que compem as pastas intituladas Construo e
Melhoramentos do Municpio que giravam em torno das edificaes necessrias
cidade poucos so, dentre esses impressos, os que no tratam de embelezamento,
higiene ou engenharia e arquitetura; raramente aparece o registro de uma discusso
entre os vereadores a respeito da transferncia de um funcionrio ou dos
recebimentos de outro. Discutir, deferir, despachar ou encaminhar a respeito do que
edificar-se dentro da cidade era o norte das discusses entre vereadores, intendentes
e populao j desde o sculo XIX e tambm do XVIII (no esqueamos que foi em
1772 que o Capito Alexandre Montanha desenhou as primeiras ruas de Porto
Alegre).
200
Fig. 07: Rua dos Andradas em 1860: alinhamento e "frades de pedra" (fonte: LIMA, Olympio de
Azevedo. Recenseamento da Populao do Municpio de Porto Alegre de 1922. Officinas Graphicas da
Livraria do Commercio, p. 40)
201
Fig. 08: Na Rua do Rosrio de 1860, organizao do espao urbano: alinhamento e frades de pedra
nas portas das casas. (fonte: LIMA. Recenseamento da Populao... Op. cit., p. 40)
As intenes de embelezamento se misturavam s razes utilitrias. Os
registros documentais do incio do sculo XIX comprovam que a preocupao com a
rua j no era novidade para o homem citadino desse perodo e que as estratgias
que ele usava obedeciam a uma lgica, eficiente para o objetivo que se pretendia
alcanar.
Luiz Felipe Escosteguy, que estudou o uso que os porto-alegrenses fizeram
do espao urbano, entre o final do sculo XVIII at meados do sculo XIX, diz que
nas primeiras dcadas deste, as dvidas em relao medio ou demarcao dos
terrenos que se achavam nos limites urbanos eram resolvidas entre a Cmara e o
Engenheiro Militar (do Real Corpo de Engenheiros, a servio do governo da
Capitania) que era "encarregado do Plano da Vila". Segundo Escosteguy, pela
documentao no fica claro o que seria tal funo, mas pode deduzir-se que se
relacionava confeco da planta da vila, ao conjunto das medidas relacionadas ao
controle estatal da organizao do espao, como tambm demarcao das novas
ruas, quadras e praas, determinao dos alinhamentos aos quais deveriam
obedecer as edificaes, pblicas ou particulares, ao acompanhamento da cmara
nas vistorias em caso de disputas acerca de terrenos, elaborao dos traados para
as obras pblicas, como cais, prdios, pontes, obras de drenagem e pavimentao.
Conforme o autor, o primeiro Plano da Vila de que se tem notcia foi levantado pelo
Cel. Eng. Jos Pedro Csar j nas primeiras dcadas do sculo XIX, em 1820 e
entregue Cmara em 1825.
Assim, preocupados com o andamento de um plano de urbanizao, a
Cmara de Vereadores e o Presidente da Provncia fizeram as ruas de Porto Alegre
202
surgirem a partir de doaes a desapropriaes de chcaras ou estncias da gente de
posse que teve seus terrenos, forosamente, retalhados.
Pode-se ver em documentos principalmente nas Posturas Municipais j
do ano de 1829, referentes a Porto Alegre, por exemplo, a preocupao da
intendncia com o cumprimento das rgidas regras, que, se obedecidas, trariam a
ordem rua, ao espao pblico. Toque de recolher noite, proibio a assovios ou
gritarias, limitao espacial para venda dos produtos alimentcios, proibio de
colocao dos vasos de flores nos parapeitos das janelas, so apenas alguns
exemplos das inmeras normas e limitaes expressas nessas Posturas.
Para construir sua casa, o habitante citadino tinha que observar e obedecer a
alturas e alinhamentos determinados e ainda deixar-se acompanhar pelo "arruador",
que media, marcava, alinhava e dava altura s soleiras, s janelas, s caladas ou
qualquer outro elemento que envolvesse a esttica, a higiene e segurana da rua. As
Posturas Municipais, cujo o prprio nome j revela o objetivo para que foram
criadas, eram os instrumentos poltico-sociais que, concretamente, auxiliavam a
medicina social, o direito, a arquitetura e o urbanismo do sculo XIX, a realizarem
em conjunto a tentativa de "limpeza" da cidade.
Em algumas delas pode-se ler:
Todos os proprietarios de casas, e terrenos da cidade fico obrigados a fazer
por huma vez somente as calsadas de suas testadas athe sancio da rua (...)
acompanhadas de alicerces que as seguem, em todo o quadrado, que fica entre as
ruas Formosa, de Bragana, do Arroio, ou dos Nabos athe o rio, e mais ruas, ou
becos, comprehendidas neste quadro dentro de dois annos; e do seguimento da rua
Formmosa athe a Praia do Arsenal, e dalli circulando athe encontrar com a rua do
Arroio, e todas as mais ruas, e becos, que se comprehenderam neste ambito, assim
como da rua Formosa, seguindo pelo Hospital, becco do Couto, Caminho Novo athe
encontrar com a de Bragana no canto da Praa do Paraso, e todas as mais ruas, e
becos (...) [conforme] o alinhamento que der o Arruador.
203
Todas as medidas eram, ento, ao contrrio do que se tm propagado,
contemporneas escravido e ao processo de industrializao tpico do sculo XIX,
que terminou por preencher tecnica e espacialmente as ruas e as praas da cidade.
Eram essas as ruas cortadas pelos meios de transporte, j desde o sculo XVIII. Por
isso, desde cedo, eles tambm tinham seu movimento regulado pelas "Posturas",
discutido em "Atas Municipais" e regulamentados nos registros da "Construo e
Melhoramentos do Municpio".
O limite ao cavaleiro, ao guasca ou ao peo figuras sempre despojadas,
que tinham suas atitudes caracterizadas pela falta de polidez e de civilidade
comeou a surgir quando, no final do sculo XVIII, a edilidade autorizou a
colocao dos "frades de pedra" nas caladas, nas portas das casas comerciais e das
residncias particulares. Em Porto Alegre, de 1800 a 1910, existiam algumas
centenas desses "frades". No havia casa comercial que no tivesse pelo menos um
na calada.
Os "frades" serviam para impedir que se amarrassem os cavalos em qualquer
lugar ou que se soltassem atrapalhando a ordem dos passeios pblicos. Nas
primeiras dcadas do sculo XIX, a preocupao em se impor tais limitaes clara:
Qualquer pessa, que correr a cavallo pelas ruas da cidade, e Povoaes do
Termo, incorrer de cada vez na multa de seis mil ris, e sendo escravo ser preso
athe que o senhor pague multa: e outro sim se prohibe que ninguem tenha nas ruas
qualquer animal amarrado s portas das casas, e nem apeando-se o poder
conservar pelas redeas entrando em casas, ou estando juntos s frentes das
mesmas, muros ou cercas por onde possa transitar, qualquer que contrarie
incorrer na multa de dois mil ris, e sendo escravo se praticar como acima.
Era necessrio controlar e harmonizar todos os meios de transporte que
circulavam pela cidade. No mesmo Cdigo de Posturas ainda podia-se ler:
Todos os carros, e carretas, que andarem, ou estiverem paradas nas ruas, e
praas da Cidade, e Povoaes do Termo, sero sempre guiadas, e vigiadas por
huma pessa ap; sob pena de pagarem os proprietrios, ou pessoas cujo cargo
204
estiverem, seis mil ris na primeira transgresso; doze mil ris na segunda; e trinta
mil ris nas mais reincidencias, pagando sempre os danos que ocasionar.
Em 1870 os limites aos cavaleiros intensificaram-se, pois a Cmara
Municipal proibiu, via Posturas, os passeios a cavalo nas ruas da cidade, pelo menos
nas sextas-feiras santas.
O cenrio no qual desenvolveram-se os meios de transporte urbanos em Porto
Alegre, desde o final do sculo XVIII e at os meados do sculo XX, teve tambm
outros personagens como: o transporte reservado a poucos, como a cadeirinha
(levada por dois escravos) e os palanquins (carregados por quatro escravos); a calea
(carruagem de quatro rodas e dois assentos, puxadas por uma parelha de cavalos); os
tlburis (carros de dois assentos e quadro rodas, sem boleia, sem capota, puxado por
um s animal); as jardineiras, de quatro rodas, as carroas, as carretas de levar barris
de fezes a serem despejados no rio; as carretilhas que transportavam sementes,
adubos, materiais de construo; os carros fnebres; os carros-pipa, que durante
muitos anos abasteceram a populao com gua das fontes ou stios; e, os
transportes coletivos, como os omnibus com cocheiro, inventados pelos franceses
em meados do sculo XIX, utilizados primeiro na Corte.
Segundo Walter Spalding, as caleas e os tlburis se reuniam em
determinados pontos centrais de Porto Alegre, como a Praa Paraso, atual Praa 15
de Novembro, e na Alfndega, hoje Praa Senador Florncio. Com tais condues as
famlias podiam residir nos bairros Menino Deus, Partenon, Moinhos de Vento ou
nas chcaras da Praia de Belas e mais longe ainda, nas sedes das estncias e grandes
chcaras.
Mas foi a maxambomba, um carro com capacidade para vinte passageiros,
que deu, em 1864 (provavelmente no dia 10 de novembro), o primeiro impulso para
a modernizao, no sentido j definido no captulo anterior, dos meios de transporte
coletivos em Porto Alegre (antes, portanto, reforo, do movimento popular de
libertao dos escravos em Porto Alegre, ocorrido em 1884).
205
Seus concessionrios, Estcio Bitancourt e Emlio Gengembre, entraram com
um pedido Cmara dos Vereadores para a instalao da estao da maxambomba
na Vrzea em 1863, conforme diz o documento:
Sobre um requerimento em que Estacio Bitancourt e Emilio Gengembre
pedem Camara terreno sufficiente na Varzea desta cidade para estabelecer uma
estao, junto grade na Praa da Independencia, e para estabelecer um trilho de
ferro para carros que diarimente transitem d'hi at a Praa do Menino Deos, a
Camara, conformando-se com o parecer da commisso do Contencioso, resolve
conceder-lhes para a dita estao oitenta palmos de frente com oitenta de fundos de
terreno logo abaixo da Praa Independencia, precedendo os empresrios dar aos
trilhos a direo pelas ruas indicadas no seu requerimento ou por outras que
melhor lhes convenha, devendo assignar termo da seguinte conformidade. 10
Acceitarem a concesso do terreno por oito annos a contar da data do termo ... 20
No poderem aplicar o terreno a outro fim alheio ao servio da empresa ... 30 Que
se lhes marque o prazo de treze meses nos casos prescriptos para a demolio, sob
pena de perderem o direito s benfeitorias.
Andando pela primeira vez sobre trilhos, a maxambomba assemelhava-se s
locomotivas que trafegavam pela Estrada de Ferro D. Pedro II, do Rio de Janeiro at
a cidade de Nova Iguau, onde havia um engenho com o nome de Maxambomba;
da o apelido que ganhou a primeira tentativa de transporte coletivo sobre trilhos em
Porto Alegre. Sobre a forma de trao deste veculo ainda persistem dvidas se ele
era movido a vapor ou se puxado por burros h divergncia na documentao.
Srgio da Costa Franco, baseado em pesquisa criteriosa, informa que enquanto a ata
da Cmara Municipal de 14/10/1864 alude a "locomotiva" da empresa
concessionria, e Augusto Porto Alegre, secundado por Alfredo F. Rodrigues,
afirma que a "maxambomba" seria tracionada por uma mquina a vapor, Aquiles
Porto Alegre, em crnica minuciosa, relata que o veculo era puxado a burro.
Partindo da Independncia, o itinerrio da maxambomba inclua a av.
Redeno, hoje av. Joo Pessoa, a av. Azenha, onde desde 1850 havia o Cemitrio
206
da Azenha, e a rua Botafogo que levava capela do Menino Deus, o ponto final do
trajeto. Segundo Srgio da Costa Franco, para viabilizao da rua [Botafogo] e dos
trilhos da maxambomba, foi necessrio construir uma ponte de madeira sobre o
arroio Cascatinha, que ento cortava a descoberto os campos entre Menino Deus e
Azenha. Por ser uma rea baixa da cidade, a regio era vtima de inmeras
enchentes, que terminavam por prejudicar o caminho do veculo. Com as chuvas, a
ponte necessitava de constantes reparos, as viagens tinham de ser canceladas ou os
carros descarrilhavam durante o percurso.
Fig. 09: Os primeiros bondes retratados em charges. A legenda da primeira diz: "A ponte do Menino
Deos - Pobres conductores." (fonte: DAMASCENO, Athos. Imprensa Caricata do Rio Grande do Sul no
sculo XIX. 1962, Porto Alegre: Editora Globo, p. 102).
Fig. 10: Na charge da direita, a populao vomita para fora do bonde. A legenda do original diz: "
preciso ser marinheiro de longo percurso para no deitar carga ao mar" (fonte:Jornal O Sculo, litografia de
Miguel de Werna. In: SPALDING. Pequena Histria de Porto Alegre. Op. cit.)
Os trilhos da maxambomba no eram funcionais. Sua instalao exigia que
valas fossem cavadas nos cruzamentos das ruas, para que as guas das chuvas
escoassem e no empoassem. Essa estratgia de construo atrapalhava o trnsito
207
dos pedestres e dos outros carros, que, para atravessar a rua, eram obrigados a usar
as rampas colocadas para esse fim. Em 26 de setembro de 1864, quando os
empresrios da maxambomba comearam os trabalhos de construo do caminho do
trilhos que percorreriam parte da Cidade Baixa, surgem as reclamaes, como
mostra o requerimento mandado Camara:
Bittencourt & Companhia, empresarios da estrada de ferro desta cidade
para a Praa do Menino Deos (...) comearam os trabalhos, elevando ou
rebaixando o terreno, segundo suas ondulaes, para tornar facil o transito dos
carros (...) Mas impossvel deixar de dar esgto s aguas; para o que tem os
supplicantes feito abrir pequenos regos lateraes, deixando rampas no cruzamento
das ruas para a passagem dos outros carros. Pensavam os supplicantes que a
Camara, no s approvaria, mas at estimaria taes esgotos, que muito uteis so
outra parte da estrada, no occupada pelo caminho de ferro: enganaro-se; na
tarde de antes de hontem (22) foi um dos supplicantes intimado pelo fiscal da
Camara para no prazo de tres dias arrazar os regos sob pena de mandar a propria
Camara arrasal-as!
Foi esse motivo, alm da precariedade dos carros, que eram pesados,
barulhentos e desconjuntados, o decisivo para que esse empreendimento, ousado
para as condies tcnicas da cidade na poca, durasse apenas cerca de um ano. Foi
necessrio populao continuar usando os nibus a burro, as carretas, as carroas,
as caleas e os tlburis por mais nove anos at uma outra empresa de bondes se
organizasse, a fim de dividir com aqueles veculos os habitantes da cidade. Enquanto
isso as opes eram restritas: caleas e tlburis tinham passagens caras e os nibus
tinham horrios e preos definidos pelo dono do veculo, como mostra a notcia do
jornal:
Omnibus para o Menino Deos: Do dia 11 do corrente em diante (somente
aos domingos) haver um omnibus para aquelle ponto, partindo da Praa da
Independencia e fazendo sucessivamente viagens redondas das 7 horas da manh
208
ao meio dia, e das 3 da tarde s 71/2 da noite. Do dia 10 de outubro em diante sero
as viagens dirias. Preo de viagem redonda: 1$000 ris.
Precariedade ou no, o importante a colocar aqui sobre a maxambomba, e
tambm sobre os outros bondes que surgiram mais adiante, o fato de ela ser um
veculo surgido como fruto dos sentimentos comuns dos habitantes da cidade e do
esprito do sculo XIX, que se caracterizavam pela necessidade de urbanizar a
cidade com a ajuda da industrializao; pelo pensar no avano tcnico, racional e
cientfico como uma utilidadade social e como um triunfo da modernidade; por crer
que a vontade coletiva era uma lei natural e por ver no empresrio um heri capaz de
realizar o desejo de felicidade geral que s o progresso industrial poderia trazer.
Como disse Alain Touraine, no sculo XIX, acreditar no progresso [era] amar o
futuro ao mesmo tempo inevitvel e radioso.
Em junho de 1872, o Presidente da Provncia relatava: Approvados os
estatutos da Companhia Carris de Ferro Porto Alegrense, por decreto n. 4,985 de
19 de junho do corrente anno, comearo os trabalhos de assentamentos dos
trilhos, na seco comprhendida entre a praa da Independencia e o bairro Menino
Deus, contando a respectiva diretoria inaugurar o trafego nos primeiros dias do
mez de Dezembro.
Acha-se j nesta capital grande poro de material necessario para a
continuao dos trabalhos e de esperar que em breve estejo concluidas as
diversas linhas indicadas no contracto da empresa.
No pode tardar a realisao deste importante melhoramento.
Existindo nos contratos que celebraro as emprezas relativas s tres cidades,
capital, Rio Grande e Pelotas, a obrigao de satisfazerem as mesmas emprezas ao
engenheiro que pela presidencia fosse encarregado da fiscalizao das respectivas
obras e servio de trafego, fixei em 1:600$000 annuaes a quantia que para esse fim
devem pagar as emprezas da capital e Pelotas, sendo essa quantia elevada a
2:400$000 logo que os dividendos attinjo 12%.
209
Em colaborao com a inteno mais geral da cidade de tornar-se mais
organizada, "limpa", atual e moderna, as companhias responsveis pela explorao
do servio de bondes em Porto Alegre, comprometiam-se a custear e construir o
caminho necessrio para a colocao dos trilhos, cuidando da conservao e da
reconstruo dos calamentos, pontes e abrigos, que fizessem parte do itinerrio das
linhas. Dessa forma, num processo interativo e recproco, essas empresas
contribuam com as intenes da cidade para o "melhoramento" e reforma do espao
pblico, que era a rua.
Entre suas obrigaes, a Cmara de Vereadores deveria aprovar e mandar
executar os planos relacionados ao conserto de caladas, calhas, pontes, jardins, etc.,
mas se tais reparos envolviam regies por onde circulavam os bondes, as
companhias, elas mesmas, que deveriam fazer os servios. Em uma das clusulas
do contrato celebrado entre o Presidente da Provncia do Rio Grande do Sul e a
Companhia Carris de Ferro Porto-Alegrense, de 27 de fevereiro de 1872, constava
que: Ser responsvel a emprza durante o tempo da concesso pela conservao
no calamento da rua no espao comprehendido pelos trilhos e mais 0, 25m para
cada lado exterior.
E mais: As linhas sero singelas nas ruas e camminhos estreitos, e duplas
(quando exigirem as necessidades do trafego) nas que tiverem largura sufficiente;
convindo que os trilhos sejo assentados no centro das ruas, mas de modo que no
prejudiquem o transito; nas ruas, porem, estreitas passaro de um dos lados sem
prejuizo do transito, quer de vehiculos, quer de passageiros, ficando a largura dos
passeios sempre livre circulao das pessas a p.
210
Fig. 11: Os trilhos da Vrzea (fonte: Mirian Antonini, acervo pessoal)
Tambm, quando em 1887, a Cmara Municipal e o governo do estado no
chegavam a um acordo sobre quem deveria fazer o conserto da ponte do Riachinho,
na rua do Menino Deus, foi a Companhia Carris de Ferro Porto-Alegrense que
terminou por auxiliar na obra, j que sem esta ponte o trfego dos bondes teria de ser
suspenso. A discusso durou de fevereiro a maio, quando a Companhia Carris
interferiu e comprometeu-se em realizar os reparos necessrios.
Anos depois, poca em que os bondes movidos eletricidade j circulavam
pela cidade, a reciprocidade prosseguia, pois segundo Riopardense de Macedo, a 2
de maio de 1925, quando o intendente Otvio Rocha alterou o primeiro contrato, de
1906, que havia sido celebrado com a companhia Fora e Luz Porto-Alegrense,
ficou condicionado que se a intendncia abrisse duas novas ruas, a empresa
colocaria a frota de carros exigida. Um dos pedidos era o prolongamento da rua So
Rafhael (hoje av. Alberto Bins) at a praa Quinze de Novembro; tal obra
proporcionaria uma ligao entre o ponto de sada dos bondes, no centro, e os
bairros Floresta e Passo da Areia. O outro, era a abertura da av. General Paranhos,
que mais tarde, ampliada, transformou-se na av. Borges de Medeiros. A obra desta
ltima foi iniciada em 1925 e s concluda totalmente na dcada de 40, no governo
do prefeito Jos Loureiro da Silva; a avenida, possuindo linha dupla de bondes,
tornou mais acessvel a ligao do centro com os bairros Menino Deus, Glria,
Terespolis e Partenon.
211
O prolongamento da rua So Rafhael no se efetivou, mas de qualquer forma
a ligao feita, que agradou Companhia Carris de bondes, foi a abertura da rua 24
de maio (hoje av. Otvio Rocha), que tornou-se, at o governo de Guilherme Socias
Villela, na dcada de 70 do nosso sculo, uma artria aberta e importante que servia
para unir a praa Quinze de Novembro rua So Raphael e assim conduzir o trfego
de veculos do centro at os bairros Floresta, So Joo e Higienpolis.
Foi tambm em funo dessas reformas urbanas que se instalou na praa
Quinze do Novembro, por volta da terceira dcada do sculo XX, o primeiro abrigo
coberto para passageiros de bondes, construdo pela Companhia Carris (nessa poca
a nica responsvel pelo trfego de bondes eltricos e subsidiria da Companhia
Brasileira de Fora Eltrica) para acolher, como ponto de confluncia, os
passageiros que circulariam tanto pela avenida So Raphael como pela Borges de
Medeiros.
Como era um projeto nacional e internacional, os bondes porto-alegrenses
tinham o mesmo modelo dos bondes cariocas. No Rio de Janeiro, a primeira
concesso para o servio de bondes de trao animal foi outorgada Botanical
Garden Railroad Company (posteriormente Companhia Ferro Carril do Jardim
Botnico), em 1868, e depois dela foram criadas mais duas empresas: a Rio de
Janeiro Street Railway Company (depois Companhia So Cristvo), em 1870 e a
Companhia Urbanos, em 1878. Dividindo entre si as reas comerciais, a zona
porturia e as zonas residenciais, essas empresas propagaram para o resto do Brasil
um padro ideal de transporte coletivo urbano.
Para viabilizar a padronizao, constava na segunda clusula, do pargrafo
10, do contrato de 1872, celebrado entre a Carris de Ferro Porto-Alegrense e o
presidente da provncia do Rio Grande do Sul o seguinte: O systema de Carris ser
o mesmo usado na linha do Rio de Janeiro ao Jardim Botanico(...).
Sincronicamente com a Corte, Porto Alegre tambm iria ter nas suas ruas a
tecnologia estrangeira em transporte urbanos. As empresas, embora fossem de
capital americano, tinham os carros de acordo com o modelo ingls alis, no
212
havia outro; os nibus de criao francesa e os trens e os bondes de criao inglesa
foram invenes que o mundo ocidental usou e no ousou modificar.
Em 1873 comearam a circular em Porto Alegre os bondes de trao animal,
que no descarrilhavam tanto e eram mais seguros que a maxambomba. A partir de
1909 surgem os de trao eltrica.
Os auto-nibus entraram em circulao regular aps 1928; as caleas, os
tlburis, as jardineiras foram usadas at o incio dos anos 20 do nosso sculo e s a
partir de 1925, segundo Walter Spalding, as ltimas cocheiras desapareceram.
O bonde de trao eltrica s retirou-se do cenrio urbano porto-alegrense em
maro de 1970, quando a energia eltrica foi considerada ineficaz diante da energia
derivada do petrleo.
Auto-nibus, bondes eltricos, bondes a burro, caleas, tlburis, jardineiras;
hibridismo e entrecruzamento; mistura do novo e do antigo. Na Porto Alegre dos
meados do sculo XIX e do XX, a modernidade trazia concomitantemente fascnio e
desencanto, a projeo sempre para o futuro e a convivncia com uma Tradio,
tributria do passado, mas que permitia sociedade pensar-se sobre si mesma, como
sociedade moderna.
Atravs de uma capacidade singular e extraordinria de moldar-se ao antigo,
a modernidade cria a idia de que toda a experincia deve ser superada; e o moderno
invariavelmente a ltima transformao, num progresso contnuo e linear que no
pode mais cessar de ser eternamente contemporneo.
A criao e implantao dos bondes no interrompeu drasticamente a
circulao de caleas, tlburis ou jardineiras, assim como tambm o nibus no fez
desaparecer drasticamente o bonde eltrico, mesmo assim a mistura continuou
existindo, apesar do desejo, moderno, de que ela no fosse to real.
As notcias dos jornais, as crnicas literrias, as reclamaes da populao e
as medidas poltico-administrativas da Intendncia ou da Cmara dos Vereadores
revelaram sempre o desejo da eliminao do antigo, colocando-o como um entrave
213
ao progresso almejado. Tudo isso envolvido por um sentimento ao mesmo tempo
nostlgico, encantado e desencantado.
Ary da Veiga Sanhudo, cronista porto-alegrense que teve livro publicado em
1961, escreveu:
Em 1873, um tal Jos Diabo, inaugurou um servio de Diligncia entre a
Praa Conde d'Eu e a recm aberta rua So Pedro, com itinerrio pela Voluntrios
da Ptria. Foi um sucesso indescritvel. A diligncia fazia trs viagens pela manh e
trs pela tarde, com a conseqente volta, consumindo aproximadamente meia hora
em cada viagem!
E dizer que o esqueceram definitivamente, heim!? Foi do ano de 1895 para
c que essa regio central do 40 Distrito, hoje oficializada bairro So Geraldo,
comeou a se projetar realmente como arrabalde da cidade. Era ento um
arraialzinho! Por essa poca, mais ou menos, atravessou o lugarejo, entretanto pela
rua do Parque, o famigerado bonde a burro da Carris. O bondezinho com esses
lerdos burrinhos, magros e cansados, diariamente passando pelas ruas
empoeiradas do bairro!
Achylles Porto Alegre, tambm cronista gacho, um dos integrantes da
sociedade literria e beneficiente Partenon Literrio, que reunia jornalistas e
intelectuais, escreveu em duas crnicas diferentes, ambas tratando sobre os meios de
transporte em Porto Alegre, o que serve de exemplo desse sentimento.
Numa delas, No Tempo dos Burros, ao discorrer sobre as dificuldades
enfrentadas pelos passageiros dos bondes puxados por animais, que no eram
poucas, ele diz: Quando, em 1873, comearam as corridas de bonde, a cidade
exultou e vibrou de entusiasmo, no s pela utilidade que elas traziam como pela
novidade. Breve, porm, o entusiasmo amorteceu. O servio dos bondes comeava
sob um signo mau. A impercia dos cocheiros dava lugar a constantes paradas e
repetidos descarrilhamentos. (...) Destarte, as viagens de bonde eram
demoradssimas e repletas de episdios pitorescos e tambm de raivas incontidas.
214
(...) A imprensa noticiou que amos ter planos inclinados, linhas duplas e bondes de
quarto em quarto de hora mas... apenas reformou-se o feitio dos cupons.
Em outra, intitulada Maxambomba, Achylles, colocando-se como um homem
de sorte por viver em poca mais avanada que a retratada por ele, usa do seu humor
para contar que, aps uma viagem de maxambomba, o passageiro chegava em casa
mais morto do que vivo. Doa-lhe o corpo todo, desde os ps cabea, como se
houvesse levado uma camaada de pau. E, como que acreditando na modernizao
galopante e na inevitabilidade do progresso, termina por dizer que por tantos
prejuzos e atraso tcnico, a maxambomba morreu e o bonde triunfou. Como o
direito ao uso dos servios s foi concedido aos bondes de trao animal em 1873,
nove anos depois deste ter sido permitido aos empresrios Estcio Bittencourt e
Emlio Gengembre, responsveis pela explorao dos servios da maxambomba,
Achylles, para reforar a idia da necessidade do novo em ultrapassar o antigo,
graceja: Mas tal coisa... O bonde o bonde, e a maxambomba a maxambomba.
E j os antigos diziam: Uma lebre de trs anos corre mais que um burro de cem.
A lebre de trs anos o bonde e o burro de cem a maxambomba ,
sintetizam o pensamento do homem citadino que viveu as transformaes tcnicas
na virada do sculo XIX para o XX: desejo de pressa, velocidade,
substituio...julgar estar testemunhando o novo passando frente do antigo; poder
ver e acreditar no progresso evolutivo e linear, que andando sob os trilhos, apontava
o caminho da civilizao; que ao deixarem sua marca sobre o terreno urbano,
indicavam, alm do trajeto dos carros, a trajetria histrica da cidade.
Por onde quer que se passasse pelo centro da cidade porto-alegrense ou
outros bairros mais prximos, l estavam eles, os trilhos, com seu traado distintivo,
anunciando a chegada do moderno. E se no houvesse os trilhos? Seria um sinal
terrvel de que, em plena metade final do sculo XIX, os porto-alegrenses estariam
ainda no tempo das carroas? Literalmente estavam, mas no podia admitir-se. O
que importava era ver sob o solo quase virgem e natural, ornado por muito verde, ser
marcado definitivamente por duas linhas paralelas fabricadas com o elemento
215
smbolo da industrializao que era o ferro, linhas essas com uma nica funo:
conduzir. Indicar o caminho. Mostrar a direo. Dizer que se vai a algum lugar.
Os trilhos urbanos e tambm os trilhos dos trens interurbanos representavam
poca o que hoje representa o asfalto; eram, como estes, elementos condutores da
civilizao. Com o ferro aparece, pela primeira vez na histria da arquitetura, um
material artificial. Isto recebe o decisivo impulso quando fica claro que a
locomotiva s era utilizvel sobre trilhos de ferro. O trilho se torna a primeira pea
montvel de ferro, sendo o percursor da viga de sustentao. Evita-se o ferro nas
moradias, mas ele empregado nas galerias, salas de exposio e estaes de trem
construes que serviam para fins de trnsito.
No faltavam reclamaes em relao ao descarrilhamento ou ao
inconveniente trabalho de manuteno ou implantao dos trilhos, mas havia
consenso sobre a sua necessidade.
Fig. 12 e 13: Trabalho de construo e manuteno dos trilhos: a cidade se reconhece moderna
(acima, Rua Vinte e Quatro de Outrubro, esquina rua Dr. Timteo, em 1907, fonte: PESAVENTO. O
Espetculo da Rua. Op. cit., p.45; abaixo, proximidades do cais, dcada de 1930, fonte: VILARINO. Carris,
120 Anos. Op. cit., p. 45)
216
No foi por acaso que um tal Antonio Coelho Pinto, morador da rua da
Varzinha, no foi ouvido na sua reclamao camara:
Antonio Coelho Pinto, proprietario de uma pequena casa sita rua da
Varzinha, entre a do Arroio e Bella, vem reclamar contra a empresa de bonds pelo
grande prejuiso que causou sua propriedade o grande atterro feito para o
assentamento dos trilhos. (...) No s o supplicante mas outros proprietarios
tambm esto nas muitas condies de terem perdidas as suas propriedades pelo
abuso da empresa que, alem de seus interesses, no quer ver o direito dos
proprietrios.
Os reclamantes no foram atendidos; a rua passou a valer mais que a
propriedade.
Alm da sua utilidade prtica e tcnica, uma vez que o calamento de pedra
era muito irregular, os trilhos tambm tinham uma importncia fundamental para a
imagem que a cidade queria sustentar: cidade que se moderniza e que se sintoniza
com o mundo. No por acaso que as fotos que ilustram os relatrios anuais das
217
companhias de bonde do incio do sculo, e que hoje nos servem de fonte emprica,
mostram mais o trabalho de colocao, manuteno e reconstruo dos trilhos do
que os carros em si.
Em Porto Alegre os trilhos s foram extrados das ruas por volta da dcada de
70 do nosso sculo para dar lugar ao asfalto, e mesmo assim, ainda hoje em algumas
delas, como as avenidas Cristvo Colombo, Vinte e Quatro de Outubro ou Bordini,
ambos coexistem (embora se faa uso apenas do segundo).
Os trilhos do sculo XIX eram sinal da abertura dos novos caminhos e, por
isso, do crescimento da cidade; por linhas retas ou curvas, uniam-na e dilatavam-na.
Eram visivelmente os fios condutores que possibilitavam populao de transitar
pelas partes mais importantes da cidade, fossem os centros administrativos, os locais
religiosos ou, ainda, o lugares do passeio ou divertimento, como o balnerio e o
hipdromo. Os trilhos dos bondes para o Menino Deus, por exemplo, conduziam as
pessoas para praticamente porta da capela, ponto nevrlgico do bairro, e tambm
serviam para ligar o centro ao ponto de lazer, como eram as praias deste bairro.
218
Fig. 14: Trilhos, elementos condutores da civilizao. (fonte: PESAVENTO. O Espetculo da Rua.
Op. cit., p.66)
Depois da maxambomba, esta parte baixa da cidade foi servida, a partir de
1873 com estatutos aprovados pelo Decreto Imperial n0 5.794, somente em 18 de
novembro de 1874 por uma empresa de sociedade annima chamada Carris de
Ferro Porto-Alegrense. Circulando na cidade j em 4 de janeiro de 1873, mas com
contratos aprovados desde de 27 de fevereiro 1872 pelo Presidente da Provncia,
essa empresa colocou em funcionamento linhas para dois itinerrios diferentes para
o Menino Deus: um partindo do Mercado Pblico e passando pela Rua da Margem
(hoje seria um trajeto que ligaria as atuais avenida Washington Luis e a rua Joo
Alfredo) e outro que partia da Praa da Matriz e passava pela Vrzea (hoje av. Joo
Pessoa).
219
Fig. 15 e 16: O arraial do Menino Deus: primeiro os bondes de trao animal, depois os eltricos.
(fonte: Mirian Antonini, acervo pessoal)
Segundo Maurcio Ovadia, em seu manual sobre os meios de transporte em
Porto Alegre, em janeiro de 1873, o Menino Deus, pomposa e retumbantemente,
delirava com os famosos bondes a burro da Companhia Carris de Ferro Porto-
Alegrense, quando no dia da sua espetacular inaugurao, fez transitar ao longo da
grande artria do bairro, festivamente ornado, um vistoso carro onde se via
atrelada uma soberba parelha de cavalos brancos.
A primeira frota da companhia compunha-se de onze carros fechados e nove
abertos, que podiam mover-se para trs ou para frente, mudando-se apenas os
animais de lugar. No demorou para que o primeiro bonde fosse apelidado de
"vagabundo", por no ter tolda.
Depois, a partir de 15 de janeiro de 1893, surgiu outra empresa, a Carris
Urbanos, com carros menores que os da Carris Porto-Alegrense e com um nmero
mais reduzido de itinerrios, e por isso foram apelidados de "caixas de phosphoros".
220
Para ir ao Prado Independncia, no bairro Moinhos de Vento, inaugurado em
25 de maro de 1894, podia-se pegar o bonde da Carris Urbanos, que desde 1893,
possua sua estao e cocheiras neste ponto.
De 1873 at as primeiras dcadas do sculo XX, assim estavam distribudos
pela cidade os itinerrios dos bondes a burro, segundo Srgio da Costa Franco:
1873: Menino Deus via Vrzea (Carris Porto-Alegrense)
1874: MeninoDeus via Margem (Carris Porto-Alegrense); Azenha at o
cemitrio (Carris Porto-Alegrense); Voluntrios da Ptria at So Pedro (Carris
Porto-Alegrense)
1880: Partenon at prximo a rua Luiz de Cames (Carris Porto-Alegrense)
1893: Independncia at o Prado (Carris Urbanos); Floresta at 7 de abril
(Carris Urbanos)
1894: Partenon via Bom Fim e Santana (Carris Urbanos)
1895: Partenon at o Hospital So Pedro (Carris Urbanos)
1896: Floresta at Cel. Bordini (Carris Urbanos); Floresta at So Joo
(Carris Urbanos); So Joo, via rua So Pedro, av. Bahia e av. Brasil (Carris
Porto-Alegrense); arraial de So Pedro, at esquina da Cristvo Colombo com
Visconde do Rio Branco (Carris Porto-Alegrense)
1897: Glria at Igreja N. Sa. da Glria (Carris Porto-Alegrense)
1899: Terespolis (Carris Porto-Alegrense)
221
Fig. 17: A cidade expandia-se ao sabor dos trilhos. (fonte: PESAVENTO. O Espetculo da Rua. Op.
cit., p. 62, os textos explicativos tambm so da autora)
A partir de 1908, depois de a Carris Porto-Alegrense e a Carris Urbanos
fundirem-se em uma s empresa, sob o nome de Companhia Fora e Luz, iniciou-se,
em carter provisrio, o trfego de bondes eltricos pelos bairros Menino Deus,
Glria, Terespolis e Partenon.
Novamente, em acordo com o que era de mais atual no mundo industrializado
do incio do sculo XX, os habitantes de Porto Alegre tambm passaram a desejar
em suas casas e ruas a energia eltrica. Com projetos existentes j desde 1889, em
1891 foi instalada na capital a primeira companhia que geraria energia eltrica para
as casas comerciais, a Companhia Fiat Lux. A iluminao pblica dos bairros, a gs,
fornecido at 1906 pela Companhia Rio-Grandense de Iluminao a Gs, passou, a
partir de 1908 a ser eltrica e sobre a responsabilidade da Usina Eltrica Municipal.
No mesmo ano, a Companhia Carris de Ferro Porto-Alegrense, j sob o nome de
Companhia Fora e Luz, tambm entrou para esse ramo extremamente atual e
moderno: instalou uma usina eltrica, com o objetivo principal de gerar fora motriz
para os novos modelos de bondes.
222
Com uma usina localizada na rua Voluntrios da Ptria, prximo rua da
Conceio, a Companhia Fora e Luz no demorou a ampliar seus negcios: de
1911 a 1928, forneceu energia eltrica tambm para as indstrias da capital. A partir
desta ltima data o municpio celebrou contrato com o grupo norte-americano da
Bond and Share, para a concesso dos servios de eletricidade de Porto Alegre. Sob
a sua verso brasileira, chamada Companhia Brasileira de Fora Eltrica, esse grupo
americano comprou as companhias locais a assumiu sozinho o controle acionrio
destas.
A modernizao e higienizao, combinadas com o desencantamento do
mundo, deixaram, com muita rapidez, s claras na paisagem urbana porto-alegrense,
a diferena e a fragilidade que existia entre cidade aoriana do perodo colonial e a
cidade do sculo XIX, quando os progressos da indstria causaram desprezo pelo
passado e apologia ao devir no homem urbano, que passou a deparar-se, na mesma
rua, com os frades de pedra e os trilhos de metal, com os bondes puxados a burro e
as cadeirinhas, ou, posteriormente, no sculo XX, com os bondes eltricos e os
automveis a gasolina.
De atualizao infinita e permanente, a modernidade no a transmutao de
todos os valores, ela desestruturao de todos os valores antigos, sem a sua
superao, a ambigidade de todos os valores sob o signo de uma combinatria
generalizada. Por isso o pensamento do homem moderno tambm de ambigidade
e combinao hbrida de valores antagnicos.
Em Porto Alegre tambm o fascnio e o receio em relao mquina dividia
o pensamento do homem citadino do incio do sculo XX, que, lastimando a perda,
por exemplo, da pacata cidade em que se podiam ver os burros puxando os bondes,
ao mesmo tempo, se regozijava de possuir dentro dela o smbolo do progresso, que
eram os bondes eltricos.
Achylles Porto Alegre escreveu na crnica Evocaes, elementos que
ilustram bem o pensamento do homem urbano, sempre dividido entre o fascnio, o
desgosto e a melancolia, quando se v diante da tecnologia: Ao invs da iluminao
223
azeite de peixe, a luz eltrica; ao invs da 'maxambomba' que no matava
ningum , o 'eltrico' e o 'auto', que, como epidemias, esto sempre fazendo
vtimas o que o progresso nos trouxe. doloroso mas bonito. No temos
mais 'frades' de po porta de cada casa, nem de pedra s esquinas. Temos postes
telefnicos e de luz eltrica, que nos trazem casa, de longe, num relmpago, a
palavra e a luz. Mas, ah! Como nos falta tanta coisa... Falta-nos a nossa infncia
descuidada e nossa mocidade sonhadora. A cidade remoou, embelezou-se, e ns
envelhecemos. Mas, antes assim. Que a nossa querida cidade se alinde, progrida,
brilhe, seja grande.
Tambm escreveu ele, privilegiando o progresso e desacreditando na cidade
do passado: Ha uns quarenta annos a nossa cidade vivia em completo abandono.
Tinha assim os ares de um povoado de roa. As nossas praas serviam apenas de
depsito de lixo e outras immundicies. A Praa do Porto, apezar de estar plantada
no corao da cidade, no escapava a essa lei que atava tudo.
Athos Damasceno escreveu, com ironia: Por volta de 1839, a ex-povoao
dos Casais tinha-se como uma cidade pronta, no seu licencioso sistema de vias
urbanas. Prontssima.
(...) Entreverados, os becos escusos e midos entrelaavam-na.
(...) Estreitas e acidentadas, sujas e sombrias, a impresso que davam no
era de ruas de uma cidade nascente e sim de cidade velha e abandonada.
(...) A Rua da Praia que, por ser o centro comercial, era a mais importante,
queria que vissem.
Em 1880 no tinha cara muito melhor do que em 1820 que foi quando tomou
lace e chegou a arrancar sinceros Oh! Oh! de admirao a visitantes ilustres.
Ary Veiga Sanhudo, ao reproduzir o sentimento de euforia da populao
citadina do sculo passado diante da novidade, escreveu a crnica, O Trenzinho da
Tristeza, mostrando aspectos do passado, mas tambm revelando a sua prpria
crena no progresso evolutivo e no desenvolvimento redentor. Disse ele:
224
A cidade viu entrar os primeiros dias do presente sculo com os olhos
singularmente esbugalhados. E embora nem se pensasse em energia atmica ou
viagens siderais, Porto Alegre, ento com cerca de 60 mil habitantes, andava
espetacular e resplandecente.
(...) Muito cedo, considerveis multides, nos seus melhores trajes,
circulavam pelas ruas alegres da cidadezinha [grifo meu], em passeios ou na busca
de seus afazeres, mas sempre na expectativa de surpreenderem as novidades que o
mundo distribua em profuso naqueles momentos iniciais de euforismo.
O fantstico luminoso Salve o Sculo XX no alto da chamin da Fiat
Lux, ali na rua 7 de setembro, irradiava para a populao boquiaberta, naquelas
manhs claras de vero, a luz plida das suas lmpadas ainda acesas, o espectro do
fascnio da eletricidade! (...)
Se nas ruas da cidade o povo regorgita, podem bem imaginar o que seria o
lugarejo suburbano da Tristeza, margem esquerda do Guaba, que esperava por
aqueles dias, a chegada do trem, inaugurando a esperada linha ferroviria entre a
Estao do Riacho e esse arrabalde beira-rio!
Grande multido, estampando a mais viva satisfao, aguardava na
Estaozinha da Tristeza [grifo meu], a chegada triunfante da formidvel
locomotiva que marcaria uma nova era de progresso para o lugar. Pouco antes do
meio-dia, num domingo desses, meados de janeiro do primeiro ano do sculo, a
mquina arrastando quatro vages, atopetados de gente, apitava buliosa ao
penetrar na imensa vrzea, ao norte, antes de cruzar o povoado, anunciando a sua
pomposa vitria de velocidade e rapidez.
Palavras no diminutivo, expresses exclamativas, linguagem irnica
denunciam a sua posio carinhosa e, ao mesmo tempo, de zombaria do que j
passou. Revelam a hibridizao entre a crena no progresso econmico e a sensao
de fluidez e eferemidade festivas.
225
3. A URBANIDADE E A FESTA
226
Os meios de transporte urbanos, seus trajetos e melhorias tecnolgicas, fazem
parte de importantes empreendimentos e intenes do poder pblico (prefeituras e
secretarias municipais do transporte) que, pelo menos no plano do discurso, sempre
busca realizar o que julga ser a melhoria da cidade ou o benefcio para a comunidade.
Os bondes e os nibus aparecem nos planos e projetos de governos, arquitetos ou
urbanistas e tambm no iderio da sociedade, como elementos possibilitadores da
ampliao da cidade; da ligao mais rpida entre o centro e os bairros; da
modernizao do espao urbano ou da prpria imagem de desenvolvimento tcnico
desejvel, como expus no captulo anterior.
Em tese, ao investir em meios de transporte, o poder pblico parte, muitas vezes,
do pressuposto de que preciso estabelecer uma relao equilibrada entre a demanda
do transporte, o consumo de energia, a variedade das atividades urbanas e uso mais
adequado do solo, e trabalha, para isso, com modelos urbansticos que visam a
estabelecer previses a respeito de fluxos de pessoas e de veculos, buscando
determinar as ligaes entre, de um lado, a densidade residencial, os nveis de
emprego, as reas economicamente produtivas, etc. e, de outro, as necessidades em
termos de infra-estrutura necessria para o prprio transporte
59
.
A partir do uso de modelos tcnicos como este e da coleta de dados estatsticos
formulados por profissionais da rea, podemos conhecer mais sobre o assunto e suas
variantes, como por exemplo, o nmero de passageiros transportados, em horrios
determinados e em diferentes locais da cidade; pode-se tambm chegar a concluses do
tipo: o nibus, em uma cidade como Porto Alegre (tomando o ano de 1981) transportou
59
BRINCO, Ricardo. Transporte Urbano em Questo. 1985, Porto Alegre: Secretaria de Coordenao e
Planejamento, Fundao de Economia e Estatstica, p. 7.
227
at 10.000 passageiros dentro do corredor de uma avenida como a Assis Brasil, por
exemplo, no perodo de 7 s 8 horas e no sentido bairro-centro (cerca de 500.000
pessoas se deslocavam diariamente em nibus nesta movimentada avenida), enquanto
que o bonde poderia transportar at uma variao de passageiros que se estende entre
7.000 e 8.000 a 20.000 passageiros/hora/sentido
60
.
Se voltssemos no tempo, constataramos que o bonde em Porto Alegre, no ano
de 1875, j havia transportado 331.555 passageiros (a populao era por volta de
34.000 hab.), em 28.800 viagens
61
e que, no ano anterior, a Companhia Carris de Ferro
Porto-Alegrense j tinha construdo 17.142 metros de trilhos em todas as suas linhas
62
.
Em 1940, os bondes eltricos percorreram 87.773 km de linhas a uma velocidade de 15
km/h, carregando 57.812.739 passageiros (para uma populao de mais ou menos
300.000 hab.)
63
. A partir de dados como esses, poder-se-a ainda estabelecer relaes
entre o custo operacional da implantao de equipamentos necessrios considerando as
despesas e os lucros para isso. Ou, quem sabe, construir associaes que determinariam
a ligao direta entre crescimento populacional dos bairros em funo da implantao
dos itinerrios dos veculos coletivos.
Estes, entre outros, so dados importantes que tm constitudo a polpa dos
manuais urbansticos e at mesmo da literatura que procura tratar da histria dos meios
de transporte coletivos urbanos. Mas haveria outras consideraes a fazer? Seria
possvel olhar para os meios de transporte e enfoc-los a partir de uma perspectiva
diferente da que coloca o compromisso e o trabalho do habitante citadino como mola
propulsora de suas viagens dirias? E mesmo sob essa tica, no poder-se-a tratar de
analisar o uso inesperado que o passageiro d quilo que o urbanista planejou?
Ademais, considero duvidosa a crena em alguns postulados metodolgicos das
anlises materialistas histricas segundo os quais os meios de transporte coletivos
60
BRINCO. Transporte Urbano em Questo. Op. cit., p. 44.
61
RELATRIO da Presidncia da Provncia, 1876, n. 12, pg. 48, Arquivo Histrico do Rio Grande do Sul.
62
RELATRIO da Companhia Carris de Ferro Porto-Alegrense, 15 de janeiro de 1875, OP 40- L.376, Arquivo
Histrico do Rio Grande do Sul.
63
PAIVA, Edvaldo Pereira. Expediente Urbano de Porto Alegre, 1942, Porto Alegre: Prefeitura Municipal, p. 25,
131,132.
228
urbanos tm, dentro das cidades, contribudo para manter a estrutura social configurada
em relaes de dominao ou que atravs deles tem-se a forma mais visvel e concreta
de segmentao da sociedade: a classe popular, que no possui o seu meio particular de
locomoo, concentra-se maciamente nesses coletivos e tem seu hbitat
condicionado aos itinerrios oferecidos.
Ao concentrar a investigao histrico-social dos meios de transporte urbanos
em Porto Alegre, entre a metade do sculo XIX e as primeiras dcadas do seguinte,
levando em conta essas consideraes, eu posso optar por esquadrinhar e perseguir dois
caminhos.
O primeiro sugerido a partir da viso de Ruy Barbosa sobre o bonde nas
cidades brasileiras: O bonde foi, at certo ponto, a salvao da cidade. Foi o grande
instrumento de seu progresso material. Foi ele que dilatou a zona urbana, que arejou
a cidade, desaglomerando a populao, que tornou possvel a moradia fora da regio
central. O bonde foi e preciso diz-lo uma instituio providencial. Se no
existisse era preciso invent-lo
64
.
O segundo liga-se idia de Achylles Porto Alegre quando, levado por sua
experincia de cronista e observador, comentou a respeito de uma viagem de bonde na
capital gacha: A proporo que vamos nos civilisando, parece irmos nos esquecendo
dos mais simples preceitos de civilidade. Si entramos no bonde, quanta cousa digna de
nota de prompto se impe aos nossos reparos!
Um bilontra de colarinho em p, bigode retorcido e lustroso, leva o charuto ao
rosto da visinha, que lhe vai ao lado, como si o sujeito estivesse sentado, vontade, em
casa, em mangas de camisa e de chinellos.
Um outro no se levanta, no deixa a aponta do banco, por um instante, para
dar passagem a uma moa que quer descer, mas sente-se constrangida, porque os
joelhos do marmanjo lhe vo roar as pernas na promiscuidade do becco de m nota.
64
BARBOSA, Ruy. 1898, in: STIEL. Histria do Transporte Urbano no Brasil. Histria dos Bondes e Trlebus
e das cidades onde eles trafegaram. Op. cit, p. 6.
229
No ltimo banco, refestela-se um sujeito mal encarado, e occupa-se, em voz
alta, da desgraa de uma menina que abandonou a casa paterna, illudida por um
patife.
E isso contado sem reservas, sem o menor escrpulo, sem omisso do nome da
infeliz...
H mesmo quem se considere no bonde to vontade como em uma mesa de
caf, ou no fundo da tasca e assovie, com hlito repugnante, o Boi Barroso ou
cante a Baratinha...
65
Uma viso complementria outra e ambas servem como ponto de partida
para a anlise da relao do homem da cidade oitocentista com os seus meios de
transporte coletivos: no caminho para o trabalho ou a passeio, ele atua no jogo
complexo e comunitrio que partilhar com o outro o significado do estar-junto
urbano, que consiste em fazer parte das mesmas regras de comportamentos sociais,
testemunhar os progressos arquitetnicos e urbansticos, sentir os mesmos odores e
rudos, andar na moda, comprar balas ou bilhetes da loteria do vendedor que
habilmente se equilibra no estribo, rir do condutor que nem sempre consegue impedir
que um espertinho ande sem pagar, ser solidrio com o motorneiro quando um mau
sujeito lhe falta com o respeito, esperar a moa subir no bonde na esperana de ver
um pouco da sua perna na brecha do vestido ou maliciosamente levantar a barra do
vestido para mostrar a perna...
Dentro do bonde pode-se ver muito sobre a forma de organizao da sociedade
brasileira; fora dele, pode-se equacionar e analisar o nmero de passageiros carregados
ao final de cada ano, os lucros das empresas de carris urbanos, o crescimento da cidade
ou os efeitos dos itinerrios dos carros na direo do fluxo da populao pela cidade.
Pode-se, portanto, colocar em justaposio o desenvolvimento urbano e a
experimentao do meio de transporte coletivo, revelados no encontro dirio entre as
pessoas.
65
PORTO ALEGRE, Achylles. A beira do caminho. 1925, Porto Alegre: Editora Globo, p. 101-102.
230
No se trata de dar anlise um enfoque que investigaria as politomias, mas sim
as simultaneidades. No h preocupao em indagar-se a respeito da existncia ou no
de mecanismos de resistncia, ou as chamadas transgresses inconscientes, criados por
uma classe em relao outra e nem de ver o cotidiano como um elemento de
subjugao do povo moral da classe dominante. Mas sim de verificar, dentro de um
pequeno universo como o bonde, de que forma esta mesma ordem burguesa e moderna
tem, no Brasil, uma realizao particular, regida por cdigos cuja a lgica aproxima-se,
em concepo, da festa e do carnaval, repletos de teor religioso.
No Brasil, o interior de um veculo coletivo urbano serve muito bem como um
microcosmo da complexidade
66
que a cidade brasileira, lugar onde a sua sociedade se
mostra com uma estrutura social, num s tempo, rigidamente marcada pelos
mecanismos, por assim dizer, universais e generalizantes das leis econmicas e
amolecida, em particular, pela sua miscigenao, que comandada pela conduta da
ddiva, e transpassada constantemente pelo efmero comportamento da festa e do
carnaval
67
.
Assim como a cidade no apenas um aglomerado de indivduos, ruas e
instituies, os meios de transporte coletivos tambm no so apenas ocas caixas
metlicas ambulantes a percorrer seus itinerrios; h nos dois, na cidade e nos bondes,
o que Robert Ezra Park chamou de estado de esprito
68
: um enleamento gerado pelos
processos vitais das pessoas que experimentam o espao urbano e os equipamentos que
o integram.
66
O termo complexidade usado aqui conforme a conceituao de Edgar Morin. Um todo complexo um
sistema aberto, composto por partes que se auto-regulam sozinhas, mas que, ao mesmo tempo, necessitam
relacionarem entre si para continuarem vivas. Comparado a uma mquina viva ou artificial, esse sistema mantm
e aumenta a sua complexidade, de maneira generativa, porque no pode dissociar-se das partes que o formam,
mas, ao contrrio, necessita das propriedades individuais que elas trazem. Cada parte , ento, ao mesmo tempo,
autnoma e dependente, e juntas vo, num jogo cuja regra est baseada na dinmica ordem-desordem, formando,
infinitamente, uma totalidade aberta e, por isso, complexa. MORIN, Edgar. O Paradigma Perdido. Op. cit., p.
20-24.
67
Para falar sobre essa miscigenao, as obras de Gilberto Freyre, j citadas nos captulos anteriores, so fontes
fundamentais de pesquisa, assim como tambm as anlises sobre a lgica da ddiva, sobre a festa e sobre o
carnaval tm nas obras de Marcel Mauss, Jean Duvignaud e Mikhail Bakhtin, juntamente com Roberto DaMatta,
respectivamente, o esquadrinhamento mais representativo.
68
PARK. A cidade: sugestes para a investigao do comportamento humano no meio urbano. In: VELHO. O
Fenmeno Urbano. Op. cit., p. 26.
231
Michel Maffesoli tambm faz meno ao fato de que a fora ou a solidez da
cultura de uma determinada sociedade est assegurada por uma espcie de
espontaneidade vital, cuja realizao se d pela prtica ldica do estar-junto toa
este estado de esprito que envolve os habitantes da cidade. Para alm da utilidade
prtica, ou da finalidade produtiva, mas com uma preocupao em viver o presente
coletivamente, o indivduo est ligado a uma comunidade por laos de afeto, de
costumes cotidianos, de crenas religiosas e de aes, que formam a coexistncia social
ou a socialidade
69
.
Os meios de transporte coletivos, como equipamentos que formam com o
espao da cidade uma inter-relao complexa, podem oportunizar a realizao desta
socialidade.
Fig. 18: Andar de bonde e estar junto -toa. (fonte: VILARINO. Carris, 120 anos. Op. cit., p. 8)
69
MAFFESOLI. O Tempo das Tribos. Op. cit., pp. 101-120.
232
3.1 O LUGAR DO CARNAVAL
possvel relacionar o desenvolvimento dos meios de transporte coletivos
urbanos, sob o prisma das relaes sociais que se criam a partir deles, festa e
dinmica da ddiva em seu aspecto moral, social, cultural e civilizacional. Para isso
farei, primeiramente, uma contextualizao e uma conceituao da religio e da festa
na cidade, para depois analisar os meios de transporte neste cenrio.
No Brasil, o fenmeno da festa e do religioso to antigo quanto o surgimento
das suas cidades. Ela esteve e est intimamente ligada cidade. um fenmeno
tipicamente urbano e no pode ser entendida de outra maneira
70
. O nascimento do
nosso pas no contexto moderno do mundo ocidental fez despontar uma novidade: a
70
Maria Isaura Pereira de Queiroz ao tratar da introduo do carnaval no Brasil, diz que ele entrou no pas sob a
forma do entrudo, j antes de 1604 data de uma ordenao municipal que registrou-o como uma prtica
nociva. Para Queiroz, o carnaval no Brasil, desde o incio, uma festa urbana. Ela diz: As atividades
carnavalescas foram, desde a origem, a exclusividade das aglomeraes urbanas: os grandes e pequenos
proprietrios rurais, do mesmo modo que os camponeses partiam para a sede da municipalidade ou para a
cidade, a mais prxima, quando eles queriam se divertir durante os dias gordos; a festa jamais existiu nas
fazendas. QUEIROZ. Apud. PEREZ, La Freitas. La ville au Brsil: formation et dveloppement (XVI
e
- XIX
e
sicles). 1993, Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (tese de doutorado), p. 241. Ainda hoje, em
comunidades pequenas e agrcolas, as festas so realizadas prximas rea mais urbanizada como, por exemplo,
a capela, a prefeitura ou escola do lugar; comum ver-se famlias que vivem no campo deslocarem-se de suas
casas, em caravanas, para ir festa principal do lugarejo. Vale dizer ainda que a prtica do entrudo, muito bem
recebida pelos brasileiros, assemelhava-se muito s brincadeiras de rua dos carnavais medievais: brincadeiras
violentas, onde a graa estava em atingir algum com duras bolas de cera recheadas de algum lquido (gua era o
mais comum). Em Porto Alegre, o entrudo surgiu em 1809 (mesma data da criao da Vila de Porto Alegre),
antes da inveno dos blocos carnavalescos. Ele era o jogo preferido e, mesmo sendo proibido por lei policial em
1837, continuou nas brincadeiras populares at cerca de 1880. Ver: DAMASCENO, Athos. O Carnaval Porto-
Alegrense no Sculo XIX. 1970, Porto Alegre: Livraria do Globo.
233
relao ntima, direta e de amlgama entre o fenmeno urbano e as festas religiosas
que lhe so inseparveis , o progresso tecnolgico e o processo de civilizar. A nao
colonizadora, alm de transportar da Europa para c seus planos urbansticos, polticos
e econmicos, tambm trouxe as suas festas, que, claro, no se mantiveram na sua
forma original, mas sofreram modificaes e adaptaes gente daqui.
As festas populares da Idade Moderna europia chegaram ao Brasil j
amadurecidas no sentido de encontrarem-se na sua face urbana. Por isso, aqui, a festa e
a urbanizao misturaram-se tal como o contedo de uma caarola, cujo lquido,
sempre em ebulio, produziu uma fermentao mltipla e dinmica.
Fig. 19: O Entrudo em Porto Alegre, no sculo XIX. (charge do jornal O Sculo, 1880, fonte:
DAMASCENO. O Carnaval em Porto Alegre no sculo XIX. Op. cit., p. 16)
O carnaval e as procisses religiosas so as festas mais populares que se
conhece. O carnaval, segundo Peter Burke, nasceu na Europa, antes do sculo XV, e
era originalmente um ritual executado por camponeses para fazer crescer a lavoura.
Quando ele se espalhou para o meio urbano, fazendo das ruas o seu palco principal, os
cultos passaram a ligar-se idia de fartura, comida, sexo, religio, violncia, xtase e
234
libertao (afinal, o ar da cidade liberta); era uma brincadeira num dia de feriado em
que se fazia o mundo de cabea para baixo
71
. O carnaval, segundo este autor, era no
s uma oposio aos dias de jejum da Quaresma, mas uma oposio vida cotidiana no
geral; sua representao em ilustraes populares do sculo XVI tinha a inteno de
enfocar um mundo invertido: cidades ficavam no cu, o sol e a lua na Terra, os peixes
voavam ou, item caro aos desfiles de Carnaval, um cavalo andava para trs com o
cavaleiro de frente para a cauda. (...) O cavalo virava ferrador e ferrava o dono, o boi
virava aougueiro, cortando em pedaos um homem; o peixe comia o pescador. (...) O
filho aparecia batendo no pai, o aluno batendo no professor, os criados dando ordens
aos patres, os pobres dando esmolas aos ricos. (...) O marido segurando o beb e
fiando, enquanto a mulher fumava e segurava uma espingarda.
72
Apesar de essas representaes esteticamente significarem inverses, o carnaval
no era propriamente um ritual antinatural, no sentido de obliterador da ordem
normal da sociedade; ele era uma festa que transmitia simultaneidade e idia de
mltiplo sentido s coisas. O que dava vida ao carnaval era justamente a sua polissemia
de significados: a grande quantidade de comida ingerida nessa ocasio podia tanto
exprimir fartura como apetite sexual; os sentidos cristos recebiam encenaes pags.
Por essa razo o carnaval podia transitar por outras festas que ocorriam fora do
seu perodo. Elementos do ritual carnavalesco circulavam de um festejo para outro: nas
festas de Corpos Christi, por exemplo, era dia de apresentao de peas religiosas, mas
os procedimentos eram permeados de elementos carnavalescos. Elaborados carros
alegricos passavam pelas ruas, transportando santos gigantes e, o mais importante,
um enorme drago, explicado em termos cristos como a festa do Apocalipse,
enquanto a mulher s suas costas representaria a prostituta da Babilnia; e nas
semanas que antecediam as procisses de So Joo, em algumas comunidades havia o
perodo do desgoverno, que era a representao do poder pelos demnios; estes
atiravam fogos de artifcio na multido, corriam pela cidade nas noites de domingo,
71
BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. Europa, 1500-1800. 1995, So Paulo: Companhia das
Letras, 2. ed., (primeira edio em 1978), pp. 210-228.
72
BURKE. Cultura Popular na Idade Moderna. Op. cit., p. 212.
235
aterrorizavam o campo e cobravam taxas no mercado; em alguns lugarejos da Europa,
o povo danava, cantava e pulava em volta das fogueiras. Festividades de grandes
orgias com bebidas e comida fartas eram as de So Martinho, que ocorriam em
novembro, e as de So Bartolomeu, nos meses de agosto.
73
Mikhail Bakthin, atravs das imagens literrias que a pena de Franois Rabelais
revelou sobre a cultura popular do sculo XVI, explica que os festejos do carnaval,
com todos os atos e ritos cmicos que a ele se ligavam, ocupavam um lugar muito
importante na vida do homem medieval. Alm dos carnavais propriamente ditos, que
eram acompanhados de atos e procisses complicadas que enchiam as praas e as
ruas durante os dias inteiros, celebravam-se tambm a festa dos tolos e a festa do
asno; existia tambm um riso pascal muito especial e livre, consagrado pela
tradio. Alm disso, quase todas as festas religiosas possuam um aspecto cmico
popular e pblico.
74
Para o autor, o carnaval do mundo medieval no deve simplesmente ser
interpretado como uma festa na qual havia espectadores e atores; ele oferecia, na
verdade, uma viso de mundo do homem dessa poca, os participantes no assistiam
ao carnaval, eles o viviam, esse tipo de expresso cultural pertencia esfera
particular da vida cotidiana e se situava no limite entre a vida e a arte. Durante o
carnaval a prpria vida que representa, e por um certo tempo o jogo se transforma
em vida real. Essa a natureza especfica do carnaval, seu modo particular de
existncia. O carnaval a segunda vida de um povo, baseada no princpio do riso. a
sua vida festiva. Bakhtin refora: As festividades (qualquer que seja o seu tipo) so
uma forma primordial, marcante, da civilizao humana. As festividades tiveram
sempre um contedo essencial, um sentido profundo, exprimiram sempre uma
concepo de mundo.
75
73
BURKE. Cultura Popular na Idade Moderna. Op. cit., pp. 218-220.
74
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Mdia e no Renascimento: O Contexto de Franois Rabelais.
1993, So Paulo-Braslia: Edunb-Hucitec, 2. ed., p. 4.
75
BAKHTIN. A Cultura Popular... Op. cit., p. 7.
236
Ainda hoje, cumprindo uma tradio de quatro sculos, entre a primavera e o
outono, Portugal entra em ritmo de festa. Segundo Pierre Sanchis, as aldeias celebram
o seu patrono principal na igreja da parquia e na praa que a rodeia, ou ento o
santo titular de uma capela secundria, no desvio de uma rua, ou de uma ermida
rural; as cidades importantes multiplicam as festividades, que culminam geralmente
com a festa municipal ou do Conselho, festa que pode durar vrios dias e juntar
espontaneidade da multido, que ento ocupa a rua, as cerimnias religiosas, os
espetculos e desfiles programados e organizados pela administrao(...)
76
.
Essa festa religiosa, a mais popular que o povo portugus realiza, o arraial, a
procisso religiosa, que por seus desfiles, comidas, encontro de pessoas, acampamento
dos fiis, etc. adquire a forma ritualstica do carnaval. Em Portugal, a palavra arraial
servia para designar acampamento militar efmero, de pouca durao, que passa, e
tambm tinha uma conotao qualificante para a concretizao de festa popular, de
romaria na cidade. O arraial o encontro social, seja no campo plantado de rvores, no
entroncamento de caminhos, na avenida ou na praa.
Nas aldeias portuguesas, ir ao arraial, ou fazer um arraial, equivalente a ir
festa ou realiz-la de repente
77
. No arraial se canta, se dana, se toca msica, se
come, se fazem trocas e comrcio, se luta, se travam encontros erticos. o lugar de
socializao intensa, mas fugaz. Nele misturam-se as duas acepes que a palavra
espao pode abarcar: territorialidade e socialidade.
Quando transportado para o Brasil, o arraial deixou de significar apenas
simplesmente uma expresso ou um local de festejos, para tornar-se concretamente um
modelo de vida urbano. Atravs do hibridismo de cdigos, sobre o qual sempre esteve
baseada a sociedade brasileira, aquilo que em Portugal era sinnimo de pouca durao
ou de socialidade espontnea (de carnaval, portanto), aqui no Brasil ganhou a acepo
de lugarejo ou bairro, mas com carter de permanncia, onde eram instalados os
aparatos necessrios para dar continuidade aos projetos urbansticos, sem, no entanto,
76
SANCHIS, Pierre. Arraial: a Festa de um Povo. As romarias portuguesas. 1983, Lisboa: Publicaes Dom
Quixote, p. 15.
77
SANCHIS. Arraial. A Festa de um Povo. Op. cit., p. 142.
237
deixar de designar tambm festejo religioso. O arraial passou a indicar, alm de pr-
nomes para bairros ou lugarejos, tambm o santo ao qual a comunidade era devota ou a
que tipo de ofcios era dedicada.
Em virtude de uma miscigenao tipicamente brasileira, os elementos
fundamentais e estveis da constituio da cidade (o agrupamento religioso, o
estabelecimento administrativo-militar e a dinmica de um mercado regular)
aglomeraram-se sob um modelo de organizao que assemelhava-se, na origem do
nome, a uma assemblia festiva e coletiva. Temos como exemplo, em Porto Alegre, o
arraial de Navegantes, o arraial do Menino Deus, o arraial de So Manoel que abrigava
a Estrada dos Moinhos de Vento, o arraial de So Miguel que acolhia o Caminho da
Azenha
78
.
Aquilo que nasceu na Europa sob feio de festa; de festa religiosa, no Brasil,
assumiu a conformao exigida pela razo moderna de fundao de cidades; e,
concomitantemente, aquilo que era normativo no iderio moderno europeu, foi
entremeado pelo esprito festivo que h, invariavelmente, na socialidade, no estar-
junto. Numa organizao sincrtica que deu vazo a mltiplas combinatrias, a cidade
brasileira gerou-se sob a lgica da festa e a proxemia tpica da vida urbana envolveu as
edificaes, os traados lineares, as igrejas, a instituio poltico-militar e os mercados.
Se na Europa medieval, como explicou Mikhail Bakhtin o princpio cmico que
preside aos ritos do carnaval, liberta-os totalmente de qualquer dogmatismo religioso
ou eclesistico, do misticismo, da piedade, (...) e so decedidamente exteriores Igreja
e religio
79
, no Brasil a relao da festa com a igreja no era estanque mas, ao
contrrio, parece ter havido uma associao e um entendimento.
Gilberto Freyre, ao referir-se s festas brasileiras e as igrejas, diz que o costume
de danar-se no dia de So Gonalo, o Brasil herdou de Portugal e que danou-se e
namorou-se muito nas igrejas coloniais do Brasil. Ao secundar o viajante La Barbinais
que descreveu uma dessas festas no sculo XVIII, o autor conta: [eram] violas tocando.
78
PEREZ. La ville au Brsil: formation et dveloppement. Op. cit., pp. 155 e 317.
79
BAKHTIN. A Cultura Popular... Op. cit., p. 6.
238
Gente cantando. Barracas. Muita comida. Exaltao sexual. Todo esse desadoro
por trs dias e no meio da mata. De vez em quando, hinos sacros. Uma imagem do
santo tirada do altar andou de mo em mo, jogada como uma peteca de um lado para
outro
80
.
Sendo o carnaval uma festa que se caracteriza por no percorrer apenas uma via,
ele tambm no pode ser visto somente como uma festa da inverso que, justamente
por inverter, terminaria por reproduzir aquilo que zomba.
Ele uma festa transitvel: transita por outras festas que tm embrionariamente
outro carter, por perodos do ano que no se relacionam com a Quaresma,
significando coisas diferentes para pessoas diferentes; o carnaval pode adquirir uma
face pag e outra sagrada, ao mesmo tempo; pode ser, hibridamente, um ritual de
revolta que questiona a ordem social e um instrumento facilitador de uma nova
modelagem desta, de forma no conflitante; pode ser a atmosfera das romarias e dos
rituais funerrios; pode ser efmero ou estrutural; pode comandar a conduta social e a
troca entre indivduos na dinmica relacional afetiva, profissional e de poder... No
carnaval, segundo Mikhail Bakhtin, as imagens visam a englobar os dois plos do
devir na sua unidade contraditria.
81
Ele pode ainda estar, como disse Roberto DaMatta
82
, em mltiplos planos: a
atmosfera carnavalesca, a partir de sua lgica subjacente, pode ser reflexo e realidade
do mundo social brasileiro e, por isso, o carnaval brasileiro, diferentemente do
europeu, nem sempre vigorosamente o oposto do mundo cotidiano. Ao contrrio, a
sua plasticidade e capacidade de navegar por vrios planos que o faz ser to presente
em inmeros momentos da nossa vida social, para tornar-se o estado de esprito de
nossos ambientes urbanos.
O carnaval, em todas as acepes que pode abarcar, nasceu junto com as nossas
cidades e com a nossa sociedade, misturou-se ao patriarcalismo, escravido, ao
80
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Op. cit., p. 249.
81
BAKHTIN. A Cultura Popular...Op. cit., p. 176.
82
DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heris. Para Uma Sociologia do Dilema Brasileiro. 1990, Rio
de Janeiro: Editora Guanabara, 5. ed., pp. 70-71.
239
catolicismo e ao candombl, percorreu as ruas, o interior das casas, as reparties
pblicas e est por trs, ou melhor, sustenta, a nossa estrutura social, cujo domnio
bsico o das relaes pessoais; estrutura essa que carnavaliza a estrutura fundada na
tica e nas regras modernas da impessoalidade. Mais que um fenmeno festivo, ele o
elemento fundamental de socialidade que percorre todas as territorialidades do
universo brasileiro. La Perez diz: No Brasil, o carnaval corresponde a um modo de
ser e de viver, a um princpio de organizao social que caracteriza o mais profundo
deste pas. Entre ns, tudo comea e tudo termina pelo carnaval (...) ns vivemos
sempre em trnsito, em movimento, na abundncia carnavalesca.
83
Desse modo, que possvel ver a formao da sociedade brasileira, com uma
configurao hbrida e plstica, que fez inclusive do progresso tecnolgico, motivo
para festa. Se refletirmos sobre a maneira livre e desimpedida com que os produtos de
inveno inglesa entraram em nosso pas durante o sculo XIX e a fcil aceitao e
supervalorizao desses produtos por parte da populao, veremos nessa situao um
ritual de festa. A venerao cincia e ao progresso que se criaram dentro das cidades,
nesse perodo, so elementos sagrados, que adquiriram o carter de dogma religioso,
que aqui no Brasil tiveram sempre uma afinidade ntima com a festa. Da mesma forma,
o ato civilizatrio da modernizao e homogeneizao das cidades ganhou um tom de
procisso urbana para o progresso tecnolgico, que aglutinou outras dimenses que no
s a econmica.
Para compreender uma sociedade preciso tentar conhecer aquilo que os
indivduos, em conjunto, crem ou pelo que se enlaam (Weber diz que s possvel
compreender o real a partir do irreal). Para o caso das cidades brasileiras, acredito ser a
mistura, a possibilidade de congregar oposies num mesmo territrio, a religio e a
festa, os possibilitadores da compreenso do lao social urbano; o re-ligare, para usar
um termo de Michel Maffesoli.
83
PEREZ, La Freitas. Por uma Potica do Sincretismo Tropical. In: Estudos Ibero-Americanos. 1992, Porto
Alegre: PUCRS, v. XVIII, n. 2, pp. 43-52, p. 50.
240
Para este autor a proxemia urbana, o sentimento comunitrio, tm o fator
religioso como elemento aglutinador. Ele diz: a religio que se define a partir de um
espao um cimento agregador de um conjunto ordenado, ao mesmo tempo social e
natural. Trata-se de uma constante notvel que estruturalmente significante. (...)
Ora, se acreditarmos nos especialistas, o que caracteriza as prticas religiosas
populares piedade, peregrinaes, culto dos santos o carter local, o
enraizamento quotidiano e a expresso do sentimento coletivo. E todas essas coisas
esto na ordem da proximidade. A instituio pode recuperar, regular e gerir o culto
local deste ou daquele santo com maior ou menor felicidade. Mas devemos reconhecer
que na origem desses cultos existe a espontaneidade, que deve se sempre
compreendida como aquilo que surge, aquilo que exprime um vitalismo prprio
84
.
este re-ligare, com sentidos mltiplos de religio, e ocupao espacial e
agregao de pessoas, que faz acontecer a proximidade dos indivduos dentro do tecido
social, e a aproximao paradoxal entre a racionalidade urbanstica ocidental e o
estar-junto toa que gera o irracional da festa.
Tem-se, ento, um processo rico em complexidades que forma uma figura
comparvel a um quadriltero, cujas partes, inseparveis, so complementares umas
das outras e se inter-relacionam para dinamizar esse savoir-vivre do mundo ocidental
moderno, na sua verso brasileira: civilizao e progresso como projeto para um futuro
que termina por ser irrealizvel; religio como sustentao; festa como modo; cidade
como o espao de realizao e concentrao de todos esses elementos.
Sob este prisma, considero que possvel ver, hoje em dia, a festa crescendo
junto com a urbanizao e a industrializao. Se refletirmos sobre a sua diversidade,
seu movimento intenso e sobre os vrios encontros e desencontros travados por seus
habitantes, podemos ver a cidade, ele prpria, como uma festa subjacente. Hoje quase
no temos mais as romarias e os cortejos fnebres, mas temos os mega-shows ao ar
livre, os encontros nos shopping centers, as reunies dentro das novas e das antigas
igrejas, o acampamento dos grevistas porta do poder pblico...
84
MAFFESOLI. O Tempo das Tribos. Op. cit., p. 182.
241
Com isso no quero dizer que a festa e a cidade so sinnimos de felicidade e
que por causa disso vivemos em um paraso urbano; elas podem ser tambm tristeza e
morbidez, como analisou Jean Duvignaud a respeito dos efeitos orgisticos da
industrializao sobre a cidade oitocentista. Para ele, a festa burguesa transformou a
cidade em uma exposio universal, do arranha-cu, do concreto, do ferro e do vidro.
As cidades converteram-se em exposio permanentes da produtividade e em festas da
indstria. Nelas, o homem se aloja em sua prpria expanso e usufrui a sua fora de
produo. Ele perpetuamente alimenta e destri, sem cessar, para reconstitu-la em
seguida. (...) Executada em pedra, em concreto, em ferro, mesmo em vidro, esta festa
burguesa no alegre. uma dana triste, lgubre e sem sair do lugar. (...) O mundo
industrial, por intermdio desta agressividade criativa, provocou o surgimento de um
universo de exuberncia e grandiosidade.
85
possvel ver, inclusive na prpria produo industrial e no espetculo
subentendido que ela proporciona pela sua rapidez, circulao e movimento dinmico,
que no demora em transformar em antigos os objetos h pouco confeccionados, uma
provvel linha de anlise no campo de reflexo sobre a festa: h tambm efemeridade,
no nvel do sensvel, naquilo que de mais representativo no terreno contrrio festa,
ou seja, no mundo moderno com as suas leis de lucro e de rentabilidade.
Mas, independente de ser alegre ou mrbido, aparente ou subentendido, o
motivo da festa liga-se a uma inteno de lembrar que a vida no se fecha em uma
nica dimenso imposta pela Rentabilidade ou a Organizao, [e] o que ressalta na
festa como tambm no jogo, na arte, no imaginrio em seu sentido mais dilatado
, justamente, a sua finalidade zero. (...) um sistema contrrio ou antes
estranho lei do lucro, desde que ela presume que doadores e receptores esto
presos ao movimento infinito de uma circulao generalizada...
86
85
DUVIGNAUD, Jean. Festas e Civilizao. 1983, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro e Edies Universidade
Federal do Cear (primeira edio em 1973), pp. 164, 167.
86
DUVIGNAUD. Festas e Civilizao. Op. cit., pp. 22, 23, 135.
242
A partir dessa maneira de olhar a festa, Jean Duvignaud aproxima-se de Marcel
Mauss por ver na inter-relao entre doadores e receptores, na contrariedade lei do
lucro e na finalidade zero da festa, a dinmica da ddiva.
Marcel Mauss diz: uma parte considervel da nossa moral e da nossa prpria
vida permanece sempre nesta mesma atmosfera da ddiva, da obrigao e ao mesmo
tempo da liberdade. Felizmente, nem tudo est ainda classificado exclusivamente em
termos de compra e venda. As coisas tm ainda um valor de sentimento para alm do
seu valor venal, supondo a existncia de valores que sejam apenas deste gnero.
87
Essa lgica hbrida, que agrega ao mesmo tempo as regras e normas modernas
com a carnavalizao, a festa, a religio e as relaes pessoais baseadas na ddiva,
dinamiza o mundo social brasileiro. Essa conformao festiva est na maneira
particular que o brasileiro tem de viver e ver o mundo e, por isso, est tambm na sua
relao com os meios de transporte coletivos urbanos, como veremos no item que
segue.
87
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a Ddiva. 1950, Lisboa, Edies 70, p. 185.
243
3.2 NO ANDAR DO BONDE, A VIVNCIA DA CIDADE
O desenho topogrfico de Porto Alegre no foi um aliado dos bondes puxados
por burros: ladeiras e curvas obrigaram os primeiros veculos a circularem pelas
regies mais planas da cidade. Mas, alm das caractersticas topogrficas do terreno
porto-alegrense, outros fatores ligados nossa cultura (no sentido mais amplo que essa
palavra pode abarcar), impulsionaram e determinaram os roteiros dirios desses carros.
Foram o passeio e a festa os propulsores dos empreendimentos de implantao e
melhoramentos do transporte urbano coletivo sobre trilhos. Os primeiros itinerrios dos
bondes eram condicionados aos locais das festas, religiosas e no religiosas, ou elas
terminavam por estabelecer-se em locais por onde passava o bonde.
O primeiro empreendimento neste sentido foi a maxambomba, em 1865, que
teve como itinerrio o caminho que ia do incio da atual av. Joo Pessoa at a praa do
arraial Menino Deus, passando antes pelo cemitrio da Azenha; o argumento de seus
proponentes foi o de que aquele bairro era um importante balnerio para os moradores
da capital e que l uma vez por ano, junto s festas natalinas, se dava uma das festas
mais populares da cidade, a festa do Menino Deus. Archymedes Fortini diz que este
bairro era o ponto preferido dos porto-alegrenses aos domingos. Para l se dirigiam,
depois de 1873, pelos bondes de trao animal. Suas atraes eram o Club do Menino
Deus, o prado Rio-Grandense e o Jardim Zoolgico
88
.
Os bondes da Carris de Ferro Porto-Alegrense, que sucederam os carros da
maxambomba, em janeiro 1873, inicialmente percorreram o mesmo itinerrio: centro,
88
FORTINI, Archymedes. Porto Alegre Atravs dos Tempos. 1962, Porto Alegre: Diviso de Cultura, p. 90.
244
Azenha e Menino Deus
89
. No demorou, pois, para que os trilhos da Carris fossem
estendidos pelo Caminho Novo, onde passou a acontecer, dois anos depois do
empreendimento, a Festa de Nossa Senhora de Navegantes. Os trilhos j estavam
prontos para o trnsito em julho de 1873
90
. Quando havia esta festa, os bondes partiam
repletos do centro da cidade para o arraial que transfigurava-se e ficava repleto de uma
multido incontvel. Neste dia, conta Dante de Laytano, desde cedo, a populao de
todos os recantos se movimentava para tomar parte nas festas. Os bondes, da poca,
puxados a burro, aumentavam o nmero de suas viagens e desde as 4h20 da manh
comeavam a trafegar.
91
Pelo jornal O Mercantil, de 1875, podia-se ler o aviso:
Cia. Carris de Ferro de Porto Alegre A gerncia previne ao respeitvel
pblico que os carros da companhia, nos dias 31 do corrente e 2 de fevereiro, por
ocasio da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, trabalharo pela tabela dos dias
teis, com as seguintes alteraes: no dia 31 do corrente depois das 2 horas e 40
minutos da tarde, os carros da linha do Campo funcionaro entre o Porto e Menino
Deus, at a hora em que sair a procisso da Capela; depois dessa hora, e enquanto
durar o trajeto da mesma, os carros que regressarem do Menino Deus tomaro
passageiros unicamente at o ponto em que transitar, continuando a trabalhar,
consecutivamente depois de desimpedida a linha at as horas marcadas na tabela. No
dia 2 de fevereiro nas linhas da Margem, do Campo e da Azenha, no haver
alterao do horrio. Na do Caminho Novo, as primeiras viagens do mercado para
este lugar sero s 4h20, 4h40, 4h50 e 5 horas da manh; durante o trajeto da
procisso, os carros que partirem do mercado para o mesmo lugar, tomaro
passageiros unicamente at o ponto em que ela transitar, continuando depois de
desembaraada a linha, a trabalhar consecutivamente at as horas de regresso da
procisso, por mar, para a Capela do Menino Deus, para cujo ponto partiro, depois
89
bom lembrar que de 1871 a 1875 as festas em devoo Nossa Senhora dos Navegantes ocorriam na capela
do Menino Deus, e antes ainda, na Igreja do Rosrio, sendo depois transferidas para a capela erigida no bairro
Navegantes, neste ltimo ano. Ver: FRANCO. Porto Alegre: Guia Histrico. Op. cit., p. 286 e LAYTANO,
Dante. Festa de Nossa Senhora de Navegantes. Estudo de uma tradio das populaes afro-brasileiras de Porto
Alegre. 1955, Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Educao, Cincia e Cultura, p. 15.
90
JORNAL A REFORMA, 12 de julho de 1873, Porto Alegre, Museu de Comunicao Social Hiplito da Costa.
91
LAYTANO. Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Op. cit., p. 16.
245
disso todos os carros extraordinrios que funcionarem na linha, a fim de trabalharem
na do Campo, at as duas horas, pelo menos, depois do fogo.
92
O itinerrio dos bondes era modificado em funo da festa, assim como tambm
o seu nmero de passageiros. Os veculos, lotados, chegavam de instante em instante.
Um leitor do jornal o Sculo, em certa ocasio usou da seo de reclames para dizer, de
maneira sugestiva, que: O servio de bonds em dia de festa um louvar a Deus, de
gatinhas...
93
E deveria ser realmente, pois a festa de devoo Nossa Senhora dos
Navegantes mexia com toda a cidade, deslocava e alterava a distribuio da sua
populao.
Achylles Porto Alegre conta:
A festividade da Nossa Senhora dos Navegantes uma das mais antigas,
concorridas e tocantes de nossas festas populares. Pode-se dizer que ela nasceu com a
cidade e, se no tem hoje o esplendor e o entusiasmo que despertava h quarenta anos,
ainda muito amada do povo.
No dia 1
0
de fevereiro a Imagem de Nossa Senhora era transportada, por terra,
para a Igreja do Rosrio, de onde era reconduzida no dia seguinte, por via pluvial,
sua pequena capela.
Nos dias de festa, o movimento popular era formidvel na praa da Alfndega,
ponto de bondes e no cais do mercado, onde grande massa ia tomar o vapor para o
arraial e no Caminho Novo, onde outros, preferindo o passeio pela estrada de ferro,
iam apanhar o trem.
O Guaba nesses dias tinha um aspecto grandioso. Todos os navios surtos no
porto embandeiravam em arco. Alm disso, pequeninas embarcaes, com suas alvas
velas soltas, ao sol, pareciam gaivotas em ponto grande, deslizando nas guas
cristalinas. A cidade em peso ia para o pitoresco e futuro arraial. Do porto, da praa
92
JORNAL MERCANTIL, 29 de janeiro de 1875, Porto Alegre. Apud. LAYTANO. Festa de Nossa Senhora dos
Navegantes. Op. cit., p. 16.
93
JORNAL O SCULO, 7 de janeiro de 1883, Porto Alegre, Museu de Comunicao Social Hiplito da Costa,
n. 109, p. 3.
246
da Alfndega, da Estao do Caminho Novo, os vapores partiam repletos de
passageiros e bem assim os bondes e os comboios da estrada de ferro.
94
Fig. 20: festa de Nossa Senhora de Navegantes o bonde tambm comparecia. (fonte: PESAVENTO,
Sandra. Repblica: Verso e Reverso. 1989, Porto Alegre: IEL e Editora da UFRGS.)
94
PORTO ALEGRE. Histria Popular de Porto Alegre. Op. cit., p. 85.
247
A quinhentos metros do ponto final desses trilhos, foi inaugurado, em 1891, o
importante Prado Navegantes, que, por mais de uma dcada se constituiu no
divertimento dominical dos porto-alegrenses.
Vale dizer que, com a implantao dos bondes movidos eletricidade, a
manuteno do itinerrio para os bairros Navegantes, Menino Deus, Glria,
Independncia, Terespolis, So Joo, Partenon e Cristvo Colombo foi uma
exigncia do intendente Jos Montaury companhia responsvel, a Fora e Luz.
A terceira companhia a explorar os servios de bondes trao animal, em
1893, foi a Carris Urbanos, que teve seu primeiro itinerrio e ponto de estao final na
Independncia, onde dez meses depois foi inaugurado definitivamente o Prado da
Independncia, considerado o melhor entre todos que existiam em Porto Alegre. Esse
prado foi o hipdromo da Associao Protetora do Turf, que depois se transformou em
Jockey Club do Rio Grande do Sul, cuja sede est localizada hoje no bairro Cristal.
95
A corrida de cavalos era o divertimento no religioso mais valorizado pelos
habitantes da cidade. Os prados promoviam encontro das famlias e dos apostadores e
as arquibancadas lotadas constituam uma festa incomparvel.
Os bondes, mais tarde, tornar-se-am imprescindveis locomoo do
trabalhador, mas s mais tarde, com o surgimento da energia eltrica e do incremento,
embora incipiente, das indstrias, nas ltimas dcadas no sculo XIX e, mais
fortemente, a partir da dcada de 1930, quando a empresa norte-americana, que
monopolizava o servio de fornecimento de energia eltrica, aumentou a potncia das
usinas geradoras.
Inicialmente, no entanto, a cidade de Porto Alegre no era industrial, mas
predominantemente comercial e administrativa, e as pequenas fbricas que surgiram ao
longo do sculo XIX, e at o final deste, situavam-se dentro do permetro urbano e
eram praticamente domsticas. Seus trabalhadores, os sapateiros, os alfaiates, as
costureiras, os teceles, os tipgrafos, os chapeleiros, os estaleiros, os carroceiros e
operrios das primeiras indstrias da cidade, como a de fundio Becker, a de Eduardo
95
FRANCO. Porto Alegre: Guia Histrico. Op. cit., p. 209.
248
Hoenes, de velas, a do empreendedor Benjamin Martnez de Hoz, de beneficiamento de
erva-mate, a de cofres e foges E. Berta no chegavam a representar motivao
suficiente para a implantao de uma linha de veculos coletivos.
O arraial de Navegantes e a Estrada da Floresta, regies de concentrao
industrial, onde se localizavam a tecelagem Renner Mentz, a fbrica de vidro Sul, as
cervejarias Cristoffel Becker e as fbricas de mveis, a partir da segunda dcada do
sculo XX, eram primeiramente servidos pela linha Frrea Porto Alegre-Novo
Hamburgo e s depois foram servidas pelos bondes eltricos.
A verdadeira motivao consistia em estar-junto no balnerio, nas festas, na
igreja, na procisso e no prado; tanto era assim que desde os primeiros tempos j havia
bondes aos domingos, nos dias santos ou de festas. Alm disso, o tempo que o usurio
tinha que dispor para fazer uma viagem do centro da cidade ao Menino Deus, mdia
de 6 km/h, o colocava a princpio em ritmo de passeio. Athos Damasceno comenta:
Entretanto (veja como so as coisas!) o porto-alegrense dava um dente por um passeio
de carro (os bondes puxados a burro; incmodos).
96
E Achylles Porto Alegre refora:
No tempo em que os bondes eram movidos traco animal, o aprazvel arrabalde [do
Menino Deus] era tambm nesse dia [de Natal e Ano Novo, por ocasio da Missa do
Galo] o ponto de rendez-vous do povo e do escl social da cidade.
97
Tanto tempo dentro de um bonde, criava-se tambm um ambiente propcio para
a desforra entre os homens em defesa de sua honra. Conta um colunista de A Gazetinha
que, em 6 de janeiro de 1891, por ocasio de uma das festas do Menino Deus, dois
inconvenientes ocorreram: uma chuva torrencial e um desentendimento entre os
passageiros; o primeiro, o observador considerou o mais grave. Oh! Mas nunca pude
imaginar que tamanha chuva viesse tanto encommodar as famlias, que tomaram
passagem naquele bond! Mas infelizmente assim foi. Era tamanha a algazarra que
vinha no bond, e to irregular o procedimento de moos que se dizem delicados que
um cidado morigerado viu-se forado a mostrar aos diletantes quo ridculo era o
96
DAMASCENO. Imagens Sentimentais da Cidade. Op. cit., p. 56.
97
PORTO ALEGRE. beira do caminho. Op. cit., p. 10.
249
pernicioso brinquedo na presena de gente sria!... Enfim foi um folguedo cheio de
peripecias a tal festa de Reis. Quem se satisfez com as mesmas foi o Virgilio da
Companhia, que depressa encheu a burra...
98
Assim, o progresso material urbano e a relao de troca entre indivduos, o ser-
estar coletivo que caracterizam a festa, tambm tiveram uma interao particular dentro
das cidades brasileiras. No Brasil, a ddiva e a prtica da festa, no sentido da realizao
da troca entre os indivduos, aliaram-se e moldaram-se aos valores utilitrios do
mercado; e um movimento no excluiu o outro. Aqui, o axioma unir o til ao
agradvel
99
se concretiza diariamente.
Enfocando a cidade de Porto Alegre, no sculo XIX, veremos que os meios de
transporte coletivos so muito elucidativos em relao a isto: se do lado de fora o
bonde interagia com a cidade, de maneira a dar a ela a imagem do desenvolvimento
tecnolgico caminhante e revelar as crenas e os desejos do seus habitantes em relao
ao progresso, no seu lado de dentro podemos visualizar as vivncias concretas desses
habitantes que, ao sentarem-se no banco para ir ao trabalho, ao passeio ou para as
festividades, transformavam-no no palco onde representavam as mesmas situaes
sociais que sustentavam fora dele.
Em dias de carnaval, por exemplo, o bonde sofria mudanas no seu itinerrio,
alteravam-se as tarifas, que passavam de 200, em algumas linhas, para 300 ris, e
modificavam-se a sua aparncia e a clientela. Durante o carnaval, mas somente no
carnaval, era permitido aos homens circular sem camisa ou transvestidos de mulher e
s mulheres e crianas viajar no estribo; confetes e serpentinas podiam ser atiradas
pelos bancos e pelo cho; cantar, danar e gritar era a regra e no a transgresso.
98
A GAZETINHA, 10 de janeiro de 1892, n. 37, p. 2. Arquivo Histrico de Porto Alegre Moyss Vellinho.
99
Utilizo a palavra agradvel no como um sinnimo de algo prazeroso, mas sim como oposio direta palavra
utilidade; como algo que subverte e d novo sentido primeira inteno (ser til). O agradvel carnavaliza o til,
assim como a palavra festa no tem apenas o significado de alegria, mas tambm de inverso e novao, que
carnavaliza o cotidiano.
250
Fig. 21: O motorneiro e o condutor se misturavam aos folies no carnaval. (fonte: VILARINO. Carris, 120
anos. Op. cit., p. 57)
Fig. 22: No Rio de Janeiro, o bonde tambm entrava no carnaval de rua. (fonte: STIEL. Histria do
Transporte Urrbano no Brasil. Op. cit., p. 337)
251
Algo semelhante acontecia nas ocasies das festas religiosas ou dos casamentos,
dos enterros e das apresentaes de circo e de companhias de teatro; o bonde ganhava a
fisionomia adequada a cada situao ele fazia parte da festa.
No Rio de Janeiro, por exemplo, no tempo em que os bondes eram puxados a
burro, era comum o desfile pelas ruas dos chamados bondes distino, alugados para
casamentos e batizados (os de casamento eram chamados tambm de especial de
casamento). Neles, o cocheiro e o condutor usavam vestimenta especial, branca e
luxuosa, os bancos eram enfeitados com fitas brancas e guirlandas de flores delicadas,
para conduzir a noiva da sua casa ao local da cerimnia; depois da celebrao, os
noivos e suas famlias eram levados da igreja para casa.
Quando a situao era de batizado, o bonde, tambm todo enfeitado de branco,
transportava a famlia do anjinho igreja para o sacramento e depois para o almoo de
confraternizao; do lado de fora do bonde, nas ruas, quem passava assistia e abanava.
Havia ainda carros especiais para enfermos atacados de doenas contagiosas,
que levavam, junto com os enfermeiros, os doentes mais graves para as casas de
misericrdia. Tambm existiam os bondes morturios; estes, frente do cortejo
fnebre, eram decorados de negro e levavam atrs de si uma imensa fila de pessoas
com roupa escura, umas a chorar e outras a comentar sobre a boa ndole do morto;
velas, rosrios e vus de cor preta completavam a cena.
Nas temporadas lricas existiam os bondes de luxo para os amantes da boa
msica e admiradores do teatro, mas que no podiam pagar pelo aluguel de um tlburi
ou de um cabriol. Junto aos anncios de jornal ou do programa da pea podia-se ler o
aviso tranqilizador: Haver bonds para todos as linhas depois do espetculo. O jornal
A Reforma de Porto Alegre, entre outros, publicava rotineiramente anncios sobre os
bondes extras quando havia exibies teatrais. Na ocasio em que a Companhia
Italiana de Teatro Bragazz apresentou-se na cidade foi divulgado: Haver bonds a
mais! Dois carros faro as partidas da Praa D. Pedro II; e dez do Campo do Bom
252
Fim, divididos em trez turnos de 20 em 20 minutos at s 19 horas da noite. Uma
bandeirola encarnada distinguir estes carros.
100
Da mesma forma, havia os bondes de primeira e segunda classe. Nos de
primeira, homens bem vestidos, bem calados e limpos. Eles sentavam-se no bonde
como se estivessem em um banco de praa ou em uma varanda para tomar um caf.
Era o traje que os distinguia.
As situaes relatadas acima mostram o bonde em situaes especficas, em que
a festa era oficial e ela estava em toda a cidade, explcita e concretamente. Mas, como
no Brasil a festa transita e transpassa por outros planos do cotidiano, concedendo-lhe
uma caraterizao carnavalesca e de exuberncia barroca
101
, podia-se ver outras
situaes de festa que no somente a evidente.
O esprito da festa e da carnavalizao, no sentido de novao nova conduo
s coisas estava tambm nas relaes entre a populao e o veculo que a conduzia
diariamente; estava nas relaes de poder dentro da hierarquia dos funcionrios das
empresas de bondes; estava no tipo de tratamento que a empresa dispensava aos seus
funcionrios e ainda no uso irracional (entenda-se, inesperado) que o usurio dava ao
projeto urbanstico do trfego contra o que se tem dito, era muito mais por prazer e
opo que, entre o final do sculo XIX e incio do XX, se pegava o bonde do que por
obrigao ou falta de escolha.
Se assim no fosse, o que explicaria o fato de um porto-alegrense pegar um
bonde da Praia do Riacho (atual avenida Washington Luis) ou da rua Duque de Caxias
at o Mercado Pblico ou Praa Dom Feliciano, num trajeto que hoje, quando a
cidade possui uma extenso muito maior e que possumos uma noo diferente sobre o
conceito de distncia, s o fazemos caminhando para perdermos menos tempo? Era
uma viagem demorada, que s tornou-se mais rpida com o advento da eletricidade,
100
A REFORMA, 07 de setembro de 1873, p. 03, Porto Alegre, Museu de Comunicao Social Hiplito da
Costa.
101
Tomo a palavra barroco pelo seu sentido de inquietude, como algo que no se contm em si mesmo e, por
isso, transborda. O barroco sugere uma dramatizao espontnea do cotidiano; ele no nem expresso de algo
totalmente novo, nem manifestao de um padro desconhecido; assim como o carnaval. Para mim, a diferena
tnue: considero o carnaval mais ntimo da festa e o barroco mais ligado s formas estticas. Baseio-me em
DUVIGNAUD. Festas e Civilizao. Op. cit., p. 125.
253
mas que antes dependia do flego e do preparo dos burros, para enfrentar lombas e
curvas. Algumas viagens, como por exemplo, as que percorriam as subidas pela Praa
da Independncia, exigiam nmero duplo de animais. Em 1886, a linha que vinha do
bairro Partenon at chegar Praa Dom Pedro II (P. Marechal Deodoro, ou P. da
Matriz), passava pelas ruas da Conceio (parte da rua Sarmento Leite que liga a av.
Oswaldo Aranha av. Independncia), Independncia, Praa Dom Feliciano e rua da
Misericrdia (rua Professor Annes Dias), para s ento entroncar a rua Duque de
Caxias, numa ininterrupta srie de curvas em todo o trajeto.
Os carros abertos e ventilados (apelidados de gaiolas), apesar de extremamente
barulhentos, eram os que atraiam mais pessoas e que se assemelhavam a uma festa
ambulante, to ambulante e transitria quanto ela prpria.
Conta um cronista jornalista, na sua coluna Apanhados, que uma senhora
casada, l pelo Riacho, gorda como uma baleia, costuma ir janella esperar quando
passa o bonde do seu mido ... A senhora no acha isso ridculo? Por ventura no ter
servio em casa? O que eu no sei se o marido saber...
102
O autor da nota,
apropriadamente, se intitulava Marimbondo e retratou uma diverso que deveria ser
comum na cidade: ver o bonde passar no seu ritmo lento e averiguar quem estava l
dentro.
Os carros fechados
103
, que tiveram nmero intensificado a partir da dcada de
1940 em diante e que andavam superlotados, modificaram essa acepo festiva ligada
ao ar livre dos passeios de bonde, mas mantiveram aquilo que, para La Perez, marca e
102
A GAZETINHA, 20 de dezembro de 1891, n. 34, p. 3. Porto Alegre: Arquivo Histrico de Porto Alegre
Moyss Vellinho.
103
Os bondes da Bond and Share, que vinham dos Estado Unidos, eram reformulados nas oficinas da Carris para
serem enquadrados ao padro tcnico da empresa. Era feita nova pintura, retirada de portas ou colocao de
outras, substituio da carroceria de madeira pela de ao, instalao de freios de ar comprimido, etc. Os modelos
eltricos que tivemos foram os seguintes: 1
0
) o Dick Kern, de 1906, ingls, pequeno, de 4 rodas e 2 eixos,
apelidado de jardineira; 2
0
) o Night Electric, de 1909 at 1929, ingls, tambm de 4 rodas e 2 eixos, mas
fechado, maior e com corredor central, apelidado de Chope Duplo; 3
0
) o Brim, de 8 rodas e eixo duplo,
semelhante a um vago de trem; 4
0
) o Birklei, que circulou durante as dcadas de 1930 e 1940, era pequeno, de 4
rodas, uma porta apenas em cada extremidade do bonde (os modelos anteriores tinham duas em cada
extremidade), possua degrau automtico; tambm a partir da dcada de 1930, circularam os tipos Tuma, Texani
(construdo integralmente nas oficinas da Companhia Carris Porto-Alegrense), York e o Boxecess, que foram os
ltimos bondes a circular na dcada de 1970, em Porto Alegre. Havia, ainda, o comboio, um bondinho eltrico
que servia para rebocar os veculos que outrora eram movidos por trao animal.
254
caracteriza a festa: um agrupamento coletivo cuja a combinao entre o clima geral de
atividade, de familiaridade e de encontro compe uma maneira singular de ser-estar
coletivamente
104
.
Fig. 23: O bonde de dois andares, apelidado de Chopp Duplo. (fonte: VILARINO. Carris, 120 anos. Op.
cit., p. 22)
Essa familiaridade e esse encontro que particularizam a festa eram tambm
expressos pela forma com que o usurio tratava o bonde. Sempre procurando dar um
clima de troa e zombaria a tudo que o rodeia e ao que faz parte da sua realidade, o
brasileiro encarou o bonde (veculo de modelo to decentemente ingls, adotado e
aprimorado pela praticidade norte-americana e que sofreu durante o seu tempo de vida
modificaes de modelo e forma de trao assustadoramente rpidas) de maneira
caricata, dando-lhe apelidos carinhosos ou de chacota, como bondinho, amigo,
104
PEREZ, La Freitas. Festa Religiosa e Barroquizao do Mundo. Comunicao apresentada no Congresso
Internacional: As novas religies: a expanso internacional dos movimentos religiosos mgicos, em maio de
1994, Recife, p. 12.
255
carro, caixa de fsforos, jardineira, chope duplo, camaro, e concedendo-
lhe caractersticas simbolicamente humanas, com comentrios do tipo: o bonde no
trai, bondoso filho da rua, veculo reverente e educado, bondinho pachorrento,
sem neuroses, velho amigo, ele como a mulher, eterna inimiga do segredo, o
bonde permite que eu me concentre em mim mesmo, indefeso bondinho
105
.
Essas expresses, retiradas das crnicas selecionadas por Waldemar Corra
Stiel, so exemplos elucidativos da inclinao que o brasileiro tem para dar a tudo uma
tonalidade festiva e de inverso. A constante adoo de apelidos, a tendncia
humanizao de objetos e a chamada presena de esprito para a satirizao formam
um trip com carter de carnavalizao que, no caso, so, no plano das idias,
contrrios aos elementos caros modernizao, como o avano da tcnica e da
industrializao.
Uma das crnicas, Memorial de um passageiro de bonde, de 1927, serve de
exemplo a essa idia:
O bonde. Quando eu ia tomar o meu bonde, hoje pela manh, para a cidade, o
meu vizinho dr. Viegas passou no seu automvel e fez-me gesto, oferecendo-me
conduo. Hesitei um pouco e afinal optei pelo bonde. O dr. Viegas partiu. Entrei no
carro eltrico, obtive um lugar no ltimo banco e s depois que me vi instalado e
refastelado que me ocorreu dirigir a mim mesmo esta interpelao: Por que que
recusei o automvel? Por que preferi o bonde?
A resposta no foi pronta, nem fcil; veio porm, e foi a seguinte:
Preferi o bonde porque no quero andar depressa. E no quero andar
depressa porque estou contente e o contentamento em mim, propende lenteza das
degustaes silenciosas e chuchurreadas. Trago a alma numa pacificao pascoal e
105
STIEL, Waldemar Corra. Histria do Transporte Urbano no Brasil. Op. cit. As crnicas e seus autores so as
seguintes: AMARAL, Amadeu. Memorial de um passageiro de bonde. 1927 p. 119; BRANCO, Adriano M.
Adeus ao bonde. 1969, p. 128; ABREU, Luiz. Os bondes e os mineiros. 1938, p. 148; MENOTTI DEL
PICCHIA. Obrigado, bondinho.... 1965, p. 161; PRISCUS, Marcus. Coisas da rua. 1914, p. 174;
FORTAREL, Francisco. Histrias de bondes. 1968, p. 184; CAVALCANTI, Sandra. Sbado de carnaval.
1979, p. 237 e BRAGA, Rubem. Em memria do bonde Tamandar. 1939, p. 249.
256
cantante, num desses estados de harmonia orgnica que se manifestam no se sabe
como, e por isso mesmo so mais gostosos.
106
Em outra, Em memria do bonde Tamandar, datada de 1939, a mquina, a
representao do que exportvel pela modernidade, vira um ser dotado de
sensibilidade:
Foi na madrugada de uma segunda-feira 6 de dezembro de 1937 que a
cidade de So Paulo surgiu arrebentada e descomposta. A av. So Joo apresentava
um sistema de fossas, montanhas, barricadas e trincheiras. A praa Ramos de Azevedo
teve rasgado o seu ventre betuminoso e houve trilhos arrancados. Aconteceram muitas
coisas estranhas. Nos bairros, famlias acostumadas a dormir no maior silncio se
ergueram aflitas, altas horas, com a rua invadida pelo estrondo de um bonde. Com
outras famlias aconteceu o pior. Habituadas atravs de interminveis anos a s
dormirem bem depois de passar o ltimo bonde, no puderam dormir porque o ltimo
bonde no passou. Nem o ltimo, nem o primeiro, nem mais nenhum, jamais.
E algum murmurava: mas onde ests, onde ests, bonde Brigadeiro Galvo? E
o eco respondia: no sei, no. E tu, oh! Vila Clementino, em cujo terceiro banco, um
dia chuvoso de 1933, certa mulher ruiva me sorriu? E tu, Santa Ceclia, e tu Vila
Maria, e tu, Jardim da Aclimao dos meus domingos de sol? E o infinito bonde
Jabaquara? E o gentil Campos Elseos? Higienpolis tambm morreu...
Mas, quem morreu, quem morreu, e isso me custa dizer, foi o grande bonde
Tamandar. Morreu o grande bonde Tamandar, pai e me de todos os bondes. De
acordo com a tabela da Light e as indicaes dos guias da cidade esse bonde tinha um
itinerrio e um horrio. Mas ele nunca soube disso, mesmo porque a verdade seja
sempre dita o grande bonde Tamandar era analfabeto e no funcionava bem da
cabea. Suspeito que ele se entregava a libaes alcolicas na Aclimao e tinha uma
paixo encravada no Ipiranga. Um dia eu o encontrei ao meio-dia, sob um sol de
rachar, em estado lamentvel na praa do Patriarca, e no pude deixar de sorrir. Ele
106
AMARAL, Amadeu. Memorial de um passageiro de bonde. 1927 . In: STIEL. Histria do Transporte
Urbano no Brasil. Op. cit., p. 119
257
certamente percebeu, porque no mesmo dia, s 2h da tarde, quis me matar no largo da
S. Uma vez na praa do Correio, exatamente na praa do Correio, numa noite de
grande tempestade, ao passar junto ao monumento de Verdi, esse bonde parou,
protestou, armou um escarcu e fez um comcio monstro, berrando por todos os
balastres, dizendo que aquela esttua era um absurdo
107
.
A prpria palavra bonde surgiu de uma piada sobre um fato ocorrido na
poltica brasileira: em 1867, o Visconde de Itabora, ento ministro da Fazenda, emitiu
um emprstimo nacional at 30 mil ris, com juros pagvel em ouro, mediante
apresentao de aplices, cautelas, bonds; na mesma poca deste emprstimo, surgiram
as empresas de carris urbanos, que usaram o mesmo tipo de emprstimo. J que eram
difceis as moedas de nquel, viam-se os passageiros e as prprias companhias em
dificuldades para o pagamento e recebimento das passagens que custavam, em mdia,
200 ris (uma moeda de prata ou cinco moedes de cobre de 40 ris, que pesavam
muito) e ento passaram a emitir os bonds, bilhetes que no s lhe garantiam a
passagem do usurio, como ainda lhe serviam de moeda corrente, que eram aceitos
pelo comrcio em geral. Em outros pases os bondes eram chamados de diligncias
sobre trilhos de ferro, trem, tramways, ferro-carril, comboios ou carros americanos
108
.
Os apelidos chope duplo, para o carro de dois andares, caixa de fsforos ou
gaiolas, para os veculos menores em que as pessoas ficavam espremidas e
jardineira do um sentido de amolecimento palavra bond, to dura e sobriamente
inglesa. Este ltimo apelido, o jardineira, era dado ao primeiro bonde vindo da
Inglaterra, que trafegava pela direita, em sentido contrrio aos outros veculos. No seu
interior no havia corredor nas laterais dos bancos, ento os passageiros que viajavam
em p eram obrigados a ficar enfileirados como que estaqueados num estrado prprio
para isso, parecendo vasos sobre um parapeito. Creio que os ingleses nunca
imaginariam um apelido to apropriado...
107
BRAGA, Rubem. Em memria do bonde Tamandar. 1939. In: STIEL. Histria do Transporte Urbano no
Brasil. Op. cit., p. 249.
108
STIEL. Histria do Transporte Urbano no Brasil. Op. cit., p. 05.
258
Os nomes das linhas tambm sofriam, pode-se dizer, uma carnavalizao a
linha So Joo-Navegantes era apelidada de Jotaeme, a Glria-Terespolis-Partenon,
Gepet, Pet era a linha Petrpolis e Ab, a Assis Brasil
109
. Ao que chamo aqui
de carnavalizao das expresses lingsticas, Gilberto Freyre conceituou como
amolecimento. Para esse autor, a potencialidade da cultura brasileira que reside na
riqueza dos antagonismos equilibrados, encontra-se tambm no uso que o brasileiro
deu s palavras do vocbulo portugus; foi da mistura da linguagem solene do europeu
com a sonoridade marcada e suave dos fonemas africanos que saiu esse amolecimento,
muitas vezes mais agradvel para o ouvido. Freyre exemplifica: As Antnias ficaram
Toninhas, Totonhas; os Manuis, Nezinhos, Mans; os Franciscos, Chico, Chiquinho;
os Albertos, Bebetos, Betinhos ... O modo imperativo no uso dos pronomes foi
amaciado. Sem desprezar-mos o modo portugus, criamos um novo, inteiramente
nosso, caracteristicamente brasileiro: o faa-me ficou me faa; o espere-me,
me espera ...
110
A palavra bond, inglesa e solene para os nossos ouvidos, passou a
ser pronunciada no Brasil de uma forma, digamos, mais cmica e ldica: bonde,
com a vogal o bem marcada e o e com som de i.
O bonde tambm estava nas perversas brincadeiras de adolescentes maldosos
que colocavam pedras nos trilhos, para ocasionar o descarrilamento, ou leo e sabo
para dificultar a subida do veculo nas ladeiras mais ngremes. Havia tambm as
crianas que se colocavam na frente dos carros em movimento para mostrar a sua
destreza ou para determinar-lhe uma parada forada.
109
Depoimento de Wilson Luiz Freitas, ex-motorneiro, equipe tcnica do Centro de Pesquisas Histricas da
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, 1992.
110
FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Op. cit., p. 331 e ss. Imagem paralela a essa a que Mikhail Bakthin
conta a respeito das festas carnavalescas na Ilha dos Chicaneiros, descrita por Rabelais, cujos habitantes
ganhavam a vida fazendo-se espancar e rir. Nas ocasies em que havia os banquetes de bodas e o noivo era
espancado, conforme mandava este ritual que no era de sofrimento, mas ao contrrio, era cmico, a folia
caranavalesca estendia-se prpria lngua: os protagonistas divertiam-se ao recitar em voz alta palavras muito
longas e de difcil elocuo. Uma cena assim descrita: Mas, dizia Trudon (escondendo o olho esquerdo com o
leno e mostrando seu tamborim desfeito de um lado), que mal lhes fiz? No lhes bastou me terem assim to
pesadamente morrambuzevesenguzequoquemorguatasacbacguevezinemafressado meu pobre olho, ainda por
cima me estragaram o meu tamborim. BAKHITIN. A Cultura Popular... Op. cit., p. 177. No Brasil no
aumentamos as palavras, mas brincamos com elas, dando-lhes, muitas vezes, a ambivalncia tpica do carnaval.
Roberto DaMatta tem, por exemplo, um estudo sobre os diversos significados da expresso comer para os
brasileiros. Para aprofundar mais a esse respeito, ver: DAMATTA. O que faz o brasil, Brasil? Op. cit., pp. 49-
64.
259
Sempre em constante novao, o brasileiro deu outras utilidades para o bonde
que no s o transporte de passageiros. Em Porto Alegre, era comum o condutor e o
motorneiro fazerem a distribuio do jornal nos bairros pelos quais passavam de manh
bem cedinho; as drogarias contavam com o bonde para a entrega das frmulas
encomendadas s farmcias; o pai, confiante, colocava o filho no bonde e pedia que o
condutor o deixasse na porta da escola e recomendava que o trouxesse de volta. Como
as paradas eram quase de esquina em esquina
111
, o que custava parar em frente da casa
de um passageiro amigo? E quando ele estivesse atrasado, por que no esper-lo um
pouquinho? Pensava o motorneiro do eltrico que ficava, ento, a cozinhar o galo
(expresso que significava remanchar, fingir que cumpre a obrigao).
112
No demorou para que o bonde, j na poca dos puxados a burro, ditasse
tambm as regularidades da vida domstica ou funcionasse como um substituto do
relgio; j se podia saber a hora quando se ouvia o chiado das rodas do carro noturno
dobrando a esquina, ou quando o motorneiro tocava rotineiramente a sineta no ponto.
A relao de troca era uma realidade: a cidade era servida pelo bonde e por isso
ela lhe era grata, reconhecia-lhe o valor, respeitava-o como se tivesse vida prpria; as
leis do lucro e do mercado que regiam o empreendimento da Carris eram perpassadas
pela trocas de favores entre as pessoas; havia a conduta da ddiva subjacente ao frio
percurso do trfego urbano e insacivel busca do progresso.
O estado da troca estendia-se ao donos do bonde, o motorneiro e o condutor,
que quando faziam greve tinham o apoio quase irrestrito da populao; afinal pessoas
que serviam tanto mereciam, como reciprocidade, compreenso, apoio e solidariedade.
E o pagamento das passagens? Com tanta troca de favores, bem que isso podia
ser esquecido de vez em quando... Dentro do bonde, sabe-se, alm do papel de
motorneiro, cobrador, fiscal ou passageiro, as pessoas mantinham seus papis sociais
de vizinhos, colegas, concorrentes, inimigos, torcedores de times opostos de futebol,
111
S para se ter uma idia da quantidade de vezes em que o bonde parava, no centro da cidade, na dcada de
1960, havia os seguintes pontos: Conceio, Coronel Vicente, Pinto Bandeira, Lojas Renner, Dr. Flores, Casa
Carvalho, Mercado e s ento chegava ao abrigo.
112
Depoimento de Wilson Luiz Freitas, ex-motorneiro, equipe tcnica do Centro de Pesquisas Histricas da
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, 1992.
260
passistas de escola de samba, devotos de Nossa Senhora dos Navegantes,
trabalhadores, vagabundos ou malandros, chefes ou subalternos, vereadores ou z-
povinhos... e tudo isso era, muitas vezes, levado em conta na hora de se pagar ou no
a passagem.
Alm disso, existiam as trocas de favores ou acordos baseados na lealdade entre
os funcionrios da Carris. Em 1926, Mrio Ramos, presidente da Companhia Carris
quando esta tinha sua sede matriz no Rio de Janeiro enviou ao superintendente da
Companhia Carris Porto-Alegrense uma correspondncia a respeito das dificuldades
financeiras da companhia. Em um determinado trecho, o presidente informa
confidencialmente ao superintendente uma descoberta; um fato que poderia estar
contribuindo para agravar ainda mais a situao econmica da empresa: 20% da receita
no estava sendo cobrada porque alguns passageiros no pagavam e que 25%
certamente estava sendo desviada pelos condutores conluiados com os fiscais, j que
havia grande amizade e intimidade entre eles
113
.
Analisar esse pequeno episdio na histria dos meios de transporte em uma
cidade brasileira pode, sob perspectivas diferentes, levar a duas concluses sobre o
porqu de seu acontecimento: a primeira delas, se for realizada pelo olhar do analista
moderno, ser a de que certas normas contratuais e sociais no so obedecidas em
nosso pas porque no chegamos ainda aos mesmos nveis moral, econmico e jurdico
a que chegaram os pases europeus, ditos do primeiro mundo, nossos colonizadores no
passado. Para esse tipo de analista, o nosso tardio capitalismo teve como entraves o
patriarcalismo e a escravido do homem negro elementos que carregamos at hoje
como uma pesada cruz, que impede nosso crescimento tecnolgico e civilizacional.
Se, no entanto, para uma segunda concluso, este fato for relativizado e olhado
de maneira diferenciada, sob critrios outros que no os da linearidade e da
113
A carta continha o seguinte texto: ... confidencialmente lhe informamos que o sr. dr. Cauby Araujo,
engenheiro de grande valor e que acaba de estar em Porto Alegre durante cerca de dois mezes, (...) fez uma
observao secreta sobre o nosso servio de cobrana e das suas constantes observaes nos poude assegurar
que 20% da receita no cobrada, isto , os passageiros no pagam e que 25% certamente desviada pelos
conductores mancomunados com os fiscais. Ainda mais: elle notou a grande intimidade e solidariedade entre
esses dois empregados (fiscais e conductores). Carta ao Superintendente da Companhia Carris Porto-Alegrense,
Livro de Correspondncias da Companhia Carris, Porto Alegre, 23/01/1926.
261
regularidade, pode-se perceber que ele, alm de explicar parte das causas dos
problemas econmicos pelos quais passava a Carris, pode ser tambm ilustrativo sobre
a forma pela qual se organiza a sociedade brasileira, sob uma configurao social
diferente, governada por uma lgica cujos critrios fogem rigidez da tica
profissional intrnseca estratificao de classes e se apoia nas relaes formadas a
partir da simpatia, do compadrio, do respeito ou da intimidade entre as pessoas,
geradas, com certeza, pelo nossa formao patriarcal, paternalista e escravocrata, que
fez resultar uma disposio peculiar, que transgressora da outra. Para compreender
essa peculiaridade preciso reconhecer que o fiscal e o motorneiro no
desempenharam o papel hierrquico e de classe a que estavam submetidos (o primeiro
era pago para controlar e vigiar o cumprimento do trabalho do segundo) no porque
ainda no sabiam como deve fazer um trabalhador diante de seu inferior ou seu
superior, conforme so as relaes marcadas pelo eixo econmico do trabalho, mas sim
porque agiam a partir de uma outra lgica, em que tambm esto em ao os acordos
pessoais e o respeito. E esta lgica hibridiza, no Brasil, dois cdigos que para o olhar
moderno so contraditrios: o sistema de idias que rege as corporaes de ofcio e as
confrarias religiosas, onde o que conta a tica da lealdade, com as ticas
juridicamente contratuais caractersticas do capitalismo ocidental.
Esta peculiaridade brasileira tem para Roberto DaMatta uma explicao: Somos
muito mais substantivamente dominados pelos papis que estamos desempenhando do
que por uma identidade geral que nos envia s leis gerais que temos que obedecer,
caracterstica dominante da identidade do cidado
114
. Em outras palavras, pode-se
dizer que no Brasil constantemente estamos alguma coisa mais do que somos
alguma coisa ou algum. Esse estar, que carrega consigo a qualidade da efemeridade,
tambm a lgica da festa e do carnaval.
O limite espacial que o bonde proporcionava s pessoas era tambm por sua vez
transitrio, passageiro; s se ficava dentro dele o tempo necessrio para chegar-se ao
destino desejado; por isso esse espao tambm era efmero. Neste sentido, as duas
114
DAMATTA. Carnavais, Malandros e Heris. Op. cit., p. 161.
262
formas de estar no interior do bonde adquirem um s significado: o de que os
transportes, que aos olhos dos urbanistas, apresentam apenas dois aspectos distintos, o
econmico e o tcnico o econmico refere-se ao dispndio do transporte de pessoas
e mercadorias como conseqncia do funcionamento da cidade, e o tcnico aos meios
de satisfazer a esses movimentos, isto , s vias de comunicao e aos meios de
transporte
115
pode tambm ser um elemento que revela antropologicamente as
caractersticas da sociedade que o usa diariamente.
Tratando-se de uma poca em que a cobrana das passagens era feita pela mo
de uma pessoa, o condutor, e o controle destas por outra, o fiscal, e no por uma
mquina registradora, fica ainda mais evidente esse carter marcadamente pessoal que
regia as relaes de trabalho. A palavra do fiscal era tudo. Se o fiscal, por questes de
rixa ou antipatia resolvia vingar-se de seu colega cobrador, ele punha em seus registros
passagens a mais do que o real e essa quantia deveria ser paga pelo cobrador. Esse
fiscal tinha um apelido entre os seus companheiros, era o fiscal-piso: aquele que
pisava no cobrador. claro que tambm havia o passageiro que no pagava; o condutor
tinha que ir passando e pedindo licena para recolher o dinheiro (ou o ticket) da
passagem, como o bonde em horas de pico estava sempre lotado, ficava difcil a ele
saber quem j havia pago ou no, o jeito era acreditar na palavra do passageiro
116
. Por
antipatia ou por agrado, honestidade ou desonestidade, respeito ou desrespeito, o que
terminava por haver entre os fiscais, os cobradores, os motorneiros
117
e a populao era
um princpio de lealdade, regido por uma lgica de doao e de troca.
O estar-junto, da festa, como atitude, que revela parte dos objetivos da
populao para andar de bonde, o ldico como impulsionador do primeiro uso do
115
MATTOS, Joaquim de Almeida. Vida e Crescimento das Cidades. Porto Alegre: Editora Globo, 1952, p. 125.
116
Depoimento de Jorge Gomes Monteiro, ex-condutor, equipe tcnica do Centro de Pesquisas Histricas da
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, 1992.
117
A Companhia Carris Porto Alegrense, depois que passou a funcionar somente com os bondes eltricos, tinha
assim distribudo o seu quadro de funcionrios, na rea de controle de trfego de rua: havia o inspetor que
controlava os fiscais, o sub-inspetor que substitua o inspetor quando necessrio, o fiscal que controlava os
bondes e o cumprimento dos horrios e das tarifas; havia ainda os chefes de zona, que controlavam o servio dos
bondes nas diferentes reas da cidade, denominadas zonas (primeira zona: Floresta e So Joo e Navegantes;
segunda zona: Petrpolis e Auxiliadora; terceira zona: Menino Deus, Partenon, Glria e Terespolis); abaixo
deles, mas em contato direto com a populao, estavam o motorneiro e o cobrador (ou condutor).
263
transporte coletivo urbano sobre trilhos em Porto Alegre, no impediram que o sistema
funcionasse com a mesma utilidade e sucesso que na maior parte das capitais do resto
do mundo; os modelos de carros utilizados aqui eram os mesmos utilizados pelos
ingleses, franceses e alemes, acrescentados de algumas reformas realizadas nas
oficinas da Carris. A forma de trao tambm avanou como nas outras cidades
europias.
Para conhecer o que diferencia o desenvolvimento das nossas cidades do
daquelas no deveramos procurar as respostas em indagaes que privilegiam apenas
o aspecto tecnolgico, mas sim naquelas que procuram apreender e compreender o que
Hegel denominou de esprito do tempo, ou a linguagem silenciosa da vida cotidiana, da
qual falou Michel Maffesoli, ou o todo complexo formado pelas unidades elementares
e indissociveis de uma unidade superior, como pensou Edgar Morin.
Pensar a modernidade em nossas cidades, e nos meios de transporte coletivos
que por elas circulam, tentar compreender como a festa, a religio e os princpios
relacionais carnavalizam (porque transformam e do nova forma) os ideais da
modernidade europia.
264
A SOCIEDADE BRASILEIRA TOMA O BONDE
265
Tratar do bonde foi um trabalho de pesquisa que, mais do que levantar hipteses
ou coletar dados empricos a respeito de sua evoluo histrica, exigiu-me, tambm,
um exerccio de dilogo com a cidade em que vivo e uma aproximao da arte de saber
ouvir as vrias vozes que falam dentro dela. No h cidade brasileira que no esteja
marcada de alguma forma pelo bonde; ele est no enredo dos cronistas, nas fofocas de
jornais antigos, nas letras de msica popular, nos depoimentos de ex-funcionrios, nos
projetos do poder municipal de recuperao da memria histrica, na lembrana do
habitante citadino, na literatura erudita, na minha imaginao...
Concordo com o historiador Dominik LaCapra que julga necessrio reconhecer
que o passado tem suas prprias vozes, e que estas precisam ser respeitadas,
sobretudo quando elas se opem ou introduzem ressalvas s interpretaes que
gostaramos de atribuir-lhes. Um texto uma rede de resistncias, e um dilogo uma
relao bilateral; um bom leitor tambm um ouvinte atento e paciente.
118
A voz do historiador tambm faz eco ao que ele se prope analisar. Hayde
White diz que, os historiadores, ao rejeitarem o uso do elemento imaginrio em suas
narrativas, por consider-lo empecilho na busca da verdade, esto esquecendo o bvio:
todas as tentativas de traar os acontecimentos histricos baseiam-se, necessariamente,
em narrativas que revelam a coerncia, a integridade, a plenitude e a inteireza de uma
imagem de vida que , e s pode ser, imaginria.
119
118
LACAPRA. Apud: KRAMER. Literatura, Crtica e Imaginao Histrica. In: HUNT. A Nova Histria
Cultural. Op. cit., p. 139.
119
WHITE. Apud: KRAMER. Literatura, Crtica e Imaginao Histrica . In: HUNT. A Nova Histria
Cultural. Op. cit., p. 136.
266
No mais possvel de acreditar-se, ingenuamente, que o historiador no deixa a
sua marca pessoal na pesquisa em que se envolve, ou que o seu ofcio consiste em
buscar a verdade, rejeitando o seu ponto de vista. Quanto a isso, sou tributria tambm
das idias de Peter Burke, a respeito do trabalho do historiador. Ele diz: Para
comunicar essa conscincia aos leitores de histria, as formas tradicionais de
narrativa so inadequadas. Os narradores histricos necessitam encontrar um modo
de se tornarem visveis em sua narrativa, no de auto-indulgncia, mas advertindo o
leitor de que eles no so oniscientes ou imparciais e que outras interpretaes, alm
das suas, so possveis.
120
Por essa razo fiz uso da primeira pessoa do singular no corpo de toda a
dissertao, pois tive a inteno de deixar claro que a minha anlise no se pretende
absoluta e finita, e sim como mais uma possibilidade de interpretao, principalmente
porque trato de um tema que se permite a isso: ao andar de bonde, o passageiro
terminava por dar-lhe uma utilidade inesperada, fazendo dele no s um meio de
transporte para o trabalho, mas tambm uma mquina com outras serventias, ou ento,
este no o via como uma mquina, mas como mais um habitante da cidade, portador de
alma e merecedor de carinho ou xingamento. Partindo disso, fiz uso de uma
interpretao que compreende a sociedade brasileira, sob um ngulo, possvel dentre
tantos: o da festa, o do estar-junto, o do desejo de saborear a cidade
Neste sentido, as idias conclusivas so para mim complicadas; elas tm um
carter de finitude, no condizente com a minha inteno de ter dado ao tema um olhar
particular, que se abre para outros. Porm, para atender a uma exigncia acadmica,
cheguei a elas.
Os bondes de Porto Alegre, desde a primeira experincia com a maxambomba,
eram veculos modernos porque atendiam a uma necessidade racionalizada de
circulao das pessoas pelos espaos urbanos e foram implantados com esse objetivo
num momento em que a modernidade toca os pases menos industrializados com os
seus elementos exportveis, com a sua materialidade tcnica. Os bondes, na maior
120
BURKE, Peter (org.) A Escrita da Histria, novas perspectivas. Op. cit., p.337.
267
parte de origem inglesa e americana, deram um sentido concreto palavra
modernidade, possibilitando cidade sentir-se moderna enquanto tal.
Mas o uso que se fez deles foi tambm o do passeio, do encontro, o da
proxemia, numa socialidade contrariante aos elementos fundamentais da simbologia
das leis do lucro e do capital, porm tributria de uma organizao de tonalidade
festiva.
Eles puderam ser experimentados igualmente atravs da conduta da ddiva, da
intimidade entre os usurios, da troca de favores entre empregados e passageiros, do
amolecimento da tica profissional entre os funcionrios, numa relao que est longe
de ser comandada pelas leis do mercado. Dentro do bonde hibridizavam-se essas duas
condutas, tal como acontecia na cidade e na sociedade brasileira.
Iniciadas dentro do contexto moderno, que comeou a se configurar no
Ocidente, a partir dos grandes descobrimentos martimos e do surgimento do
capitalismo comercial, as cidades brasileiras estiveram sempre envolvidas
concomitantemente em processos, por princpio, antagnicos: o projeto da
homogeneizao e da racionalizao postulados da modernidade s puderam ser,
pragmaticamente, realizados pela via da miscigenao.
Desde o princpio aqui se misturaram diferentes cdigos: o homem com rasgos
marcantes de mentalidade medieval (cuja viso de mundo, mais ligada ao ldico, ainda
no colocava o Homem no centro de poder) veio exercitar e tornar possvel um novo
projeto que se pretendia redentor, humanista e iluminista; as etnias negra, indgena e
branca, conquistadas e conquistadoras, realizaram relaes de amlgama e de
entrecruzamento; os cultos de religio afro, os rituais indgenas e a beatice europia
permearam os propsitos da secularizao; os objetivos modernizantes ocorreram
incidentemente com as prticas escravagistas; as normas do mercado coincidiram com
a realizao das trocas pessoais; razo e f movimentaram, como uma procisso
religiosa, a idia de progresso; a capacidade de viver em movimento, em trnsito, tpica
do carnaval, mesclou-se idia do devir, moderna por excelncia.
268
Toda essa mestiagem de cdigos que aconteceu nas diversas esferas da
constituio da sociedade brasileira tambm estava mostra, com muita evidncia, nos
bondes dentro e fora deles.
E em um universo onde o princpio bsico de conduta o da congregao de
oposies, o do amolecimento das regras, da multiplicidade de objetivos, preciso ver
a festa como significado e significante e, mais, necessrio tentar escrever com
imaginao e, porque no, com humor.
269
LINHA DE TEMPO
270
1752 - os casais aorianos chegam ao Stio do Dornelles.
1768 - construo da primeira capela.
1772 - fundao da Freguesia de So Francisco de Chagas e incio dos trabalhos de demarcao do traado
urbano, com as primeiras ruas e a construo da igreja no Alto da Praia.
1773 - elevao da freguesia em parquia, que passou a chamar-se de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto
Alegre.
1774 - construo do Arsenal da Marinha.
1778 - incio regular da instruo primria em Porto Alegre.
1780 - incio da construo da Santa Casa; incio da fabricao de tijolos em Porto Alegre.
1794 - construo da Casa da Comdia, barraco que servia como casa de espetculos. Ancestral da Casa
da pera. Incio do calamento das ruas determinado pela Cmara Municipal, que obrigava os proprietrios
ao lajeamento fronteirio a seus prdios.
1795 - inaugurao do Palcio do Governo.
1797 - colocada uma bica pblica na praa da Matriz, ento a regio mais populosa da cidade.
1798 - criao do pelourinho e da forca; nomeao do capito do mato.
1804 - provvel data da reforma da Casa da pera, que se localizava na atual rua Uruguai e que funcionou
de 1804 a 1833. Construo de um prdio, na praa da quitanda, que serviu de alfndega at 1912.
1809 - criao da Vila de Porto Alegre. Data provvel do primeiro carnaval, com Entrudo, em Porto Alegre.
1815 - a antiga Praa do Comrcio ou Quitanda passa a chamar-se Praa da Alfndega.
1822 - Porto Alegre elevada categoria de cidade, por reconhecimento imperial. Decreto de 7 de agosto
estabelece iluminao pblica das ruas da cidade com lampies de azeite.
1833 - Porto Alegre vtima de uma grande enchente.
1837 - fica proibido, vias posturas policiais, o jogo do Entrudo em Porto Alegre, por ser considerado uma
tradio perniciosa. Entretanto, a populao ignorava as penalidades e continuava brincando o Entrudo.
1838 - inaugurao do Teatro Dom Pedro II, o teatrinho, que funcionou por vinte anos, at a inaugurao do
Teatro So Pedro.
1842 - autorizada a construo do primeiro edifcio para o mercado pblico no Largo do Ferreiros, com rampa
em direo rua de Bragana. Incio da colocao de placas indicativas dos nomes das ruas. Outra grande
enchente.
1844 - numerao das casas.
1845-48 - calamento de ruas de Porto Alegre e reforo da iluminao pblica.
1845 - incio dos trabalhos para a abertura da rua Jos de Alencar, chamada poca de Rua Caxias.
271
1848 - incio dos trabalhos para a abertura da av. Getlio Vargas, chamada poca de Santa Teresa e depois,
em 1858, de Rua Menino Deus.
1850 - construo do cemitrio da Azenha e do Hipdromo da Vrzea. Incio da construo do Teatro So
Pedro.
1852 - incio da construo da Casa de Correo, na ponta da pennsula.
1853 - inaugurao da primeira capela do Menino Deus. a iluminao pblica muda de azeite para gs.
1855 - iniciam-se em Porto Alegre, os bailes de carnaval, como reunies danantes ou bailes mascarados, cujo
o primeiro local foi o Caf da Fama.
1855-1856 - epidemia de clera em Porto Alegre.
1858 - inaugurao do Teatro So Pedro.
1859 - implantao da primeira linha de veculos de trao animal sobre trilhos no Rio de Janeiro, que durou
at 1866.
1864-1865 - primeira experincia de transporte coletivo urbano sobre trilhos em Porto Alegre, a chamada
Maxambomba, com uma linha para o Menino Deus. Comeam os trabalhos da Companhia Hidrulica Porto-
Alegrense.
1868 - implantao regular de carris na cidade do Rio de Janeiro pela empresa Botanical Garden Railroad
Company (organizada nos EUA).
1869 - ressurge, por ocasio do carnaval em Porto Alegre, a prtica do Entrudo.
1870 - surge outra empresa de bondes no Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro Street Railway Company. J existe
em Porto Alegre o servio de nibus por trao animal, embora sem regulamentao.
27/02/1872 - contrato celebrado entre o Presidente da Provncia do Rio Grande do Sul, Jernimo Martiniano
Figueira de Mello, e o proponente Manoel de Miranda e Castro, para o estabelecimento de uma empresa de
bondes, por trao animada, para transporte de passageiros e de carga.
19/06/1872 - assinatura do Decreto Imperial oficializando a fundao da Companhia Carris de Ferro Porto-
Alegrense, filiada empresa de bondes carioca Jardim Botnico.
17/12/1872 - nasce a terceira companhia carioca de bondes, a Companhia Ferro-Carril de Vila Isabel.
04/01/1873 - inaugurao dos servio de bondes, com a linha para o Menino Deus (desde 1853, entre
dezembro e janeiro, ocorriam os festejos e missas natalinas na capela do Menino Deus).
1874 - com o fim do Entrudo, fortalecem em Porto Alegre as sociedades carnavalescas, como a Esmeralda
Porto-Alegrense e a Venezianos, que desfilavam nas ruas do centro da cidade, at o ano de 1898.
Implantao da estrada de ferro Porto Alegre-Novo Hamburgo.
1875 - incio da construo da rua so Jos, que deu origem ao bairro Navegantes.
1877 - a Biblioteca Pblica, instalada desde 1871, comea a funcionar.
1880 - os bailes pblicos carnavalescos em Porto Alegre alcanam seu maior sucesso, eram realizados nos
sales do Teatro So Pedro e do Variedades (teatro inaugurado em 1879, que em 1890 mudou de nome para
Teatro Amrica, sobrevivendo at 1894). Mas, paralelo a eles, acontecia o Entrudo nas ruas.
272
1889 - Proclamao da Repblica.
1891 - surge, em Porto Alegre, a Carris Urbanos. A Hidrulica Guaibense comea a operar.
1892 - a Companhia Jardim Botnico do Rio de Janeiro inaugura a primeira linha de bondes eltricos. Mas
durante quatro dcadas a trao animal e eltrica coexistiram naquela cidade.
15/01/1893 - comeam a trafegar os primeiros carros da Carris Urbanos em Porto Alegre.
1891 - fundao da Usina Fiat Lux, de energia eltrica (Porto Alegre).
1901 - ocorre a Grande Exposio no Campo da Redeno.
1903 - criao do Grmio Futebol Porto-Alegrense.
1904 - o municpio adquire a Hidrulica Guaibense.
1905 - a Carris de Ferro Porto-Alegrense adquire, atravs de compra, a Carris Urbanos. Atualizao do antigo
contrato com a Intendncia.
1906 - da fuso entre a Carris de Ferro Porto-Alegrense e a Carris Urbanos surge a Companhia Fora e Luz
Porto-Alegrense, que passa a operar os bondes movidos eletricidade. A Fora e Luz uma empresa de
capital americano, sediada no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano os funcionrios da Fora e Luz participam da
primeira greve geral dos trabalhadores de Porto Alegre.
1906 - para o desenho, a implantao, a construo das linhas eltricas de bondes e o fornecimento de todo o
material necessrio, a Fora e Luz assina contrato com a Dick, Kern & Co., sediada em Londres. A Fora e
Luz fica com os encargos de edificar a usina geradora e de aumentar e adaptar o depsito de carros eltricos.
1908 - primeira experincia de bondes eltricos nas linhas do Menino Deus, Glria, Terespolis e Partenon.
1909 - criao do Sport Clube Internacional.
1910 - inaugurao do Teatro Coliseu, uma das melhores casas de diverso de Porto Alegre. Ampliao do
Mercado Pblico.
1911 - greve dos motoristas e condutores da Carris.
1914 - Primeira Grande Guerra. O Engenheiro Moreira Maciel amplia e reforma a rede urbana; responsvel
pelas solues que a Comisso de Melhoramentos e Embelezamento da Capital aprovou em 1914.
1923 - criada, no Rio de Janeiro, a CEERG - Companhia de Energia Eltrica Rio-Grandense - pertencente
Companhia Brasileira de Fora Eltrica, que por sua vez integrava o grupo americano Bond & Share.
1924 - a CEERG compra a Fiat Lux - uma das empresas que gerava energia eltrica em Porto Alegre.
24/03/1926 - reformulao dos estatutos do contrato de 1906 da Fora e Luz com a intendncia. O setor da
Cia Fora e Luz que cuidava dos transportes volta ao antigo nome: Cia Carris Porto-Alegrense (cai o nome
de Ferro); o povo nunca deixou de chamar de Carris.
1926 - comeam a circular, em Porto Alegre, sem regulamentao, os auto-nibus particulares, movidos a
leo diesel.
1928 - a CEERG (tendo por trs a Bond & Share) fica, atravs de concorrncia, com todos os direitos de
explorao da energia eltrica no RS. J havia encampado a Fiat Lux, depois firma contrato com a
273
Intendncia Municipal de Porto Alegre, em 5 de maio, e torna-se a administradora tambm da Usina de Gs e
Eletricidade Municipal e da Fora e Luz. Dona de todo o acervo energtico, a CEERG assume o compromisso
de produzir, transmitir, distribuir, usar e vender energia eltrica. Essa empresa controlava os servios de fora,
luz e bondes em Porto Alegre. Regulamentao dos servios de nibus feito por particulares.
1930 - nos trechos ainda sem trilhos, a Carris oferece o servio de auto-nibus, tirando-os do trfego quando o
bonde entra em circulao.
1964-1969 - experincia com os trolebus da Carris, com a primeira linha para o Menino Deus.
8/3/1970 - sai de circulao o ltimo bonde eltrico, linha Partenon.
274
BIBLIOGRAFIA
275
ABREU, Maurcio de. Evoluo Urbana do Rio de Janeiro. 1987, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor.
ANDRADE, Oswald. Um homem sem profisso. In: TOLEDO, Roberto
Pompeu de. O bonde, o PFL e o pequeno Ludwig. Infinitas so as iluses de tica que
o conceito de modernidade pode gerar. 27/04/1994, Revista Veja, So Paulo:
Editora Abril S.A.
AZEVEDO, Aroldo de. Embries das Cidades Brasileiras.1957. In: Boletim
Paulista de Geografia, So Paulo: Departamento de Geografia da Universidade de So
Paulo, n. 25, pp.31-69.
BAKHTIN, Mikail. A Cultura Popular na Idade Mdia e no Renascimento: O
Contexto de Rabelais.1993, So Paulo-Braslia: Edunb-Hucitec, 2. ed.
BASTIDE, Roger. Brasil, Terra de Contrastes. 1964, So Paulo: Difuso
Europia do Livro, 2. ed.
BAUDRILLARD, Jean. Modernit. 1982. In: Biennale de Paris. La
modernit ou lesprit du temps. Paris: Editions LEquerre, pp. 28-31.
BAUDRILLARD, Jean. Fin da la modernit ou lre de la simulation. 1982,.
In: Biennale de Paris. La modernit ou lesprit du temps. Paris, Editions LEquerre,
pp32-33.
BENJAMIN, Walter. Paris, Capital do Sculo XIX. In: KOTHE, Flvio.
Walter Benjamin. Coleo Sociologia, 1991, So Paulo: Editora tica, pp 30-43.
BINS, Alberto. O transporte colletivo em Porto Alegre. Exposies das
condies actuaes, pelo Intendente Municipal. 1930, Porto Alegre: Officinas graphicas
d A Federao.
BRINCO, Ricardo. Transporte Urbano em Questo. 1985, Porto Alegre:
Secretaria de Coordenao e Planejamento, Fundao de Economia e Estatstica.
BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. Europa, 1500-1800. 1995,
So Paulo: Companhia das Letras, 2. ed.
276
BURKE, Peter. A Escrita da Histria, Novas Perspectivas. 1992, So Paulo:
Editora da UNESP, 2. ed.
DAMASCENO, Athos. Imagens Sentimentais da Cidade. 1940, Porto Alegre:
Editora Globo.
DAMASCENO, Athos. Imprensa Caricata do Rio Grande do Sul no Sculo
XIX. 1962, Porto Alegre: Editora Globo.
DAMASCENO, Athos. O Carnaval Porto-Alegrense no Sculo XIX. 1970,
Porto Alegre: Livraria do Globo.
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. 1994, Rio de Janeiro: Editora
Rocco, 7. ed.
DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heris. Para Uma Sociologia
do Dilema Brasileiro. 1990, Rio de Janeiro: Editora Guanabra, 5.
ed.
DUVIGNAUD, Jean. Festas e Civilizao. 1983, Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro e Edies Universidade Federal do Cear.
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizacional. 1989, Lisboa: Publicaes Dom
Quixote, 1
o
vol.
ESCOSTEGUY, Luis Felipe Alencastre. Produo e Uso dos Espaos Centrais
a beira-rio em Porto Alegre (1809 - 1860). 1993, Porto Alegre: PUC-RS, Dissertao
de Mestrado.
FORTINI, Archymedes. Porto Alegre Atravs dos Tempos. 1962, Porto Alegre:
Diviso de Cultura.
FRANCO, Srgio da Costa. Porto Alegre, Guia Histrico. 1988, Porto Alegre:
Editora da Universidade, UFRGS, 1. ed.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. Formao da Famlia Brasileira
sob o regime da economia patriarcal. 1992, Rio de Janeiro: Record, 29.
ed.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Decadncia do Patriarcado Rural e
Desenvolvimento do Urbano. 1961, Rio de Janeiro: Jos Olympio Editora, 3. ed.
FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. 1987, Rio de Janeiro: Forense-
Universitria, 4. ed.
277
FORTINI, Archymedes. Histrias da Nossa Histria. Porto Alegre. 1966, Porto
Alegre: Editora Grafipel.
HOLSTON, James. A Cidade Modernista. Uma crtica de Braslia e sua Utopia.
1993, So Paulo: Companhia das Letras.
HUNT, Lynn. A Nova Histria Cultural. 1995, So Paulo: Martins Fontes
Editora Ltda.
LAYTANO, Dante de. Festa de Nossa Senhora de Navegantes. Estudo de uma
Tradio das Populaes Afro-brasileiras de Porto Alegre. 1955, Porto Alegre:
Instituto Brasileiro de Educao, Cincia e Cultura.
LIMA, Olympio de Azevedo. Resultado do Recenseamento da Populao do
Municpio de Porto Alegre de 1917. 1917, Porto Alegre: Officinas Graphicas da
Livraria do Commercio.
LIMA, Olympio de Azevedo. Recenseamento da Populao do Municpio de
Porto Alegre de 1922. 1922, Porto Alegre: Officinas Graphicas da Livraria do
Commercio.
MACEDO, Francisco Riopardense de. Porto Alegre, Origem e Crescimento.
1968, Porto Alegre: Sulina.
MACEDO, Francisco Riopardense de. Porto Alegre, Histria e Vida da Cidade.
1973, Porto Alegre: Editora da UFRGS.
MACEDO, Francisco Riopardense. Porto Alegre: aspectos culturais. 1982,
Porto Alegre: SMED/Diviso de Cultura.
MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos. O Declnio do Individualismo nas
Sociedades de Massa. 1987, Rio de Janeiro: Forense Universitria.
MAFFESOLI, Michel. A Runa do Futuro e a Inveno do Presente. 1994,
Porto Alegre: Revista do Geempa, pp. 9-21.
MATTOS, Joaquim de Almeida. Vida e Crescimento das Cidades. Porto Alegre:
Editora Globo, 1952.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a Ddiva. 1950, Lisboa: Edies 70.
MONTEIRO, Charles. Porto Alegre: Urbanizao e Modernidade. A
Construo Social do Espao. 1995, Porto Alegre: EDIPUCRS.
You might also like
- Entre fiscais e multas: Experiências urbanas através das Posturas Municipais (1870 – 1890)From EverandEntre fiscais e multas: Experiências urbanas através das Posturas Municipais (1870 – 1890)No ratings yet
- Economia solidária triunfa sobre o neoliberalismo que estrebucha em trevasFrom EverandEconomia solidária triunfa sobre o neoliberalismo que estrebucha em trevasNo ratings yet
- Fragmentos de RecifeDocument164 pagesFragmentos de Recifesamarafreitas2013No ratings yet
- As Paisagens Da Cidade Arqueologia Da ArDocument341 pagesAs Paisagens Da Cidade Arqueologia Da ArJ. Luiz WeissNo ratings yet
- A Belle Époque CaxienseDocument147 pagesA Belle Époque CaxienseAntônio VieiraNo ratings yet
- Miróbriga - Arquitectura e UrbanismoDocument145 pagesMiróbriga - Arquitectura e UrbanismoJoão InácioNo ratings yet
- Dissertacao Jordania - ENTRE A TRADICAO E A MODENIDADE-A BELLE EPOQUE CAXIENSEDocument144 pagesDissertacao Jordania - ENTRE A TRADICAO E A MODENIDADE-A BELLE EPOQUE CAXIENSECaio Vinícius Silva TeixeiraNo ratings yet
- Capitalismo e Urbanização - Cap1Document24 pagesCapitalismo e Urbanização - Cap1Sandra CostaNo ratings yet
- Entre A Avenida Luís Guaranha e o Quilombo Do Areal. Estudo Etnográfico Sobre Memória, Sociabilidade e Territorialidade Negra em Porto Alegre-RSDocument168 pagesEntre A Avenida Luís Guaranha e o Quilombo Do Areal. Estudo Etnográfico Sobre Memória, Sociabilidade e Territorialidade Negra em Porto Alegre-RSPedro Henrique Garcia Pinto De AraujoNo ratings yet
- Cidade Cultura e Global I ZaoDocument264 pagesCidade Cultura e Global I ZaoPaula GeorgiaNo ratings yet
- De Merity A Duque de CaxiasDocument67 pagesDe Merity A Duque de CaxiasVictor Taiar100% (1)
- Vidas em Trânsito: Sujeitos e Experiências nos Deslocamentos UrbanosFrom EverandVidas em Trânsito: Sujeitos e Experiências nos Deslocamentos UrbanosNo ratings yet
- No tempo das cidades: História, cultura e modernidade em Ribeirão Preto, SP (1883-1929)From EverandNo tempo das cidades: História, cultura e modernidade em Ribeirão Preto, SP (1883-1929)No ratings yet
- Plural de CidadeDocument326 pagesPlural de CidadeÉrica PeçanhaNo ratings yet
- Biblioteca Brasileira de Arquitetura, 1551-1750Document997 pagesBiblioteca Brasileira de Arquitetura, 1551-1750Danilo MacedoNo ratings yet
- Entre Memoria e Historia A Problematica Dos Lugares, Pierre NoraDocument91 pagesEntre Memoria e Historia A Problematica Dos Lugares, Pierre NoraDani Soares100% (8)
- Alternativas Contemporaneas para PoliticDocument10 pagesAlternativas Contemporaneas para PoliticbrunacordeiroNo ratings yet
- 1 Volume1Document291 pages1 Volume1Amitaf AnigerNo ratings yet
- Mina Tese PDFDocument475 pagesMina Tese PDFsuselgasparNo ratings yet
- HistóriaDocument15 pagesHistóriaTânia SantosNo ratings yet
- Cartografias e Imagens Da Cidade: Campina Grande - 1920-1945Document378 pagesCartografias e Imagens Da Cidade: Campina Grande - 1920-1945fabianomorrisonNo ratings yet
- Paisagens urbanas: fotografia e modernidade em Belém do Pará (1846-1908)From EverandPaisagens urbanas: fotografia e modernidade em Belém do Pará (1846-1908)No ratings yet
- Etnograficapress 1406Document156 pagesEtnograficapress 1406LuzineleNo ratings yet
- Cidades - Olhares e TrajetoriasDocument17 pagesCidades - Olhares e TrajetoriasJoyce OakNo ratings yet
- (Artigo) DOS SANTOS, Mário Ribeiro. Circuitos Da Folia. 2009Document9 pages(Artigo) DOS SANTOS, Mário Ribeiro. Circuitos Da Folia. 2009LuaNo ratings yet
- Vértice de Uma Renovação Cultural, 2012 PDFDocument393 pagesVértice de Uma Renovação Cultural, 2012 PDFCarlos HortmannNo ratings yet
- Glaura Teixeira Nogueira LimaDocument334 pagesGlaura Teixeira Nogueira LimaChristian SchwartzNo ratings yet
- Memória, cidade e comércio: narrativas sobre o centro histórico de Campos dos Goytacazes/RJFrom EverandMemória, cidade e comércio: narrativas sobre o centro histórico de Campos dos Goytacazes/RJNo ratings yet
- BARROS, J. A. - Cidade e HistoriaDocument28 pagesBARROS, J. A. - Cidade e HistoriaPollyanna ZalimNo ratings yet
- A Mestilagem em José Bonifácio - TeseDocument202 pagesA Mestilagem em José Bonifácio - TeseSiqueira CorrêaNo ratings yet
- Representacoes de Africa e Dos Africanos PDFDocument408 pagesRepresentacoes de Africa e Dos Africanos PDFMonique MarquesNo ratings yet
- SPOSITO, Maria Da Encarnação B. Capitalismo e UrbanizaçãoDocument97 pagesSPOSITO, Maria Da Encarnação B. Capitalismo e UrbanizaçãoGabriel Luz100% (1)
- TMEP ArmandoSilvaDocument180 pagesTMEP ArmandoSilvaana sousaNo ratings yet
- Tese Irene Nogueira de Rezende - Negócios e Participação Política: Fazendeiros Na Zona Da Mata de Minas Gerais (1821 - 1841)Document254 pagesTese Irene Nogueira de Rezende - Negócios e Participação Política: Fazendeiros Na Zona Da Mata de Minas Gerais (1821 - 1841)Gabriel RodriguesNo ratings yet
- Leite Criôlo - Da Rede Modernista Nacional À Memória Monumental Do ModernismoDocument224 pagesLeite Criôlo - Da Rede Modernista Nacional À Memória Monumental Do ModernismovmarocaNo ratings yet
- SANTOS, M. C. T. M. Documentação Museológica, Educação e Cidadania - Cadernos de Museologia N 3, 1994Document14 pagesSANTOS, M. C. T. M. Documentação Museológica, Educação e Cidadania - Cadernos de Museologia N 3, 1994Caio Ghirardello100% (1)
- A Morte Feita de Pedra O Mercado de Escravizadps Do Valongo e ADocument189 pagesA Morte Feita de Pedra O Mercado de Escravizadps Do Valongo e ACarlos ReisNo ratings yet
- LIVRO ARTE e CIDADE, MEMORIA e EXPERIÊNCIADocument289 pagesLIVRO ARTE e CIDADE, MEMORIA e EXPERIÊNCIAIana RibeiroNo ratings yet
- Tudo Black no Pedaço: um estudo de caso etnográfico sobre a cultura de jovens integrantes do Grupo Urbano "Capa Preta", da Cidade de Montes Claros/MGFrom EverandTudo Black no Pedaço: um estudo de caso etnográfico sobre a cultura de jovens integrantes do Grupo Urbano "Capa Preta", da Cidade de Montes Claros/MGNo ratings yet
- Cidade Flutuante-Uma Manaus Sobre As Águas PDFDocument354 pagesCidade Flutuante-Uma Manaus Sobre As Águas PDFdanielphb_historia100% (2)
- Arantes, Antonio. Patrimônio Cultural e CidadeDocument18 pagesArantes, Antonio. Patrimônio Cultural e CidadeClarice SáNo ratings yet
- Cesario VerdeDocument5 pagesCesario VerdeCila RamosNo ratings yet
- Luciane Scarato - Caminhos e Descaminhos Do OuroDocument276 pagesLuciane Scarato - Caminhos e Descaminhos Do Ouroluiz.rezendeNo ratings yet
- Patrimonio Cultural: Conceitos, Politicas, InstrumentosDocument381 pagesPatrimonio Cultural: Conceitos, Politicas, InstrumentosOsmar Weyh100% (2)
- Reflexões Sobre A Preservação Do Patrimônio CulturalDocument3 pagesReflexões Sobre A Preservação Do Patrimônio CulturalcamilacfNo ratings yet
- Iniciação Aos Estudos Históricos by Jean GlénissonDocument364 pagesIniciação Aos Estudos Históricos by Jean Glénissondarlanzurc646No ratings yet
- TEAlexandreHectorBenoit RevDocument174 pagesTEAlexandreHectorBenoit RevELENNo ratings yet
- Entre Paris e Lisboa - A Modernidade de Cesário Verde.Document139 pagesEntre Paris e Lisboa - A Modernidade de Cesário Verde.Fabio BinderNo ratings yet
- A Vida Conventual Feminina em Portugal Nos Seculos Xvi e Xvii Um Panorama HistoriograficoDocument106 pagesA Vida Conventual Feminina em Portugal Nos Seculos Xvi e Xvii Um Panorama HistoriograficoAna BeatrizNo ratings yet
- Vera Lucia Cardim de Cerqueira - Missão FolcoricaDocument232 pagesVera Lucia Cardim de Cerqueira - Missão FolcoricaPeter Lorenzo100% (1)
- Cidade e Habitat - Uma Visão A Paritr de Bairros Críticos - Daniel Gomes BentoDocument237 pagesCidade e Habitat - Uma Visão A Paritr de Bairros Críticos - Daniel Gomes BentoAntónio BarbosaNo ratings yet
- ZUQUIM, Lurdinha. Os Caminhos Da Bocaina - Uma Questão Agrária Ambiental. Tese D Doutorado, 2002 PDFDocument372 pagesZUQUIM, Lurdinha. Os Caminhos Da Bocaina - Uma Questão Agrária Ambiental. Tese D Doutorado, 2002 PDFlucccavlNo ratings yet
- Texto CompletoDocument125 pagesTexto CompletoPaulo Torres De SouzaNo ratings yet
- Patrimônio Cultural e Revitalização UrbanaDocument144 pagesPatrimônio Cultural e Revitalização UrbanaCorina MoreiraNo ratings yet
- A Cidade como Cenário de Oportunidades: Etnografia das MargensFrom EverandA Cidade como Cenário de Oportunidades: Etnografia das MargensNo ratings yet
- Imaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateFrom EverandImaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- FreiosDocument2 pagesFreiosESTUDANTE_SPNo ratings yet
- E Book 150 Acordes PDFDocument25 pagesE Book 150 Acordes PDFThiago Ribeiro da SilvaNo ratings yet
- @1.14comentada 10Document14 pages@1.14comentada 10ESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Readme PT BRDocument5 pagesReadme PT BRelias jr 14100% (2)
- N EPUBDocument1 pageN EPUBESTUDANTE_SPNo ratings yet
- N EPUBDocument1 pageN EPUBESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Freio Sem Fio FerroviarioDocument2 pagesFreio Sem Fio FerroviarioESTUDANTE_SPNo ratings yet
- FreiosDocument2 pagesFreiosESTUDANTE_SPNo ratings yet
- FreiosDocument2 pagesFreiosESTUDANTE_SPNo ratings yet
- A Prenda Con Figur Are Fei To S MixerDocument6 pagesA Prenda Con Figur Are Fei To S MixerESTUDANTE_SPNo ratings yet
- E StudioDocument1 pageE StudioESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Aposentadoria Do PneDocument3 pagesAposentadoria Do PneESTUDANTE_SPNo ratings yet
- FreiosDocument2 pagesFreiosESTUDANTE_SPNo ratings yet
- E StudioDocument1 pageE StudioESTUDANTE_SPNo ratings yet
- AFO BizuDocument16 pagesAFO BizuESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Freio Sem Fio FerroviarioDocument2 pagesFreio Sem Fio FerroviarioESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Livro Vol 4 Cap 03Document18 pagesLivro Vol 4 Cap 03Antonio Jorge RodriguesNo ratings yet
- Controle de Velocidade de TrensDocument22 pagesControle de Velocidade de TrensESTUDANTE_SP100% (1)
- Freio Sem Fio FerroviarioDocument2 pagesFreio Sem Fio FerroviarioESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Freio Sem Fio FerroviarioDocument2 pagesFreio Sem Fio FerroviarioESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Aula 10 - Direito ConstitucionalDocument10 pagesAula 10 - Direito ConstitucionalESTUDANTE_SPNo ratings yet
- A VOZ de RC - Sonia Cristina Coelho de OliveiraDocument0 pagesA VOZ de RC - Sonia Cristina Coelho de OliveiraESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Inversores de FrequenciaDocument9 pagesInversores de Frequenciarodson_c100% (2)
- TCCDocument9 pagesTCCESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Eletrificacao de RodoviaDocument7 pagesEletrificacao de RodoviaESTUDANTE_SPNo ratings yet
- Palavras Poderosamente PersuasivasDocument6 pagesPalavras Poderosamente PersuasivasCheversson Luiz Chagas100% (1)
- Palavras Poderosamente PersuasivasDocument6 pagesPalavras Poderosamente PersuasivasCheversson Luiz Chagas100% (1)
- Prova Resolvida - TRT 24 Região - 2011 - FCCDocument8 pagesProva Resolvida - TRT 24 Região - 2011 - FCCLeopoldo MsbNo ratings yet
- Palavras Poderosamente PersuasivasDocument6 pagesPalavras Poderosamente PersuasivasCheversson Luiz Chagas100% (1)
- Palestras de Kyoshu-Sama - 2000 A 2014Document174 pagesPalestras de Kyoshu-Sama - 2000 A 2014Ivan de Oliveira100% (1)
- O Poema Do OcasoDocument13 pagesO Poema Do OcasoclaudiaNo ratings yet
- Sim - 6° Ano 3 - 3 ºtriDocument12 pagesSim - 6° Ano 3 - 3 ºtriJackeline LirioNo ratings yet
- Bach e Pink Floyd - Breve Estudo Comparativo Entre As Músicas - P. Bertrand LaboucheDocument29 pagesBach e Pink Floyd - Breve Estudo Comparativo Entre As Músicas - P. Bertrand Labouchejenisson159No ratings yet
- A Grécia e Os Estudos LinguísticosDocument8 pagesA Grécia e Os Estudos LinguísticosjanaluciusNo ratings yet
- AV2 - Estética e História Da Arte - AlunosDocument2 pagesAV2 - Estética e História Da Arte - AlunosEddy Machado NetoNo ratings yet
- Satre e Camus PDFDocument299 pagesSatre e Camus PDFArielson SilvaNo ratings yet
- Boaventura - O Fim Do Império CognitivoDocument26 pagesBoaventura - O Fim Do Império CognitivoC Rosa Guarani-Kaiowá100% (3)
- Desconstrução Na Anpof 2016Document368 pagesDesconstrução Na Anpof 2016Carla RodriguesNo ratings yet
- MIL LITROS DE PRETO: A Maré Está Cheia - A PerformanceDocument5 pagesMIL LITROS DE PRETO: A Maré Está Cheia - A PerformanceLucimélia RomãoNo ratings yet
- A Teia de PenélopeDocument151 pagesA Teia de PenélopecmseverinoNo ratings yet
- 7 Curiosidades Sobre Joan MiróDocument6 pages7 Curiosidades Sobre Joan MiróJosileuza Rodrigues CarvalhoNo ratings yet
- Currículo: Linguagens, Tecnologia E Inovação E Projeto de VidaDocument292 pagesCurrículo: Linguagens, Tecnologia E Inovação E Projeto de VidaRafa UlpristNo ratings yet
- Modernismo Habilidade TrabalhadaDocument5 pagesModernismo Habilidade TrabalhadairaniNo ratings yet
- Carlos Nougué - Suma Gramatical Da Língua Portuguesa-É Realizações (2015)Document498 pagesCarlos Nougué - Suma Gramatical Da Língua Portuguesa-É Realizações (2015)Chico Caprario100% (1)
- Anais Simp Emus 2005Document290 pagesAnais Simp Emus 2005Juca LimaNo ratings yet
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes (Alexandre Henrique Dos Reis)Document15 pagesCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes (Alexandre Henrique Dos Reis)alexandrehreis1580100% (1)
- Arte - 7º Ano: Colégio NomeliniDocument2 pagesArte - 7º Ano: Colégio NomeliniShirley LopesNo ratings yet
- Reconstruindo o SorrisoDocument13 pagesReconstruindo o SorrisoAleck_SrinathNo ratings yet
- SE2022 - v01 - BOOK - PROVAI - 071269012800 @MDM - VestibularesDocument36 pagesSE2022 - v01 - BOOK - PROVAI - 071269012800 @MDM - VestibularesOlym PikusNo ratings yet
- GONÇALVES NETO, W. CARVALHO, C.H. - Hemg - Volume - 3 - Republica PDFDocument420 pagesGONÇALVES NETO, W. CARVALHO, C.H. - Hemg - Volume - 3 - Republica PDFBrunoNo ratings yet
- EriDocument28 pagesEriFernando SilvaNo ratings yet
- História Do Povo GhawazeeDocument2 pagesHistória Do Povo GhawazeeNayara S. Nunes100% (1)
- Semana de Arte ModernaDocument4 pagesSemana de Arte ModernadryZer100% (1)
- Multiculturalismo e DiversidadeDocument7 pagesMulticulturalismo e DiversidadeSérgio CarriçoNo ratings yet
- Milton DacostaDocument112 pagesMilton DacostaLucas Teles IanniNo ratings yet
- Alan Moore - Como Escrever Estórias em QuadrinhosDocument35 pagesAlan Moore - Como Escrever Estórias em Quadrinhosapi-3801499100% (4)
- Biancogres 2019Document149 pagesBiancogres 2019Alain MagalhãesNo ratings yet
- Textoarteindigena 1Document1 pageTextoarteindigena 1Adriano Sousa CostaNo ratings yet
- 1revisão Final L em 20Document37 pages1revisão Final L em 20Murilo GabrielNo ratings yet