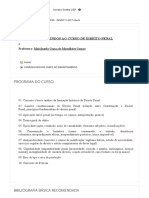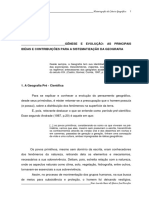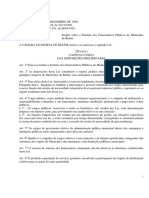Professional Documents
Culture Documents
Filosofia Moral, Manual Introdutóriob
Uploaded by
qscxCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Filosofia Moral, Manual Introdutóriob
Uploaded by
qscxCopyright:
Available Formats
FILOSOFIA
MORAL
MANUAL INTRODUTIVO
'aterial com direitas autorais
Ttulo original
Filosofia morale Manuale introduttivo 1999 Edizioni
Angelo Guerini e Associati SpA viale Filippetti, 28
20122 Milano ISBN: 88-7802-986-6
PREPARAO: Albertina P. Leite Piva DIAGRAMAO: Miriam
de Melo Francisco REVISO: Rita de Cssia M. Lopes
Edies Loyola
Rua 1822 n 347 - Ipiranga
04216-000 So Paulo, SP
Caixa Postal 42.335 - 04218-970 - So Paulo, SP
<.: (0**11) 6914-1922
^:(0**11) 6163-4275
Home page e vendas: www.loyola.com.br
Editorial: loyola@loyola.com.br
Vendas: vendas@loyoIa.com.br
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra
pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma eSou
quaisquer meios (eletrnico ou mecnico, incluindo fotocpia
e gravao) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de
dados sem permisso escrita da Editora.
ISBN: 85-15-02826-3
EDIES LOYOLA, So Paulo, Brasil, 2004
Mate-ial com direitos autorais
5
SUMRIO
INTRODUO ......................................................................................... 9
PRIMEIRA PARTE
TEORIA
CAPTULO PRIMEIRO; A TICA E O SEU OB1ETO .............................................. 19
1. Questes terminolgicas e definidoras ........................................... 19
2. Moral, imoral e no moral ................................................................ 21
3. A evoluo histrica da moralidade ................................................ 23
CAPTULO SECUNDO: A TICA DESCRITIVA ...................................................... 27
1. A tica e o papel das cincias humanas e sociais .......................... 27
2. tica, psicologia e cincia cognitiva ................................................ 29
3. tica e desenvolvimento moral .....................................................
11
CAPTULO TERCEIRO: A METATICA .............................................................. ... 35
1. A "guinada lingstica" ..................................................................... 35
2. Linguagem moral e linguagem comum ........................................... 36
3. Os termos morais ............................................................................ 37
4. O problema do significado ............................................................... 40
CAPTULO QUARTO: A ESTRUTURA TEORTICA DA TICA NORMATIVA . 47
1. As duas formas fundamentais de teoria tica ................................. 47
2. ticas teleolgicas ........................................................................... 50
3. ticas deontolgicas ....................................................................... 52
4. A doutrina do "duplo efeito" ....................................................... 57
5. A inteno ....................................................................................... 59
CAPTULO QUINTO: Q PROBLEMA DO FUNDAMENTO ..... ........ ................... ... 63
1. Consideraes gerais ...................................................................... 63
6
2. O raciocnio de Scrates .................. .............................................. ... 64
3. Ontologia e gnosiologia em tica .................................................... 66
CAPTULO SEXTO: AS VIAS DO FUNDAMENTO ............................................... 69
1. O supernaturalismo ......................................................................... 69
2. O naturalismo .................................................................................. 71
3. Outras formas de naturalismo ......................................................... 74
4. O reducionismo e o problema da autonomia da tica ..................... 77
5. O no-naturalismo ........................................................................... 78
CAPTULO STIMO: O NO-COGNITIV1SMO ..................................................... 83
1. Realismo, cognitivismo e no-cognitivismo ..................................... 83
2. A "lei de Hume"... ............................................................................ ... 85
3. Objetivismo e subjetivismo em tica ............................................... 89
4. O relativismo .................................................................................... 95
CAPTULO OITAVO: OS "PRECONCEITOS" TEORT1COS EM TICA ........... 99
1. A antiteoria ...................................................................................... 99
2. O preconceito antropocntrico ........................................................ 102
3. O preconceito de gerao ............................................................... 105
4. O preconceito sexista ...................................................................... 108
SEGUNDA PARTE
HI STRI A
CAPTULO NONO: AS ORIGENS .................................................................... 1 13
1. A moral entre mito, poesia e textos sagrados ............................ 113
2. O primeiro milnio a.C. no longnquo Oriente ............................ 115
3. O primeiro milnio a.C. no Oriente prximo ............................... 117
CAPTULO DCIMO: A TICA GREGA ............................................................. 119
1. Caractersticas gerais ...................................................................... 119
2. Os sofistas ....................................................................................... 120
3 Scrates e Plato ............................................................................. 123
4. Aristteles ........................................................................................ 125
Material ce~i aireiics -.utor
Material com direitos autorais
7
5. Estoicismo e epicurismo ................................................................. 132
6. Os desenvolvimentos da tica grega .............................................. 135
CAPTULO DCIMO PRIMEIRO: A TICA CRIST ........................ ..................... 139
1. O cristianismo e a herana grega ................................................... 139
2. Santo Agostinho .............................................................................. 141
3. De santo Agostinho a santo Toms ................................................ 144
4. Santo Toms ................................................................................... 147
5. Os desenvolvimentos da filosofia crist .......................................... 152
CAPTULO DCIMO SEGUNDO: A TICA NA POCA DA SECULARIZAO .. 157
1. Referncias histricas ..................................................................... 157
2. O jusnaturalismo moderno .............................................................. 159
3. Descartes e Spinoza ....................................................................... 162
4. O lluminismo europeu e |ean-|acques Rousseau ........................... 164
5. Emanuel Kant .................................................................................. 167
CAPTULO DCIMO TERCEIRO: A TICA INGLESA
NOS SCULOS XVII E XVIII ........................... 175
1. Hobbes e Locke .............................................................................. 175
2. As teorias do "sentido moral" .......................................................... 179
3. David Hume .................................................................................... 183
4. O utilitarismo e os seus desenvolvimentos ..................................... 185
CAPTULO DCIMO QUARTO: A TICA NO SCULO XIX ................................. 195
1. O idealismo alemo ........................................................................ 195
2. Schopenhauer, Nietzsche e a tica dos valores ............................. 198
3. O positivismo europeu e a tica evolucionista ................................ 201
CAPTULO DCIMO QUINTO: O PANORAMA DA TICA NO SCULO XX .............. 205
1. Consideraes gerais ..................................................................... 205
2. A primeira metade do sculo: neo-idealismo,
pragmatismo e existencialismo ....................................................... 206
3. A psicanlise ................................................................................... 210
4. O lugar da razo em tica ............................................................... 212
5. lrgen Habermas e a tica do discurso .......................................... 213
6. O neocontratualismo ....................................................................... 214
7. A sociedade justa de Rawls ............................................................ 216
8. O prescritivismo universal de Hare ................................................. 218
9. As ticas dos direitos ...................................................................... 220
CAPTULO DCIMO SEXTO: A TICA APLICADA ..................................................... 223
1. O nascimento da tica aplicada ...................................................... 223
2. tica dos negcios e das profisses ............................................... 225
3. tica do ambiente ............................................................................ 227
4. tica para os animais no humanos ............................................... 231
5 A biotica .......................................................................................... 232
Material com direitos autorais
8
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 249
INTRODUO
s filsofos moralistas costumam dizer que a disciplina deles
se ocupa de problemas morais de "segundo nvel". Os
problemas morais de "primeiro nvel" so aqueles com os
quais todos ns estamos ou poderamos estar comprometidos em
nossa concreta experincia moral. Por exemplo, fazemos muitas
vezes juzos morais sobre pessoas ou aes, sobre prticas sociais
(como a poltica fiscal do governo ou a questo do aborto), ou sobre
ideais de vida. s vezes, esses juzos diferem dos de outras
pessoas, e pode acontecer de nos envolvermos numa discusso
com os outros na qual exigimos, ou exigem de ns, que se
justifiquem os juzos, ou seja, que se ofeream razes convincentes
pelas quais fizemos certa avaliao. Pode se dar tambm o caso de
o juzo no se referir ao que j aconteceu, mas dizer respeito a uma
escolha que devemos fazer; tambm nesse caso sentimos s vezes
a necessidade de justificar a ao que estamos por realizar.
Naturalmente isso no acontece sempre, uma vez que, em geral, o
cdigo moral e os modelos de comportamento que adquirimos
mediante os usuais processos educativos permitem que nos
orientemos de modo satisfatrio na vida moral comum. H ocasies,
porm, em que ficamos em dvida sobre o que a moral exige seja
feito. Pode ser que as circunstncias especficas do caso sejam tais
que no fica
O
FILOSOFIA MORAL
M?.!enal com direitos autorais
9
claro para ns qual das possveis condutas convm mais a nosso dever.
Pode acontecer tambm de no conseguirmos identificar exatamente que
dever temos naquele caso. ou de as modalidades de cumprimento do dever,
no caso especfico, darem lugar a conseqncias que nos parecem
contradizer outros nossos deveres ou crenas morais. Enfim, pode se dar o
caso (para sorte nossa, muito raro) em que nenhuma das possveis
solues indicadas pela moral comum consiga salvar todos os valores em
jogo, e a escolha, que. alis, pode ser inevitvel, parea ameaar nossa
prpria integridade moral.
Em todos esses casos (cuja freqncia, convm reafirmar, no deve
ser exagerada) as pessoas podem se ver desenvolvendo um trabalho de
reflexo "moral" com o qual o trabalho do filsofo que podemos chamar
de reflexo "tica" (no captulo primeiro, 1, vamos esclarecer o uso desses
adjetivos) est em continuidade direta, ainda que seja, como se dizia,
num segundo nvel. Se a reflexo moral comum diz respeito ao que fazer
aqui e agora, a reflexo tica procura responder s mesmas perguntas, mas
de forma mais geral e abstrata ("o que, em geral, se deve fazer e por qu?)
e com instrumentos conceituais mais refinados, elaborados no decurso da
longa histria dessa disciplina. O filsofo examina, por exemplo, a natureza
do raciocnio moral e o significado dos termos usados e se pergunta o que
significa justificar um juzo moral ou uma ao moral; indaga a natureza dos
mtodos de justificao para eventualmente estabelecer quais so
apropriados e quais no o so e de que, em ltima anlise (ou seja, no nvel
do ltimo fundamento), depende a validade deles. Nessa linha, chega tam-
bm (sobretudo em perodos de grandes mudanas) a levar em
considerao at mesmo os cdigos morais para verificar criticamente seus
pressupostos, a estrutura e os valores que eles incorporam, para ver se so
adequados s mudanas a que as sociedades humanas esto sempre
sujeitas e se oferecem respostas plausveis a essas mudanas; as quais,
por sua vez, s vezes, derivam do surgimento de situaes que
anteriormente estavam fora do controle humano (por exemplo, as
possibilidades que hoje nos oferecem os desenvolvimentos da pesquisa
cientfica no campo da biologia) e, portanto, no punham o problema de "o
que fazer".
O ponto de partida da reflexo tica , pois, a experincia moral
INTRODUO
com direitos autorais
10
concreta, e as teorias ticas tm sentido como reflexo (precisamente por
isso, de "segundo nvel") da prtica individual do raciocnio mora!, que visa
justificar aes e juzos, e da prtica social da discusso pblica sobre os
problemas morais. O ponto de chegada matria de controvrsia: para
alguns, o filsofo moralista deveria se abster de oferecer solues para os
problemas morais, limitando-se a um trabalho de esclarecimento conceituai,
ou, no mximo, apresentando e analisando os argumentos pr e contra as
diversas solues que o problema possa ter; para outros, porm, isso seria
apenas um ftil exerccio intelectual, uma vez que o objetivo da tica
precisamente o de orientar e guiar a ao. H boas razes contra e a favor
de cada uma das duas perspectivas e provavelmente a verdade esteja no
meio: de um lado, no provvel que o filsofo examine um problema moral
com a mesma indiferena e desinteresse com que examinaria, por exemplo,
um problema de lgica simblica: de outro, a finalidade diretiva da tica no
comporta certamente que o filsofo assuma o papel do moralista ou do
pregador, ou seja, de quem se prope recomendar e promover a
observncia de um certo cdigo moral ou at de dizer ao povo o que deve
ou no deve fazer, em casos concretos e especficos.
Este trabalho tem a proposta de apresentar ao leitor um mapa
sistemtico e, quanto possvel, completo dos modos como os filsofos
moralistas enfrentaram os tipos de problema acima lembrados e dos
resultados aos quais eles chegaram com suas pesquisas,
no decurso da longa histria desse setor da filosofia.
A estrutura expositiva do livro est dividida em duas partes. primeira
delas, intitulada simplesmente "Teoria", refere-se em particular a imagem do
mapa sistemtico acima usada. A esse propsito bom frisar que no se
tem a pretenso de que a primeira parte do livro constitua uma exposio
exaustiva da estrutura terica da tica, ou, como s vezes se diz hoje, da
"epistemologia" da tica. Em geral, a epistemologia a doutrina do
conhecimento (do
FILOSOFIA MORAL
..* starig! com direitos autorais
11
grego episteme - cincia, e logos - discurso) e sua tarefa a de estudar
o modo como se estruturam os diversos campos do saber do ponto de vista
de seus instrumentos lingsticos e conceituais, das metodologias de
pesquisa e dos instrumentos de prova e de verificao admissveis. Falar,
portanto, de uma epistemologia da tica implicaria oferecer uma definio da
disciplina, indicar seu mbito de competncia e determinar seus mtodos
caractersticos de pesquisa; em essncia, significaria assumir um especfico
ponto de vista, ao passo que nossa tarefa de responder pluralidade dos
pontos de vista. Realmente, embora tenha estado muitas vezes presente no
debate contemporneo a exigncia de que tambm a tica tenha uma sua
estrutura epistemolgica bem definida, as solues que se apresentam so
de tal forma dspares que a simples tentativa de reduzi-las a um
denominador comum teria significado excluir setores inteiros da pesquisa
tico-filosfica.
Pode-se acrescentar tambm que a ausncia de uma estrutura
epistemolgica bem precisa e unvoca, ou, pelo menos, amplamente
partilhada, no um grande mal; tambm a filosofia no seu todo procura h
mais de dois mil e quinhentos anos ter uma estrutura epistemolgica
definida, mas o fato de no a ter encontrado no foi grande empecilho para
seu desenvolvimento. Pelo contrrio, os riscos maiores para o pleno
florescimento da pesquisa filosfica verificaram-se quando um estilo
filosfico (ou uma concepo do que a filosofia) tentou ou conseguiu se
impor, felizmente por breves perodos, como o nico estilo admissvel.
Todavia, a tarefa, mais modesta, que a primeira parte do trabalho
pretende realizar a de expor a articulao interna do pensamento tico em
seus aspectos formais e estruturais, com o objetivo primrio de oferecer ao
leitor uma espcie de vocabulrio bsico dos termos e dos conceitos usados
nas teorias ticas e nos discursos morais. Para retomar a imagem do mapa,
digamos que as noes que vamos identificar e ilustrar nesta parte do livro
devem ser entendidas como cartazes indicadores dos grandes rumos de
pensamento assumidos pelas teorias ticas; os resultados especficos a
que, ao longo desses rumos, as teorias ticas chegaram, em termos de
contedo, sero objeto da segunda parte do trabalho.
Vejamos agora a segunda parte do livro, que se intitula "His-
tria" e pretende apresentar a histria da filosofia moral do ponto de
vista dos contedos. O leitor ver logo, todavia, que o mtodo
INTRODUO
12
Material com direitos autorais
expositivo apenas em parte cronolgico e, de resto, aspectos de
natureza histrica esto contidos tambm na primeira parte, so-
bretudo no caso de correntes ou filsofos do sculo XX que se
destacam no tanto pelos contedos de suas doutrinas quanto pelos
aspectos teorticos.
A histria da tica ser exposta aqui em linhas essenciais e nos
momentos mais relevantes do ponto de vista teortico. Com efeito,
basta ver o volume que tm algumas das poucas histrias da tica
que se encontram na Itlia (Bourke, i972; Rohls, 1995) para
compreender por que foi descartada logo a idia de dar espao a
todos os filsofos que construram e defenderam teorias ticas; pro-
vavelmente surgiria uma espcie de galeria de personagens e de
informaes, freqentemente repetitivas (e s vezes, infelizmente,
no se pde evitar isso), que teria impedido de perceber a emergn-
cia das estruturas fundamentais do pensamento tico. Preferiu-se,
portanto, renunciar a uma impossvel (e, afinal de contas, intil)
completude, para privilegiar a possibilidade de dar o sentido da
continuidade no tempo dos principais modelos de pensamento tico,
com a percepo das mudanas paradigmticas, ou seja, as que
determinam as linhas de desenvolvimento nas quais, pelo menos por
um certo perodo, se desenvolveu a pesquisa tica.
A esse propsito importante ressaltar um ponto. Como se
disse, as teorias ticas partem da vida moral concreta e tematizam,
portanto, ainda que num nvel mais abstrato e geral, o mesmo tipo de
perguntas que homens e mulheres, nas diversas pocas e culturas,
se fizeram e se fazem em sua conduta prtica. claro, portanto, que,
embora no nvel de abstrao que se destina a uma pesquisa
filosfica, a tica tem sempre como ponto de referncia as mudanas
da vida moral e. por sua vez, induz mudanas, mesmo com o nico
feito de legitimar filosoficamente as novas respostas que s vezes o
povo d aos problemas morais concretos. Isso significa que uma
histria da tica no pode ignorar a natureza dessas
FILOSOFIA MORAI.
13
Material co~* direitos autorais
mudanas; mas, ao mesmo tempo em que busca identificar as formas
histricas que essas mudanas assumiram nas vrias pocas e nas vrias
culturas, deveria fazer pesquisa nas obras dos literatos, dos juristas, dos
historiadores etc., mais que nas dos filsofos (Sichirollo, 1985). Por certo
no era possvel desenvolver esse trabalho num texto como este. Limitamo-
nos a apresentar, quando necessrio e de modo sumrio, as mudanas das
diversas pocas, aquelas em que a mudana do quadro histrico . por
assim dizer, macroscpica e determina alteraes no quadro terico,
induzindo os filsofos a encontrar novas respostas ao problema de qual o
contexto terico mais adequado para a interpretao das mudanas reais.
Naturalmente no se deve pensar numa mecnica correspondncia entre
mudanas reais e mudanas teorticas. Trata-se de processos muito lentos,
dificilmente perceptveis a quem os vive por dentro: afinal de contas, a
grandeza de um filsofo consiste tambm na sua capacidade de perceber
antes dos outros a natureza das mudanas e em saber not-las, muitas
vezes precedendo a lenta maturao dos tempos.
Temos, enfim, de deixar claro um ltimo ponto. A parte histrica abre-
se com um captulo dedicado s grandes tradies morais, muitas vezes
com fundamento religioso, que informaram, e substancialmente ainda
informam, a moralidade como forma concreta de vida de uma grande parte
da humanidade. Essas referncias, muito raras, servem apenas para
convidar o leitor a levar seriamente em considerao a idia de que o
mundo dos homens e das mulheres no se exaure na parte dele em que por
acaso nos foi dado nascer e viver. Isso em segundo lugar tem uma
particular importncia para os estudantes do curso de licenciatura em
cincias da educao, que em seu currculo j enfrentam as temticas
abrangidas pelo nome de pedagogia intercultural (Sirna, 1997), uma nova
disciplina destinada a aproximar os futuros educadores de uma realidade
agora inevitvel, ou seja, o fato de que ns vivemos em sociedades que so
agora e mais ainda no futuro sero pluritnicas e multiculturais. Uma ao
educativa que ignorasse ou subestimasse isso correria o risco de separar-se
mais ainda da realidade social.
Poderia parecer em contraste com o que foi dito o fato de que,
em nossa reconstruo histrica, haja um captulo dedicado aos
desenvolvimentos filosficos da tica crist, ao passo que nada do
gnero acontea com as outras tradies morais. Isso depende, em
FILOSOFIA MORAL
14
Material com direitos autorais
parte, dos limites de espao impostos a um texto como este e, em
parte, da pouca competncia no assunto por parte de quem escreve:
enfrentar a filosofia oriental (que existe e que, em certas pocas,
influenciou a filosofia ocidental) e identificar nela uma parte
especificamente dedicada tica teria provavelmente significado
aplicar a ela os esquemas de pensamento prprios da filosofia
ocidental, com o risco de mal-entendidos e equvocos.
Dirige-se o livro principalmente aos estudantes que, em seu
plano de estudos, tm pela frente a filosofia moral e aos docentes
dessa disciplina que muitas vezes so obrigados a dedicar a primeira
parte do j reduzido tempo didtico a uma ilustrao sumria das
noes bsicas da filosofia moral. Esse objetivo didtico levou-nos a
no tornar pesada a exposio com a citao das numerosas notas
que teriam sido necessrias; indicaremos, porm, as fontes
principais na seo "Bibliografia", qual poder recorrer quem
eventualmente se sentir estimulado pela leitura do livro a aprofundar
as questes tratadas. Onde possvel, deu-se preferncia s obras
acessveis ao leitor brasileiro e nas quais se oferecem mais
informaes bibliogrficas.
O autor, todavia, alimenta tambm a esperana de que o livro
possa servir a um pblico mais amplo que queira ter os primeiros
instrumentos para se orientar no debate tico atual. Muitos notam
hoje um renascimento do interesse pela tica que inclusive por
causa da complexidade e s vezes novidade dos problemas que se
nos apresentam, por exemplo, no campo da medicina e da pesquisa
cientfica parece envolver um pblico cada vez mais vasto e aten-
to, que deseja entender para ser capaz de formar a prpria opinio e,
no caso, de assumir com maior conscincia as prprias decises.
Naturalmente, o estudo da tica no faz os homens melhores e,
de resto, todos ns conhecemos pessoas moralmente ntegras que
jamais leram um livro de filosofia moral. Aristteles, no final de uma
das obras mais importantes da histria da tica, j se perguntava se os
raciocnios filosficos sobre coisas como a virtude, a amizade e o prazer
eram "suficientes para nos tornar pessoas de bem", se isso fosse verdade,
conclua ele, ento os raciocnios "trariam muitas e grandes recompensas e
INTRODUO
'aterial com direitos autorais
15
seria necessrio fazer proviso deles (Aristteles, 1983, p. 269). E,
recentemente, alguns filsofos chegaram at a dizer que a filosofia faria
melhor em se abster de construir teorias ticas que, alis, ao querer pr
ordem na matria tratada, so sempre excessivamente simplificadoras e
no conseguem quase nunca perceber internamente a complexidade e
heterogeneidade da experincia moral concreta. Isso pode ser verdadeiro,
mas seria errneo concluir da que o trabalho terico seja apenas um jogo
intelectual totalmente privado de relao com a prxis social, na qual todos
ns nos encontramos envolvidos e na qual s vezes nos encontramos
diante de problemas aos quais o senso comum d respostas insatisfatrias.
Que ajuda podemos ento esperar da filosofia sempre que
sentirmos sua necessidade para nossa vida moral concreta? O quadro
delineado por este livro no parece encorajador: h uma ampla discrdia
sobre grande parte das questes que pertencem tica. Poderamos ento
dizer que no tanto uma especfica teoria tica quanto o prprio
empreendimento da reflexo tica em seu todo podem nos ajudar na difcil
tarefa de viver conscientemente nossa vida moral.
PRIMEIRA PARTE
TEORIA
CAPTULO PRIMEIRO
A TICA E O SEU OBJETO
I. Questes terminolgicas e definidoras
este trabalho, os adjetivos tico e moral sero usados de maneira
quase equivalente, com certa prevalncia para o primeiro, quando
nos referirmos a aspectos formais e teorticos da disciplina
N
TEORIA
20
Material com direitos autorais
(falaremos de "teorias ticas" ou de "mtodos da tica"), ao passo que o
segundo ser utilizado de preferncia em conexo com aspectos de
contedo (uma norma ou um princpio que indiquem o que se deve ou no
se deve fazer sero em geral chamados de "norma moral" e "princpio
moral"). Esse uso justificado pela etimologia dos termos. O adjetivo tico
deriva do grego ethos, que significa costume, modo habitual de agir, hbito:
os mesmos significados tem o termo latino moralis (de mos - costume)
empregado pelo escritor romano Ccero para traduzir o termo grego, que, na
forma plural, aparecia no ttulo de duas importantes obras de Aristteles
(tica a Nicmaco e tica a Eudemo), destinadas a tratar de "coisas
referentes aos costumes, aos modos habituais de agir.
Desses adjetivos derivam os substantivos tica e moral, tambm eles
muitas vezes usados de modo equivalente na linguagem comum, mas com
vrias diferenas dependendo dos contextos lingsticos e culturais-, em
italiano, por exemplo, costumamos empregar a palavra ''moral" para falar do
comportamento concreto dos indivduos e dos grupos sociais, mas tambm
para indicar o conjunto das normas e dos princpios nos quais se inspira a
conduta e, enfim, para indicar o estudo do que se refere aos fatos morais.
No campo filosfico, tentou-se muitas vezes introduzir distines mais
precisas entre o mbito da tica e o da moral. Com freqncia, todavia,
essas distines so plenamente compreensveis somente dentro do
sistema filosfico no qual se situam, como , por exemplo, o caso da
distino introduzida pelo filsofo alemo Georg W. F. Hegel (veja-se o
captulo dcimo quarto, I) na sua Filosofia do direito entre "moralidade"
como dimenso subjetiva da conduta humana e "eticidade" como conjunto
das normas e das instituies em que se realiza objetivamente o elhos de um
povo e que culmina no Estado (Hegel, 1974); ou pressupem uma deter-
minada interpretao do desenvolvimento histrico da tica (que
obviamente no podemos pressupor aqui), como acontece no caso da
proposta de usar o termo moralidade para indicar uma particular dimenso
da tica, prpria da cultura ocidental moderna (Williams, 1987). Uma vez
que no era possvel levar em considerao essas e outras propostas
definidoras no presente trabalho seguindo, alis, um uso lingstico
bastante consolidado no debate terico , ao estudo filosfico do que
constitui o fenmeno moral ser reservado o termo tica (s vezes
A TICA E O SEU OBJETO
terial com direitos autorais
21
substitudo por "filosofia moral"), ao passo que o objeto da tica ser
genericamente indicado pelo termo moralidade, s vezes substitudo por
moral em contextos nos quais esse substantivo seguido de especi-
ficaes, como, por exemplo, "a moral dos gregos" ou "a moral de senso
comum.
No h uma especial razo para adotar essa terminologia seno a
simples exigncia de indicar o modo como um termo ser usado, sem
precluses preconceituosas a respeito do que entra na constituio da tica
ou da moralidade. por essa razo que evitamos formular ou adotar
definies mais precisas. As definies so convenes lingsticas que
servem para traar fronteiras, a ponto de identificar o fenmeno de que
se quer falar, separando-o de outros fenmenos: mas no nosso
campo essa exatamente a primeira questo controversa, uma vez
que o prprio fenmeno de que nos ocupamos (seja ou no
chamado de moralidade) que escapa a uma precisa determinao,
tanto no plano teortico como no plano histrico.
2. Moral, imoral e no moral
Consideremos a afirmao "esta uma ao moral". Ela pode
ser entendida de dois modos. O primeiro que com ela como
acontece usualmente na linguagem comum se quer exprimir uma
avaliao positiva da ao (em caso contrrio teramos dito "imoral"),
usando, pois, moral como equivalente a "certo ou bom do ponto de
vista da moralidade". Esse uso no est errado, mas evidente que
pressupe como j resolvido o problema prioritrio de saber por que
essa determinada ao cai no mbito da moralidade.
Existe, com efeito, um segundo modo de entender essa ex-
presso e com ele se quer simplesmente dizer que aquela ao
pertence ao mbito da moralidade e, por isso, susceptvel de ser
avaliada do ponto de vista moral, avaliao que poder, alis, ser
positiva ou negativa; com efeito, a tica se ocupa tanto da virtude
como do vcio, do bem como do mal. O contrrio de moral usado
neste segundo modo "no moral", que no quer dizer "negativo do
TEORIA
22
Material com direitos autorais
ponto de vista moral", mas simplesmente "no pertencente ao mbito
do que moral".
possvel identificar um critrio unvoco que nos permita
identificar o fenmeno moral como objeto de considerao da tica?
A resposta a essa pergunta negativa. Quase todas as teorias
ticas pressupem algum critrio, e isso no estranho porque, na
realidade, toda a histria da tica poderia ser reconstruda com base
nas respostas dadas a essa pergunta.
Por exemplo, a uma teoria, que sustentasse que em moral
temos de lidar com normas ou princpios relativos a condutas que
TEORIA
' c" direitas autorais
23
tm conseqncias sobre os outros, uma outra teoria poderia objetar
que isso deixa de fora toda uma rea da moralidade que diz respeito
interioridade da pessoa ou, como se diz, os deveres para consigo mesmo;
e, s duas, uma terceira teoria poderia fazer a observao de que, alm das
obrigaes para com os outros e para consigo mesmo, existem tambm as
obrigaes para com a divindade. s vezes se afirma que, para identificar o
mbito do que moral, pode-se fazer referncia a um elemento subjetivo,
ou seja, particular importncia que as pessoas anexam a certas condutas
prticas ou normas ou valores. Essa importncia acompanha a conscincia
de se sentir algum obrigado a um cumprimento, ao passo que a
transgresso gera sentimentos de culpa ou de remorso. A idia descreve
sem dvida uma experincia que todos ns podemos encontrar, mas
difcil assumi-la como critrio geral, pois faz referncia a elementos
subjetivos que no so susceptveis de grandes variaes de indivduo a
indivduo, para no falar da variedade entre indivduos pertencentes a
diversas culturas ou sociedades. Nem podemos nos livrar do embarao
dizendo que o domnio do que moral assim identificado corresponde
objetivamente ao que, nas diversas pocas e nas vrias culturas, foi sentido
como tal.
Com efeito, claro que essa reposta apenas parcialmente satisfatria.
Ficaria sempre a pergunta: sentido por quem? Por toda a sociedade, pela
maioria de seus membros, ou pela classe dominante? De fato, no parece
plausvel pensar que tenham existido ou existam sociedades to unitrias
internamente que se possa afirmar com segurana que esses critrios
subjetivos acabem por coincidir com os critrios objetivos em base dos
quais considerar uma certa conduta, ou norma, ou princpio, como
pertencente ao mbito da moralidade e, portanto, susceptvel de apreo ou
de reprovao moral. Se isso fosse aceitvel, seria muito difcil explicar a
prpria evoluo das formas de vida moral, em que a inovao e o
desenvolvimento so muitas vezes gerados por poucos indivduos cujo
sentimento no era evidentemente conforme com o sentimento comum.
Um modo diferente de resolver o problema pode ser o seguinte.
No se deve exagerar o alcance das variaes subjetivas e objetivas
em referncia distino entre moral e no moral. Essas variaes
existem, sem dvida alguma, como nos ensinam as pesquisas
TEORIA
24
Material com direitos autorais
histricas e scio-antropolgicas, mas as mesmas pesquisas
mostram que essas variaes acontecem num campo cujas frontei-
ras poderiam ser traadas com o recurso a uma srie de prticas
que se mostram universalmente importantes, como a disponibilidade
para com os outros, a sinceridade, a manuteno dos acordos, o
no-matar, e assim por diante. Essa tese uma verso moderna de
uma antiga teoria, segundo a qual todo homem possui por natureza
algumas noes morais e ns podemos identific- las ao
recorrermos ao "conselho das gentes". Embora atualizada, com base
nas pesquisas antropolgicas que fizeram tal "consenso assumir
uma dimenso transcultural, essa tese nos oferece uma boa
indicao de princpio, mas no pode funcionar como critrio unvoco
para distinguir a rea das prticas que pertencem moral da de
outras prticas moralmente neutras ou indiferentes. Para nos darmos
conta disso, procuraremos agora oferecer uma caracterizao
descritiva da evoluo da moralidade, recomeando da etimologia.
Como foi observado, uma palavra no se livra jamais do modo como
se formou: a idia originria permanece, a despeito das mudanas,
das ampliaes e dos acrscimos de significados.
3. A evoluo histrica da moralidade
Numa poca que se pode situar h cerca de dez ou doze mil
anos, o gnero humano comeou a passar de formas de existncia
migratria a formas associativas suficientemente estveis num dado
territrio. Nas condies primitivas, uma vida associativa estvel re-
quer grande coeso interna do grupo e , portanto, aceitvel pensar
que modelos de comportamento espontaneamente formados em
relao aos fins fundamentais da comunidade tenham sido pouco a
pouco consolidados, tornando-se usos, costumes e hbitos par-
tilhados que diziam respeito aos mais importantes, mas tambm aos menos
importantes, aspectos da vida associada. A moralidade, como forma
concreta da vida associada, constituda pelo conjunto das regras e das
representaes dos valores do grupo, desenvolveu-se com base no desejo
A TICA E O SEU OBJETO
aterial com direitos autorais
25
de manter e defender costumes sociais importantes, necessrios para a
consecuo do equilbrio social interno e da defesa externa. As prescries
que visavam impedir as violaes dos costumes possuam uma especial
autoridade, proveniente de sua importncia social, mas ulteriormente
reforada pelo fato de fazer provir de uma fonte divina essa autoridade. Nas
origens, as estruturas da moralidade estavam estreitamente entrelaadas
com as estruturas sociais e polticas e com as experincias religiosas,
constituindo um todo unitrio que, pelo menos nas culturas antigas, estava
tambm integrado a crenas gerais sobre a ordem csmica e o lugar que o
homem tem nessa ordem.
Esse carter global do fenmeno moral refletiu-se logo na prpria
estruturao terica da tica. O filsofo grego Scrates, a quem se atribui
ter dado incio reflexo tico-filosfica, punha no centro dessa reflexo a
pergunta "Como se deve viver?", que exigia o esboo de um completo e
onipresente ideal de vida. E Aristteles, que foi o primeiro grande
sistematizador da tica, situava-a na filosofia prtica, ou seja, na parte da
filosofia que se ocupa da prxis, da ao humana nas trs dimenses que
Aristteles via estreitamente entrelaadas: tica, poltica e economia. Esse
carter unitrio de aproximao aos problemas da conduta prtica (que, por
exemplo, na Alemanha, permaneceu no ensino universitrio, pelo menos at
o final do sculo XVIII) passou, a partir da poca moderna, por um processo
de "especializao" e de recproca "autono- mizao" dos mbitos. Hoje,
fazemos distino entre o mbito da economia e da poltica e o mbito da
tica e, todavia, estamos convencidos de que tambm nos dois primeiros
mbitos embora regidos por regras e por critrios internos h
problemas de natureza moral: muitas vezes, por exemplo, nos perguntamos
se determinado ato legislativo justo ou se certo modo de produzir bens
(por exemplo, fazendo as crianas trabalharem) moralmente correto.
A TICA F. O SEU OBJETO
Material corr: direitos autor
26
Mas o processo de "especializao" considerou tambm o universo
das normas, dos princpios e dos valores-, para retomar a etimologia, nem
todos os costumes e modelos habituais de conduta (como, por exemplo,
poderiam ser os relativos ao comportamento mesa ou aos modos de
cumprimentar os superiores) so igualmente importantes para a vida
associada e, portanto, nem todos passam a fazer parte do que hoje
comumente chamamos de moralidade. Isso se reflete, por exemplo, no fato
de que uma transgresso ao tipo de modelos de conduta acima lembrados
pode provocar mau humor ou mgoa, ou at desaprovao; mas, no plano
intuitivo, ns distinguimos a desaprovao por um ato de descortesia da
desaprovao por um ato "moralmente" reprovvel. difcil, porm, indicar
esse limite em abstrato: atos que at h poucos anos suscitavam uma forte
reprovao moral (por exemplo, no campo da sexualidade), hoje no a
suscitam mais e, s vezes, quem se obstina em demonstrar reprovao ou
at atitudes de discriminao em relao a certas prticas que se torna
objeto de censura.
Por outro lado, alguns hbitos de vida mostraram-se de tal modo
importantes que se pensou que a violao deles merecesse algo mais que a
simples desaprovao, ou seja, uma sano legal. O direito rene e
sanciona muitos desses hbitos, mas seu mbito no se sobrepe ao da
moralidade. As leis certamente so tambm veculo de normas de valor
moral, mas no se diz que tudo o que pertence ao mbito do que moral
deva se traduzir em leis; nem, muito menos, que o que a lei permite ou veda
se torne por isso mesmo moral ou imoral. Se, por exemplo, num pas onde o
aborto permitido por lei, uma pessoa diz: "Aquela mulher tem o direito de
abortar, mas isso moralmente errado", a sua assero perfeitamente
compreensvel, tem sentido completo. Isso torna evidente a distncia que
existe entre moral e direito (que muitos, pelo menos nas sociedades
ocidentais, consideram uma coisa aprecivel), mas tambm a dificuldade de
marcar limites ntidos entre os respectivos mbitos.
Como concluso, parece que o mbito da moralidade, em sentido
descritivo, apresenta uma grande variabilidade sob o perfil histrico e uma
certa indeterminao intrnseca ou ambigidade sob o perfil da sua
estrutura fotografada, por assim dizer, num dado momento histrico. O que
emergiu , porm, um dado importante: a tica tem que ver com um
CAPITULO SEGUNDO
27
aterial com direitos autorais
territrio que objeto de estudo de muitos outros campos do saber e,
portanto, o primeiro problema que se deve enfrentar o de identificar a que
tarefa especfica a tica se prope ao tomar como objeto a conduta humana
prtica. Comoveremos logo, nem esse problema recebeu resposta unvoca
na histria dessa disciplina. Para abord-lo, vamos partir da diviso interna
do pensamento tico segundo a distino, hoje tradicional, entre tica
descritiva, metatica e tica normativa.
TEORIA
M?.!enal com direitos autorais
28
A TICA DESCRITIVA
1. A tica e o pape! das cincias humanas e sociais
locuo "tica descritiva" estabelece, no plano terico, dois
diferentes problemas. O primeiro consiste em saber se, com
essa expresso, se quer indicar um primeiro nvel da pesquisa tica,
que vise o reconhecimento do sistema de crenas morais (normas,
princpios, valores e modelos de conduta) que os indivduos ou os grupos
sociais de fato possuem e segundo os quais conduzem em gera! sua vida, ou
se essa expresso designa uma autntica forma de tica, capaz de exaurir
totalmente as tarefas da tica. O segundo problema diz respeito relao
entre tica e as outras disciplinas ou cincias que se ocupam da conduta
humana e o papel que elas podem desempenhar na tica.
Quanto ao primeiro problema, deve-se observar que houve pocas em
que a filosofia ficou muito fascinada com o modo de proceder das cincias
matemticas e das cincias naturais, e, sobretudo, com os resultados por
elas obtidos. Assim, os filsofos foram induzidos a pensar que, se a filosofia
conseguisse imitar o modo de proceder daquelas cincias, poderia acabar
com as disputas sem fim que o panorama filosfico usualmente apresenta.
No sculo XVII, por exemplo, quando o modelo de cincia era a geo
CAPITULO SEGUNDO
29
aterial com direitos autorais
metria, era usual observar que. se no havia disputa sobre o que era o
tringulo, havia um grande desacordo sobre o que fosse o bem. Alguns
filsofos (por exemplo, Hobbes e Spinoza) afirmavam que tambm a tica
podia ser construda com base no modelo da geometria, na esperana
precisamente de poder atingir nela a mesma certeza irrefutvel que as
demonstraes geomtricas apresentavam. No sculo XIX, no mbito da
corrente do positivismo, era a cincia natural desenvolvida a partir de Galileu
que representava o modelo. Sustentava-se, ento, que nela deviam se
inspirar as outras cincias e em particular a sociologia, a qual, segundo o
pensamento do fundador do positivismo, Augusto Comte (1798- 1857), devia
fornecer as bases para a criao de uma nova moralidade adequada poca
da sociedade industrial. Enfim, na primeira metade do sculo agora findo, o
neopositivismo lgico (de que falaremos logo) chegou mesmo a excluir a
possibilidade de a tica estar entre as disciplinas capazes de produzir
conhecimentos verdadeiros, se no se reduzisse ao estudo psicolgico dos
movimentos observveis do comportamento humano ou explicao do
modo como surgem e funcionam as crenas morais.
A tica, sendo descritiva, deveria se limitar, portanto, a estudar a
moralidade nas suas concretas formas histricas, dadas em todas as
sociedades e em todas as culturas, e em seu normal funcionamento. Leva
tambm em considerao, obviamente, os valores e os fins, mas deve
entend-los como simples dados de fato, ou seja. na medida em que a
orientao aos valores representa um aspecto importante da conduta
humana social sobre o qual possvel realizar pesquisas empricas que,
como tais, excluem o recurso a juzos de valor. A sociologia, por exemplo,
leva em considerao esse aspecto da conduta humana e o estuda na sua
dinmica fatual, ou seja, considerando que o ponto de vista orientado aos
valores produz mudanas na realidade social. Mas uma pesquisa desse
gnero deve se manter num plano "avaliatrio", deixando, portanto, cair as
questes relativas ao por que se escolhem ou se perseguem determinados
valores mais que outros (Weber, 1958).
A TICA DESCRITIVA
30
Material com direitos autorais
Segundo muitos filsofos moralistas, todavia, se a tica tivesse de ser
concebida dessa maneira, ento no teria sentido mant- la como disciplina
separada, pois o trabalho que ela deveria desenvolver j desenvolvido por
muitas outras disciplinas como a histria, a etnografia, a antropologia, a
lingstica, a sociologia, a psicologia etc. No h dvida e. a respeito,
veremos um exemplo mais adiante de que essas disciplinas podem dar
uma grande contribuio tica e at se pe com fora cada vez maior, no
debate mais recente, a exigncia de dispor de boas pesquisas empricas
sobre alguns dos mais importantes problemas que a tica at agora
enfrentou de maneira puramente especulativa. Mas, de acordo com muitos,
isso no implica que ela deva acabar em sociologia moral, em psicologia
moral e assim por diante; ou deva, no mximo, ser entendida como "tcnica
da conduta humana" e utilizada para reforar a estabilidade e a coeso
interna dos grupos sociais. So certamente valores importantes em todas as
sociedades, mas quando se pergunta por que o so, ou seja, com apoio em
que razes, claro que se sai dos esquemas da tica descritiva.
2. tica, psicologia e cincia cognitiva
A psicologia pode ser sumariamente definida como o estudo dos
processos psquicos e mentais de tipo cognitivo (ou seja, referentes ao modo
como funciona o conhecimento) e de tipo afetivo (ou seja, referentes s
emoes, s paixes, aos sentimentos etc.) relativos vida e conduta
humana individual. Os filsofos deram sempre grande ateno ao
funcionamento da mente humana, s suas faculdades e ao seu modo de
operar e. especialmente em tica, freqentemente estudaram as paixes e
os sentimentos, em geral para procurar estabelecer se so ou no
impedimento ao agir moral e como possvel neutralizar seus efeitos, mas
s vezes tambm para neles fundar o prprio agir moral. Alm disso, em
muitas teorias ticas, exercem um papel importante noes como o egosmo
e o altrusmo ou como a benevolncia e a simpatia. Mas a dinmica
psicolgica a que remetem essas noes e o modo como elas influenciam a
conduta eram questes que os filsofos examinavam de modo abstrato
(referindo-se, por exemplo, a uma teoria geral da natureza humana), ou nas
quais se serviam de espordicas observaes que muitas vezes exprimiam
TEORIA
fc ^+y% | ' ritos autorais
31
mais as prprias convices pessoais sobre o que deve motivar a conduta do
que as reais estruturas motivacionais do agir.
Desde quando nasceu a psicologia cientfica, somos capazes de saber
muito mais coisas sobre esses assuntos, e hoje as pesquisas que dizem
respeito a tais aspectos valem-se tambm da aproximao "cincia
cognitiva", que constituda por um grupo de disciplinas (psicologia
cognitiva, lingstica, neurocincia, inteligncia artificial) unidas pelo objetivo
de elaborar novos mtodos cientficos e experimentais para estudar um dos
mais importantes e tradicionais problemas da filosofia, o do funcionamento
da mente humana, inclusive em seus aspectos de mais estreita competncia
da tica. Dessas pesquisas surgiram, por exemplo, resultados interessantes
sobre o modo como se formam as noes morais e sobre os tipos de
processo que dominam na formulao dos juzos morais; fizeram- se
pesquisas empricas sobre o papel da empatia (ou seja, a capacidade de
assumir o ponto de vista de uma outra pessoa), que est na base do
comportamento altrusta e que determina a capacidade dos indivduos de
aceitar os vnculos morais. Os filsofos moralistas sempre se perguntaram se
os seres humanos so de tal modo constitudos que sejam capazes de
satisfazer as exigncias da moralidade. Essas pesquisas podem nos ajudar a
compreender melhor quais vnculos psicolgicos uma teoria tica deve
respeitar para estar ao alcance dos seres humanos como realmente so.
A esse propsito, um psiclogo americano falou de um "princpio de
realismo psicolgico mnimo", segundo o qual, ao elaborar um ideal moral,
preciso fazer com que o modelo de comportamento prescrito esteja ao
alcance de criaturas como ns (Goldman, 1966). Se tentssemos aplicar
esse princpio s principais teorias ticas, no seria difcil nos darmos conta
de que elas exigem do homem comum muito mais do que razoavelmente se
deveria pretender.
A TICA DESCRITIVA
' 'aterial com direitos autorais
32
3. tica e desenvolvimento moral
Um segundo aspecto importante da relao entre teoria e psicologia diz
respeito ao elemento dinmico do comportamento moral. certo que as
nossas crenas morais comuns so condicionadas pelo contexto no qual
vivemos e do qual, no decurso do processo educativo normal, aprendemos o
conjunto dos valores e dos modelos habituais de comportamento que depois
usamos na vida cotidiana. No processo educativo que normalmente
oferecido por todas as formas de comunidades mediante a famlia, a escola,
a pertena a um credo religioso etc., o cdigo moral interiorizado por meio
de procedimentos cujas modalidades foram, por longo tempo, ignoradas ou,
pelo menos, no suficientemente analisadas pelos filsofos moralistas. E
tambm hoje, apesar dos estudos sobre que vamos logo falar, emerge de
muitas reas da pesquisa tica como lembrvamos a exigncia de
desenvolver um trabalho de pesquisa emprica mais cuidadosa sobre as
estruturas do comportamento moral e sobre o papel que os traos da
personalidade podem ter na deciso moral e, portanto, no comportamento. E
como esses traos no so estticos, ou seja, dados de uma vez por todas,
mas dinmicos, porquanto resultam do processo educativo e, todavia, em
contnua evoluo, h um forte interesse em saber como se une o
desenvolvimento moral com o desenvolvimento psicolgico e cognitivo mais
geral. Pioneiro nesse campo de estudos foi o psiclogo suo lean Piaget,
que, j em 1932, publicou um estudo (O juzo moral na criana) em que
distinguia duas grandes fases do desenvolvimento moral. A primeira fase
marcada por um comportamento moral centralizado na noo de "respeito
pelo adulto, em quem a criana deposita confiana: uma moral da
obedincia s ordens, e a noo de bem se identifica com a execuo das
ordens. O respeito pela autoridade do adulto uma mescla de afeto e de
temor e constitui a base da conscincia moral, cuja forma autnoma comea
a se desenvolver a partir dos sete, oito anos, no contexto de um processo de
socializao cada vez maior dos comportamentos. Com efeito, no mbito
da comunidade infantil e do jogo que a criana comea a desenvolver o sen-
timento das obrigaes recprocas e a idia do agir com base em regras por
responsabilidade e no por coero, iniciando assim um processo de
conquista da independncia do juzo moral, estreitamente conexo com o
processo de aperfeioamento das habilidades cognitivas a respeito das quais
A TICA DESCRITIVA
7 ! C;Y. autorais
33
Piaget oferece uma srie de interessantes consideraes (Piaget, 1980).
Os estudos de Piaget e da sua escola foram depois retomados e
aprofundados, a partir dos anos 1960, pelo psiclogo americano Lawrence
Kohlberg, e foi sobretudo graas a esses estudos que as questes do
desenvolvimento moral entraram no debate tico atual. O interesse por esse
tipo de estudos testemunhado, por exemplo, pela ateno que a eles
dedica o filsofo lohn Rawls na parte final de Uma teoria da justia (1971), livro
sobre o qual teremos ocasio de voltar, em que ele mostra como os
processos de aquisio do sentido de justia, por parte dos membros da
sociedade, so essenciais e devem, por isso, ser atentamente estudados
estabilidade de uma sociedade bem ordenada.
Os estudos de Kohlberg foram depois amplamente utilizados no
contexto de uma recente e interessante aproximao tica por parte do
filsofo lrgen Habermas, com a sua tica do discurso (1983). Portanto,
conveniente expor brevemente suas linhas fundamentais. Kohlberg distinguiu
trs nveis do desenvolvimento moral, cada um dos quais compreende duas
fases, num total, portanto, de seis fases ou estgios. Os nveis so
chamados de pr-convencional, convencional e ps-convencional, e
constituem uma diviso mais detalhada das fases identificadas por Piaget.
No estgio 1 do primeiro nvel, por exemplo, a criana concebe a moralidade
em termos de obedincia autoridade, que tende a evitar punies, e isso
parece corresponder ao comportamento moral das sociedades primitivas. O
ltimo estgio o do pensamento moral abstrato e universalista a que
corresponde um comportamento moral autnomo, orientado pela
racionalidade e pela noo de dever. O ponto interessante, mas tambm
muito controverso e discutido, que Kohlberg estabelece no apenas um
paralelismo entre desenvolvimento psicolgico-cognitivo e desenvolvimento
moral (j identificado por Piaget), mas aprofunda essa tese sustentando que
o desenvolvimento moral e cognitivo acontece segundo um invarivel
movimento para o alto, e que os estgios so ordenados segundo uma
estrutura hierrquica, no sentido de que o estgio superior tambm o
estgio mais adequado do ponto de vista do valor dos comportamentos. O
desenvolvimento acontece por meio da aquisio da competncia em
resolver os conflitos e os dilemas morais, e isso significa que, por meio de
instrumentos de pesquisa emprica, possvel verificar em que estgio um
indivduo parou em seu desenvolvimento moral: basta estudar o modo como
TEORIA
34
Material com direitos autorais
ele enfrenta os dilemas morais. Dado o paralelismo entre desenvolvimento
cognitivo e desenvolvimento moral, dever-se-ia deduzir de tudo isso que,
assim como se fala de dficit cognitivo, dever-se-ia falar tambm de dficit
moral. Por exemplo, um adulto cujas capacidades cognitivas so iguais s de
uma criana de cinco ou seis anos, talvez no atinja o 4
o
estgio de
desenvolvimento moral. Esse um dos pontos mais controversos e
discutidos das pesquisas de Kohlberg e foi particularmente criticado no
mbito da abordagem "feminista" tica (de que falaremos no captulo
oitavo, 4). Interessa-nos aqui ressaltar que, para falar de dficit moral com
referncia, por exemplo, a quem enfrenta os problemas morais com a
aproximao prpria do 5
o
estgio (que corresponde a uma moral utilitarista)
comparado com quem os enfrenta com a aproximao do 6
o
estgio (que
corresponde a uma moral dos deveres), preciso considerar como bvio que
esse ltimo tipo de moralidade superior ao primeiro. Kohlberg, com efeito,
considera isso bvio, mas essa uma avaliao pessoal dele sobre a qual
no se pode certamente dizer que haja uma convergncia unnime no
debate tico. Em vez de se limitar a pr em destaque as dinmicas que
governam os comportamentos humanos, mediante o estudo de suas
condies psicolgicas fatuais, Kohlberg pretendeu resolver, por via
psicolgica, o problema do valor dos comportamentos morais e das ticas
que as inspiram (Kohlberg, 1981). claro, porm, que isso extrapola os
limites de uma disciplina como a psicologia.
\iHterial cor direitos autorais
35
CAPTULO TERCEIRO
A METATICA
1. A "guinada lingstica"
termo "metatica" foi cunhado pelo filsofo ingls Alfred J.
Ayer, por volta do fim dos anos 1940, para indicar o tipo de
aproximao tica (de que ele prprio fora protagonista)
que se desenvolvera na Inglaterra, na primeira metade do sculo XX,
no mbito de uma corrente filosfica mais geral denominada "filosofia
analtica" ou "filosofia lingstica". Como tais locues do a entender,
essa corrente sustenta que os problemas dos quais tradicionalmente
tinha se ocupado a filosofia e sobre os quais os filsofos tinham feito
pesquisas sem fim (e sem soluo) eram na realidade, sobretudo,
problemas de linguagem, criados por erros ou equvocos puramente
lingsticos e que, portanto, podiam ser resolvidos (e at desfeitos),
bastando para isso demonstrar sua insensatez mediante uma
cuidadosa anlise da linguagem (DAgostini, 1997). Em tica, essa
aproximao traduziu-se numa exclusiva ateno anlise do
significado e da funo dos termos (em especial "bom" e "correto")
usados na linguagem moral, bem como pesquisa das regras lgicas
que guiam seu uso. O objetivo era ver se, pela anlise da linguagem,
seria possvel compreender o que e como funciona a moralidade.
O
TEORIA
Material com direitas autorais
36
Na realidade, a ateno linguagem no era certamente uma novidade
na filosofia moral. Poder-se-ia dizer at que a filosofia moral comeou e
logo veremos um exemplo em Scrates com discursos centrados na
anlise do significado dos termos morais. O que se chama de "guinada
lingstica consiste (pelo menos na tica) no seguinte: os filsofos moralistas
anteriores pensavam na identificao do significado dos termos como num
trabalho preparatrio, no sentido de que consideravam que no era possvel
pronunciar discursos sensatos sobre o que certo ou bom sem primeiro ter
indagado o significado desses termos; j os filsofos analticos consideraram
que todo o trabalho filosfico em tica devia consistir na anlise lingstica e
que o filsofo moralista, como tal, devia ter uma atitude de rigoroso
desinteresse e de neutralidade com relao ao plano das avaliaes,
abstendo-se de propor ou defender esta ou aquela forma de moralidade, ou
este ou aquele princpio moral. Prometendo voltar mais tarde sobre os
desenvolvimentos que a queda desse desinteresse determinou na tica
analtica, vamos nos deter por ora na idia que est na base da especial
importncia atribuda anlise da linguagem moral.
2. Linguagem moral e linguagem comum
A tica se ocupa da conduta humana sob o aspecto segundo o qual ela
pode ser julgada certa ou errada, virtuosa ou viciosa, boa ou m e,
obviamente, no a examina em seu desenvolvimento concreto e pontual,
mas por meio das expresses lingsticas que descrevem a conduta,
avaliam-na e justificam-na. Ora, os termos usados nessas expresses
lingsticas no so especficos e exclusivos da linguagem moral. Usamos
correntemente esses termos tambm em contextos seguramente no morais,
como ao dizermos " um bom relgio este", ou "Aleixo a pessoa certa para
aquele cargo". Isso implica que a ocorrncia num juzo ou num discurso de
termos como certo ou bom no significa necessariamente que nos encon-
tramos diante de um juzo ou de um discurso de natureza moral.
Mas vale tambm o contrrio: o fato de num enunciado no aparecer nenhum
dos termos habitualmente usados nos discursos morais no por si prova
suficiente de que se trate de um enunciado no moral. Uma expresso como
"voc deixou aquela mulher morrer!" no seguramente entendida por quem
A METATICA
37
'aterial com direitos autorais
a pronuncia como a simples descrio de um evento.
Lembramos acima quo complicado distinguir entre o mbito do que
moral e do que no moral e agora podemos observar que tambm, do
ponto de vista lingstico, a moralidade se apresenta como um fenmeno
fugidio e ambguo. Esse carter de ambigidade da linguagem moral
depende do que foi chamado "multifunciona- lidade das palavras morais, e
corresponde, em geral, multiplicidade ou polifuncionalidade dos usos da
linguagem na comunicao humana. Por meio da linguagem podemos
comunicar fatos, descrever ou avaliar eventos, dirigir oraes ou fazer
exortaes, formular ordens ou exprimir sentimentos, e assim por diante.
Qual desses atos lingsticos apropriado para os discursos morais? Uma
vez que seguramente verdade que no existem especficas palavras
morais, o que acontece quando essas palavras so usadas nos contextos
morais? Essas so algumas das perguntas s quais a tica analtica
procurou responder. No poderemos falar aqui de modo pormenorizado a
respeito da grande quantidade de trabalho analtico, muito sutil e, segundo
alguns, s vezes at enfadonho que foi realizado. Deter-nos-emos apenas
nos resultados mais importantes, sobretudo para mostrar a influncia sobre
os desenvolvimentos da filosofia moral contempornea.
3. Os termos morais
Os principais termos usados na linguagem moral dividem-se em duas
categorias. O adjetivo "bom" e o seu contrrio "mau" (juntamente com outros
termos, como virtuoso, vicioso, mas tambm santo, pio, nobre e assim por
diante) classificam-se como termos "axiolgicos (do grego axios = vlido,
digno). | o adjetivo "correto" est no centro de uma srie de termos (que
compreende tambm errado, obrigao, ordem ou verbos como "deve-se")
que se definem "denticos" (do grego deon = "o que devido"). A essa distin-
o corresponde uma diferena nas funes fundamentais, ou seja, nas
tarefas caractersticas realizadas por esses termos na linguagem (Kutschera,
1991). Os termos axiolgicos tm a funo primria de exprimir avaliaes,
ao passo que os denticos tm a funo primria de exprimir prescries ou
comandos. Todos os termos podem tambm ter, em certas condies, uma
funo descritiva e, enfim (defendeu algum, mas voltaremos a isso mais
TEORIA
V ''teria! coiV; direitos autorais
38
adiante), uma funo emotiva. Procuramos esclarecer esses pontos com
exemplos muito simples, que se referem a contextos seguramente no
morais.
Suponhamos, por exemplo, que eu diga a algum: "Acabei de comprar
um bom modulador de freqncia". Suponhamos tambm que a pessoa que
me escuta no tenha nenhuma idia do que seja um modulador de
freqncia. Todavia, ela certamente entende que estou exprimindo uma
avaliao positiva, uma apreciao daquele objeto. O primeiro e fundamental
uso dos termos axiolgicos o de avaliar positivamente (ou negativamente,
se for o caso) aquilo a que se aplicam. Essa funo avaliativa intrnseca a
esses termos e se deduz isso do fato de meu interlocutor a compreender,
ainda que no saiba o que seja o objeto de que falo. Meu interlocutor poderia
depois me perguntar o que um modulador de freqncia e por que penso
que "bom", e provavelmente eu (ou um tcnico ao qual poderamos nos
dirigir) responderia, indicando as propriedades tcnicas graas s quais esse
objeto merece ser qualificado como "bom" em seu gnero. Aqui o termo bom
assume uma funo descritiva, que depende, porm, da existncia de uma
consolidada conveno acerca das propriedades tcnicas que fazem de um
objeto um bom objeto no seu gnero. Essas propriedades podem mudar com
o tempo, ainda que sempre se possam identificar padres que o termo "bom
resume. O que importante, todavia, que, se a funo avaliativa
intrnseca ao termo bom e constante, a funo descritiva adicional e no
deve ser entendida no mesmo sentido em que se diz que a proposio "a
mesa quadrada" descritiva.
O porqu facilmente previsvel: "bom pode ser tambm uma propriedade,
mas certamente no o no mesmo sentido em que "quadrado". Enfim,
podemos nos perguntar se o termo "bom tem tambm uma funo
prescritiva ou pelo menos diretiva, ou seja, se quando julgamos alguma coisa
como boa tambm a estamos recomendando. Sobre esse ponto, como, alis,
sobre boa parte do que estamos expondo, tem havido discusso, mas a tese
mais difundida que essa funo parece depender do contexto, ou seja, no
uma funo intrnseca aos termos axiolgicos. No exemplo acima fcil
argumentar que se o meu interlocutor pretende comprar aquele objeto, minha
avaliao positiva pode implicar uma recomendao. Isso particularmente
evidente nos contextos morais: se uso um dos termos axiolgicos para louvar
o estilo de vida de So Francisco, certamente no estou dizendo que
A METATICA
39
'aterial com direitos autorais
pretendo recomendar ou prescrever a mim e aos outros esse estilo de vida.
Se nos voltarmos agora para a srie de termos que tm "correto" em
seu centro, fcil ver que a funo prescritiva que deve ser considerada
como intrnseca. O termo correto, justo, significa precisamente "conforme
uma regra", e as regras servem para prescrever ou at guiar certos tipos de
comportamento. Quando dizemos " correto atravessar um cruzamento
somente quando o semforo estiver verde, estamos prescrevendo esse
comportamento a todos os que se encontram nessa situao especfica, e
isso se v bem se substituirmos "correto" por deve-se". precisamente essa
possibilidade de substituir uma locuo por outra que mostra a funo
intrinsecamente prescritiva do termo "correto" e dos outros termos denticos.
Alguns deles podem tambm ser usados em funo avaliativa, mas isso,
mais uma vez, depende do contexto e, nesses casos, podem ser substitudos
por termos axiolgicos, o que seria imprprio quando so usados em sua
funo prescritiva primria.
Poder-se-ia pensar que essas distines no so muito relevantes na
linguagem ordinria, em que termos como "correto e "bom" (mas,
certamente no, "dever) so efetivamente muito usados de modo
intercambivel. Isso, porm, no significa que o sejam e, sobretudo. no
significa que seus mbitos de aplicao sejam conside
TEORIA
* * aterial com direitas autorais
40
rados, mesmo no uso comum, totalmente equivalentes e que possam
se sobrepor. H uma expresso corrente que soa "se o fim justifica os
meios"; quando a pronunciamos, evidentemente estamos nos perguntando
se declarar alguma coisa como "boa implica que todas as aes voltadas
para a obteno dessa coisa so corretas, e claro que a pergunta
tampouco seria feita se pensssemos que "bom" e "correto" fossem
equivalentes. Enfim, preciso observar tambm que a substituio de uma
linguagem de tipo axiolgico por uma de tipo dentico no uma simples
questo terminolgica; como veremos mais adiante, muda a prpria estrutura
da tica e isso tem importncia seja no plano histrico, seja no plano terico.
Ora, em linhas gerais e salvas algumas ulteriores distines que
podemos deixar de lado, as trs funes acontecem quando esses termos
so usados no mbito moral. A discusso que se abriu na primeira metade
do sculo XX trata de dois pontos:
a) qual dessas funes deve ser considerada predominante ou
exclusiva na linguagem moral;
b) se a funo exaure ou no o significado desses termos.
Deixaremos de lado a primeira questo, at porque seria muito difcil
resumir, sem banaliz-lo muito, o sentido das inumerveis anlises que sobre
ela foram alinhavadas (Lecaldano, 1970). A segunda questo, porm, diz
respeito a uma histria de notvel interesse terico (inclusive, mas no s,
pelos seus reflexos em referncia ao modo de entender a tica) e tem em
seu centro os desenvolvimentos que, nos primeiros anos do sculo XX, se
registram no campo filosfico sobre a noo de "significado de uma palavra".
Embora sinteticamen- te, necessrio reconstruir essa histria, que tem
como principal protagonista o filsofo Ludwig Wittgenstein (1889-1951).
4. O problema do significado
A primeira e mais antiga concepo do que o significado aquela
segundo a qual o significado de um termo consiste naquilo a que ele se
refere, ou seja, o conceito expresso pelo termo ou idia a que ele remete (s
vezes se prefere indicar isso com o termo "sentido), ou o objeto real ao qual
ele corresponde. Essa concepo definida teoria referencial da linguagem e,
embora d azo a algumas objees, parece ser a mais imediatamente
A METATICA
41
Material com direitos autorais
sugerida pelo uso comum da linguagem. Essa teoria tem conseqncias
importantes com referncia a nosso problema: se o significado das palavras
consiste em serem sinais de objetos reais e, portanto, o discurso
significativo, pois s palavras correspondem objetos, ento as palavras
morais so significativas se as podemos referir a objetos reais, e o discurso
moral tem sentido porque afirma, e se afirma, alguma coisa desses objetos.
Essa era a concepo do significado que fundamentava o pensamento
do filsofo ingls George E. Moore (1873-1958), que, em 1903, publicou uma
obra (Principia Ethica) com a qual se inicia a corrente da tica analtica
(Moore, 1964). A mesma concepo (embora em bases filosficas
diferentes) encontrou depois a sua mais significativa expresso no Tractatus
logico-philosophicus (1921), de Ludwig Wittgenstein e tornou-se conhecida
como teoria representativa da linguagem. Mas as conseqncias que, com
referncia a nosso tema, os dois filsofos apresentam so radicalmente dife-
rentes. Moore sustenta que os termos morais referem-se a propriedades
reais (voltaremos mais adiante sobre essa tese) e, portanto, que as
proposies morais tm sentido porque descrevem essas propriedades, l
Wittgenstein sustenta que a linguagem moral no corresponde ao mundo,
pois o mundo constitudo de objetos, do que, ao passo que a linguagem
moral diz respeito a valores, ao que deve ser e que, portanto, no se encontra
no mundo dos objetos empiricamente observveis: de outro modo seria um
fato e no mais uma valor (Wittgenstein, 1995). A linguagem moral , pois,
"insensata e a tica eliminada do territrio dos conhecimentos
significativos. Para compreender precisamente o alcance dessa afirmao
convm citar uma passagem de uma famosa Conferncia sobre a tica feita por
Wittgenstein, em 1929, na Sociedade dos Herticos, em Cambridge:
TEORIA
Material com direitos autorais
42
Agora, diante dessa assero, vejo logo com clareza, como na luz de
um relmpago, no apenas que nenhuma descrio pensvel por mim
seria apta a descrever o que entendo por valor absoluto, mas tambm
que rejeitaria qualquer descrio significante que algum pudesse
eventualmente sugerir, ab initio, com base no seu significado. Ou seja,
quero dizer o seguinte: agora vejo como essas expresses sem sentido
eram tais no porque no tivesse encontrado a expresso correta, mas
porque a falta de sentido delas era a sua peculiar essncia. Porque,
com efeito, com elas eu me propunha justamente ir para alm do mundo,
ou seja, para alm da linguagem significante. A minha tendncia e,
penso, a tendncia de todos aqueles que jamais procuraram escrever
ou falar de tica ou de religio foi de se lanar contra os limites da
linguagem. Esse atirar- se contra as paredes da nossa priso perfeita
e absolutamente desesperado. A tica, por surgir do desejo de dizer
alguma coisa sobre o significado ltimo da vida, o bem absoluto, o
absoluto valor, no pode ser uma cincia O que diz no acrescenta
nada, em nenhum sentido, ao nosso conhecimento. Mas um
documento de uma tendncia do nimo humano que eu pessoalmente
no posso deixar de respeitar profundamente e que no gostaria
realmente, a custo da vida. de pr em ridculo (Wittgenstein, 1967, p.
18).
A observao de Wittgenstein segundo a qual a tica, como foi
tradicionalmente entendida, no pode ser uma cincia encontra imediata
correspondncia no mbito da corrente filosfica do "neopositivismo lgico,
que desenvolve uma segunda concepo do significado denominada
verificacionista. Os expoentes do neopositivismo lgico (que nos anos 1920
formaram o chamado "crculo de Viena") sustentavam que qualquer
proposio significativa somente se se pode demonstrar, mediante
oportunos processos de verificao, que ela susceptvel de ser julgada
verdadeira ou falsa. Segundo esses estudiosos, tais processos de verificao
existem para as proposies da lgica e da matemtica e para as
proposies que dizem respeito aos fatos do mundo empiricamente
observveis. Uma vez que as proposies morais no fazem parte,
obviamente, da primeira categoria nem (como tinha mostrado Wittgenstein)
da segunda, no existe nenhum processo de verificao que possa
A METATICA
43
Vaterial com direitos autorais
declar-las verdadeiras ou falsas. Portanto uma vez que o fato de
serem verdadeiras ou falsas o critrio de significao , a tica
literalmente "sem sentido", pelo menos se julgada segundo o modelo
das cincias empricas e lgico- matemticas, que esses filsofos
tendem a privilegiar como nica forma de verdadeiro conhecimento
(Hahn et ai, 1979).
A consonncia com as teses de Wittgenstein evidente, mas
alguns expoentes dessa escola perguntaram-se que tipo de funo
podem ter as proposies em que ns exprimimos avaliaes morais.
Segundo Alfred ). Ayer (1910-1989), os juzos morais servem para
exprimir as emoes de quem fala, e os termos morais tm uma
funo exclusivamente emotiva. Convm referir a esse propsito uma
passagem de Ayer:
A presena do smbolo tico na proposio no acrescenta nada ao seu
contedo fatual. Assim, por exemplo, se digo a algum "Voc agiu mal
ao roubar aquele dinheiro", no estou dizendo nada a mais do que se
tivesse dito simplesmente "Voc roubou aquele dinheiro.
Acrescentando que essa ao um mal, no fao nenhuma outra
afirmao a propsito. Simplesmente venho pr em evidncia a minha
desaprovao moral do fato. como se tivesse dito "Voc roubou
aquele dinheiro" com um particular tom de repugnncia, ou o tivesse
escrito com o acrscimo especial de alguns pontos exclamativos. O tom
de repugnncia ou os pontos exdamativos no acrescentam nada ao
significado literal do enunciado. Servem apenas para mostrar que, em
quem fala, a expresso do enunciado acompanhada por certos
sentimentos (Ayer, 1961, p. 107).
No se trata, portanto, de autnticos juzos, pois no descrevem
nada e, por isso, no tem sentido perguntar se so verdadeiros ou
falsos.
preciso ressaltar que na histria da tica j existiam concep-
es segundo as quais os juzos morais devem ser ligados ao sen-
timento de aprovao ou desaprovao: segundo Ayer, todavia,
nesses casos os juzos morais eram entendidos como uma descrio do
estado psicolgico interno de quem fala, ao passo que Ayer quer insistir
TEORIA
terial com direitos autorais
44
sobre o fato de que os juzos morais no descrevem nada, mas
simplesmente exprimem esses sentimentos.
As teses de Ayer tm dado lugar a uma concepo da tica
denominada "emotivismo", que foi desenvolvida (e tornada menos radical)
por Charles L. Stevenson (1908-1979), o qual se referia, porm, teoria
psicolgico-causal do significado da linguagem desenvolvida pelo
pragmatismo americano. Essa teoria ressaltava a funo dinmica da
linguagem, ou seja. a sua capacidade de causar certos processos
psicolgicos em quem fala e em quem escuta.
Com base nela, Stevenson sustentou que a caracterstica primria dos juzos
morais no a de descrever as crenas de quem fala ou os seus sentimentos,
mas a de exprimir e manifestar as suas atitudes e, ao mesmo tempo, de
influenciar as atitudes dos outros. Para os emotivistas, uma proposio como
"esta ao boa" significa eu aprovo essa ao e te exorto a fazer o
mesmo" (Stevenson, 1962).
Reconhece-se que o emotivismo teve o mrito de ter chamado a
ateno sobre o carter dinmico da linguagem moral e sobre o nexo entre
discursos morais, escolhas e aes. Ao mesmo tempo, todavia, se ressaltou
que esse carter dinmico interpretado pelos emotivistas de modo muito
Iimitativo, ou seja, reduzindo-o a um problema de tcnicas de persuaso e de
influncia que no permitiriam distinguir o discurso moral da propaganda ou
das diversas formas de manipulao ou de persuaso mais ou menos oculta.
Esse um modo muito limitado para entender a vida moral: se algum me
pergunta "que devo fazer?", no necessrio pensar que est pedindo para
ser influenciado ou manipulado. Para os emotivistas, alm disso, nem sequer
existe ou pelo menos no tem o significado usual que ns lhe atribumos
a experincia comum e concreta do desacordo moral: com efeito, dado
que as pessoas exprimem sinceramente os prprios sentimentos, tudo se
reduz a uma diferena de gosto moral, no a um desacordo real.
Se eu digo "o aborto uma coisa certa", e um outro diz "o aborto uma
coisa errada", essas locues eqivalem a "viva o aborto" e "abaixo o
aborto"; estamos simplesmente exprimindo os nossos
gostos moris e sobre gostos nao se deve disputar para estabele- cer quern tem razao e quem est errado
claro, enfim, que numa concepgao desse gnero nao h lugar para argumentages ou para discusses
com base em critrios racionais e sobretudo por isso (ou seja, o fato de nao atribuir razo um lugar na
tica) que o emotivismo teve urna vida muito breve na historia da tica. Depois de Stevenson, com efeito,
cuja obra principal de 1944, tem inicio um rapidssimo declnio e, logo depois da Segunda Guerra Mundial,
o prprio Ayer modifica substancialmente suas idias iniciis.
Enquanto o emotivismo vivia sua breve poca, Ludwig Wittgenstein comegava a desenvolver urna
pesquisa (que haver de se concluir com as Pesquisas filosficas, publicadas em 1953) que o teria levado a
repudiara sua concepgao anterior da linguagem como representago do mundo, de que, como haveremos
de nos lem- brar, nascia a tese da insignificancia cognoscitiva da linguagem moral, para passar a urna
teoria mais complexa, que teve profunda influencia nos desenvolvimentos da tica analtica e, mais em ge-
ral, da reflexo filosfica. Segundo essa nova teoria, o significado das palavras nao pode ser considerado
unvocamente estabelecido de urna vez por todas, como ele tinha sustentado com base na rgida
correspondencia entre linguagem e objetos do mundo, mas varia fortemente de acordo com os contextos e
os objetivos pelos quais usado e coincide com o uso que ns dele fazemos nos diversos mbitos da vida.
A linguagem agora entendida como um conjunto de diferentes "jogos lingsticos", urna nogo que
Wittgenstein introduz para indicar o conjunto da linguagem e das atividades, ou formas de vida, a que a
linguagem intrnseca e as quais as palavras assumem, pouco a pouco, um significado diferente, de
acordo com as regras prprias do jogo ou forma de ativi- dade em que sao usadas. Nao , pois, possvel,
por exemplo, esta- belecer de urna vez por todas o que significa "bom", e tampouco tem sentido tentar
analis-lo em abstrato, isolando-o do jogo (ou dos jogos) lingstico por cujas regras seu uso determinado.
H com freqncia urna "semelhanga de familia" entre os usos de urna palavra; mas se o jogo lingstico
o da moral, o significado do termo dever estar ligado as regras desse ogo, que cada um de ns aprende a
jogar na vida concreta e sobre o pao de fundo de urna forma de vida comum (Wittgenstein, 1983).
A ESTRUTURA TEORTICA DA TICA NORMATIVA
Material com direitos autorais
46
nada a ver com os fins do juzo moral. Nos nossos juzos morais concretos
apenas o caso de ressalt-lo ns, ao contrrio, pensamos que essa
afirmao tem sentido: o tipo de ao e as suas conseqncias so levados
em considerao.
Na verdade, sobre toda essa questo existem anlises sutilssimas (at
em relao ao uso dessa noo na doutrina do duplo efeito), mas a idia
central das ticas intencionalistas que o projeto adotado pelo agente tem
uma intrnseca qualidade boa ou m, que independente de como
efetivamente o projeto se realiza e das conseqncias que produz, e essa
qualidade que devemos julgar. Essa qualidade depende de toda a gama das
disposies de aptido que o indivduo adquire no decurso de sua educao
moral e algumas ticas insistem no fato de que uma vida moral digna mais
uma questo de aquisio de bons dotes de carter, ou virtudes, que uma
questo de avaliao das conseqncias ou de conformidade a deveres.
Naturalmente no se pode negar a importncia da formao de um bom
carter, que d o tom a toda a vida moral-, mas difcil pensar que a
qualidade moral da conduta prtica seja totalmente redutvel a ter um bom
carter. fcil dar-se conta de que, quando surgem problemas morais, a
prescrio "tenha boas intenes" ou "seja virtuoso" no constitui uma
grande ajuda para decidir o que devemos fazer.
CAPTULO QUINTO
terial com direitos autorais
63
O PROBLEMA DO FUNDAMENTO
1. Consideraes gerais
as pginas precedentes, examinamos a estrutura terica geral das
formas fundamentais de teoria tica e vimos como, no centro de
toda forma de tica, h o esboo de um modelo geral de conduta
correta e/ou boa. Examinaremos agora o modo como as teorias ticas
enfrentaram o problema de justificar esse modelo, ou seja, de oferecer algum
motivo pelo qual aquele modelo recomendado, sugerido ou at prescrito e
que, em geral, tambm o motivo pelo qual os filsofos pensam (com razo
ou sem ela, no importa) que as pessoas deviam adotar esse modelo.
Esse o tema que j na "Introduo" era sugerido como o fio condutor que
liga a reflexo moral comum e a reflexo tica. Estamos
aqui precisamente naquele nvel de fundamento ltimo" a que se acenava
na "Introduo" e que de competncia da tica. No se trata mais de
justificar uma ao ou um juzo relacionando-o norma ou ao princpio de
referncia ou, de qualquer modo (pois nem todas as ticas aceitam essa
forma de raciocnio moral), expondo as razes que guiaram a escolha. Trata-
se aqui de justificar todo o sistema de crenas morais que est na base da
conduta prtica, e isso requer enfrentar complexos problemas de ordem
filosfica.
Preferimos introduzir essa temtica mediante o relato do dilogo que se
trava entre Scrates e um jovem ateniense de nome Eutfron. A obra de que
tirado o relato intitula-se justamente Eulfron e um dos primeiros Dilogos
de Plato, o filsofo por cujas obras predominantemente conhecemos o
pensamento de Scrates (Plato, 1967). Alertamos que o dilogo diz respeito
ao termo "santo", que substitumos pelo termo "correto, pois no nos
interessa o contedo do discurso de Scrates, mas o tipo de raciocnio que
se desenvolve. No difcil imaginar situaes da nossa concreta vida moral
nas quais um raciocnio desse tipo poderia se dar entre duas pessoas
N
TEORIA
viaterial com direitos autorais
64
suficientemente motivadas a aprofundar as razes que esto na base da
conduta prtica.
2. O raciocnio de Scrates
Scrates encontra o jovem Eutfron quando este est se dirigindo ao
tribunal para denunciar o pai que, como diz, tinha se infamado com uma
gravssima culpa: a de ter deixado morrer de fome e de frio um escravo
culpado de ter morto, no transcorrer de uma rixa entre bbados, um outro
escravo. Naturalmente, Eutfron se d conta de estar a ponto de realizar um
ato que muitos no partilham e que j lhe criara problemas em famlia, mas
est tambm firmemente convencido de que aquela era a coisa certa a ser
feita. Eutfron, com efeito, julga saber com absoluta certeza o que certo ou
errado, bom ou mau. Scrates declara logo, com seu modo de agir irnico e
cativante devido ao qual at hoje sua figura conserva um extraordinrio
fascnio, que desejava fazer-se discpulo de um homem que possui um saber
de to grande importncia, e convida Eutfron a lhe explicar o que justo e
injusto. Eutfron comea ento a fazer uma espcie de elenco de aes
certas ou erradas, mas Scrates o interrompe logo. fazendo a observao de
que no pedira que indicasse uma ou duas das muitas aes que chamamos
de certas, mas de lhe ensinar o que em si mesma essa tal idia do certo
pela qual todas as aes certas so certas. Desse
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
AS VIAS DO FUNDAMENTO
Material com direitos autorais
75
procura evitara dor e, se pode, perseguir o prazer. diferente, porm,
afirmar que o nico movente da ao a procura do prazer, ou seja, que a
nica coisa que os homens desejam realmente o prazer. Essa tese mais
comprometedora e muitos sustentam que, mesmo do ponto de vista da
observao emprica, no corresponde nossa comum experincia em que
muitas vezes nos sentimos motivados a agir por moventes diferentes do
prazer ou a ele irredutveis. Enfim, com base no hedonismo psicolgico, foi
construdo um hedonismo tico, que consiste em afirmar que, dada a verdade
do hedonismo psicolgico, a nica coisa que para o homem bom perseguir
o prazer. Na parte histrica, voltaremos a essa tese-, limitamo-nos aqui a
observar que o hedonismo, como teoria tica, por muitos considerado
errneo, se no autocontraditrio; com efeito, se a tese psicolgica
verdadeira, no tem sentido prescrever s pessoas que faam o que de fato
j fazem de boa vontade.
s vezes o hedonismo identificado com o egosmo, ou seja, com a tese
segundo a qual todo homem orienta o prprio comportamento em vista do
prprio interesse pessoal. Todavia, fcil ver como se pode ser egosta sem
ser hedonista, quando, por exemplo, o interesse pessoal, no reposto no
prazer, mas em alguma outra coisa, como o poder, a riqueza etc. Tambm
no egosmo se deve distinguir entre uma tese psicolgica e uma tica, que
consiste em afirmar que para cada qual bom ou justo fazer tudo o que se
considera possa ajudar os prprios interesses. Como o hedonismo, tambm
o egosmo tico considerado uma posio no plausvel, mas s vezes
como a prpria negao da moralidade. Afirmar que o comportamento
humano deve ser movido exclusivamente pela persecuo do prprio
interesse pessoal contradiz a nossa comum experincia, em que muitas
vezes fazemos valer perspectivas que vo alm do interesse pessoal; mas,
sobretudo, torna at impossvel pensar uma sociedade estvel entre os ho-
mens, a menos que se suponha a existncia de uma "mo invisvel da
providncia que concilie a persecuo individual do interesse pessoal com o
interesse comum.
As formas de naturalismo que estamos examinando caracterizam-se
pela crescente tendncia em evitar o recurso a premissas mais gerais de
natureza metafsica para concentrar, ao contrrio, a ateno em
caractersticas da natureza humana susceptveis de serem observadas por
TEORIA
Material com direitos autorais
76
via emprica. Essa tendncia se consolida sobretudo a partir do sculo XVII,
no pano de fundo da nova cincia da natureza que se desenvolveu a partir
de Galileu Galilei e que consiste fundamentalmente em renunciar pesquisa
das "realidades ltimas" ou das "causas ltimas" das coisas para indagar, em
vez disso, com os instrumentos da matemtica, as leis que governam os
fenmenos como eles acontecem diante da observao emprica.
O naturalismo vem, desse modo, apoiar o carter natural das
propriedades morais, como propriedades observveis e, portanto, objeto de
pesquisas empricas anlogas quelas com que indagamos as propriedades
fsicas. Isso comporta, porm uma conseqncia que importante
esclarecer. As ticas naturalistas no afirmam certamente que no mundo,
como ele dado observao emprica, existam coisas como o ser bom ou
o ser justo, mas simplesmente que o ser bom ou o ser justo podem ser
definidos em termos de propriedade naturais de tipo no moral. As diferenas
entre os vrios tipos de naturalismo dependem do trao natural que se
privilegia. J lembramos o prazer e o interesse pessoal que, juntamente com
outros traos que sero pouco a pouco identificados (a benevolncia, o
sentimento moral etc.), podemos enumerar sob a etiqueta de naturalismo
psicolgico. Mas no decurso da histria da tica possvel identificar um
naturalismo biolgico que se desenvolve sobretudo depois da elaborao da
teoria da evoluo, de Charles Darwin e que consiste em reduzir as
distines morais ao que ajuda ou prejudicial evoluo da espcie. Existe
tambm, enfim, um naturalismo sociolgico, que identifica o bem com o que
promove a estabilidade e o progresso da sociedade. No vale a pena,
todavia, prosseguir com a lista. Em vez disso, procuremos mostrar o que une
todas as formas de fundao das distines morais que examinamos at
agora.
4. O reducionismo e o problema da autonomia da tica
O supernaturalismo e o naturalismo so duas orientaes fundamentais
do pensamento tico em referncia fundao ltima das propriedades
morais. Apesar das divergncias radicais, se prescindirmos do contedo
especfico das vrias respostas, possvel identificar alguma coisa que as
une todas, ou seja, sua forma lgica: em todos os casos, com efeito (exceto
na forma platnica, em que, porm, a noo de Bem totalmente
indeterminada), a natureza das distines morais fundamentais definida, ao
AS VIAS DO FUNDAMENTO
terial com direitos autorais
77
se atribuir o significado dos termos morais para outras propriedades. A
expresso "X bom ou correto pode ser traduzida, de acordo com as vrias
teorias, substituindo-se "bom ou correto" por expresses como "agradvel a
Deus ou "querido por Deus, ou "prazeroso ou "funcional ao equilbrio
social" ou, ainda, "adequado sobrevivncia da espcie", ou em termos de
outros conceitos empricos pertencentes a alguma das cincias naturais ou
das cincias humanas. Esse procedimento definido como reducionismo,
termo que tem um sabor limitativo, mas que usamos aqui sem nenhum cunho
negativo. simplesmente o modo como de fato procedeu boa parte das
teorias ticas para resolver o problema do fundamento das propriedades
morais e apresenta tambm alguma vantagem que pode explicar sua
persistncia no tempo. Toda teoria tica (ou pelo menos as j apresentadas)
aspira constituir-se como corpo de conhecimentos verdadeiros e objetivos, e
um modo para realizar esse escopo pode ser, exatamente, o de reduzir as
propriedades morais a proposies que (com ou sem razo, no importa) so
considerados fundamentais como objeto de outros campos do saber de j
consolidada certeza cognoscitiva: a metafsica, a teologia, as cincias
naturais e assim por diante.
Isso, porm, tem um preo, ou seja, o de reduzir a tica a um
departamento dos outros setores do saber a que. aos poucos, se deve fazer
referncia para estabelecer o que, em ltima anlise, certo ou bom.
Segundo Emanuel Kant, esse preo muito alto:
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
TEORIA
84
Material com direitos autorais
conhecimentos, porque, em ltima anlise, suas proposies afirmam
alguma coisa de um objeto real e essas afirmaes podem ser julgadas
verdadeiras ou falsas, conforme correspondam ou no a essa realidade.
precisamente esse ltimo assunto mas tambm seu fundamento realista
que posto em discusso no mbito da filosofia lingstica. Esboamos
seus aspectos fundamentais ao falar da metatica e tambm indicamos seu
primeiro resultado em tica no emotivismo. Vamos retomar aqui o discurso
num nvel diferente: se, com efeito, o emotivismo desapareceu do panorama
das teorias ticas sem deixar vestgios (seno naqueles que continuam a
trocar o raciocnio moral por propaganda de fins edificantes), a raiz
gnosiolgica da qual nasceu o emotivismo sobreviveu a ele e deu lugar ao
no-cognitivismo, uma aproximao que nega o valor de verdade-falsidade dos
enunciados morais. Essa aproximao teve uma extraordinria importncia
nos desenvolvimentos da tica na segunda metade do sculo XX, orientando
a pesquisa sobre o tema da justificao em tica conduzida pelos filsofos
que a aceitaram, e tambm a dos filsofos que a recusaram, mas a levaram
em conta para evitar formas de naturalismo ou de realismo j superadas.
Segundo alguns estudiosos, a distino entre ticas cognitivistas e no-
cognitivistas constitui a chave para compreender esses desenvolvimentos e
muitas vezes indicada como a "grande diviso" em tica, consistente na
tese que afirma a existncia na linguagem de uma radical distino de
significado entre as proposies descritivas (ou asseres), de uma
parte, e as proposies de orientao (ou avaliativas) e os juzos
morais, de outra. Uma grande quantidade de trabalho muitas vezes
extremamente requintado foi dedicado pelos analistas da moral para
precisar, de um lado, em que nvel a distino proposta devia valer e,
de outro, quais deviam ser considerados os limites exatos dos dois
universos de discurso identificados e. enfim, qual devia ser o significado
especfico que se reconhecia em um e em outro discurso (Lecaldano,
1976, p. 75).
Essa ltima afirmao importante para compreender que a distino entre
linguagem descritiva e linguagem diretiva (ou
O NO-COGNITIVISMO
avaliativa) no deve necessariamente ser interpretada, como tinham feito os
filsofos ligados ao neopositivismo igico, no sentido de que a primeira
'aterial com direitos autorais
85
linguagem significativa, mas a segunda no tem significado, l
ressaltamos que essa tese derivava da particular concepo do significado
prprio do neopositivismo lgico e estava conexa ao privilgio que se dava
fsica como forma perfeita de conhecimento. Depois do efeito
"liberalizante" da reflexo de Wittgenstein sobre a linguagem, mas tambm
depois de uma srie de desenvolvimentos no mbito da filosofia da cincia
que aqui no vale a pena lembrar, o no-cognitivismo insistir na distino
entre os dois mbitos do discurso, mas considerando a ambos, embora de
modo diferente, significativos, e a pesquisa tender a estabelecer qual a
relao entre esses dois mbitos e qual o especfico significado da
linguagem moral. Quanto a esse ltimo ponto, em mbito no cognitivista, a
teoria mais interessante a construda por um dos filsofos moralistas mais
importantes do nosso tempo, Richard M. Hare, com seu prescritivismo
universal; falaremos a esse respeito no captulo dcimo quinto. 8.
2. A lei de Hume
Sobre esses temas abriu-se um debate de grande amplitude, no
decurso do qual mesmo podendo se registrar um substancial, mas no
unnime, acordo sobre a oportunidade de no nivelar a linguagem moral
com a linguagem descritiva ou, como muitas vezes se diz. de no reduzir
inteiramente os valores aos fatos foram elaboradas vrias interpretaes
da relao entre os dois mbitos de discurso e sobre a possibilidade de
passar ou no de um ao outro. No centro desse debate est a chamada "lei
de Hume", que tem por motivo uma espcie de recomendao que David
Hume (1711-1776) dirige ao leitor de seu Treatise of fiuman nature (1739).
Convm relatar o trecho todo.
Em todo sistema de moral com que at agora me deparei, vi sempre
que
o autor vai adiante por um certo tempo, raciocinando de modo costu-
meiro, e afirma a existncia de um Deus, ou faz observaes sobre as
coisas humanas; depois, de repente, descubro com surpresa que, em
vez das habituais cpulas e no . encontro somente proposies que
se unem por um deve ou no deve-, trata-se de uma mudana
imperceptvel, mas que tem, todavia, a maior importncia. Com efeito,
dado que esses deve ou no deve exprimem uma nova relao ou uma
nova afirmao, necessrio que se observem e se expliquem; e que
ao mesmo tempo se d uma razo para o que parece totalmente
TEORIA
M?.!enal com direitos autorais
86
inconcebvel, ou seja, que essa nova relao possa constituir uma
deduo de outras relaes completamente diferentes dela. Mas. uma
vez que os autores no seguem habitualmente essa precauo,
permito-me recomend-la aos leitores e estou convencido de que um
mnimo de ateno a esse respeito mudar todos os sistemas comuns
de moral e nos far entender que a distino entre a virtude e o vcio
no se funda simplesmente em relaes entre os objetos e no
percebida mediante a razo (Hume, 1971, vol I, pp. 496-497)
Convm, antes de mais nada, procurar esclarecer o sentido desse
trecho de maneira literal. Entrementes, preciso dizer que Hume refere-se a
uma regra comum de coerncia do raciocnio que podemos assim sintetizar.
Se digo que A igual a B e B, igual a C, sem dvida estou autorizado a
concluir que A igual a C e difcil que me possam contestar a validade
lgica dessa concluso. Porm, se depois de ter anunciado as primeiras
duas proposies, eu concluo que A igual a D, qualquer um poderia me
perguntar de onde terei tirado esse D, que no comparecia nas premissas do
raciocnio.
Uma primeira leitura do discurso de Hume poderia ser esta: ele convida
o leitor quando ele se encontrar diante de desenvoltas dedues de
proposies com o deve tiradas de proposies apresentadas em forma
puramente descritiva a buscar as razes pelas quais foi feito aquilo que, de
outra forma, teria sido um puro e simples erro lgico. Segundo essa leitura, a
inteno de Hume no tanto denunciar os sistemas morais anteriores por
ter cometido esse erro, quanto por ter deixado o leitor crer que no havia
cometido nenhum erro, vendendo, ento, como deduo rigorosa
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
TEORIA
88
Material com direitos autorais
polgicos, produzidos em particular no ltimo sculo. No somos relativistas
se nos limitamos a constatar que de fato existem e sempre existiram diferentes
concepes da vida e, portanto, diferentes formas de vida moral. Essa
constatao pode fazer pensar que o pluralismo moral de algum modo uma
caracterstica constante da moralidade, ainda que s vezes gostemos de nos
representar certas formas de sociedade, em especial as mais distantes de
ns no tempo, como unidimensionais do ponto de vista moral. Todavia, a
existncia do pluralismo moral pode certamente induzir as pessoas a cultivar
a virtude da tolerncia sem que isso signifique que, para sermos
tolerantes, seja necessrio sermos relativistas , do respeito pelas idias
alheias e da atenta escuta das razes dos outros, mas no as obriga de
modo algum a apoiar o juzo de valor segundo o qual no h nenhuma razo
para considerar uma perspectiva moral mais vlida que a outra uma vez
que, de fato. existem muitas delas e a concluir, pois, que todas as morais
estejam no mesmo plano. Essa posio , s vezes, definida como
relativismo, mas seria mais correto defini-la como "indiferentismo tico".
Pode gerar uma tendncia ao niilismo, mas com muito mais freqncia se
traduz naquela forma de quietismo ou conformismo moral expressa na
conhecida frase "se ests em Roma, faz como os romanos". Aqui no
estamos ainda num relativismo normativo propriamente dito, ao qual se
chega somente se se afirma a tese segundo a qual a relatividade dos
princpios e dos valores implica que a nica razo que torna uma determinada
conduta justa ou boa de fato que essa conduta seja exigida pelo cdigo
moral vigente numa dada sociedade ou numa dada cultura.
Definimos como "convencionalista" essa forma de relativismo
normativo, pois insiste na natureza convencional dos cdigos morais como
sistemas formados no decurso do tempo em relao s necessidades e aos
interesses das vrias sociedades e culturas. Essa forma de relativismo de
natureza cognitivista, pois as convenes so matria de verificao
emprica. Nesse sentido, ela compatvel com alguma forma de objetivismo,
mas somente quando esse termo no entendido como sinnimo de
"absolutismo", in-
O NO-COGNITIVISMO
terpretao que no panorama atual j patrimnio exclusivo daquelas
Material com direitos autorais
89
formas de tica de fundamento religioso para as quais a tica ou absoluta
ou no tica (Finnis, 1993). Como acenamos anteriormente, at por causa
dos desenvolvimentos ocorridos na epistemologia e na filosofia das
cincias, a noo de objetividade acabou perdendo os tradicionais sinais da
validade universal e absoluta; para eles, dizer que algo objetivo significava
atribuir- lhe um valor eterno e, portanto, subtrado ao fluir do tempo e da
histria. No se diz, portanto, que a objetividade deva necessariamente
coincidir com o absolutismo.
Se se prescinde dos usos polmicos, pode-se afirmar que o
relativismo convencionalista no implica necessariamente todas aquelas
conseqncias negativas, em referncia aos comportamentos prticos que
a ele so imputados. compatvel seja com as ticas do dever, seja com as
ticas do valor, e o que muda apenas o fundamento atribudo ao sistema
dos deveres ou dos valores. Essa diferena, todavia, tem muita importncia
em relao ao problema da crtica moral. Afirma-se, com efeito, que uma
fundao somente convencionalista dos deveres e dos valores, por mais efi-
caz que seja no plano dos comportamentos prticos, implica a
impossibilidade de formular juzos sobre os sistemas morais de outras
culturas ou sociedades, mesmo quando a nossos olhos esses sistemas se
apresentem como reprovveis; se, por exemplo, a antropologia nos informa
que em alguns povos se praticava o sacrifcio de seres humanos, o
relativista deveria apenas observar isso e abster-se de formular um juzo de
condenao moral. Obviamente, os relativismos elaboraram muitas estratgias
para responder a esse tipo de crtica e uma delas consiste em afirmar o que
segue: justamente porque as crenas morais refletem as culturas nas quais
vivemos, ns trairamos a nossa cultura se, partindo das nossas crenas
morais, no pronuncissemos um juzo negativo sobre essa prtica.
objeto de discusso se essa estratgia ou as outras possveis so
suficientes para resolver o problema, mas aqui no podemos tratar disso em
detalhe. Conclumos ressaltando que, como no caso do relativismo
subjetivista, tambm o convencionalista
apresenta aspectos pelos quais a maioria das teorias ticas contemporneas
o recusa como teoria normativa. Isso no significa, todavia, que a nica
alternativa ao relativismo esteja em alguma forma qualquer de absolutismo;
e, de fato, o panorama contemporneo composto em geral de ticas que,
embora rejeitando o relativismo, no admitem a existncia de absolutos.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
AS ORIGENS
M?.!enal com direitos autorais
115
depois da morte, que compreendia tambm a idia de um juzo sobre a vida
do defunto com base numa lista de quarenta e dois atos proibidos; e a
proibio de toda forma de crueldade para com os animais que, como formas
de vida, eram tidos como manifestaes das divindades, com freqncia
imaginadas com o aspecto de animais.
Mas na histria do desenvolvimento das formas histricas de
moralidade o primeiro milnio a.C. que tem importncia determinante:
graas a alguns extraordinrios personagens, surgem quase todas as
grandes religies (se se exclui a islmica) e, s margens do mar Jnio,
tomam vida algumas formas de civilizao nas quais se desenvolver a
reflexo filosfica do modo como estamos acostumados a entend-la. Ainda
que em sntese, necessrio falar dessa poca crucial na histria da
humanidade.
2. O primeiro milnio a.C. no longnquo Oriente
Na ndia, j no decurso do segundo milnio, desenvolve-se o
hindusmo. cujas doutrinas mais antigas estavam contidas nos livros dos
Vedas, uma coleo de textos que expem uma complexa doutrina tica e
social, atribuda revelao de Brahma. O hindusmo na realidade um
complexo de doutrinas filosficas e religiosas, articulado em vrias escolas e
cultos que tm em comum alguns princpios fundamentais. Entre esses
princpios, por sua importncia prtica, destaca-se a diviso da humanidade
em quatro classes que, no decurso do tempo, se tornaram castas e deram
ndia a tpica estrutura hierrquica que somente h pouco, a partir da obra de
Mahatma Ghandi, se comeou a escarafunchar.
Em meados do primeiro milnio surgiram na ndia, entre outros, dois
cultos de grande importncia. O primeiro se deve ao monge Mahavira, que
provavelmente retomou um culto mais antigo chamado jainismo, uma
concepo da vida que exclui a referncia divindade e pe no centro a
idia de respeito absoluto por todas as formas de seres vivos como princpio
fundamental (juntamente com a castidade e o repdio dos bens materiais)
para levar
uma vida orientada para a libertao do ciclo da transmigrao das almas,
HISTRIA
terial com direitos autorais
116
lustamente por sua venerao pela vida em todas as suas formas (os
monges costumavam caminhar varrendo o terreno para no pisar em formas
de vida), o jainismo continua a exercer um grande fascnio, em particular
junto s teorias ticas que criticam o antropocentrismo, a que se fez
referncia antes.
A segunda forma de culto nasce com Gautama Buda, que cria uma das
mais importantes religies filosficas da histria, o budismo. Buda (cujo nome
era Sidhartha) era um jovem de famlia nobre, descontente com o sistema de
castas vigente na ndia e profundamente chocado com a realidade do
sofrimento e da dor. Por volta dos trinta anos, iniciou um perodo de
meditao, ao qual se seguiu um longo perodo de pregao e de
ensinamento. A tica religiosa do budismo est centrada em Quatro Nobres
Verdades: a primeira a realidade da dor e do sofrimento, que produz um
sentido profundo de insatisfao, o qual deriva (segunda verdade) do apego
ao mundo material; a terceira verdade ensina que possvel suprimir esse
apego e a quarta ensina o caminho para o praticar. Originariamente, o
budismo era uma religio e uma tica da salvao individual e no previa
particulares cultos ou rituais. A seguir, se lhe acrescenta uma forma de
compromisso social orientado pela prtica da caridade.
No mesmo perodo em que na India vivia Buda, na China viveu Lao-tse,
filsofo criador do taosmo, uma doutrina que tem em seu centro a noo de
Tao. um princpio de harmonia universal que compreende ao mesmo tempo o
devir e a imutabilidade e pelo qual, mediante um ato de intuio, o homem
deve deixar-se guiar no decurso da sua vida. No mesmo perodo ou pouco
depois de Lao-tse, viveu Kongfusi, Confcio, que ps de lado as tendncias
metafsicas do taosmo para construir uma forma de tica social cunhada no
altrusmo, tendo ao centro a importncia da famlia, do respeito pela
autoridade e dos papis sociais que determinavam a conduta justa. Confcio
no queria ser um inovador; ele e a sua escola pretendiam apenas reunir e
organizar os antigos rituais (chamados L) nos quais estava depositada a
sabedoria antiga. Por esse seu carter conservador, o confucionismo (depois
desenvolvido por outros filsofos como Mozi e Mncio) tornou-se uma esp-
cie de religio oficial por todo o perodo do imprio chins. Proibido
oficialmente em 1912, hoje est bastante enraizado na China.
AS ORIGENS
Material com direitos autorais
117
3. O primeiro milnio a.C. no Oriente prximo
Voltando agora para o Ocidente, uma figura crucial a de Zoroastro ou
Zaratustra, que viveu na Prsia no incio do primeiro milnio a.C. e foi o
iniciador de uma religio chamada masdesmo. Desaparecida por volta do
sculo VII d.C. (hoje sobrevive somente em pequenas comunidades como a
dos parsi, na ndia), foi por muito tempo a religio oficial do imprio persa,
mas a sua importncia histrica devida influncia que seu princpio
inspirador exerceu na formao da religio hebraica. Zoroastro interpretava o
universo como um imenso campo de batalha entre o princpio do bem e da
luz (Ahura Mazda) e o princpio do mal e da obscuridade (Angra Mainyu).
Todo homem deve escolher entre o bem e o mal e prestar contas disso no
final dos tempos, quando o bem e a luz triunfaro sobre o mal e a escurido.
Na filosofia de Zoroastro emerge um problema que ser central na histria
das religies, ou seja, o da justificao de Deus: se Deus bom, de onde
vem o mal? A conseqncia moral dessa pergunta extremamente importan-
te: por que, nesta terra, o mal parece prevalecer sobre o bem e o mau triunfa
sobre o justo? o paradoxo do "justo sofredor" que Zoroastro resolve ao dar
o prmio aos justos e o castigo aos malvados no momento do juzo universal.
Podemos agora ilustrar brevemente as origens da forma de religio e
de moralidade da qual se desenvolveram as trs grandes tradies tico-
religiosas que formaram o mundo ocidental: o judasmo, o cristianismo e o
islamismo.
As origens do judasmo remontam ao incio do segundo milnio a.C.,
quando uma tribo proveniente da Mesopotmia, sob a direo de Abrao, se
estabeleceu nas terras da Palestina. Depois de um perodo passado no
Egito, os hebreus voltaram para a Pa-
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
You have either reached a page thatis unavailable forviewing or reached yourviewing limitforthis
book.
i
Este livro apresenta um panorama dos modos pelos quais os
filsofos abordaram o estudo dos fatos morais e os resultados
fundamentais a que chegaram como fruto de suas pesquisas.
A fim de que o leitor possa formar uma espcie de vocabulrio
de base da Filosofia Moral, a primeira parte elenca os conceitos
principais dessa disciplina filosfica, introduzidos e explicados
1 9
de modo simples, clare conciso. j
'V
A segunda parte exp as etapas fundamentais da histria da
Filosofia Moral. Na tica aplicada da atualidade, o destaque
i
recai sobre a biotica.
Como no pressupe conhecimentos filosficos particulares,
<t
este livro dirig-se a todos os desejosos de munir-se de instru-
mentos cognoscitivos de base para acompanhar com mais in-
formao as discusses ticas de nosso tempo, uma vez que
essas j no,se restringem ao mbito de profissionais ou revis-
tas especializadas/mas encontram amplo espao especialmente
nas mdiasi .<
EMETRIO Ner docente de Biotica na Univr-,
sidade de Messina (Itlia), onde tambm lecion|^j#S^
Filosofia Mral;
Material com direitos autorais
- J
t *
r * i
S | \
0
0 2
.<
ISBN
7 8 8 / * /
ike* Loyoia
visite nosso.site:
www.loyola.com.br
0 2 8 2 6 9
02826-.
M
1
/ *
* r l .
} y .t t -ff %
^ W
"'T* . ./
You might also like
- Manual de Reparações Toyota - Pag 135 A 268 FinalDocument134 pagesManual de Reparações Toyota - Pag 135 A 268 FinalqscxNo ratings yet
- Coleção Primeiros Passos - Álvaro L M Valls O Que É ÉticaDocument80 pagesColeção Primeiros Passos - Álvaro L M Valls O Que É ÉticaJoão SuzartNo ratings yet
- Resenha A Corrosão Do Caráter 1Document4 pagesResenha A Corrosão Do Caráter 1qscxNo ratings yet
- La Especificidad de La Gestion Pública - Es.ptDocument26 pagesLa Especificidad de La Gestion Pública - Es.ptqscxNo ratings yet
- Burocracia, Eficiência e Modelos de Gestão PúblicaDocument22 pagesBurocracia, Eficiência e Modelos de Gestão PúblicaqscxNo ratings yet
- Burocracia, Eficiência e Modelos de Gestão PúblicaDocument22 pagesBurocracia, Eficiência e Modelos de Gestão PúblicaqscxNo ratings yet
- Problemas da escravidão e Revolução PraieiraDocument4 pagesProblemas da escravidão e Revolução PraieiraCristiana RuverNo ratings yet
- Comunismo PrimitivoDocument4 pagesComunismo PrimitivoLéo MoraesNo ratings yet
- Estado de Direito ConceitoDocument3 pagesEstado de Direito ConceitoFelipe AmorimNo ratings yet
- Libertação Auschwitz URSSDocument1 pageLibertação Auschwitz URSSHonias FreitasNo ratings yet
- Direito Penal Teoria GeralDocument4 pagesDireito Penal Teoria GeralRodrigo DeodatoNo ratings yet
- Convenção Coletiva 2016-2017 estabelece pisos salariais e benefícios para trabalhadores da saúde em São LuísDocument9 pagesConvenção Coletiva 2016-2017 estabelece pisos salariais e benefícios para trabalhadores da saúde em São LuísJoana D'ArcNo ratings yet
- Legislação PMERJDocument34 pagesLegislação PMERJTv SalaNo ratings yet
- Direito Administrativo - Aula 1 - Princípios AdministrativosDocument3 pagesDireito Administrativo - Aula 1 - Princípios AdministrativosCabessaum KbssaNo ratings yet
- Universidade Indepedente de AngolaDocument14 pagesUniversidade Indepedente de AngolaRonaldo BravoNo ratings yet
- Formas Democráticas de Participação Social e A Mediação Familiar, Escolar e ComunitáriaDocument234 pagesFormas Democráticas de Participação Social e A Mediação Familiar, Escolar e ComunitáriaThiago Laurindo 2100% (1)
- Tese. Agostinho Silva Final-4 PDFDocument431 pagesTese. Agostinho Silva Final-4 PDFVictor mendesNo ratings yet
- China: do socialismo ao mercado emDocument14 pagesChina: do socialismo ao mercado emanneNo ratings yet
- Princípios Gerais do Processo Penal na Universidade Católica de MoçambiqueDocument24 pagesPrincípios Gerais do Processo Penal na Universidade Católica de MoçambiqueLezzio Elidio100% (1)
- Meri BezziDocument112 pagesMeri BezziHigh by the blogNo ratings yet
- Resumo Do Capítulo 1 - A Marcha para o Oeste.Document2 pagesResumo Do Capítulo 1 - A Marcha para o Oeste.BobaEsponjaNo ratings yet
- FICHA DE LEITURA Do Filme O Fim Do Sonho AmericanoDocument5 pagesFICHA DE LEITURA Do Filme O Fim Do Sonho AmericanomarcelokuhlNo ratings yet
- Avaliação I - BRASIL CONTEMPORÂNEODocument15 pagesAvaliação I - BRASIL CONTEMPORÂNEOClaudia SalvadorNo ratings yet
- Defesa em Ação Penal por FurtoDocument4 pagesDefesa em Ação Penal por FurtoRafaelLovattiNo ratings yet
- Acórdão Caso Nesh TJSPDocument16 pagesAcórdão Caso Nesh TJSPRubens OficialNo ratings yet
- I - Indivíduo, Cidadão, Sociedade, Nação, Estado, Governo.Document6 pagesI - Indivíduo, Cidadão, Sociedade, Nação, Estado, Governo.silmara_salgado100% (1)
- Decreto Presidencial 246 - 21Document4 pagesDecreto Presidencial 246 - 21Consultoria JuridicaNo ratings yet
- Memorex CNU (Bloco 05) - Rodada 05Document33 pagesMemorex CNU (Bloco 05) - Rodada 05Cibele Floriano Dos Santos100% (2)
- Auto de Inspeção no TJMG com determinações para melhoriasDocument631 pagesAuto de Inspeção no TJMG com determinações para melhoriasAnderson Souza Palestrante ProfissionalNo ratings yet
- Tributo: Direito Tributário - Resumo para A Prova Da Oab/FgvDocument14 pagesTributo: Direito Tributário - Resumo para A Prova Da Oab/FgvAzuercNo ratings yet
- Lei 12 751 - Segurança em ElevadoresDocument2 pagesLei 12 751 - Segurança em ElevadoresDenise HernandezNo ratings yet
- Lide SimuladaDocument2 pagesLide SimuladaCésarrrrrrNo ratings yet
- 03 - Lei 8027 Norma CondutaDocument3 pages03 - Lei 8027 Norma CondutaMage of OzNo ratings yet
- Arte sentipensante na resistência latino-americanaDocument34 pagesArte sentipensante na resistência latino-americanaConrado de ChecchiNo ratings yet
- Apresentação Do CursoDocument2 pagesApresentação Do CursoAmós Silvestre Dos ReisNo ratings yet
- Estatuto dos Funcionários Públicos de BelémDocument40 pagesEstatuto dos Funcionários Públicos de BelémStenio MatosNo ratings yet