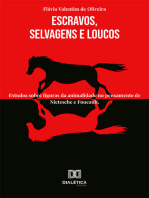Professional Documents
Culture Documents
Tese de Coconcurso UFF 2012 - Silvia Tedesco
Uploaded by
JeaneSouzaCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Tese de Coconcurso UFF 2012 - Silvia Tedesco
Uploaded by
JeaneSouzaCopyright:
Available Formats
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Tese para Concurso para Professor Titular de Psicologia Social e Institucional
Pensando a tica da Clnica das Drogas: Linguagem, Subjetivao e a Experincia das Drogas
SILVIA HELENA TEDESCO
10/07/2012
RIO DE JANEIRO
NDICE:
Introduo: Colocao do Problema...................................................................................................pgina 3
Captulo 1: Linguagem: De sistema Fixo Transcendente Pragmtica da subjetividade...............................................................................................................................................pgina 14
Captulo 2: Da Pragmtica da Linguagem Pragmtica da Subjetividade......................pgina 34
Captulo 3: A Clnica Transdisciplinar, Produzindo Transversalidades............................pgina 56
Captulo 4: A Clnica das Drogas no Brasil Contemporneo...................................................pgina 81
Captulo 5: A Construo do Plano Coletivo da Clnica em Instituies............................pgina 98
Consideraes Finais............................................................................................................................pgina 122
Referncias Bibliogrficas..................................................................................................................pgina 131
INTRODUO: COLOCAO DO PROBLEMA
Tudo o que ns podemos fazer tentar atingir esse mistrio insondvel que a criao. Ns obedecemos s suas leis desconhecveis, a seus ritmos e suas metamorfoses. Somos mistrios entre mistrios F. Felline, Livro dos sonhos
Privilegiaremos neste estudo um encontro, entre os muitos encontros que nossas prticas acadmicas nos oferecem. Sendo nele que me vejo habitando j h mais de uma dcada, decido ou decide-se que tempo de coragem, tempo de ousar anlises sobre o que me perturba de modo instigante que, se em muitas vezes potencializam, em outras nem tanto... .Neste encontro atento, sobretudo, para o vai e vem entre teoria e prtica que minha prtica exige a cada segundo, oferecendo-me generosamente um solo rico de experimentao, j que na passagem ao concreto que os conceitos melhor se movimentam. Interrogados pelo emprico, os conceitos funcionam na problematizao dos impasses, na busca de outras sadas e desvios da rota esperada. Enfim, trago experimentaes prtico-conceituais que nossa prtica clnico-institucional nos oferece1. O encontro de que falo aquele situado entre clnica transdisciplinar, como certa modalidade de clnica do contemporneo, e a clnica das drogas tal como est sendo implementada na atualidade. Faremos transitar nossos conceitos pelas macro e micro polticas presentes nestas prticas na clnica das drogas, assoladas por orientaes, ao mesmo tempo patologizantes e ou criminalizantes, que, ento, podem se constituir num forte instrumento de controle dos indivduos e de populaes. Delas proliferam prescries normalizadoras que, se explicitamente visam trabalhar a correo, a reabilitao do drogado, propondo a recuperao de uma natureza saudvel perdida, implicitamente elas se configuram como potentes ferramentas de normalizao de todos, no controle das populaes. A produo do medo e da insegurana face ao usurio de droga, editado por muitos discursos e imagens
1
Trata-se de estudos realizados inicialmente como pesquisa-interveno, depois tambm como supervisora de estgio curricular na modalidade de clnica em instituies pblicas, conhecidas como CAPSad , que oferecem servios de sade pblica a usurios de drogas.
como o grande perigo da atualidade, faz a comunidade agradecer e clamar por solues imediatas e, muitas vezes violentas, para o grande mal, a fim de proteger do risco das drogas a si mesmo, seus filhos, parentes, vizinhos... enfim, toda a sociedade. A partir da, modos de existncias padronizados para um mundo sem drogas so disponibilizados e consumidos por todos a cada dia. Perguntamos: como nossa proposta clnica se insere neste contexto? Como sua tica reage a esta proposta de modelao saudvel dos corpos? O que o exerccio do estilo-subjetividade ou estilismo de si, pode provocar como desvio das prescries sobre corpos saudveis? O que a orientao tica da clnica transdisciplinar tem a oferecer a essa problemtica, eminentemente produzida como realidade social que atemoriza a todos? esta questo que mobiliza nossa escrita. Para darmos conta da questo, precisamos considerar outra modalidade de subjetividade, diferente daquela oferecida nos compndios clssicos da psicologia. Isto porque a natureza fixa da vida ntima do sujeito no nos atende na necessidade de lidar, em nossas prticas, com foras histricas-polticas que mexem na realidade veloz daqueles que morrem a cada dia, muito menos pela droga do que pelo medo que afligem populao, ou ainda daqueles que, da noite para o dia, so presos, separados de seus parceiros, deportados de seu territrio para outros mundos: abrigos, comunidades desconhecidas, cujos regimes semiticos, religiosos ou no, nada lhes oferecem seno palavras de ordem sobre a reabilitao de seus corpos e mentes a padres morais de sade, provenientes de mundos to distantes. Ento, vale perguntar: que subjetividade nos interessa? A vertente de investigao da psicologia, de modo geral, herdeira da tradio das cincias e das filosofias representacionalistas, define seu objeto de estudo o domnio psicolgico da vida dos indivduos - dentro de parmetros que privilegiam a fixidez da realidade. Esta abordagem pressupe o mundo composto de coisas e estados de coisas, delimitados ambos por fronteiras emprico-conceituais intransponveis e reveladoras de suas
existncias permanentes, dadas desde sempre. Consequentemente, o sujeito
dos saberes psi tende a ser definido por forte invarincia que se expressa na busca de processos internos regulares. Observa-se que a estabilidade afirmada exige seu isolamento dos fatos do mundo, que, sempre em transformao, provocariam variaes considerveis. Sem histria, e, portanto, transcendente aos fatos, ele ganha contornos precisos a serem esclarecidos por leis gerais e princpios imutveis, to caros cientificidade. Segundo este pensamento, reconhecido como modelo da representao e fortemente presente na psicologia, a tarefa da investigao construir o "modelo reduzido, a pura que traamos e que destinada a reproduzir o essencial da coisa representada" (BUYDENS, 1990, p. 27). Interessa atingir nesse modelo reduzido, as invarincias da realidade estudada. Reconhecemos a a realizao do efeito mais relevante do conhecimento verdadeiro: a duplicao do representado no representante que apresenta como principal efeito a totalizao dos objetos representados. Tal concepo de conhecimento est apoiada na afirmao da dicotomizao do mundo em dois planos irredutveis: o plano dos fatos, das coisas e estados de coisas, regido pela variao contnua, no qual domina a heterogeneidade e a fluidez das mudanas empricas, e outro plano do conhecimento, capaz de traduzir o primeiro em sua prpria ordem interna. Ou seja, na ordem aqui almejada, o que est em jogo no a reproduo exata de cpias de cada um dos eventos da realidade, pois nesse caso teramos acesso, exclusivamente, a cpias da diversidade que preenche o mundo real, e, assim, continuaramos perdidos face a inconstncia da vida. O interesse no conhecimento que ele seja capaz de reproduzir, no a irregularidade, mas a organizao do mundo e, portanto, os princpios reguladores que revelem a identidade por baixo da aparente variabilidade dos acontecimentos. No lugar de rplicas de cada fato contingente, cabe ao conhecimento encontrar as caractersticas que se repetem e os princpios, leis, regras, que respondam e assegurem o retorno previsvel desses eventos. Uma vez na posse desses aspectos em comum, possvel subsumi-los a categorias, a classes e subclasses unificando, homogeneizando o que a princpio s exala descontinuidade. Representar acessar a ordem do mundo. na ordem atemporal aos fatos, na identidade,
que o pensamento da representao acredita encontrar a inteligibilidade aos acontecimentos (RECANATI, 1979). Observa-se que o conhecimento representacional traa, na dicotomia entre os planos do conhecimento (planos da forma, da ordem e da identidade) e o da realidade emprica (plano da matria fluda, movente), um abismo que isola o saber numa dimenso transcendente aos fatos. Ou seja, o pensamento reto, como forma pura, confivel, seria aquele refratrio s variaes factuais, insensvel ao acontecimento. As transformaes da matria precisam passar por tratamento especial. As diferenas so avaliadas com desconfiana e, por isso, referendadas ordem atemporal. A partir da, dois encaminhamentos so traados: ou so entendidas como ocorrncias contingentes, irrelevantes para o conhecimento ou so subordinadas unidade, identidade do conceito. No primeiro caso, sublinha-se a inexpressiva importncia de se estudar fatos episdicos, acidentais, cuja irregularidade lhes furta o estatuto de realidade. No segundo caso, sua submisso unidade resolvida pela afirmao de que as variaes so variveis de uma mesma funo, classe ou categoria. Elas ora equivalem a diferentes nveis quantitativos de um mesmo processo maior, regulado, ele prprio, por princpios invariantes, ora correspondem a subcategorias discretas, relativas a uma mesma e s caracterstica. A diferena precisa deixar para trs seu carter irregular e seu ineditismo para ganhar formato de objeto de estudo. Cabe investigao da psicologia detectar nessas ocorrncias, aparentemente irregulares, alguma ordem que as definam por parmetros imutveis, ou seja, elas precisam ser subsumidas unidade do conceito: motivao, linguagem, ateno, inteligncia, aprendizagem constam entre outros processos gerais que, no seu conjunto, compem a natureza psicolgica. Uma vez submetidas recorrncia das regras, a variao ou a diferena perdem seu carter irregular e, com ele, desaparece sua potncia de acontecimento, passando a constar como caso particular de um conceito geral unificado. Assim, elimina-se o inantecipvel, pois toda nova ocorrncia estaria j prevista no princpio regulador que a explicitaria como variante de uma ordem maior. Toda irregularidade subsumida identidade, torna-se caso particular de um dado de realidade, ele mesmo invariante. esta regularidade
que buscam as pesquisas: frequncia de registros ou saturao de categorias. A partir desta manobra, o conhecimento sente-se apto a trabalhar a elaborao de leis gerais, ou seja, princpios reguladores do aparecimento das variaes. Os casos particulares interessam na medida em que podem ser includos em classes gerais. Por exemplo, importa menos cada exemplar particular de rvore do que a classe geral que a pe em relao com outras rvores similares e tambm com outras classes de rvores no to similares que, no conjunto, organizam a ordem geral da botnica. Ordem relevante na medida em que nos permite generalizaes e previses quanto a prticas que podemos realizar junto ao emprico. Os mesmos nutrientes ou venenos que servem a um exemplar podero ser aplicados tambm a outros exemplares da mesma classe. Por outro lado, o carter nico da experincia de um por do sol, nunca ser apreendido em sua singularidade sensvel caso seja mediado pela inteligibilidade dos conceitos gerais ou universais, como corpo celeste, graus de luminosidade, modalidades de formas, matizes de cores. O mesmo acontece com a rvore da minha infncia. O frescor sensvel da experincia, ao rebater-se sobre essas classes gerais, sucumbe ao seu enquadramento. Em linhas gerais podemos dizer que essa herana representacionalista de investigao, ao ser aplicada aos estudos do sujeito psicolgico, acaba definindo-o como entidade naturalizada e regulada por leis universais que lhe asseguram variaes sempre previsveis. E a perguntamos: haveria como no desprezar o carter nico, os aspectos irrepetveis ou singulares dessas situaes? Ou mais, haveria como ir alm da simples incluso das singularidades em classes e abranger em nossas pesquisas os acontecimentos, esses efeitos irreverentes ordem fixa que expem a subjetividade a transformaes? E avanando mais, se as prticas geradas nessas pesquisas, como no nosso caso a clnica, apostam na possibilidade de operar mudana, transformao, como deixar de lado o estudo das singularidades da experincia? Por outro lado, muitos autores menos ou mais distantes da psicologia, afirmam o carter movente da realidade e nos dizem que os objetos do conhecimento no so formas fixas, mas formas quase-estveis, suscetveis de
reconfigurao, e que revelam essas ocorrncias irregulares como pistas, germes de novas formas em gestao. Contingentes, mas essenciais em sua relevncia processualidade do mundo, esses eventos acidentais devem ser includos no estudo a fim de atingirmos a apreenso mais ampla do objeto. Tais colocaes provm de parcerias com autores que estabelecem, no sculo XX, crticas invarincia dos objetos do saber e, mais precisamente em nosso campo de estudos, ao sujeito universal. Elas estranham, sobretudo, seu aspecto transcendental, seu carter refratrio histria. Reclamam para ele sua insero na poltica. Vale lembrar que a afirmao da diferena e do movimento do mundo, que inviabiliza a busca de contornos fixos, universais, no implica, necessariamente, em abrir mo do exerccio de conceituao ou das figuras do mundo desenhadas por regularidades. O desafio articular diferena e repetio. Ou seja, ao lidar com as regularidades tambm apresentadas pelo sujeito, sab-las provisrias. Considerar os conceitos assim como os modos de existncia, apreensveis em sua constncia relativa, como formas temporrias e inseparveis de um processo maior de produo ininterrupto de rupturas, de variaes decorrentes de sua insero no plano poltico de foras. Como nos lembra Schrer ao falar da abordagem representacional do sujeito:
O erro foi centrar o processo sobre um instante nico da subjetividade, sobre a unicidade do sujeito. Do mesmo modo sua concentrao sobre complexos individuais intrapsquicos, sobre significaes transcendentes e constitudas. (Schrer, 1998, p. 64)
Ressaltamos que nunca lidamos com formas fixas, dadas desde sempre . O acento na estabilidade leva as pesquisas a generalizar, a perpetuar o que no indica seno um momento do processo. As prticas do saber, filosficas ou cientficas, quando referendadas ao modelo da representao, realizam recortes no processo sempre em andamento e, consequentemente, tomam seus momentos de lentificao, configuradores das formas, como paralisaes, e assim interpretam como universal o que corresponderia apenas a uma fase (KASTRUP, TEDESCO & PASSOS, 2008). E nesta paralisao forada, o
objeto perde seus aspectos mais intensivos e expressivos da variao que lhe prpria. Assim sendo, proporemos neste trabalho uma abordagem mais ampla da subjetividade, na qual ela deve ser pensada como parte desse movimento maior que constitui e caracteriza o mundo. Apreendida em sua transitividade, ela ento pode se expor como um acontecimento fugidio no ser (SCHRER, 2000). As constncias passam a ser entendidas como fases, estabilizaes, mais ou menos temporrias da trajetria que faz proliferar novos e diferentes modos de viver: de pensar, de agir, de afetar e ser afetado. As formas conceituais ou empricas que vamos comentar devem ser compreendidas no mais como formas fixas, mas como formaes, como efeitos de processos de construo que, a partir de determinado instante, fazem emergir figuras aparentemente fixas, mas que constituem apenas coagulaes temporrias do movimento prprio ao nosso objeto de estudo. Uma vez dedicados ao estudo e a prticas dirigidas subjetividade, como lidar com essa dimenso gentica do acontecimento? Dito de outro modo, o que acontece quando consideramos que, no lugar da fixidez, o movimento, o engendramento das formas-sujeito, que assume o lugar de objeto de estudo e prtica? essa pergunta que este trabalho vai dirigir aos nossos objetos de investigao: a subjetividade e a clnica a ela dirigida. Questo que desdobramos em mais duas: o que interessa acessar na clnica? E como? Por quais procedimentos, por quais dispositivos podemos faz-lo? Alertados por Foucault (1979) para no isolar nosso tema de estudo do plano de foras que preserva vivo o movimento do mundo, teremos nossa ateno voltada para os nexos que incitam a vivacidade deste plano. Portanto, para melhor acompanhar o processo de subjetivao vale escolher outro termo, outro feixe de foras, que explicite o carter relacional que alimenta o movimento. Escolha que recai sobre o processo da linguagem. Escolha em nada casual na medida em que a linguagem ganha destaque na contemporaneidade.
10
J em As palavras e as coisas (FOUCAULT, 1985), a linguagem aparece como um dos domnios de saber privilegiados na composio das cincias humanas. As cincias humanas endeream-se ao homem, na medida em que ele vive, em que fala, em que produz (FOUCAULT, 1985, p. 368). Recorta-se assim o saber sobre o homem, estabelecido na relao entre, de um lado, sua positividade (ser que vive, trabalha e fala) e de outro, aquilo que permitido a ele saber sobre esses trs modos de ser. nos entrecruzamentos, superposies e rebatimentos dessas relaes que seu contorno como objeto de preocupao produzido. Mais tarde, a relevncia da linguagem reafirmase nos estudos foucaultianos, nesse momento, voltados ao biopoder. Neles vemos o poder disciplinar, exercido no confinamento das instituies, coexistir com o exerccio do controle aberto, que circula pelas distncias, pelos espaos vazios. Ele ultrapassa os muros das instituies, projeta-se nos espaos das cidades, das relaes aparentemente menos ou no institucionalizadas (FOUCAULT, 2004). No entanto, somos advertidos que esses espaos so vazios apenas ilusoriamente, porque recobertos pela ampla rede da comunicao. Conectados rede, somos acessados a qualquer instante, em qualquer lugar: celulares, internet, etc. Na sociedade atual, apropriadamente denominada por Deleuze (1992) de sociedade da comunicao, os processos de produo de realidade percorrem os meios velozes de uma ampla rede de contatos linguageiros. A linguagem tornou-se essencial sociedade de controle. Ambos os argumentos articulam-se afirmao de que a linguagem participa fortemente do movimento da realidade que se faz nos jogos de fora e nos seus interstcios por onde precipitam acontecimentos. Ou seja, neste quadro, no podemos deixar de observar a nfase reafirmada na potncia da linguagem, presente no plano discursivo, de intervir no processo de produo dos objetos do saber e, em especial para ns, nos processos de subjetivao. Sublinhamos que a escolha pela nfase nas relaes com a linguagem no envolve dar-lhe prioridade como fator especial, determinante na produo de mundo. Como veremos, presente no plano discursivo, ela convive com outros vetores na produo de sentidos. Nem determinante nem determinada completamente por qualquer instncia em particular, a linguagem vai ser
11
trabalhada por ns como componente que participa da construo do mundo, da subjetividade e dos seus sentidos a presentes. Se focarmos os efeitos recprocos de produo entre linguagem e subjetividade, a concepo de linguagem pertinente a nossa proposta aquela que a sustenta como uma prtica, uma prtica discursiva que se expe como variao e, como produtora de diferena, interfere, transforma a realidade. E neste ponto precisamos ampliar nosso olhar de pesquisadores psi, na medida em que a perspectiva tradicional dos estudos da psicologia da linguagem no serve ao elo com a subjetividade que interessa nossa clnica. A velha dicotomia fundada na afirmao de um abismo intransponvel que aparta linguagem e vida precisa ser deixada para trs. De um lado a vida, a realidade emprica, como processo em perptua transformao, nele comparecendo variaes, devires, de outro lado o universo dos representantes, mundo da linguagem em sua organizao imvel e funo organizadora das
irregularidades factuais. Portanto, ao focar as relaes da subjetividade com a linguagem, vamos sublinhar o carter pragmtico/poltico deste entre dois. Pois no so os termos linguagem e subjetividade, tomados separadamente, que nos interessam, mas o elo, isto, a relao de foras de produo que faz emergir os dois termos e que nos permite equivocar as direes mais tradicionais da anlise do vnculo entre linguagem e sujeito nas cincias humanas. Neste sentido, no tomaremos a enunciao como a manifestao de um sujeito dado, ou seja, o dizer no resulta de um conjunto de processos gerais fixos e regulados por princpios gerais, como por exemplo, afirma a psicologia da linguagem. O "eu falo", sujeito da enunciao, ponto de partida da linguagem, desloca-se do centro do processo. Como diz Foucault (1987), a verdade ou a causa das enunciaes no deve ser procurada na unidade de um sujeito. Ele no agente do dizer. E, se no optamos por considerar o discursivo como expresso de uma conscincia, de uma faculdade anterior palavra, muito menos falaremos da linguagem como fundamento do sujeito, isto , de um sujeito do inconsciente estruturado como uma linguagem. No se trata de extrair da linguagem um
12
sistema simblico no qual o sujeito estaria imerso. Rejeitamos o sujeito como fonte ou origem da linguagem, da mesma maneira como abandonamos a tese de o sujeito ser constitudo exclusivamente pela e na linguagem. No apostamos na simples inverso da direo imposta ao vetor de determinao. Visamos ir bem mais longe e afirmar a transversalizao das coordenadas tradicionais de determinao. No por lugar nexos da de dicotomia entre de
determinante/determinado,
assentada
determinao,
predominncia de um termo sobre o outro, consideraremos a reciprocidade, entre os termos, catalisadora de efeitos mtuos de produo. Cada um dos termos , a um s tempo, agente de produo e tambm produto. A proposta de analisar o encontro da clnica transdisciplinar com a clnica das drogas, assim como os efeitos deste encontro sobre a direo tica possvel, vai nos exigir apresentar a noo de estilo-subjetividade e alguns parmetros da clnica transdisciplinar e da clnica das drogas. Os primeiros captulos, portanto, servem preparao deste encontro. Iniciaremos o primeiro captulo expondo a noo de linguagem que nos permite pensar a noo de estilo-subjetividade, o modo como propomos pensar os processos de subjetivao dirigidos criao de si. Longe de uma leitura restrita representao, captamos a linguagem na sua potncia de criar signos-enigma, momentos em que seu uso fere os limites do sentido e, numa experincia crtica, faz inventar outros sentidos, outras realidades. E como veremos, o uso da linguagem, seja na arte da literatura, seja no dizer cotidiano que encontramos na clnica, comporta oportunidades para desvios,
equivocaes de sentidos, instaurando instantes de abertura atravs da qual so suscitados outros encaminhamentos para a subjetividade. No segundo captulo trataremos do elo entre subjetividade e linguagem em sua potncia de produzir ambos os termos do par, em duas direes distintas: a das redundncias que circunscrevem contornos regulares para a linguagem e para a subjetividade e a dos efeitos dos signos-enigma sobre a subjetividade, espcie de problematizao do sentido que pode conduzir mobilidade da subjetividade e ao encontro de novas formas para o si.
13
Uma vez estabelecida a noo de subjetividade em jogo, no terceiro captulo traremos alguns parmetros da clnica transdisciplinar. Porm, distantes do equvoco de afirmar preceitos, tcnicas especficas, vamos apresentar o ethos que orienta seus procedimentos, sempre definidos em funo das circunstncias de cada caso. Ou seja, comentaremos, a partir de referenciais apontados na aliana entre o pensamento de Foucault e de Simondon, uma direo tica para a clnica transdisciplinar. O quarto captulo esboa o mapeamento da clnica das drogas no Brasil atual atravs da apresentao de duas propostas que seguem lgicas distintas e que disputam os espaos pblicos de atendimento. Uma delas corresponde ao Programa de Justia Teraputica (PROUD), praticado pelo jurdico e regulado pelo carter judicativo das aes ligadas s drogas. A outra, conhecida como Programa de Reduo de Danos (PRD), implementada pelo Ministrio da sade, numa lgica orientada exclusivamente sade, e no pelo ilegalismo, visa tratar os danos territoriais infringidos ao usurio pelo uso. O quinto captulo realiza o encontro da clnica transdisciplinar com a clnica das drogas. Dois casos clnico-institucionais, relacionados clnica das drogas, so discutidos, revelando impasses que interrogam a prtica clnica e revelam, para sua resoluo, a exigncia da atitude crtica de si, da problematizao constante, a partir da qual as aes clnicas podem ter lugar. No desdobramento da discusso, apresentaremos procedimentos clnicos produzidos em nossa prtica clnica, voltada s situaes de grupo. Apostamos que esse trabalho possa fornecer pistas para agirmos na reverso das limitaes impostas prtica da clnica das drogas nos dias atuais, na ampliao de sua potncia para inveno de outros modos, ainda no pensados ou regulados, de relao com a droga.
14
Captulo 1
LINGUAGEM: DE SISTEMA FIXO TRANSCENDENTE PRAGMTICA DA INVENO DE SI E DE MUNDOS
De todas as mudanas de linguagem que o viajante deve enfrentar em terras longnquas, nenhuma se compara que o espera na cidade de Ipsia, porque a mudana no concerne s palavras, mas s coisas. I. Calvino, Cidades invisveis,
Iniciemos a exposio pelos constrangimentos que a concepo representacionalista da linguagem imprime ao acesso direto vida, ao mundo e aos acontecimentos que os caracterizam para, posteriormente, construir, atravs de parcerias conceituais, argumentao nossa proposta da subjetividade como estilismo de si em sua natureza coletiva.
Linguagem e Representao: os Limites da Dicotomia Expresso-Contedo No incio do sculo XX, a linguagem ganha estatuto de tradutor fiel da ordem do mundo. A razo surgida com Descartes, at ento soberana na funo da representao, cede lugar linguagem. As idias so tratadas como conjunto de signos organizados entre si pela sintaxe lgica da linguagem. Duas correntes principais sustentam esse modo de pensamento. De um lado, a teoria saussuriana do signo2, e de outro, a filosofia da linguagem preocupada com a relao entre linguagem e verdade, apresentada por L. Wittgenstein no Tratado Filosfico", nas teorias dos lgicos neopositivistas G. Frege, W. V. O. Quine e R. Carnap (RECANATI, 1979). Segundo Recanati (1979), toda concepo representacionalista da
linguagem, por trs das nuances que distinguem suas diversas aplicaes, a entende como processo de organizao do mundo em um movimento de duplicao do representado no representante, traduzida, no domnio da
2
A perspectiva saussuriana, muito embora tenha complexificado o conceito de signo e assim obscurecido seu engajamento no modelo da representao, revela seu alinhamento a este atravs da defesa da dicotomia que expe a linguagem, num dos planos, como forma pura de organizao do outro plano, o da matria emprica (pensamento e som). Sobre este tema cf. Tedesco, 2008.
15
linguagem, pelo par expresso e contedo. O sentido que a linguagem carrega funcionaria como elo de ligao entre esses dois planos3. O plano da expresso comporta os signos lingusticos, sua sintaxe; j o plano dos contedos refere-se aos fatos vividos, aos dados narrados. Temos de um lado o plano da forma com sua ordem fixa, competente na organizao do outro plano, o domnio movente e fludico dos fatos, cujas regularidades apenas sero reveladas quando esses fatos so traduzidos em signos, pois, a partir da, o fluxo indistinto factual da vida seria organizado pela sintaxe lgica ou gramatical da linguagem. A linguagem ostenta em si a ordem que os fatos no comportam em si mesmos. Os signos funcionam como classes gerais que recortam o fluxo dos eventos empricos, doando-lhes contorno inteligvel. Em funo desta incluso em classes bem delimitadas, o emprico reaparece ostentando organizao. A crena na isomorfia que permite ao sentido veiculado linguagem revelar a ordem que o contato imediato com os fatos seria incapaz de ostentar. O plano da expresso, com seus regimes de signos, com suas classes e subclasses, enfim, com sua ordem interna, serviria reapresentao ordenada das diferenas num contnuo, construo de um arranjo homogneo amortecendo, em nexos invariantes, a forte inconstncia do real (RECANATI, 1979). Aqui reside a competncia da representao de amortizar as diferenas, o que nos impede de acessar, pela linguagem, as variaes do mundo e que, consequentemente, nos furta a chance de viver, de experimentar a diferena em toda a sua intensidade. Ora, segundo esse ponto de vista, apenas acessamos a diferena j assimilada a um signo, como contedo distante, a partir da qual ela s se expe como varivel de uma classe geral, como variao subsumida unidade do signo/conceito. Para a realizao desta tarefa de exclusivamente oferecer, na sua expresso, a ordem lgica aos contedos, a linguagem sofre constrangimentos, ou seja, distanciada da vida, mantm-se refratria aos acontecimentos do mundo: ela nem sofre a ao do material vvido e nem interfere sobre eles ao relat-los, sob o risco de comprometer seu estatuto de tradutor imparcial, de
3
A questo do sentido representacional largamente discutida no livro Sobre o sentido e a referncia de G. Frege, no qual o sentido aparece como o "tesouro comum de pensamentos" pertencente humanidade e responsvel pela ligao entre dois planos distintos, o da expresso da linguagem e do contedo, ou do objeto representado (Frege, 1978).
16
perder a condio de instrumento rgio ao acesso s verdades do mundo. Ao mesmo tempo em que, indiferente s interferncias dos fatos, ela tambm seria destituda da funo de agente de transformaes. Ou seja, linguagem vetada a funo de acontecimento. Sem reagir aos fatos ou agir sobre eles, ela serve apenas paralisao do movimento do mundo ao recolocar o inusitado como caso particular de uma regra geral, princpio regulador que o antecipa e lhe extirpa a potncia de acontecimento. Este o principal pressuposto da modalidade de conhecimento representacional que busca extrair informaes claras e organizadas. A fala cotidiana, a enunciao, ou seja, o dizer4 como fato no mundo cidad de segunda classe e nada interessa aos estudiosos da representao, seja na lingustica, na filosofia da linguagem ou na psicologia. Nesta direo as teorias da psicologia da linguagem, para alm das divergncias entre elas, expem uma forte fidelidade funo homogeneizante da linguagem, buscando nos signos modos de emprestar regularidade vida. Seja na psicolingustica de Chomsky, na teoria da modularidade na cincia cognitiva de J. Fodor, nas teorias dos soviticos Luria e Vygostsky, ou ainda no construtivismo de J. Piaget, a linguagem recebe a funo cognitiva de ordenao do mundo. Mesmo Skinner, para quem o mundo interior da representao desprezvel, permanece preocupado em afirmar a regularidade que o operante verbal empresta aos fatos5. Sob o ponto de vista representacionalista, o elo com a linguagem leva a ressonncias conceituais e prticas que constrangem a subjetividade fixidez, ao seu insensvel distanciamento das modulaes da vida. Pesada e sria, a linguagem, tomada como veculo principal de acesso a verdades absolutas, no serve modalidade de encontro com o acontecimento, com a variao, que queremos propor aos processos de subjetivao. Neste movimento, a transdisciplinaridade vem em nosso auxlio e nos permite acoplar aos estudos da subjetividade, outras perspectivas sobre a linguagem, distantes dos limites da psicologia.
4
A distino, tradicionalmente realizada entre os termos fala, enunciao, discurso, no ser trabalhada por ns, uma vez que na pragmtica que nos interessa construir, apenas vale distinguir a dimenso transcendente e universal da linguagem, de sua dimenso de uso, imersa no emprico. 5 O tema do alinhamento da psicologia aos pressupostos da representao foi tema de outro trabalho. Sobre o assunto cf. Tedesco (1993).
17
O carter pragmtico da linguagem Pensemos a linguagem sob outra perspectiva, na qual ela no exercite a formalizao. Em paralelo a essa tendncia voltada repetio, conservao da identidade, surgem propostas de eliminar este plano isolado do mundo para, no lugar, incluir os signos num plano imanente, que funcionem na conjugao de foras com o extralingustico e, nessa articulao, produzam efeitos
diferenciadores tanto na realidade, quanto em sua prpria composio. Assim, na vertente pragmtica austiniana, na teoria do discurso de Ducrot, na obra de Hjelmslev, de Foucault e ainda de Deleuze e Guattari surge outra funo para esses signos. De modelo ideal para descrio reta do mundo, a linguagem passa a vigorar como dimenso da realidade sujeita a irregularidades, e com isso ganha potncia de produo (no s de novos sentidos, mas tambm de mundos a includos). Os signos lingusticos, agora, so atravessados por processos de variao constante, o que desmancha as fronteiras intransponveis da forma pura. Interroga-se, portanto, a dicotomia expresso-contedo. Austin, um dos primeiros representantes da vertente pragmtica, foi um forte crtico da concepo representacionalista. Inicialmente, a amplitude do carter puramente formal da palavra reduzida pela noo de performativo, que ainda coexistia com os constatativos, reconhecidos ainda como descritores fiis da realidade. Posteriormente, com a defesa da noo de ilocutrio, o abalo mais significativo por estender a fora performativa totalidade da linguagem (AUSTIN, 1990). Vejamos essa segunda formulao. Uma mudana importante acontece nesses estudos. O sentido, propriedade essencial da linguagem, deixa de ser procurado exclusivamente no interior do plano da linguagem, no plano transcendente das regras de expresso. Estes autores deixam para trs a separao entre linguagem e mundo emprico. A dicotomia expresso-contedo comea a se dissolvida. As prticas linguageiras s tm seu sentido efetivado na empiricidade da sua manifestao
contextualizada. A linguagem agora pode intervir, tocar a realidade, e ganha insero nos fatos. A fala6 cotidiana entra em cena de tal modo que o estudo da
6
A clebre distino entre Lngua e Fala, instituda por Saussure no se sustenta nesse novo contexto. As duas dimenses passam a trabalhar conjuntamente. Como veremos, embora a
18
frase, objeto dos linguistas, ou das proposies, interesse dos filsofos da linguagem, acusado de investigar transcendncias, cuja descontextualizao eliminaria a possibilidade do sentido. Com o abandono da dicotomia expresso-contedo, a linguagem ordinria, misto de irregularidades e at ento preterida, torna-se objeto de estudo para Austin (1990). esta concepo de linguagem em variao que nos interessa e dela que passaremos a tratar daqui para frente. Na pragmtica, a dimenso formal das palavras conversa com a performatividade. Continuamos s voltas com o processo de construo do sentido e uma forte reviravolta vir. No se fala mais da frase, extrada de seu contexto emprico. Interessam as enunciaes, a ao de enunciar localizada na concretude emprica. Segundo Austin (1990), na enunciao: "Eu os declaro casados", por exemplo, no h descrio alguma, e sim produo de uma obrigao entre os nubentes; do mesmo modo, o dito "ordeno que voc fique" impe ao ouvinte condies de obedincia. Tem-se no performativo, a inaugurao do fato mesmo, da instaurao de uma nova realidade para os dois indivduos, e no apenas a representao de um fato. A palavra, propriamente, realiza o ato. Sem ela, a transformao no se configura, ao mesmo tempo em que a palavra s se efetua em ato na ao de enunciar, portanto, na sua ligao com a empiricidade. Assim como essas, outras enunciaes atualizam ordens, impondo realidade novos estados de direito e de fato, presentes na palavra. A performatividade habita a linguagem. Ao invs de descrever o plano dos fatos, a linguagem, em continuidade com ele, passa a constitu-lo. E, pode-se acrescentar que, se existe ao dos signos sobre o mundo, o inverso tambm verdadeiro. A performatividade, para ser exercida, exige especificaes precisas que, estranhamente, no provm do domnio lingustico: do lxico ou da sintaxe. As condies de efetuao do ato, condies de felicidade e de infelicidade segundo Austin, so definidas no exterior da dimenso da linguagem, nas circunstncias em que o dito foi proferido. A enunciao "declaro o ru culpado", como ato jurdico, s pode ser
dimenso das regras gerais se mantenha, apenas na manifestao emprica com suas variaes contextuais que a linguagem se efetiva na constituio de seu sentido.
19
considerada feliz se efetivada em condies precisas: proferida por um juiz de direito, durante sesso jurdica oficialmente aberta. Numa outra situao, por exemplo, como o da ameaa de roubo presente enunciao perdeu, emitida num contexto de violncia, o sentido desta fala no tem condies de ser explicado pela dimenso pura da frase, isto , pelo lxico ou pela sintaxe. a cena de um assalto que confere a enunciao seu sentido de ameaa. Em outros contextos, a mesma enunciao perdeu pode ter sentido diverso. Pode indicar a procura de um objeto, ou pode servir de exemplo elucidativo, como neste momento. O sentido especfico das enunciaes em cada uma das situaes apontadas exclusivamente determinado pelo mundo emprico, pela dimenso extralingustica. No caso de a fala exercer-se como uma ameaa de roubo, o sentido da enunciao, o que introduz o medo na situao e a conduta de fuga so tambm as palavras, mas no apenas elas, algo a mais deve ser levado em conta. O sentido da enunciao depende de fatores circunstanciais. Deste modo, o extralingustico, na medida em que decide o sentido, passa tambm a compor a linguagem. Com isso, Austin equivoca mais fortemente a existncia de enunciaes puramente representacionais, denominadas por ele de constatativos.
... devemos nos perguntar se proferindo uma afirmao constatativa no , finalmente, a realizao de um ato, o ato, nomeadamente, de afirmar. a afirmao um ato no mesmo sentido que casar, desculpar, apostar, etc.?[...] O que precisamos, talvez, de uma teoria mais geral destes atos de fala, e nesta teoria nossa antithesis constatativoperformativo ir dificilmente sobreviver (Austin,1990, p. 20).
Toda
enunciao
realiza
um
ato,
performativa.
No
existem
enunciaes apenas constatativas. A produo do ato interna ao dizer, mas s se realiza na relao com o extralingustico. A partir de Austin, nenhum dizer est isento da dimenso pragmtica e, no lugar de representar ocorrncias empricas, ele intervm obrigatoriamente sobre elas. A linguagem tem insero na realidade extradiscursiva, possui, de direito, dimenso factual. a fora performativa da linguagem e no sua competncia representativa que est em jogo. Esta nova caracterstica traz efeitos considerveis. Lembremos que a linguagem define-se pelo sentido que veicula, ou seja, pelo poder de estabelecer elos entre signos e ocorrncias no
20
mundo. Se falarmos de sentido pragmtico, a constituio deste outra. O processo de produo do sentido pragmtico no pode ser procurado no plano transcendente das regras lingusticas, apartado do mundo dos fatos e at ento identificado como o nico domnio prprio da linguagem. Vemos que o sentido, agora, produz-se no exterior das regras lingusticas. O que assinalamos que a dimenso performativa funciona como argumento irrecusvel de que a propriedade de construo de sentidos, que define a linguagem, no se esgota nos limites da dimenso lingustica da enunciao. A linguagem e o lingustico no mais se sobrepem. A fora pragmtica da linguagem seria um modo de resistncia, ponto de escape em relao identidade do sistema que os estudos da lingustica apregoavam. Ao revelar a impossibilidade de um conjunto de regras gerais, interno ao sistema, dar conta do sentido, o performativo trabalha a desestabilizao do sistema de inteligibilidade vigente, criando reas de rompimento numa superfcie de aparente homogeneidade. Assim explicitada, a performatividade dos signos compromete os limites entre o lingustico e o extralingustico. Esse comprometimento revela a transformao da natureza do elo entre a linguagem e o seu exterior. A relao entre os dois planos no ser mais de apenas descrio, mas inclui a possibilidade de incurses recprocas. A dimenso de ato de fala e sua consequente opacidade deixam de lado o aspecto puramente designativo da linguagem, a sua dimenso representativa. Mas comportam o risco de eliminar o universo prprio linguagem. Vejamos melhor Com Austin, a dimenso formal da linguagem d lugar sua potncia de produo. Porm, o poder de interveno trouxe algumas dificuldades teoria dos atos de fala, principalmente por fragilizar a delimitao do universo lingustico (SEARLE, 1969, 1979b; BOURDIEU, 1975, DUCROT, 1984d). Isto ocorre pois os desdobramentos dos performativos so tratados por Austin como qualquer outro fato social. Como o ato performativo produzido e exercido na conjugao com o extralingustico, o objeto criado na enunciao, o tema da enunciao, seu contedo, no de natureza lingustica, mas social. Austin teria jogado o ilocutrio no quadro da realidade social ou moral" (DUCROT, 1984d, p. 453). O
21
carter designativo do lingustico parece desaparecer ao preo da dissoluo de todo domnio lingustico. O desafio ser manter a distino entre linguagem e o extralingustico, porm sem separao. preciso pensar condies que simultaneamente mantenham a linguagem como uma dimenso dos fatos e preservem sua especificidade discursiva. Apenas desse modo teremos o plano discursivo garantido, mas agindo entre os fatos em geral. A questo de apostar na distino sem dicotomias. Ducrot (1984c) nos oferece a noo de pressuposto implcito como soluo. A instaurao de obrigaes (produo de direitos e deveres) e outras modalidades de intervenes, realizadas na palavra, tornam-se possveis graas fora performativa presente aos pressupostos implcitos que estas carregam. A consistncia pragmtica de ordem, a natureza factual vinculada as palavras, sem, no entanto, identificar-se com elas. Assim, ao mesmo tempo a linguagem mantm natureza factual de interveno sobre o mundo, e preserva sua especificidade em relao aos fatos. O carter de mando das palavras, mas do extralingustico que vigora como pressuposto implcito destas. E esses pressupostos tornam-se a condio necessria para que exista a linguagem. Toda fala, seja no formato de pergunta, de imperativo, de declarao, comporta pressupostos incontestveis que direcionam o dilogo, instituindo o objeto discursivo como a nica realidade a ser levada em conta na conversao (DUCROT, 1984c). Nos estudos de Ducrot da dcada de oitenta damos um passo largo na reconfigurao da linguagem. Neles encontramos condies para articular, sem dissolvncias, os planos lingustico e extralingustico da linguagem. Na aliana com Deleuze (1995), aproximamos os pressupostos implcitos, mandatrios do dito, da noo de palavra de ordem emprestada a Canetti (1966). A ordem, funcionando como pressuposto implcito de toda linguagem, interfere nos traos principais da palavra e sublinha no ato realizado por ela seu carter irrecusvel de ordem. O ato, como pressuposto implcito, adere-se palavra e, uma vez pronunciada, no h como desfaz-lo. Ele deixa sua marca, seu aiguillon, ou seja, o carter indiscutvel e irredimvel de um comando (CANETTI, 1966, p. 324). Tal a realidade da palavra de ordem. Uma declarao no descreve uma situao, mas impe o enquadramento do dilogo e, assim, decide
22
pela realidade orientadora do discurso. Um imperativo dirigido a um subalterno por seu superior no cria apenas a necessidade factual de obedecer, mas pe em pauta a discusso sobre o tema da obedincia ou desobedincia. Uma afirmao ou declarao qualquer implica a seleo de um tema em detrimento de outros possveis. A partir da, pode-se negar a declarao, tecer comentrios sobre ela, mas, de todo modo, seu tema central passa a orientar o tema da comunicao. A predicao pode ser rejeitada, mas no a direo ditada conversao. Por exemplo, num determinado momento passou-se a falar da periculosidade ligada aos usurios de crack. Os meios de comunicao, aliados aos discursos da polcia, dos centros de tratamento, da mdia e da populao em geral, esto constantemente produzindo enunciados sobre os craqueiros ou cracudos. Os diferentes discursos nem sempre concordam sobre o modo como tratar esse problema e mesmo sobre caractersticas atribudas a eles, mas concorrem para a constituio de um novo modo de subjetividade adita e violenta. Produziu-se um novo tipo de criminalidade/doena que, provavelmente, est deflagrando mudanas no discurso da psicologia, do direito civil e penal, da sociologia e da antropologia, etc.. Enfim, o plano dos discursos, em sua relao de determinao recproca com o emprico, instituiu uma nova realidade a ser tratada. Esse enquadre, essa produo imposta pela conversao, corresponde a um pressuposto tcito ao ato de fala ou palavra de ordem, como preferem Deleuze e Guattari, (1995). O carter ordenador, agora, a condio do sentido de toda fala. O mundo descrito tecido no prprio enunciado sem preexistir-lhe, nem tampouco identificar-se com ele. Nesse quadro, descrever tem, na verdade, o carter de produo. No falamos de relao de identidade entre ato e linguagem, mas de relao de pressuposio e de condio. Tal a realidade constante nas leis, nos cdigos, nos enunciados estabelecidos pelas convenes
institucionalizadas ou informais, presentes em qualquer esfera do cotidiano. tambm o mundo posto pelas teorias, pelas hipteses explicativas, que percorrem todos os limiares da cientificidade de que fala M. Foucault, desde a formalizao, s puras positividades, incluindo-se a, tambm, qualquer opinio, desde a mais corriqueira, at um simples traado de letras sobre uma folha de papel. Qualquer conjunto de signos ou sinais um dizer que, ao pretender contar ao mundo, produz um modo particular de faz-lo, ou seja, o constitui (FOUCAULT, 1987).
23
A realidade produzida pelo enunciado de natureza lingustica, mas no menos real do que a realidade extralingustica. A dicotomia entre os planos da linguagem ou da expresso e o plano da realidade emprica ou do contedo, que referia toda transformao, mudanas a um deles apenas - no caso, o plano dos contedos ou plano extradiscursivo - desaparece. No se tem mais a linguagem dedicada descrio neutra de acontecimentos realizados no seu exterior. Assim como o plano extralingustico, ela tambm um universo de realizaes empricas. Constitui objetos, cria situaes novas. Enfim, a produo do mundo no privilgio do extralingustico, ao contrrio, tem afinidade especial com a linguagem. Ducrot teria fornecido, sua revelia, dados necessrios conciliao entre produo e funo referencial, demarcando com preciso o plano particular do discursivo, distinto do extradiscursivo. O objeto do enunciado criado no seu interior, como imposio de obrigaes relativas produo de temas e objetos. A linguagem torna-se essencialmente orientao sobre o que dizer ou pensar, isto , cria o mundo ao qual se refere. Nas palavras de Ducrot "o referente no , propriamente, o ser descrito pela expresso referencial, mas esse ser tal como descrito" (DUCROT, 1984c, p. 434), ou seja, o referente de um discurso no , assim, como por vezes se diz, a realidade, mas sim a sua realidade, isto , o que o discurso escolhe e institui como realidade (DUCROT, 1984d). Na deciso sobre a direo do dilogo, a fora pragmtica da palavra define a situao discursiva, escolhe aquilo que ser ou no pertinente conversao. A linguagem n o mesmo feita para que se acredite nela, mas para obedecer e fazer obedecer (DELEUZE e GUATTARI,1995, p. 12). Falar do mundo institu-lo de algum modo e assim percebemos que a divisria que separa os planos da expresso e dos contedos desmorona sem, no entanto, eliminar a distino entre linguagem e mundo. Pois a linguagem efetiva um tipo particular de produo, s compatvel com ela. Nesta direo segue Foucault apoiando-se na distino, porm, sem separao entre os planos discursivos e no discursivos. Foucault e as Condies de Possibilidade de Produo de mundos Seguindo na escalada para a eliminao da dicotomia expressocontedo, nos damos conta de que precisamos buscar as condies que
24
engendram o poder de mando das palavras e que tais condies no se restringem aos acordos sociais ou convenes como queria Austin. A produo dessa realidade implcita aos dizeres exige mais. E ser preciso ampliar o pressuposto implcito das palavras, ou seja, o plano extralingustico a fim de nele incluir as condies histrico-polticas como determinantes do sentido mandatrio das palavras. E efetivamente, na parceria com Foucault, o plano do discursivo ou dizvel ser ampliado para absorver as condies da produo da ordem a efetivada. (FOUCAULT, 1987, DELEUZE, 1986b). As condies de produo a que fazemos referncia provm de um plano heterogneo, onde prticas lingusticas e extralingusticas agem umas sobre as outras, num movimento de mtua produo. Sem uma, a outra no se realiza. Segundo Foucault (1987), a empiricidade sofre a repartio em duas dimenses, cada uma com a mesma fora produtiva. As prticas discursivas e as no discursivas recobrem a realidade e constituem-se em duas modalidades de produo. Na primeira se localizam as prticas centradas no uso de signos, toda e qualquer atividade envolvida com a expresso. Na segunda encontramos a produo de modos de ver e junto a esses as prticas empricas que, sem uso direto de signos, afetam diretamente corpos e coisas. o plano das aes mudas, das visibilidades, resultado da criao de modos determinados de ver cuja fora pragmtica institui realidades. Assim como a linguagem, nosso olhar seleciona, recorta, pe em relao, enfim, assume a funo produtora de mundo. O plano das visibilidades age, realizando as reparties, as distribuies dos espaos, atravs das quais, doa distintas qualificaes para os corpos. As escolas fazem ver os corpos, l presentes, como alunos, j os espaos dos centros de desintoxicao deixam ver dependentes qumicos. De um lado, os atos, as realizaes vinculadas s enunciaes; de outro, as aes mudas. No lugar do privilgio oferecido a um dos planos no poder de organizao formal surgem duas formas distintas mais articuladas por pressuposio recproca. Os dois planos existem como dois aspectos de um mesmo plano mais amplo, o das empiricidades, e possuem, cada um, seu modo prprio de organizao. A autonomia dos dois planos os mantm distintos, porm, no mais isolados, no escapam a relaes de reciprocidade. A realidade
25
emprica
definida
como efeito
de
prticas
explica-se
pela relao
de
pressuposio mtua, estabelecida como resultante de dois planos: o discursivo e o no discursivo (FOUCAULT, 1987) ou dizibilidade e visibilidade (DELEUZE, 1988b). A repartio realizada acima ganha maior clareza quando os dois planos revelam-se como formaes, como processos histrico-polticos. Trata-se da grande rede discursiva de que falvamos no incio, agora, esclarecida tambm atravs de seus componentes lingusticos e extralingusticos. no conjunto de falas e olhares que os objetos dos saberes se constituem. Entre as formas produzidas por essa rede emprica produtora de realidade, uma modalidade delas nos vai interessar particularmente - as formas de subjetivao. Mas deixemos o sistema subjetivao para o prximo captulo. No momento nos interessa tratar da linguagem e seu movimento de criao, de expresso do acontecimento. Linguagem como Expresso do Acontecimento e o Plano do No-lingustico Seguir a tradio pragmtica nos conduz a conceber um duplo
funcionamento para a fora pragmtica da linguagem. E com isso o sentido de produo abala-se. Ao falar de produo surgem dois sentidos para o termo. Entendida como repetio, redundncias de sentido, o processo de produo tende a imprimir no produto sempre uma mesma natureza, ou melhor, o efeito no diverge da direo imposta pela configurao geral do processo. Vemos a funcionarem redundncias, reverberaes entre similaridades, concordncias de sentido, enfim prticas de dizibilidade que, articuladas a prticas no discursivas ou de visibilidade, tendem na direo de um destino comum: a construo de contornos que permitiro falar e ver determinados objetos no mundo. Tal como numa fbrica, esta modalidade de produo prima pela realizao de cpias, orienta-se pela qualidade da produo, ou melhor, pela qualidade da reproduo. Vigoram a as produes serializantes, homogeneizantes. Porm, existem momentos em que o processo de produo, no lugar de reproduzir reiteradamente um mesmo efeito, segue direes inusitadas, instala-se como uma bizarra modalidade de produo, na qual o processo volta-se sobre si mesmo, e numa estratgia de diferenciao, impe direes inesperadas s suas prprias linhas de produo. Neste caso, o prprio processo que fabricado. O
26
processo ocupa o lugar de produto. Ou melhor, processo e produto so, agora, indiscernveis. Trata-se de um produto-processo, em que a engrenagem, ela mesma, passa por transformaes, garantindo o surgimento no s de produes inusitadas, mas de novas e estranhas direes para seu funcionamento. Falamos da potncia de criao da linguagem Afirmar a atividade de criao como interna linguagem envolve redesenharmos mais uma vez seus limites. Para alm do lingustico, com o lxico e regulaes de sintaxe, e do extralingustico, com suas condies histricopolticas determinantes do sentido, precisaremos incluir um terceiro plano completamente descompromissado com o gerenciamento homogeneizador das variaes, seja na unificao do diverso em classes-signos como faz o plano lingustico, seja na regularidade discursiva realizada pelo extralingustico. Os modos de criao vo se expor como procedimentos de equivocao do sentido que no se configuram como criao ex nihilo. Seu funcionamento cumpre encaminhamentos prprios que podemos entender como efeitos de variao inerentes ao sistema da linguagem. Falamos de um sistema autnomo competente para inventar, no interior de suas operaes, suas prprias regras. As regras invariantes, assim como as regularidades do plano emprico de foras, desaparecem, e no lugar instituem para si modos de funcionamento prprios, regulados por princpios sempre inventados e provisrios. Tal modo nico de operar possibilitado pela existncia, no sistema, de reas de indefinio, pontos paradoxais. Estas reas vo compor um terceiro domnio, o do no-lingustico da linguagem (TEDESCO, 2003). Plano exterior aos estratos de contedo e de expresso, ele permite palavra pr-se em variao contnua, colar na diferena sem dobrar-se identidade de categorias sintticas do lingustico ou s ressonncias discursivas das formaes histricas. Para esclarecer nossa proposta, retomemos a dicotomia tradicional entre forma e matria (expresso e contedo) luz da releitura que Hjelmeslev nos prope.
27
A Matria do No-lingustico da Linguagem No modelo tradicional de pensamento orientado pelo par forma-matria, o plano da matria seria como uma nebulosa, resultado do infinito de relaes estabelecidas entre os componentes, sem traos detectveis de permanncia ou fronteiras constantes, essenciais delimitao dos objetos. Considerado indistinto e infinito, ele corresponde a um nvel do real onde inexistem os contornos, e sobre essa indeterminao so operadas as demarcaes formais executadas pelo plano formal ou da expresso. Hjelmslev inclui os planos da expresso e contedo no plano das formas, como duas formalizaes distintas (plano dos contedos, organizado em conceitos, e plano da expresso, delimitado em fonemas), enquanto que o plano da matria exterior aos dois pura irregularidade e indeterminao. O linguista parte da observao de que os recortes na matria sensvel, na medida em que mudam nas diferentes comunidades falantes, poderiam variar indefinidamente. (HJELMSLEV, 1975). Por exemplo, o portugus estabelece fronteira clara entre o conceito de cinza e de marrom, porm, sem correspondncia direta no gals. Neste ltimo, encontramos o conceito de llwyd que, se comp arado ao portugus, recobre parte da regio do marrom, avanando tambm sobre o espectro do cinza (HJELMSLEV, 1975). Ou seja, as compartimentaes realizadas poderiam ser outras e tambm multiplicadas ao infinito, fazendo surgir novos conceitos, at ento desconhecidos, ainda no produzidos. A profusa produo de formas conceituais nos induz a pensar esse plano, dado seu carter infinito, como um potencial jamais esgotvel pelas segmentaes implementadas no ato de representar a considerado. Por exemplo, o corte que distinguiria os conceitos do verde e do azul no plano contnuo das cores, no definitivo, porta uma regio indecidvel, que no pertence inteiramente ao verde nem ao azul, embora tambm esteja em continuidade com os dois (TEDESCO, 2008). Para alm dos recortes conceituais ou fonticos, permaneceria sempre um distanciamento invisvel entre dois conceitos, algo de indeterminvel, existente no limite entre eles. O que nos interessa dizer que os limites sempre guardam certa indefinio e impedem o fechamento das formas-conceito ou formas-signo. justamente nas zonas intersticiais que o signo encontra seu limite, ou seja, na fronteira encontra-se o infinito, no qual as demarcaes claras no existem e o signo passa ento a ser
28
afetado pela dimenso de matria no-lingustica da linguagem. Este plano asemitico7 da linguagem reside nos intervalos de indeterminao do sentido mantido entre as figuras recortadas dos signos. Nos momentos em que o signo levado ao limite, ou seja, quando ele toca o no-lingustico da linguagem, ele emerge simultaneamente em sua dupla face do sentido e do no sentido. Estamos frente quebra da unidade do signo, uma vez que a busca de sentido, inerente ao signo, no se completa e, no lugar, faz proliferar mltiplos sentidos. a configurao plural que, agora, define o sentido e, portanto, tambm o signo. Para tal, devemos estar atentos para no tomarmos a ausncia de organizao do no-lingustico como homogeneidade. A indistino impera, mas no como sinnimo de indiferenciao. So as diferenas que o caracterizam, tendo, no entanto, a particularidade de se esquivarem ordem representao ou dos jogos de foras convergentes na determinao do sentido pragmtico. Enquanto as transformaes absorvidas ordem passam a compor linhas de convergncia espacializantes, as partculas da matria do no-lingustico se expem como energias potenciais e escapam a todo modo de ordenao, de unidade reducionista. A ausncia de repetio no no-lingustico leva-o a uma variabilidade infinita, da sua resistncia nomeao. A negao da passividade plstica da matria, desenvolvida por Simondon (1964) serve para esclarecer as relaes de reciprocidade entre forma e matria. Diferente de postular um modelo, no qual a forma molde que se impe e a matria inerte, completamente deformvel e a merc do molde, o autor ressalta a heterogeneidade e a resistncia da matria. Tomando como exemplo a operao tcnica da confeco de tijolos de argila, ele lembra que a colocao da areia, fina e molhada, numa forma paralelepipdica, no resultar jamais num tijolo, mas num acmulo de areia. Para obteno da forma, alm dos dois termos, preciso que uma operao tcnica efetiva institua uma mediao entre uma massa determinada de argila e esta noo de paraleleppedo (SIMONDON, 1964, p. 29). A forma do molde
7
Na perspectiva pragmtica em cena, a distino entre termos como semitica, significncia e significao no procedem. Eles valem apenas por dizerem respeito ao sentido.
29
incapaz de dar um formato argila caso propriedades particulares da matria no sejam consideradas, tornando-a, assim, apta moldagem. Tal dado revela que os dois termos distintos resistem a certas aes e tendem a outras. preciso levar em conta essas caractersticas. De um lado, a forma-molde precisa ser capaz de receber a argila, agir sobre ela. Seu tamanho, forma, a textura das paredes e o modo de abertura so especficos para cada tipo de material a ser recebido. Ela no pode apresentar fissuras ou cavos em sua superfcie. De outro, preciso considerar as particularidades da matria que a tornam capaz de aceitar o molde. A argila no inteiramente deformvel. Sua plasticidade, no caso da modelagem pela forma-molde, resulta de suas propriedades coloidais, que, misturadas gua, oferecem a coeso, a consistncia indispensvel operao de moldagem. Ser modelado no submeter-se a deslocamentos arbitrrios, mas ordenar sua plasticidade segundo foras definidas que estabilizam a deformao
(SIMONDON, 1964, p. 33). No caso, a areia dever ser convenientemente misturada gua e a outros materiais, de modo a transformar-se em massa homognea. A matria, portanto, em si mesma no homognea, e sim portadora de particularidades que precisam ser respeitadas na sua absoro s formas. A operao mediadora entre os dois termos trabalha a dimenso de energia potencial ligada matria enquanto faz a forma funcionar como limite energtico, fronteira, sistema de pontos de aplicao de foras (SIMONDON, 1964). A partir desta composio entre forma e matria, compreendemos melhor a dupla natureza da linguagem. Os domnios regulares da linguagem (lingustico e o do extralingustico) correspondem, nesse mapeamento que reconfiguramos agora, ao plano das formas, ou seja, s dimenses, ao mesmo tempo ordenadas e ordenadoras, produtoras de sentidos, nas suas duas dimenses, gramatical e pragmtica, articuladas entre si e voltadas produo de realidades. J o nolingustico, distinto das formaes lingusticas e extralingusticas, compe o plano da matria, constitudo por puras diferenas, de fragmentos intensivos, de irregularidades semiticas, enfim elementos cuja disparidade revela potncia infinita de criao de novos recortes-signos, sentidos inusitados. Nesta outra configurao da linguagem, a dimenso matria deixa de existir como um limite exterior absoluto em relao ordem. Temos duas
30
realidades dspares, mas coexistentes. Pensemos na face no-lingustica da linguagem como aberturas no solo regular da linguagem. Aberturas ordenao, nas quais o no-lingustico comparece para equivocar as compartimentaes realizadas. Neste caso, lembremos que o no-lingustico expe componentes instveis e ariscos ao sentido fcil, a normas e regularidades discursivas. So os componentes anmalos de que nos fala Canguilhem. Em sua tese de 1964, a preocupao dissociar os conceitos de anomalia e de anormalidade, muitas vezes confundidos na histria natural e na biologia. Anormal, vocbulo de origem latina, composto na dicotomia com o termo normal ou norma, define-se como aquele que contradiz a regra. Anmalo, um termo que vem do grego, segue em outra direo, qualifica a aspereza, os traos de irregularidade de um terreno. Anomalia designa um fato, apenas descritivo, enquanto anormalidade, implica referncia a um valor, um termo apreciativo, normativo (CANGUILHEN, 1978, p. 101). Anormal tem, portanto, carter negativo, aquele que no atinge o cumprimento da regra. A noo de anomalia, no possui carter negativo. As discrepncias, a irregularidade, no seriam patologias, mas caractersticas da variao prpria s formas vivas. O anmalo habita o limite das regras e revela em si o trao, o germe de novas solues para o viver. Na medida em que seres vivos se afastam do tipo especfico sero eles anormais que esto colocando em perigo a forma especfica, ou sero inventores a ca minho de novas formas? (CANGUILHEM, 1978, p. 110). seguindo nesta direo que tomamos a anomalia como germe de processos de criao, pontas de escape ordem, fundadores de novas formas, e com elas outras normas. As singularidades, compatveis com a construo das multiplicidades discursivas, encontram-se no limite extremo dos contornos, no domnio do no-lingustico isto , na zona de indeterminao entre as classes-signos. Elas instalam-se nos deslizes da regularidade, nos instantes em que a bifurcao entre o dentro e o fora das organizaes se impe. Na dimenso mais porosa das figuras, vivem os elementos excepcionais, destacados dos outros por seu carter intenso de variao e resistentes classificao fcil entre os demais. So componentes que se situam na divisa entre pertinncia ao grupo e estranheza. Algo de inusitado os distingue e os fazem permanecer na fronteira do conjunto.
31
Transportada para o no-lingustico da linguagem, a noo de anmalo nos diz sobre estes elementos dspares que garantem a grande mobilidade e flexibilidade dos signos. Ao infiltrarem-se nas classificaes, equivocam a ordem produzida e propem outras tantas ordenaes semiticas possveis. O nolingustico, atravs de seus componentes anmalos ou rugosos, localiza-se no "entre" ou no meio das reparties das formas-signos da linguagem. Tambm formulado como O Fora da linguagem, este domnio no representaria o exterior absoluto da linguagem, mas o lado de fora, seu domnio a-semitico, que tambm a constitui (FOUCAULT, 1994). O atravessamento mtuo e constante entre o plano da regularidade das formas e o plano da irregularidade infinita do nolingustico agora indispensvel linguagem, pois esse encontro de realidades dspares que traz a desestabilizao do sistema, forando sua dissoluo e reconfigurao necessrias perseverao do movimento. Na aliana com Ferlinghetti e Blanchot, tratamos do nvel mais rarefeito do plano do no-lingustico da linguagem. a dimenso do diz-se, na qual o verbo infinitivo e o pronome indefinido e impessoal, melhor expressam essas distribuies no lingusticas. Os enunciados mais indeterminados reverberam seu carter de diferena no paradoxo que os define. Neles, as mltiplas direes do sentido rompem a continuidade dos fatos, sejam eles fatos discursivos, sejam prprios visibilidade. Uma vez que no portam um sentido nico, passvel de refutao ou confirmao, essas enunciaes paradoxais descrevem sries divergentes e, por essa razo, no podem ser julgadas pelas categorias do falso ou do verdadeiro. Nas enunciaes literrias proliferam esses tipos de efeito. Na descrio do rosto de Albertine por Proust, claramente detectamos sua condio paradoxal. Se for verdadeiro que um rosto confivel, ser falso que ele suscite o cime. Porm, a enunciao de Proust afirma ambas as condies, de modo que esta no se refere a nenhuma realidade especfica. As enunciaes circulam como pontos de vista divergentes para criar sua prpria realidade. O enunciado s pode criar dinamicamente seu domnio que, por outro lado, passa tambm imediatamente a constitu-lo (EIRADO e PASSOS, 2004). Tal, por exemplo, o efeito Guimares Rosa, gerando sertes inditos (COUTINHO, 1992), e o estiloProust, cujas realidades produzidas pela potncia de fabulao no param de deslizar em suas distncias para criao dos vrios mundos. Compostos por
32
diferenas a-significantes, foram os limites at seu ponto extremo para inaugurar novas maneiras de ser e atualiz-las simultaneamente em palavras e corpos. Sempre presente ao tranado perptuo entre as diferentes dimenses da linguagem, a matria no-lingustica, jamais esgotada pelos recortes realizados pelos planos da forma - o lingustico e o extralingstico - segue empurrando, insistindo nas formas, impondo sua desordem problematizadora para reconfigurlas e, assim, inventar novas realidades. A Natureza Coletiva, o carter de multiplicidade da linguagem Vale ainda lembrar que essas anomalias de sentido, embora recusem unificao, no existem em estado de isolamento. So foras e, como tais, tendem a compor coletivos, multiplicidades. Na aliana com Nietzsche compreendemos que as foras s podem ser apreendidas em seu exerccio, na relao com outra fora. Toda fora compe um coletivo, um conjunto de foras, efeito do dualismo das foras de afetar e ser afetado (DELEUZE, 1988b, p. 91). As anomalias, portanto, esto distribudas (no organizadas) em conjuntos denominados hecceidades. Estas compem grupamentos de partculas no assimilveis a um contorno representativo, seja sujeito, seja coisa. As hecceidades escapam ao da redundncia. So figuras contingentes e precrias, no totalizveis e, portanto, refratrias representao (BUYDENS, 1990). As hecceidades aparecem como o terceiro tipo de multiplicidade, afirmado por Deleuze no livro Foucault. Neste ltimo caso ela seria estabelecida para alm das multiplicidades discursiva e de visibilidade, multiplicidade das relaes d e fora, multiplicidade de difuso que no passa mais pelos dois [planos] e se liberou de toda forma dualizvel (DELEUZE,1988b, p. 90). Percebemos aqui a presena de certa qualidade dos nexos, distinta daquela frequente ao plano da produo das formas. Enquanto no plano do lingustico e do extralingustico os elos instauram regularidades, levando o sistema a exalar estabilidade, no no-lingustico, o inesperado que impera. Diferente de outros tipos de relao, geralmente sustentados na existncia de uma unidade comum, homogeneizante, essa maneira de articular enunciaes
33
afirma-se, paradoxalmente, como relao irredutvel entre heterogneos. Os laos no aproximam, os enlaces ostentam o carter dissonante ali presente. A natureza dos elos que decide a maneira dos objetos, seres ou signos se articularem, ora conformando-se, ora inventando-se na relao. So modos bizarros de relao que pem em contato, acionam efeitos recprocos nos envolvidos, mas sem comprometer-lhes a autonomia ou provocar unificao. So essas composies fluidas, com alto grau de abertura a indeterminao, que garantem a ruptura de todo sistema ou forma, deflagrando seu processo de deriva, preservando a inconstncia como natureza ltima da realidade. Esses coletivos, essas quase-formas, que to bem fazem perseverar o movimentos de criao, sero, por ns, retomados para pensar a subjetividade como estilismo de si.
34
Captulo 2
DA PRAGMTICA DA LINGUAGEM PRAGMTICA DA SUBJETIVIDADE: O ESTILO-SUBJETIVIDADE E OS PROCESSOS DE CRIAO
O objeto no espera nos limbos a ordem que vai liber -lo e permitir-lhe que se encarne em uma visvel e loquaz objetividade; ele no pr-existe a si mesmo, retido por algum obstculo aos primeiros contornos da luz, mas existe sob as condies positivas de um feixe complexo de relaes. M. Foucault, Arqueologia do saber
O nexo entre linguagem e sujeito comporta problemas. A concepo pragmtica de linguagem que assinamos mostra total incompatibilidade com a noo invariante universal de sujeito: agente da fala, conjunto de processos cognitivos, entendidos como prontido mental para emprego dos signos lingusticos. Como apresentamos anteriormente, os sentidos construdos na linguagem no se confundem com ela, caso esta seja definida exclusivamente por sua dimenso lingustica. A produo do sentido estende-se pelos seus trs planos. Amplia-se para alm da frase como abstrao, do lxico e da gramtica a implicados (o lingustico) para constituir-se no complexo de foras que segue pelos vieses entre os aspectos discursivo e o no discursivo das prticas polticas (o extra-lingustico) e ainda na relao com seu fora (o no-lingustico). Essa nova configurao nos leva a concordar que A linguagem dada por inteiro ou no dada (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p.17). Ou seja, no lugar da individualidade pessoal como origem, ela emerge de um plano de foras e, sendo assim, s poder encontrar sua condio de emergncia num coletivo. Portanto, a questo que nos ocupa a ateno decidir que noo de subjetividade precisamos acionar para lidar com nossos processos discursivos. Encontramos a questo do ponto de partida da linguagem na obra de Foucault e tambm na de Deleuze. Segundo esses autores, a originalidade de Nietzsche reside em problematizar a pergunta sobre quem fala. Seu pensamento no s no responde, como faz bem mais, reage pergunta com outra pergunta, impondo caminho diverso pesquisa do comeo da linguagem. O dizer no
35
aponta para um sujeito, mas para o sintoma de uma vontade. A enunciao marca de foras heterogneas que querem alguma coisa. Nesse caso, vemos a questo da origem, da Ursprung, ser substituda pela pesquisa da Herkunf, entendida como provenincia. Foucault (1979) fala-nos sobre a importncia do deslocamento realizado por Nietzsche. A pesquisa da Ursprung a busca da identidade primeira, visa encontrar por trs de todo incio uma continuidade fundada na essncia exata da coisa, sua forma imvel e anterior a tudo que externo, acidental, sucessivo (FOUCAULT, 1979, p.17). A origem da linguagem encontrada na identidade de processos, muitas vezes atribudos razo ou mesmo existncia de uma estrutura profunda (CHOMSKY, 1981). A investigao da Herkunft, muito pelo contrrio, agita o que se percebia imvel, ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade consigo mesmo ((FOUCAULT, 1979, p. 21). A questo da emergncia da linguagem no incide sobre a invarincia de uma essncia, mas sobre acidentes, disputas e desvios de percurso que estimulam seu surgimento. De um lado, unidade necessria, de outro, a contingncia da multiplicidade. O interesse pela descoberta da Ursprung da linguagem, da origem, na unidade do senso comum das faculdades, substitudo pela preocupao em detectar a Herkunft dos enunciados, nas distintas tendncias marcadas pela impessoalidade da rede coletiva. Em vez da pergunta sobre quem fala, em parceria com Nietzsche, pergunta-se: o que querem as foras que falam? E assim entra em cena a consistncia fluida da linguagem, seu hibridismo aliado ao carter poltico. O que uma vontade quer, segundo sua qualidade, afirmar sua diferena ou negar o que difere (DELEUZE, 1976, p . 64). Acolher tal pergunta desvia da subjetividade o ponto de partida do que dito para remet-lo s duas direes polticas do dizer, ou tendncias do movimento que caracterizam a linguagem; a busca de regularidades voltadas produo e manuteno de certa organizao de mundo, ou atos de criao, atravs dos quais so provocados desvios de rota nos eventos do mundo. De um modo ou de outro, a linguagem comea na impessoalidade de um complexo de enunciaes (DELEUZE, 1969). No existem autores, narradores ou personagens, s componentes desse coletivo. No Pensamento do Fora (FOUCAULT, 1994), constatamos que o
36
comentrio de Blanchot (1955) sobre o tratamento do tema da morte nos poemas de Rilke, suscita Foucault a pensar no carter impessoal da linguagem. O encadeamento plural do morre-se de Rilke, ao passar pelas obras de Blanchot e Foucault, transforma-se no paradigma da impessoalidade prpria ao
acontecimento. No que acontece existe algo da ordem da dimenso do comum, do coletivo, daquilo que ocorre sem nada dever a coisa alguma ou a algum. No existem agentes determinveis. O acontecimento, o frescor do indito, sempre da ordem do infinitivo. Tal tambm para ns a natureza do acontecimento, expresso nos signos, que funciona como condio do sentido esculpido na conjugao entre os trs planos da linguagem. Como resposta questo sobre o ponto de partida da linguagem, portanto, optamos pela conjugao das teses de Blanchot e Nietzsche tal como Deleuze e Foucault tambm as utilizam. Ela nos permite justificar o carter impessoal dos ditos, efeito da pluralidade das foras, das singularidades intensivas. O comeo da linguagem, estabelecido no plano intensivo do nolingustico, essencialmente mltiplo, uma vez que se d pelo alinhamento dessas foras dspares. Entre elas no existem afinidades seno pela distncia semitica8 que opera o contgio mtuo. De modo que, primordialmente, os encadeamentos de ditos se estabelecem como diferenciao a partir uns dos outros9. apenas no nvel da organizao, do movimento convergente, dessa tendncia prpria produo do saber verdadeiro (cincia), ou saber utilitrio da fala cotidiana, que as especificaes causais, os elos deterministas, surgem. Essas relaes, consideradas como necessrias, compem-se, na verdade, de elos contingentes absorvidos nas redundncias discursivas que trabalham os componentes dspares, inscrevendo-os nos regimes de signos sedimentados que nos do a impresso de continuidades. Fora das formaes histrico-polticas, o domnio o da indeterminao. De modo que a condio inicial da linguagem impessoal e coletiva. O morre-se de Blanchot, exemplo da neutralidade do plano geral das intensidades, inspira a apresentar o diz-se na origem de todo dito. Toda
8 9
Utilizaremos o termo semitica no sentido amplo, relativo a sentido. Mais frente, no quinto captulo, retomaremos a explicitao do modo de funcionamento dos encadeamentos de ditos.
37
enunciao poderia ser parafraseada por formas pronominais do impessoal diz se por a que... ou ainda ouvi dizer que..., acusando a presena da multiplicidade das falas que as sustentam. So fragmentos discursivos sem proprietrios que deslizam pelas conexes, ora em diferenciao uns com os outros, ora acumulando redundncias. O sujeito falante, tanto o emissor quanto o destinatrio da teoria da comunicao, so pontos atravessados por polifonias. Para o discurso no h incio nem fim determinvel. Mas tomar tal posio no vai significar a eliminao do elo entre subjetividade e linguagem. No caso, cabe repens-lo e propor outra modalidade de nexo entre os termos. A nova problemtica, inaugurada por esses autores, traz cena relaes, elos sem donos, e desloca o problema das cincias humanas, centradas na pessoalidade da forma subjetiva, para a questo do coletivo de foras. Ento no vamos abandonar o tema da subjetividade e sim estender, a este, a pluralidade, presente na linguagem. Um nmero especial da revista Topoi, publicada em 1988, cujo ttulo Who is coming after the subjetct?10 bastante sugestivo, j discutia a continuidade do movimento que, aps a dcada de trinta do sculo passado, iniciava a desconstruo do conceito de sujeito. Nos artigos, o tom geral de rejeio das iniciativas que tentavam ver nesse movimento, seja um retorno ao sujeito, seja seu abandono. Nancy (1989) nos diz:
o que est em jogo no uma simples aniquilao do sujeito (como queriam crer ou fazer crer aqueles que reclamaram ou aplaudiram face uma suposta liquidao do sujeito e que ignoram o que quer dizer crtica e desconstruo). Tudo parece indicar, entretanto, que no h necessidade de um retorno ao sujeito (reclamado por aqueles que gostariam que nada tivesse acontecido e que nada de novo exista para ser pensado) (pp.7 e 8)
Portanto, a proposta bem outra. No se quer abandonar a subjetividade e sim duas funes que nela se realizaram.
Primeiramente, uma funo de universalizao de um campo onde o universal no era mais representado por essncias objetivas mas por atos noticos ou lingsticos.[...] Em segundo, uma funo de individuao num campo onde o indivduo no pode ser mais uma coisa ou uma alma mas uma pessoa viva e expressiva, que fala e da qual se fala (eu-tu) (Deleuze, 1989, p.89)
10
Traduo livre Quem vem aps o sujeito?
38
Como veremos, essas funes sero substitudas por outras. De um lado, o universal d lugar emisso e distribuio de singularidades. No lugar do sujeito falante, temos o coletivo de falas. De outro, a individuao deixa de ser pessoal para funcionar como individualidade/singularidade de um acontecimento, em permanente processo de variao, na medida em que esta segregao no atinge uma separao completa do plano de foras que a gerou, de modo que a individuao11 jamais se completa num indivduo, mas num domnio individuado do plano maior do coletivo de foras. na mesma direo que seguimos, abrindo espao em nossa concepo pragmtica da linguagem para o elo com a subjetividade. Da pragmtica da linguagem passaremos para a pragmtica da subjetividade. Se a linguagem pensada como rede enunciativa, na qual falas annimas - com componentes subjetivantes, mas tambm econmicos, orgnicos, sociais entre outros - misturam-se num processo de diferenciao constante, a questo da subjetividade no poder funcionar como centro da problemtica. Ela no est no comeo, mas um componente do processo ininterrupto que constitui a linguagem. O Movimento de subjetivao Individualizante a Produo do sujeito Continuaremos a falar de subjetividade, assim como tambm
empregaremos a noo de sujeito. Tomaremos o cuidado, no entanto, de no utiliz-los como termos equivalentes. Sujeito deixa de designar o conjunto de referncias relativas realidade mental individualizada para incluir-se num domnio mais amplo que denominamos subjetividade. Esta comporta dois domnios, assim como operaes de reciprocidade que os articulam, produzindoos continuamente, sem jamais unific-los. Num dos domnios, encontramos os aspectos mais regulares da subjetividade, configuradores dos contornos produtores do que nomeamos sujeito ou forma/sujeito. Na outra, coexistem os
11
Voltaremos ao tema da individuao no prximo captulo.
39
traos coletivos12, o plano de foras na sua dupla natureza: de produo e de inveno. Vejamos como a forma-sujeito emerge. Se na rede da linguagem, na multiplicidade de seus atravessamentos discursivos e no discursivos, que as produes de mundo se do, ser nela tambm que iremos encontrar as pistas para a produo do eu individualizado num sujeito. De fato, encontramos no Mil Plats: Assim, compreende -se que s h individuao do enunciado, e da subjetivao da enunciao, quando o agenciamento coletivo impessoal13 o exige e o determina (Deleuze e Guattari, 1980, p. 101 [1995b, p. 18]). Lembremos que os conjuntos de nexos, ou articulaes da rede, comportam duas faces. Em uma delas, realizam-se conexes flexveis que acentuam o carter de hecceidade, mais intensivo dos componentes, conduzidos sempre a processos de diferenciao criadora. Nesses tipos de conexo, a heterogeneidade domina. Ao contrrio, na outra face das articulaes, da qual tratamos no momento, os elos tendem fixao e, no lugar das irregularidades, surgem repeties, regularidades definidoras de formas estveis. No caso, se os temas redundam em torno de valores subjetivos e pessoais, a forma-sujeito que se atualiza. Como nos lembram Guattari & Rolnik, Um fato subjetivo sempre engendrado por um agenciamento de nveis semiticos heterogneos, num entrecruzamento de determinaes enunciativas no s sociais, mas tambm econmicas, tecnolgicas, de mdia, entre outros (Guattari e Rolnik, 1993, p. 35). O processo depende da pluralidade de discursos, advindos dos diversos saberes e prticas que, em certos momentos, seguem numa direo comum. A mesma fora pragmtica os atravessa e os fazem convergir. O que significa dizer que a figura-sujeito entendida como efeito de um feixe de enunciados que, mesmo guardando diversidade, converge, numa dada circunstncia, na direo de certo tipo de produo, no caso, a da forma-sujeito. Eles fazem os corpos
12
O termo coletivo no deve ser confundido com social, pois a organizao da sociedade , ela mesma, efeito do jogo exercido pelo coletivo de foras. Retomaremos frente a noo de coletivo. 13 O conceito de agenciamento nomeia os nexos com propriedades bem singulares. Diferentes de definir relao por caractersticas ordenadoras e homogeneizantes, dirigidas a snteses unificadoras, como normalmente observamos, os agenciamentos criam nexos que pem termos em relao de afetao recproca, sem, no entanto, comprometer a singularidade de cada um dos termos, ou seja, sem eliminar a diferena que os habitam. Este tema vai estar presente em vrios textos de Deleuze & Guattari, porm indicamos cf. ltimo captulo de Deleuze e Guattari, (1997b)
40
comportarem-se como se eles se acreditassem, se vissem como sujeito. Concorda-se, portanto, que a enunciao comporta a fora pragmtica de produo de sujeito, mas no como propriedade intrnseca a todo e qualquer dizer. A produo da forma-sujeito provm de determinadas enunciaes pertencentes a certo tipo de encadeamento na rede, aquelas caracterizadas por conexes que redundam valores ou normas subjetivantes, presentes em sentidos mais concretos, mais fortemente estabilizados. Podemos, agora, avanar e explicitar as condies que permitem aos signos efetivamente exercer a funo subjetivante. Ela decidida nos pressupostos implcitos do dito, ou seja, na ligao que os signos lingusticos estabelecem com seu exterior ou o extralingustico da linguagem: a empiricidade e as condies de possibilidade do dizer. A partir disto detalharemos trs aspectos a serem trabalhados como etapas do processo de produo da forma-sujeito: a extrao do enunciado do encadeamento de ditos e os outros dois que da decorrem; a instaurao de um duplo do sujeito e o posterior movimento de sua unificao. Em primeiro lugar vem a extrao da enunciao a partir da rede discursiva. Destacada do corpo coletivo, o dizer deixa de remeter a outras enunciaes annimas. A busca de autorias, a atitude da psicologia da linguagem de atribuir enunciao atividades mentais subjetivas, so exemplos dessa manobra de extrao. Obscurecido seu carter coletivo, o diz-se impessoal desaparece e, com ele, o anonimato e a pluralidade do dizer. O prximo passo a busca de um agente para esta fala. Ao isolamento sobrevm os efeitos da duplicao e da unificao que daro lugar ao eu da conscincia, afirmado como pr-existente fala. A partir deste ponto, os dizeres organizam-se nas formaes histricas com seus regimes semiticos hierarquizados, de acordo com certas redundncias subjetivantes. (GUATTARI, 1978). Num certo momento essas foras discursivas iniciam movimentos convergentes entre si, articulando matria a-subjetiva nas redundncias de ditos, nas repeties, que aos poucos fazem emergir e segregar-se do conjunto certo contorno figural. Tal exerccio individualizante culmina em forma sedimentada, tendendo fixidez,
regularidade. A figura sujeito, portanto, fica vinculada dimenso mais regular
41
dessa maqunica mista, da qual emerge a enunciao individualizada e o sujeito da enunciao. A segunda etapa resulta na duplicao do eu. Ela comporta processos pragmticos de instaurao de realidades que, agora, se circunscrevem produo de sujeito como agente da enunciao isolada. Tudo que dito, predicado sobre o sujeito, acaba por produzir redundncias sobrecodificadas: modos de ver e de dizer este sujeito. A linguagem exerceu sua potncia pragmtica de modo que a enunciao destacada, individualizada, instaurou a realidade exterior nela descrita. A expresso conferiu estatuto de realidade ao seu contedo, e assim duplicou o sujeito narrado (sujeito do enunciado) no sujeito como agente da enunciao, agora, considerado como exterior e independente do dizer. Por exemplo, os jogos de fora discursivos e no discursivos, ligados em rede ao pronunciamento da sentena pelo juiz, produzem condenados, ao inclurem o corpo ru numa outra classe jurdica. Em rede, as falas convergem na produo da forma-sujeito. Enfim, os contornos da figura subjetiva so efeitos das compartimentaes do real, efetuadas por maneiras de dizer e ver os corpos. O plano coletivo torna-se ego e, a partir daqui, diferentes procedimentos vo servir identificao da conscincia como unidade e permanncia (DELEUZE e GUATTARI, 1995). Na terceira etapa, a figura produzida do eu unificada numa conscincia de si. O domnio da subjetividade, antes coletiva, passa a funcionar como forma uma e volta-se sobre si mesmo como mquina de sobrecodificao, de tendncia repetio de si nos hbitos e em experincias unificadas. Produziu-se um pretenso centro sobre o qual redundam palavras de ordem voltadas produo da unidade do eu. Podemos, agora, resumir o processo em seu todo. Ele tem seu incio num conjunto de ditos, alinhados e redundando um duplo comando: isolamento do enunciado e produo de um sujeito como seu ponto de partida. extrao do enunciado do fluxo de discursos segue-se sua captura por certa frao dos encadeamentos de falas, impregnada de determinaes pessoais. Ao mesmo tempo em que o isolamento se realiza, o carter impessoal dilui-se e a duplicao do eu completa-se num fluxo de discursos unificantes num si mesmo, reflexivo. A
42
enunciao ganha significao pessoal e ponto de partida localizvel num eu falante. Trata-se de um efeito especfico do dizer, de sua dimenso de repetio arregimentada nas formaes histrico-polticas. Entre as produes operadas listamos os modos de subjetivao individualizantes. No caso, Rolnik e Guattari (1993) nos dizem estarmos face a um processo de serializao da subjetividade. As diferenas a presentes submetem-se organizao em sries unificadas, existindo sempre uma unidade capaz de subsumir as variaes, de modo que as variaes passam a ser consideradas como variveis de uma classe. Como efeito geral desses modos de subjetivao, observamos um conjunto de instncias pessoais: experincias, processos cognitivos, hbitos integrados a categorias pessoais, aos repertrios unificados e unificantes dos saberes institudos. Os efeitos linguageiros singularizantes Numa entrevista a T. Negri, Deleuze ressalta a espontaneidade rebelde desses processos de subjetivao que s valem na medida em que eles, quando se fazem, escapam ao mesmo tempo dos saberes constitudos e dos poderes dominantes (DELEUZE, 1992, p. 217). Isto sempre possvel j que o processo de duplicao e unificao num eu jamais se completa. Assim como no caso da linguagem, a subjetividade tambm marcada pela disparidade entre duas dimenses. Coexistindo com as formas-sujeito, em que prima a reflexividade de um si mesmo e a afirmao de uma conscincia permanente, veremos agora o domnio do a-subjetivo, sempre descentrado e descentrante, carregando o sujeito para sempre mais longe, tendendo diferenciao de si. No a-subjetivo, os nexos dos componentes no so da ordem da repetio. Um intervalo qualitativo (distncia no mtrica) separa esses componentes dspares. As relaes no produzem unificao. Elas lidam com zonas de indiscernibilidade, nas quais o estabelecimento de limites precisos fica excludo. Tal composio doa ao processo caractersticas automodelizantes14,
14
As propriedades automodelizantes podem ser aproximadas ao que Varela (1989), na biologia, chama de autonomia de um sistema. Como bem nos faz notar Kastrup (1997), um sistema
43
permitindo que ele capte elementos da situao para construir suas prprias referncias prticas e tericas (ROLNIK e GUATTARI, 1993, p. 46). Vemos claramente que aqui a subjetivao tem pouco a ver com sujeito [centrado na repetio] trata-se da constituio de modos de existncia, ou da inveno de novas possibilidades de vida (DELEUZE, 1992, p. 116). tambm no elo com a linguagem que a subjetividade ganha velocidade de variao. Nas linhas mais flexveis do coletivo de enunciaes, os contornos da figura sujeito se desfazem, liberando fragmentos de expresso e de subjetividade.
A proto-subjetividade e a proto-enunciao (ou seja, subjetividade e enunciao nascentes) seriam os elementos, se assim podemos dizer, que em todos os agenciamentos poriam em fuga, em diferenciao, o sujeito que somos e a linguagem atravs da qual falamos (ou somos falados, como queria Barthes) (Costa, 1996, p. 364-365)
Enfim, a subjetividade pensada como maqunica de subjetivao hbrida, funcionando no entrelaamento dessas duas faces distintas15. De um lado, o sujeito, individuao pessoal e regular, de outro o a-subjetivo, plural e impessoal. No limite entre as duas tendncias, no movimento da linha de criao que as conecta, definimos a subjetividade como objeto de uma incansvel produo nas quais o indivduo e seu contorno seriam apenas uma resultante (ROLNIK, 1996, p. 84). O Estilo como Procedimentos de Criao Pretendemos agora avanar a anlise do vnculo entre linguagem e subjetividade na direo de procedimentos que explicitam o exerccio de criao contnua de ambas as realidades. Nesta empreitada, optamos por lanar mo da noo de estilo, tomada como potncia de equivocao da unidade do eu.
autnomo quando cria, por sua operao, suas prprias regras de funcionamento no lugar de serem controlados por regras extrnsecas. Isto nos permite dizer que o processo de subjetivao singularizante instaura na subjetividade modos de funcionamento prprios, regidos por princpios sempre inventados e transitrios. 15 Essa maqunica de subjetivao corresponde maqunica desejante, responsvel pela manuteno do movimento. Como nos diz Agamben (2000), o movimento de criao efetiva-se como movimento desejante de si prprio, ou seja, desejo de desejo.
44
O termo estilo para ns seguir direo distinta do seu uso mais tradicional na estilstica, que o vincula ao modo de escrever sempre reconhecvel, possuidor de uma sintaxe e vocabulrio impecveis. O sbio uso das regras da linguagem nada nos auxilia neste caso. Outra maneira de pensar tal noo implicaria em no conceb-la como o xito na busca das melhores combinaes oferecidas pela sintaxe, mas ao contrrio, como a desordem assustadora, sobretudo no preocupada com o todo nem com a harmonia (DELEUZE, 1987, p. 166). Diferente de respeitar a unidade sinttica ou semitica, o estilo expe a heterogeneidade dos sistemas. Atravs da coexistncia das constantes com elementos anmalos da linguagem, instalam-se tensores que arrastam o conjunto ao limite, fazendo-o variar, provocando diferenciaes em todas as direes. Enfim, o estilo no significa ser fiel ao cdigo, mas resistir submisso a ele para amplificar a divergncia e pr em variao, para assim criar outras realidades, outras lnguas. So mundos e lnguas ainda em germe, ainda no consagrados, coabitando com as formas j estabilizadas. Numa palestra transcrita com o ttulo le temp musical (1978) e ainda num texto sobre Boulez (DELEUZE, 1986a), vemos estilo ser descrito nas artes como um processo especial de segregao ou individuao de novas formas. Nele surge um conjunto de elementos a-semiticos que se destacam do resto do plano no-lingustico e ganham certo contorno, mas sem atingir a condio de uma forma facilmente reconhecvel, seja como um objeto, seja como um sujeito. Trata-se da hecceidade, de que falamos anteriormente, um tipo de individuao paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que sobressai do campo heterogneo, marcando sua individualidade, exclui a permanncia e a unidade. Uma paisagem, uma hora do dia, um fragmento de som ou de paladar, cheiros, sensaes tteis, cujo compromisso maior deslocar sentidos, multiplicar maneiras de ser, seriam exemplos desse tipo de individuao. Como hecceidades os estilos destacam-se do resto do plano, no por sua homogeneidade na forma, e sim pelo seu contorno frgil e sempre pronto a desfazer-se num ato de diferenciao.16
16
Sobre a natureza destas individuaes, hecceidades, cf. o primeiro captulo.
45
Ele (o estilo) nunca prprio de um ponto de vista, feito de coexistncia, numa mesma frase, de uma srie infinita de pontos de vista, pelos quais o objeto se desloca, repercute ou se amplifica (DELEUZE, 1987, p. 168). O estilo inclui-se entre as linhas de criao que cortam as coordenadas dos estratos. Liga pontos sem ordenao linear, separados pela distncia, pelos abismos dessas zonas de indiscernibilidades. O gosto das madeleines, descrito Em a busca do tempo perdido, explicita, em Proust, esse procedimento abismal. Cada prova do doce evoca uma imagem de Combray. Mas a experincia repetida do paladar no produz continuidade entre as diferentes imagens, reunindo-as sob um mesmo plano. Longe de atuar como ponto de unificao dos vrios Combray, as experincias pluralizam-nos como pontos de vista diversos, mas coexistentes. O sabor como qualidade comum a dois momentos identifica Combray como sempre diferente de si mesmo (DELEUZE, 1986a, p. 100). a linha bifurcante do gosto das madeleines, individuao pluralizante do efeito do estilo-Proust. Procedimentos de criao das formas Na montagem da noo de estilo, alguns procedimentos, ou mtodos, nos so teis. Neles interessa, sobretudo, efeitos de criao que, no sendo ex nihilo, se prestam a esclarecer como possvel criar sem prescindir da forma, ou seja, como derivar dela o material cuja fluidez ir provocar reconfiguraes, expondo como novidade outras faces, outras perspectivas ainda invisveis e indizveis na antiga forma. O ritornelo17, procedimento da msica, expe essa modalidade de criao. O estribilho ou refro um tipo de ritornelo. Ele serve para apontar na partitura uma breve passagem na msica a ser retomada e repetida. Vale explorar os efeitos que esse tipo especial de repetio pode provocar. Ele no vincula pura recognio, pois o ato de repetir no produz identidade, ao contrrio, comporta tambm o inesperado. No processo da repetio, certos componentes escapam do conjunto semitico e entram em circulao como material desprovido do sentido original da pea musical, atraindo outros componentes tambm anmalos
17
Deleuze e Guattari tomam o ritornelo como conceito e o ampliam a todo ato de criao (Deleuze e Guattari, 1996)
46
de sentidos, provindos de outras semiticas musicais e, nessa conjuno, reinventam-se em novos sentidos, novas experincias sonoras. Sublinha-se o carter inovador desse modo mpar de repetio. Podemos usar certas descobertas da etologia para exemplificar esse processo. Encontramos traos de flexibilidade e mudana no que poderia ser interpretado apenas como estereotipia do repertrio padro da espcie. Por exemplo, na conduta de construo de territrio de algumas espcies de pssaros (pardal, palmpedes, pernaltas, etc.), realizada atravs do canto e da construo do ninho, esses animais estabelecem marcas expressivas, signos delimitadores da fronteira de seu espao vital. Em outros animais os signos mudam. Uns usam o odor de suas glndulas, de seus excrementos, outros, suas cores. Enfim, traos diversos so selecionados para funcionar como signos, placas de demarcao. fcil ver a a existncia de uma poderosa semitica de preservao de um terreno prprio, de um si mesmo, estabelecido como um mnimo de recognio necessria estabilizao de um centro mvel de referncia. Trata-se do territrio, na nomenclatura da etologia, onde marcas so deixadas, uma assinatura, um nome prprio, mas que no pertencem a um sujeito. A marca constituinte de uma morada. A assinatura no indicao de uma pessoa, formao aleatria de um domnio. (DELEUZE e GUATTARI, 1997a, p. 123). Percebe-se, no entanto, que um mesmo canto ou um fragmento deste, pertencente conduta de construo do ninho e includa entre os
comportamentos de delimitao de territrios, apresenta-se muitas vezes compondo outra semitica, por exemplo, a da conduta de corte ou acasalamento. Notam-se, no entanto, algumas mudanas. Os comportamentos no comparecem em sua totalidade, alteram-se suas formas iniciais. Em alguns casos, faz parte do hbito de corte, de certos pssaros machos, ostentar apenas um pequeno galho de arbusto ou grama no bico em vez de toda a sequncia da nidificao. No se pode deixar de perceber que algo do material primitivo foi transportado de um contexto para outro, ganhando sentido diverso. Ressalta-se na repetio, no o idntico, mas a diferenciao nela operada. Um fragmento da conduta padro extrado do conjunto original e, uma vez isolado do resto do regime ou encadeamento semitico, ele no remete mais
47
aos outros participantes do sistema, no mais afetado pela redundncia do conjunto e, em consequncia, no ostenta o sentido que possua na semitica ali presente. A marca expressiva, os signos de um territrio transformam-se, pela operao de extrao, em matria expressiva, material sem sentido que poder ter seu sentido reinventado ao ressurgir diferentemente na nova condio. Temos que, a partir dos fragmentos, um processo de variao aconteceu. A presena da conduta (o bico do pssaro, por exemplo, ostentando um galho de grama) no tem sentido nesta outra situao de corte, funcionando ento como trao paradoxal. O sem-sentido dessa conduta funciona como tensor que fora a semitica vigente ao limite e aponta na direo da exigncia de outra organizao para o regime de signos de acasalamento. Portar o galho de grama, antes que uma conduta completa, consiste em um fragmento de ao a-semitico intensivo, responsvel pelo incio de um processo de diferenciao entre duas semiticas (territorial e sexual). De incio poderia causar estranheza a utilizao de pesquisas da etologia para encontrar nelas exemplos de criao. Pois se estaria buscando, justamente nos atos mais estereotipados, ocasio para variaes. No entanto, a aproximao entre aparentes opostos guarda sua importncia. Ao discutir a irregularidade presente ao comportamento inato, o propsito exatamente equivocar a dicotomia entre invarincia e criao, embaar suas fronteiras. Ao mesmo tempo em que ocorrncias regulares, repetitivas, comportam o inantecipvel, a novidade no encontra seu ponto de partida num puro acaso. No se fala de criao ex nihilo, mas de um ato de variao do sistema. Ela surge na dissoluo da forma e dirige-se construo de outra. As dicotomias do lugar a composies. prprio de todo sistema ostentar reas de indefinio, pontos paradoxais que so ativados e reutilizados em outro regime construtor de sentido. A criao realizada pelo ritornelo, portanto, reafirma a importncia da forma, porm no por seu carter estvel. Nela, o ritornelo imprime movimento deformante. Ele ativa e reutiliza os elementos intensivos, dispersos em suas bordas, na zona de indiscernibilidade que tambm a compe. Ou seja, explora o lado de fora das figuras, as pontas de indefinio que as mergulham num fluxo . Os ritornelos trabalham exatamente no intervalo entre os dois planos, das formas e das foras, para traar a linha abstrata da criao, instalada nessa fronteira. A
48
criao no mutao ou mesmo decomposio, mas deformao. No se realiza por meras substituies de partes, ou abandono total da figura. Na msica, o ritornelo pode ser pensado como o procedimento que, partindo da forma musical, repete o tema, mas sempre reinventado pela expresso, pela improvisao que o acompanha e o desenvolve. A forma audvel, eleita como tema musical, desestabiliza-se e fornece o material sonoro da improvisao. As marcas expressivas da forma musical transformam-se em matria intensiva a ser reinventada, deixando perceber que a variao no arbitrria. Existe o tema como referncia, pois dele que a matria expressiva extrada para ser reeditada na nova marca expressiva. Os ritornelos funcionam como os ready-made de Duchamp. Com eles vivemos experincias hbridas de sentido, como a da banheira sonora ou do mictrio que entra no museu. Ouvir a banheira, expor o mictrio-arte, tal como os pssaros, transvasar os cdigos e suas normas em nome de outros tantos. Vemos, ento, que as formas e os territrios so construdos como obra de arte, so tambm atos de criao. Trata-se das marcas vivas de que nos fala Rolnik:
Uma vez posta em circuito, uma marca continua viva, quer dizer, ela continua a existir como exigncia de criao que pode ser eventualmente ativada a qualquer momento [ ] se reatualiza no contexto de uma nova conexo, produzindo-se ento uma nova diferena (Rolnik, 1993, p. 242)
Estilo e a Criao de Si
Mas que outras peculiaridades encontramos no estilo? Ele se destaca pela eleio de certas estratgias para o traado da linha de criao e que, ento, passam a ser reiteradamente acionadas. Cada estilo inventa seus procedimentos, priorizando-os repetidamente para gerar os elementos inslitos que
desestabilizam a forma e levam-na ao processo de variao.
Mas o essencial que cada um dos autores tenha seu procedimento de variao, seu cromatismo ampliado, sua louca produo de velocidades e de intervalos. [...] A gagueira criadora de Guerasin Luca, no poema passionnment. Uma outra gagueira, a de Godard. Os sussurros sem altura definida de Bob Wilson, as variaes ascendentes e descendentes de Carmelo Bene. (Deleuze e Guattari, 1995b, p. 42])
49
Os estilos especializam-se por suas escolhas, por maneiras particulares de proceder variao. Referimo-nos a modos destacveis de trabalhar, os fragmentos a-semiticos, as marcas de expresso, de oferecer-lhes autonomia em relao ao sentido original. Em O que a filosofia, Deleuze (1991) chama a ateno para a especializao dos mtodos (estilo) na extrao dos blocos de devir. preciso um mtodo que varie com cada autor e que faa parte da obra (G.DELEUZE e F. GUATTARI, 1991, p. 158 [1992, p. 217]). A composio Sussurrudo (ROSA, 1979), por exemplo, sustenta -se nos neologismos como o encontro bizarro na composio entre signos incompatveis, sussurro como voz quase-inaudvel e rudo como som destacvel e perturbador. O efeito de impossibilitar sntese unificadora de sentido obtido na preferncia por fazer atritar fragmentos de sentido. Vemos o uso constante de partculas estranhas composio familiar como sufixos, prefixos ou repeties de elementos: Nenho (nenhum+no), sozinhozinho (s+zinho+zinho). A significao mantida
indecidvel, num embate entre a distncia interna dos dois termos. Porm, outras frmulas podem ser citadas. Um texto fiel gramtica tambm faz escapar o sentido fcil. E citamos o estilo-Proust. Quando este fala de seus personagens e experincias, sempre para acentuar as caractersticas paradoxais que os compem. O rosto de Raquel, por exemplo, em No caminho de Guermantes um hbrido de generalidade e de singularidade, ou um composto de nebulosa informe, visto de muito perto, e de boa organizao, visto distncia conveniente. Ou ento, o rosto de Albertina, que inspira confiana e suspeita de cime (PROUST, 1991). Nessas composies j no registramos palavras hbridas. O texto constri imagens paradoxais. A unidade do texto , ento, sistematicamente despedaada pela heterogeneidade entre essas imagens, e prope mltiplas direes, remetendo ainda aos intervalos infinitos, abertos pela proximidade entre sentidos inconciliveis. Enfim, vemos o estilo ser definido pelo uso de frmulas ativadoras da variao das formas. Transportado para o domnio psi, para os estudos da subjetividade, vale precisar que o estilo, afirmado como procedimento de instaurao da pluralidade de sentidos, ser explorado por ns em sua agilidade para conduzir a subjetividade no seu processo de composio de novas formas. Como vimos,
50
assim como a linguagem compe o lingustico/extralingustico com o nolingustico, produzindo a passagem de uma forma, de uma configurao de sentido a outra, tambm a subjetividade processualidade, na qual configuraes existenciais falecem em nome de novas organizaes para o si mesmo. Nesse quadro os estilos servem como modalidades preferenciais no trato inventivo da gnese das novas configuraes pessoais. Ou seja, eles garantem a forte porosidade das formas-sujeito por eles criadas. Sua desenvoltura em lidar com a diferena no reside apenas na montagem fluida da forma que advir, mas tambm na desconstruo de formas desgastadas de viver, que j no do conta das situaes vividas, porque limitadas na resoluo de seus impasses. O que seriam os impasses seno a experincia de indecidibilidade face ao atrito entre sentidos dspares, entre direes incompatveis, mas coexistentes? A incongruncia vivida pelo sujeito, num mesmo movimento, interroga sua forma vigente, desestabilizando-a e exigindo outras composies mais afeitas s resolues solicitadas. O estilo serve ao bom manejo das passagens, agiliza os processos de dissoluo de si e ativa estratgias de inveno de novas formas tambm porosas, afeitas a variaes. Continuamos a entender o estilo como procedimento de instaurao de novos sentidos, porm mais especificamente, o utilizaremos como modo de inveno de sentidos para o si, como estratgias de colocar em variao a composio subjetiva. Trazemos para essa discusso outro exemplo de estilo, cavado num grupo de adolescentes e que emerge de certa situao marcada pelo confronto entre sentidos incompatveis. Um procedimento linguageiro, tambm especificado por certa frmula, ativado para forjar a composio entre as duas direes divergentes, mas imperativas. Falo de uma experincia clnicoinstitucional em que jovens envolvidos com uso prejudicial de drogas vinham j convencidos a fazer tratamento como pena alternativa18. Dado o carter compulsrio do tratamento, do qual no podiam escapar, observava-se conduta singular de esquiva situao clnica que desprezavam. Nas diferentes ocasies em que estavam em sesso teraputica, os jovens eram orientados a praticar a norma do contrato clnico, pela qual deveriam tudo dizer ao terapeuta, sem
18
Trata-se de procedimentos ligados Justia teraputica, modalidade de pena-tratamento existente no Brasil. Mais frente voltaremos a falar mais detidamente desta situao.
51
constrangimentos. E eles o faziam. Ocorre, no entanto, que tomavam o cuidado (que em outras situaes na instituio no ocorria) de utilizar com mestria, nesta situao, a linguagem da comunidade, um jeito prprio de falar, repleto de grias, com sentidos desconhecidos pelos tcnicos19. Estranha relao em que tudo era falado, sem nada ser dito. Os terapeutas experimentavam o embarao daquele que nada sabe do seu paciente. A cada solicitao, pergunta, o mesmo procedimento era aplicado. Com ele, tanto o acordo com o terapeuta como a norma restavam suspensos, perdiam seu poder de legislar. A frmula dos jovens ficava num patamar de indiscernibilidade, levando dissolvncia da palavra de ordem, de tudo falar, proferida pelo tcnico. O linguajar dos jovens funcionava equivocando a fora ilocutria, os pressupostos implcitos da fala. Como visto anteriormente, as enunciaes carregam pressupostos implcitos, isto , implicam redundncias discursivas. No contrato teraputico o pressuposto implcito a ser obedecido era que tudo fosse dito. E eles conseguiram nesta frmula atender ao pressuposto implcito mandatrio sem se submeterem ao mesmo. Ou seja, aplicada situao clnica, a linguagem dos jovens os colocava no limiar entre o dizer e o no dizer, na fronteira entre a obedincia e a desobedincia palavra de ordem, ao contrato. Ao mesmo tempo, a situao de nada saber vivida pelos tcnicos no constava do regime semitico da clnica e assim desconstrua o poder de coao da norma jurdico-teraputica. Vinda de fora, a frmula do grupo funcionava, nesse regime, como fragmento avesso ao sentido esperado, e agia embaralhando as coordenadas polticas a existentes. Observamos que o relevante no estilo a presena da repetio de um procedimento que no implica redundncia unificante. Por mais que retorne, o procedimento estilstico mantm sua fora equivocante. O processo retorna, sem repetir seus efeitos. Por exemplo, observamos que o estilo-Guimares Rosa prima pelo uso dos paradoxos na formao de neologismos, cria o sentido impactante ao deformar palavras j bem gastas no vocabulrio popular. J em Proust, as palavras restam intocadas, mas so as imagens poticas, criadas por elas, que comportam o anmalo e carregam sentidos incompatveis com a forma
19
No quinto captulo voltaremos a falar das particularidades desta linguagem.
52
regular esperada. Nos jovens tambm uma mesma frmula se repetia sem exalar conformidade. Vemos que o estilo cumpre estratgias especficas e repetidas para operar os ritornelos. Porm, no conseguiremos jamais apreend-los em seu todo. Desde j assinalamos o equvoco de tentar delimitar os contornos precisos de cada estilo, de apreend-lo em sua totalidade. Pois se, por um lado, ele tem por efeito a criao de multiplicidades, por outro, em sua prpria constituio ele multiplicidade. O estilo se apresenta como figura fluida com limite fragmentar. Sua fragilidade figural suficiente para sua segregao do plano a-semitico, mas insuficiente para inclu-lo entre as formas sujeitas representao. Enfim, o nome prprio de cada estilo nomeia hecceidades, essas figuras contingentes e precrias subordinadas mobilidade da linha, modo de individuao por composio de heterogneos (BUYDENS, 1990, p. 27). Embora o estilo compreenda uma frmula, um mtodo no configura um ato de repetio do mesmo. Nele, o que se repete a variao. A cada vez a marca no codificada retorna diferentemente. Como matria de expresso serve criao de novas marcas expressivas. O acento recai sobre a produo do novo.
O eterno retorno no pode significar o retorno do Idntico, pois ele supe, ao contrrio, um mundo (o da vontade de potncia) em que todas as identidades so abolidas. Retornar o ser, mas somente o ser do devir. O eterno retorno no faz o mesmo retornar, mas o retornar constitui o nico mesmo do que devm. Retornar o devir-idntico do prprio devir. Retornar , pois, a nica identidade, mas a identidade como potncia segunda, a identidade da diferena, o idntico que se diz do diferente, que gira em torno do diferente.[...] Do mesmo modo, a repetio do eterno retorno consiste em pensar o mesmo a partir do diferente. (Deleuze,1988a, p. 83)
Vemos que estilo expressa o movimento prprio da repetio da diferena. Seu ponto de partida a marca ou tema que jamais se encontra na chegada. O estilo sublinha o retorno obrigatrio de uma diferenciao prpria a todo ser. a atividade, por excelncia, de introduzir os ritornelos, isto , a acuidade de trabalhar a ativao e a reutilizao de fragmentos expressivos. Estilo, portanto, o que no se repete jamais de forma idntica. Contrariando a lgica do bom senso, ele faz retornar sempre o inesperado. Tal paradoxo o define eminentemente como atividade bifurcante. Face ao paradoxo semitico, ruptura do sentido, a forma subjetiva oscila, no consegue manter sua quase-estabilidade
53
e desliza para sua dimenso a-forme, avessa a unificaes, em direo a formas ainda no repertoriadas. Estilismo de si e o signo-enigma da clnica O estilo nunca est solitrio, ele se produz nas composies, implica em agenciar-se. Ele desde sempre conexo. Portanto, o estilo como encontro entre dspares multiplicidade, coletivo que age nos entremeios das formas. Os estilos so nomeveis sem que possamos atribu-los a configuraes psicolgicas individuais. O nome prprio que atribumos aos estilos funcionaria tal como a denominao das sndromes pela medicina, em que os sintomas circulam conjuntamente sem atingir uma unidade. No falamos de pessoas, mas de acontecimentos, conjuntos fludos, modos preferenciais de propor o devir: modo bachiano ou modo proustiano de variar. esta composio plural que passaremos a afirmar como direo tica para o processo de produo da subjetividade. Ela feita de criaes abismais que exibem o contraponto entre a dimenso regular e irregular da linguagem, assim como da subjetividade, realizando, em ambas, o embate entre suas duas faces: a habitual, estabilizada nas normas a aquela das hecceidades semiticas e/ou existenciais. No domnio da linguagem - na arte literria ou em modalidades linguageiras do cotidiano, que escapam da regularidade da lngua padro - vemos certas construes definirem-se pela condio paradoxal do estilo. Revelam-se como fenmenos mistos carregados de variao irredutvel a qualquer forma unificada. So construes marcadas por diversidade interna em seu sentido, nas quais fragmentos se atritam e constroem outros sentidos e outros modos de existncia. Como estilismo de si, a subjetividade transforma-se numa maqunica de subjetivao hbrida, funciona no entrelaamento das duas faces distintas do movimento. De um lado, o sujeito, forma individuada pessoal e regular, de outro o a-subjetivo, plural e impessoal. No limite entre as duas tendncias definimos a estilstica da subjetividade como processo constante de produo, vai e vem no limite das fronteiras.
54
Localizamos no ato de criao da linguagem, a desestabilizao do eu, como condio de passagem, de escape s redundncias do intimismo repetidor na direo de outras configuraes mais potentes para a existncia. E a somos levados pergunta: No seria esta precisamente a direo da clnica? Nela, o que est em jogo no tambm provocar a desestabilizao? Ela no serviria para apontar a crise como crtica, como limite crtico da ordem vigente nas formas, a partir do qual outras composies para o eu sero experimentadas? No exerccio de deflagrar o desmonte da pessoalidade em nome de sentidos plurais para a vida20, a clnica e os atos de criao na fala se encontram. Uma mesma vocao os atravessa: a arte da desestabilizao das formas unificadas21. Como veremos mais frente, tomaremos como clnica a crtica, a ida ao limite das formas como incitao ao exerccio do estilismo de si, a quebra da homogeneidade fictcia do eu para a instaurao de novos sentidos que, ao mesmo tempo, constroem novos modos de dizer e tambm de experimentar a vida. Ao repensar a subjetividade luz da noo de estilo encontramos pistas para a questo essencial de trabalhar a subjetividade, na clnica, longe da identidade, mas sem perd-la na ausncia total de contorno. Afinal o estilismo de si assegura um mnimo de repetio necessria apario da diferena e consequente proliferao dos modos de subjetivao inovadores. Como vimos, o sujeito, como sujeito da enunciao, no fonte dos ditos, ao contrrio, parte deles. O sujeito, nesse caso assujeitado ao dizer, surge como produto das palavras de ordem, O estilo de si, ao contrrio, tem sempre fonte exterior, no do exterior compreendido pelas formaes histricas. Ele provm da relao com o no-lingustico, com o a-subjetivo, com o Fora. Depende do rumor singular das vozes que compem as multiplicidades nos entremeios das formas.
20
A concepo de vida que utilizaremos extrapola o sentido mdico-cientfico. Como Agamben (2010) esclarece, trata-se de um conceito filosfico-poltico, fora de perseverao prpria ao ser, prximo ao conceito de conatus spinozista. Nesta nova dimenso no ter mais muito sentido distinguir no s entre vida orgnica e vida animal, mas at mesmo entre vida biolgica e vida contemplativa (p.191) 21 Podemos ver neste movimento crtico de desestabilizao, a noo de experincia que, em 1966, Foucault esclarece como experincia do fora, experincia flutuante, estrangeira, o exterior da nossa interioridade (Foucault, 1994, p.522). Franja limite, ao mesmo tempo, fora da linguagem e do sujeito e que instaura uma clnica como crtica que promove a ruptura dos estados, libera identidades.
55
Pensar o estilismo de si como direo clnica, revela a clnica como arte da variao e como crtica s formas excessivamente estveis, s repeties desgastadas que emperram o movimento da subjetividade e do mundo. Cabe, portanto, clnica, o zelo pelo duplo movimento pelo qual reconhecemos a potncia de criao da subjetividade. Quando determinada pela configurao da rede discursiva/no discursiva, no seu movimento convergente de reproduo de realidades, a forma-sujeito obstaculiza o nomadismo da subjetividade, cabendo clnica reenvi-la ao seu plano gentico de foras, de modo a incitar a maqunica retomada de sua processualidade. Enfim, no elo entre linguagem e subjetividade descobrimos o estilismo do si, processo pelo qual os dois termos envolvidos ganham consistncia de acontecimento.
56
Captulo 3
A CLNICA TRANSDICIPLINAR: PRODUZINDO TRANSVERSALIDADES
O artigo indefinido no marca da indeterminao da pessoa sem ser a determinao do singular. G. Deleuze Imanncia uma vida....
Transdiciplinaridade diz respeito natureza da composio estabelecida entre os diferentes saberes, entre obras e autores distintos na construo da clnica. A relao transversal na medida em que no ocorrem subordinaes hierrquicas (relaes de verticalidade) ou alinhamento homogeneizante
(relaes de horizontalidade) entre autores. No se buscam reas de interseo entre saberes, traos ou espaos comuns que permitiriam unio harmnica. O no reconhecimento de ordenaes hierrquicas ou de fronteiras irredutveis entre diferentes teorias ou domnios do saber revela a porosidade sensvel, aguada a tudo o que nos ocorre e, assim, admite a utilizao de idias geradas nas mais inusitadas provenincias, autorizando transposies cujo encontro vale por provocar novos atritos, exigindo reformulaes recprocas e efeitos macios de diferenciao. De modo que o carter de processualidade, esclarecido pelo constante movimento, pleno de desvios, vai se aplicar no s aos procedimentos clnicos, mas tambm prpria construo conceitual desta clnica, na medida em que se deixa interrogar a cada instante, seja por conceitos, seja pelo plano emprico no qual se instala com suas peculiaridades histrico-polticas.
Os dois sentidos de clnica
Seguindo a etimologia do termo clnica encontramos duas acepes distintas. Passos e Barros (2001) comentam esse carter duplo. A partir do sentido etimolgico decorrente do grego klinikos, clnica carregaria o sentido de dobrar-se, de inclinar-se, do que concerne ao leito, sugerindo a a atitude de amparo e de acolhimento daquele que solicita ateno, atendimento. J pensada
57
em sua etimologia a partir da filosofia epicurista, clnica provm de Klinamem, termo que nomeia o desvio imprevisvel de tomos na doutrina de Epicuro. Nela, klinamem ou clinamem
designa o desvio que permite aos tomos, ao carem no vazio em virtude de seu peso e de sua velocidade, se chocarem articulando-se na composio das coisas. Essa cosmogonia epicurista atribui a esses pequenos movimentos de desvio a potncia de gerao do mundo (Passos e Barros, 2001, p.2).
Nossa proposta seguir de perto esses dois sentidos para deles extrair os dois principais movimentos que, interligados, se constituem no material privilegiado da prtica clnica. No entanto, mais do que apenas coment-los, iremos alm e conduziremos uma discusso, em rede, com outros autores e nossa prtica clnica, que nos permitir redesenhar a articulao entre esses dois sentidos de clnica, bastante til compreenso do exerccio clnico.
A clnica como Klinicos criao do plano comum
Como Klinicos ou Klinos, o acolhimento da demanda de tratamento entendido como amparo e ateno queixa do paciente. Porm, observamos que esse movimento de aproximao, esse estar juntos ou trabalhar juntos vai muito alm de simpatia ou de ateno ao prximo. No traar uma linha de continuidade entre o clnico e o paciente como um plano homogneo, articulador de um universo ao outro. Tomando outra direo, vamos pensar o ato de acolhimento como processo de construo do plano comum ou coletivo, que, diferente de buscar identidades, revela-se na convocao construo do plano de foras, o plano comum de afetabilidade recproca. Indica o procedimento de forjar, na relao com o paciente, uma comunicao intensivista que provoque transversalizaes das foras em jogo. Vale, ento, assinalar a importncia do conceito de transversalidade na montagem dessa perspectiva clnica. Criado por Guattari, esse termo explicita bem o tipo de movimento que a clnica persegue. A transversalidade uma dimenso que pretende superar os dois impasses, aquele de uma pura verticalidade e aquele de uma simples horizontalidade; ela tende a se realizar to logo uma comunicao mxima se efetua entre diferentes nveis e, sobretudo, em
58
diferentes sentidos (Guattari, 1974b, p. 81). A transversalidade compe vetores que equivocam as duas direes normalmente apresentadas pelas organizaes binrias do plano representacional das formas de que falamos antes. No sentido vertical, veem-se as ordenaes de estrutura em pirmide. Por exemplo, a hierarquia de chefes e subchefes, ou de instituies em departamentos, subdepartamentos, setores, etc.. No sentido horizontal, por exemplo, as relaes entre funcionrios de um mesmo nvel hierrquico numa empresa, nas organizaes do espao, na construo de estradas que ordenam uma regio. A linha transversal aquela que consegue ignorar, ou melhor, transgredir os dois modos de ordenao, desacreditando hierarquias, confundindo fronteiras e, assim, equivocando ambas as estratgias de codificao22. A linha transversal, portanto, ao romper com as formas de organizao conhecidas, aciona o plano coletivo de foras, prope outro modo de funcionamento, no qual no mais falamos de ordenao, mas de distribuio dos componentes, de interseo entre elementos heterogneos, processos de contato e diferenciao, sem submet-los a tcnicas homogeneizantes. Podemos denominar esse plano como plano da experincia compartilhada. Este plano a ser construdo por procedimentos clnicos permite acessar, acompanhar processos de produo e no restringir a comunicao ao plano da representao de objetos, estados de coisa, enfim, descrio dos fatos. No visamos apenas informao, dados de anamnese ou vivncias passadas subjacentes. A clnica requer que a escuta e o olhar se ampliem, sigam para alm do contedo da experincia e se voltem para a dimenso processual da experincia, apreendida em suas variaes23. Nesse sentido, a clnica leva em conta dois planos inseparveis da experincia: experincia de vida e experincia pr-refletida ou ontolgica (EIRADO ET AL, 2010). O primeiro plano se refere ao que usualmente chamamos experincias de vida, que advm da reflexo do sujeito sobre as suas vivncias, inclui seus relatos sobre histrias de vida, emoes, motivaes, e tudo aquilo que o sujeito pode representar como contedo vivido. J a experincia pr-refletida, ontolgica, refere-se ao plano da coemergncia, plano comum e coletivo de foras que engendra e do qual advm
22 23
cf. Deleuze, 1987a. Esta postura est alinhada abordagem enativa que considera a gnese dos contedos representacionais, a coemergncia de si e do mundo (Varela, 1989).
59
todas as representaes. Esses dois planos no so excludentes, mas complementares, pois as experincias de vida so inseparveis da experincia como co-emergncia. Uma vez que nossa proposta neste trabalho sublinha no processo de subjetivao sua relao com a linguagem, importante que possamos localizar nos dizeres o acesso experincia nessas duas dimenses24. A relao acima proposta entre o processo e os contedos relatados, sobrepese, no plano da linguagem, ao par expresso e contedo. Como exposto anteriormente, o plano da expresso comporta o processo do dizer e envolve os signos lingusticos, sua gramtica e tambm os modos de dizer. J o plano dos contedos refere-se aos fatos vividos, aos dados narrados. Mas, se os considerarmos como planos separados, tal como a perspectiva do conhecimento como representao nos prope, a imediatez do acesso ao plano coletivo que buscamos fica comprometida. No caso da representao, teramos dois planos autnomos em seu funcionamento, que apenas se encontrariam numa relao de determinao organizadora. O plano da expresso, com seus regimes de signos, com suas classes e subclasses, ordenaria e homogeneizaria a fluidez irregular dos contedos (RECANATI, 1979). Seria esta independncia dos modos de expresso em relao aos contedos relatados que asseguraria a fidedignidade do dado para alm do ato mesmo de enunciar. Tal o pressuposto principal da modalidade de tratamento que busca extrair informaes claras e organizadas, independente da narrativa e da subjetividade que as experimentou. Diferentemente, para acessar a dimenso processual da experincia, precisamos levar em conta as interferncias recprocas entre esses dois planos. Os contedos agem na expresso da mesma maneira que os modos de dizer atuam sobre os contedos. Nesta outra configurao duas consequncias nos interessam por seus desdobramentos sobre os
procedimentos clnicos.
24
Muitos diriam que a clnica se sustenta essencialmente na linguagem, mas nossa posio bem outra. Aceitar a dominncia da linguagem seria manter fidelidade ao modelo representacional de conhecimento.
60
O primeiro efeito o desaparecimento do compromisso do plano da expresso com a neutralidade e, consequentemente, com a tarefa da organizao racional, representativa do que relatado25. Na clnica, precisamos afirmar a reciprocidade entre expresso e contedo e entender que a fala do paciente no descreve sua vivncia numa perspectiva destacada, de quem fala sobre, mas emerge da prpria experincia, faz parte dela genuinamente. Ao conceber as relaes de determinao entre expresso e contedo, priorizamos a experincia expressa na fala que interfere nas enunciaes, no apenas na escolha dos componentes lingusticos da frase (lxico e sintaxe), mas tambm e, principalmente, por componentes como variaes de entonao, ritmo e velocidade, somados a componentes no verbais como expresses faciais e corporais. A escuta e o olhar devem acolher todos os fatores determinantes do sentido (GOBART & EDWARDS 1979, KASTRUP, TEDESCO, PASSOS, 2008). Isso nos autoriza a dizer que no est em jogo, na narrativa, a reapresentao em palavras, de ocorrncias que lhe so externas, na qual a linguagem, como instrumento mediador entre clnico e o paciente interpe-se, distanciando a expresso, o dizer em curso, do contedo, da experincia narrada. Ao contrrio, a linguagem, estabelecida na reciprocidade entre expresso e contedo, mistura-se aos fatos, ostenta em si prpria a realidade da experincia. De modo que nos oferece acesso diretamente prpria experincia em curso. No lugar de descrever a experincia, de evocar a experincia como um referente externo, a fala deixa a experincia exporse/ostentar-se nela. A experincia ali em processo fala na clnica (TEDESCO, 2008) Como segunda consequncia emerge a potncia
pragmtica/performativa da linguagem (AUSTIN, 1990, BAKHTIN 1992, DEPRETO, 1997). Como vimos no primeiro captulo, a eliminao do distanciamento entre linguagem e mundo coloca a palavra em continuidade com o plano dos fatos e ela passa a sofrer intervenes desse plano e, principalmente, interferir sobre ele. Uma vez inserida no mundo, ela existe
25
Cf. captulo 1
61
como prtica capaz de produzir realidades, includa a a experincia. A palavra ato, ato de fala, e como tal possui uma dimenso performativa de produo e transformao da realidade. (AUSTIN, 1990, DUCROT, 1980, DELEUZE e GUATTARI, 1995). por este vis pragmtico da palavra que a clnica pode esclarecer seu poder de interveno e, na direo da construo da experincia do dizer, promover transformaes na subjetividade. O principal efeito da fora pragmtica do dizer est em produzir desvios na experincia e, com isto, tocamos no segundo sentido de clnica.
A Clnica como Klinamem produo bifurcante como direo tica da clnica
Nascido da parceria entre os muitos autores com quem viemos trabalhando, o traado transdisciplinar, orientador das prticas clnicas psi, expe o carter de multiplicidade que a define. Porm, neste momento, para esclarecer a direo tica para a clnica, queremos enfatizar uma parceria em especial, aquela estabelecida entre obras de Foucault e o filsofo da biologia Simondon. E j adiantamos que, face problematizao sobre tica desenvolvida na obra desses autores, nossa preocupao maior ser buscar, nestas concepes, maneiras de desviar a clnica do perigo de recair no exerccio do controle das populaes e dos indivduos (FOUCAULT, 2006). Ou seja, faremos o encaminhamento de algumas questes que podero ajudar na remontagem da noo de tica, multiplicando possveis encaminhamentos para o trabalho clnico.
Apoiados nos ltimos estudos foucaultianos expostos em trabalho anterior (RODRIGUES & TEDESCO, 2009), apresentamos a proposta inicial de definio de tica como atitude crtica de si mesmo, suscitada por situaes incomuns da vida de um indivduo ou de uma comunidade. Trata-se de circunstncias singulares em que as certezas de um julgamento anterior se mostram destitudas de valor resolutivo e, por essa razo, so interrogadas pelo impasse e exigem a coragem de experimentar outros modos de ser. Consequentemente, podemos falar de acontecimentos que abrem uma brecha, uma distncia irrecusvel, problematizadora, entre aquilo que se (atestado como insuficiente) e aquilo que
62
se poder vir a ser (mas que ainda no somos), efetivada pela emergncia de novos modos de viver.
Situaes cotidianas cuja experincia comporta vetores resolutivos no fazem problemas. A questo tica se apresenta para a subjetividade em situaes em que os balizamentos ticos j conhecidos, gerados em anlises anteriores e que poderiam orientar a conduta atual, so interrogados e precisam dar lugar a tantos outros.
Os impasses no plano de produo subjetivante e a prtica clnica. Na prtica clnica observamos que nem sempre tais situaes de impasse so experimentadas como problematizao, de modo a mobilizar o plano das foras ou das qualidades afectivas26 que construiu e alimenta o impasse, e que tambm carrega as condies deflagradoras das mudanas exigidas. Nessas ocasies, a experincia, no lugar de ostentar a abertura ao seu ineditismo, fechase sobre o esgotamento do repertrio de decises e, atualizada como limite intransponvel, s capaz de ativar atitudes j desgastadas, mesmo que ineficazes nova situao. Em outras ocasies, muito embora a insuficincia das atitudes j conhecidas seja considerada, a crise no experimentada de modo potente, como oportunidade para instalao de processos inventivos. Uma vez aderido de modo excessivo aos territrios existenciais e aos seus cdigos, o indivduo segue insistindo na submisso s normas existentes e, com isso, repeties infindveis tomam lugar, inapropriadas para lidar com a novidade da situao. Em outras ainda, a crise se instala, assim como a procura de outras formas de ao que, no entanto, podem acelerar-se excessivamente, perdendose no puro movimento, ou truncar-se no emaranhado de linhas-vetores presentes no plano da experincia. Constatamos, ento, as mais diversas modalidades de desgovernos no processo sobre os quais advm o trabalho da clnica. Neste momento nos vem a pergunta: Que direo seguir na interveno? Como ativar, na subjetividade, o exerccio do estilismo de si? Como incitar a experincia de
26
Sobre as relaes afectivas cf. Passos e Barros, (2005).
63
inveno de composies nas quais as formas, com suas normas reguladoras, sejam problematizadas pelo atravessamento operado por componentes anmalos do plano intensivo (no-lingustico/a-subjetivo)? E ainda, face aos impasses, relatados como provocadores de sofrimento, caberia ao pensamento da clnica apont-los, list-los em diagnsticos?
No negamos que tais balizamentos sejam tambm pertinentes, mas preciso refletir sobre os perigos, j muitas vezes assinalados por Foucault, de avanarmos muito nossa anlise na direo das classificaes, da elaborao de tipologias normalizadoras. tentador, e bastante solicitado em nossas prticas clnico-institucionais, a realizao de diagnsticos, classificaes
psicopatolgicas, prognsticos e protocolos clnicos precisos. Porm, qual o preo de nos tranquilizarmos com o saber clnico que prioriza a previsibilidade na clnica? O que perdemos com a dedicao exclusiva classificao dos modos truncados de subjetivao?
Lembremos que a preocupao exagerada por diagnsticos pode tambm levar cegueira. Implica no risco de construir uma clnica que, acima de tudo, privilegie a negatividade do processo em jogo. Frente ao risco de reforar linhas endurecidas e cristalizadas, lembramos a importncia de seguir outra direo. Muitas teorias clnicas, desde (1916/1972)27, assinalaram a positividade dos sintomas como signos quase invisveis e quase inaudveis, que carregam em si, um duplo encaminhamento. Nesta mesma direo, Guattari e Rolnik (1993) nos advertem que o sintoma como o voo do pssaro que bate no vidro da janela. No voo do pssaro, que no nos atraia especialmente o bater no vidro, o bloqueio do movimento, a insuficincia do clculo. No lugar do sentido de fracasso relancemos a cena sua trajetria, a potncia do movimento, ainda em germe, mas presente.
Vrios so os modos de desgoverno, certo, mas estes esto atados a particularidades de cada histria, de cada voo particular. As dificuldades, ou seja, as lentificaes, as paradas ou as velocidades excessivas sero consideradas,
27
Conferir, sobretudo, a noo de formao de compromisso em Freud (1972).
64
mas tenhamos o cuidado de no as isolarmos do seu plano de produo. s na conjugao com os jogos entre diferentes vetores de fora que o movimento pode ser apreendido, deixando ver nos impasses, no paralisaes absolutas, mas sim componentes ainda em germe, inventores de outras trajetrias para o movimento interrompido. Retornemos, portanto, ao voo, ao movimento. Iniciemos pela cartografia do plano da experincia, para detectar as modalidades de vetores que compem a paisagem movente da subjetividade, o plano das foras em jogo no contexto da experincia, nas quais os impasses esto atrelados.
Clnica e as trs linhas da subjetivao
Como vimos, a questo da clnica se pe face aos desgovernos do processo de subjetivao, s desaceleraes exageradas, fixidez ou s aceleraes demasiadas, e ainda aos movimentos engasgados nos emaranhados de linhas entre os planos. No caso, o processo de criao no se efetiva e, em vez disso, timidamente se esboa numa composio ainda germinal,
imperceptvel ou quase imperceptvel, frequentemente difusa nas enunciaes j bastante sedimentadas no territrio existencial, com seus jarges e modelos de vida prontos para consumo. Se os discursos referentes ao sujeito, exercidos como palavras de ordem, instauram a subjetivao individuante, poderamos privilegiar, no trato com a subjetividade, prticas no discursivas, aes mudas, reduzindo ao mximo os efeitos das palavras de ordem. Tal, no entanto, no parece ser a soluo. Conforme examinado no segundo captulo, o processo de subjetivao sofre efeitos homogeneizantes face s classificaes uniformizadoras do saber, mas, na medida em que nascemos dentro deles, a que devemos nos debater (DELEUZE & GUATTARI, 1995b, p. 59). A noo de regresso ou recuperao de um estado anterior, na medida em que vem a reboque da idia de evoluo, implica no retorno ao mais indiferenciado, como na inverso da flecha do tempo, em que o processo segue de volta a estados menos complexos. Nada mais distante do procedimento da criao. O acontecimento comporta a pluralidade de pontos de vista. Ele no nem evoluo nem regresso, e sim pura diferenciao. Ele se faz na preservao do funcionamento maqunico, na
65
descoberta de partculas marginais, elementos anmalos em meio aos componentes mais estveis para, assim, ativar a dimenso intensiva das foras e, transformando essas partculas em matria de expresso intensiva, compor com elas novas combinaes de formas. Trata-se de construir linhas de criao da subjetividade s realizada no vai e vem dos domnios que as linhas da subjetividade recobrem. Destaca-se que cada um deles s definido em relao ao outro e que, portanto, o desaparecimento ou danos ao funcionamento de algum dos dois comprometeria a subjetividade, seja para sua forte cristalizao, seja para a indiferenciao absoluta do movimento de abolio. Tal como a linguagem, tambm o movimento da subjetividade resulta do atravessamento de linhas heterogneas. Alguns processos da subjetividade compem linhas quase fixas, com seus ns de concreo pelos quais os componentes do universo subjetivo tendem regularidade. Esses segmentos, construdos a partir das determinaes pessoais de cunho intrapsquico, captam a matria a-subjetiva em classes dicotomizadoras. So as formas estabilizadas, codificaes rgidas em categorias que modelam corpos, modos de existncia que, a partir de ento, investem em cumprir exatamente todas as caractersticas daquela categoria, expondo-se como seu metro padro, seu exemplo mais tpico e que assim tornam mais raras as tentativas de diferenciao, as idas ao limite, a equivocao das fronteiras que permitiriam movimentos mais fludos. Mas, se a forma-sujeito cotidianamente traada nos modos de subjetivao individualizantes, tambm a que ela exercita escapes, flexibilizaes das aes modeladas, transgresses que misturaram componentes diversos e que, a partir da, constroem hibridismos portadores de diferena. Esse conjunto de linhas mais endurecidas convive com o outro, constitudo por linhas mais flexveis, a-subjetivas. A natureza dispersante das relaes a estabelecidas distingue-se dos traados estratificados, por eles sugerirem fissuras nas atividades facilmente dicotomizadas, equivocando condutas aparentemente bem organizadas. So traados mais tnues e descontinuados que agem sobre a linha mais sedimentada e provocam rachaduras.
66
Consideremos conjuntos do tipo percepo ou sentimento: sua organizao molar, sua segmentaridade dura no impede todo mundo de microperceptos inconscientes, de afetos inconscientes, de segmentaes finas, que no captam ou no sentem as mesmas coisas, que se distribuem de outro modo, que operam de outro modo (Deleuze e Guattari, 1996, p. 90)
A linha de criao estabelece o vai e vem, o nexo entre os dois conjuntos de linhas. Enquanto as outras duas linhas estabelecem dois planos distintos (do subjetivo estratificado e da matria a-subjetiva), esta no corresponde a um domnio, ela se inventa, proliferante entre os outros dois. Como linha de passagem no permanece aderida a nenhum dos conjuntos, ergue-se como movimento de oscilao, voltado a fazer escapar e desestabilizar as formas, deformando-as em outras. Essa linha rompe com os dois domnios, mas sem produzir um terceiro domnio definitivo, tal como o terceiro momento da sntese dialtica. Ao contrrio, ela alimenta o entremeio dos conjuntos subjetivo e asubjetivo, criando percursos inditos entre eles e com eles. A clnica trabalha acompanhando esse movimento que atravessa os dois planos ou conjunto de linhas para intervir junto s tendncias, bloqueios e aceleraes. Ela intervm exatamente na precariedade ou no excesso do andamento do processo existencial. Cabe tecer, junto com o paciente, esta linha de criao no movimento transversal operador do estilismo de si, produzindo desvios de rota, atiando os movimentos de diferenciao. Neste momento, vale trazer nossa parceria com Foucault para entender o carter tico desse movimento.
A dimenso moral e a direo tica em M. Foucault Primeiramente, lembramos que tanto os termos moral quanto tica precisam ser ampliados para alm do modo de compreenso corriqueira. Foucault (2004) nos lembra que o domnio da moral no diz respeito simplesmente adequao de nossos atos a cdigos, ele afirma que esse domnio recobre o intervalo entre o sujeito e o cdigo, ou seja, diz da relao do sujeito aos cdigos. Ele se define pelas infinitas modalidades de relao que o sujeito da tica capaz de produzir. Dentro do contexto da moral, a tica apontar para determinada
67
direo assumida por essas relaes. Percebe-se que a questo da moral e a da tica, a ela ligada, ao no se referir simples conformidade ou no a cdigos existentes, tambm deixa para trs a preocupao com a consonncia dos atos em relao com verdades universais sobre a natureza do sujeito ou a natureza da ordem social. Note-se que esto aqui includos os cdigos explcitos ou implcitos, formalmente elaborados ou apenas existentes ao nvel dos acordos, das convenes. Apesar de os cdigos se apresentarem em diferentes graus de formalizao, seus processos de emergncia e construo esto apoiados, em ltima instncia, em verdades cientficas ou filosficas, geradoras, atravs deles, de modelizaes normalizadoras dos indivduos e populaes (FOUCAULT, 2006).
A questo se amplifica quando entendemos que o domnio da moral compe um plano maior de foras, marcado por forte heterogeneidade. Em seus embates, os vetores tendem a duas direes distintas e articuladas. Numa delas, a tendncia de convergncia, de redundncia, que, sem jamais atingir unidades, faz ver e dizer tudo aquilo que tomamos como realidade. Na outra, ocorre a equivocao desta tendncia, abrindo o plano a trajetrias ainda desconhecidas. Neste jogo de foras, entre os inmeros vetores que participam, compondo e descompondo arranjos, Foucault sublinha quatro conjuntos de vetores, quatro aspectos envolvidos no domnio da moral e da tica, a saber: substncia tica, modos de sujeio, teleologia e prtica de si.
Os modos de subjetivao viabilizam ao indivduo posicionar-se na relao com as normas, configurando escolhas: sobre o qu na sua vida, que parte de si prprio, servir de objeto sobre o qual recair a ao moral (substncia tica); sobre o motivo pelo qual ele se deixa afetar pelo preceito moral (modo de sujeio); sobre o modo de ser almejado, que lhe servir como rumo para realizao moral (teleologia); sobre que prticas lhe permitiro, por exemplo, se conhecer, governar-se, transformar-se a fim de atingir o telos visado, ou seja, atividade formadora do si mesmo (prticas de si) (FOUCAULT, 2004). Nesta direo, a atitude tica resulta dos vetores que atravessam esses quatro aspectos. Ela resultante do conjunto de circunstncias no qual os cdigos,
68
assim como o sujeito, esto includos, mas sem ocuparem o centro da cena. O gerenciamento destes quatro aspectos decide a direo tica ou no dos modos de subjetivao, de modo que os cdigos deixam o lugar prioritrio de comando. A regra no desaparece, mas em vez dela se impor ao sujeito, este [ato tico] se d em funo de uma certa arte de viver, de uma estilstica da existncia (EWALD, 1984, p.73). A avaliao da justeza dos cdigos morais existentes no mais suficiente, ao mesmo tempo em que a atitude tica no pensada como emanando do subjetivismo, decorrente de livre arbtrio e/ou da escolha voluntria tecida por uma conscincia clara a si. A atitude tica resulta das condies heterogenticas, da configurao do plano de foras convergentes e divergentes, atuantes num dado momento.
O tema da tica em Foucault, apesar de s ter ganhado relevncia nos seus ltimos escritos e cursos, sempre esteve presente em seu percurso, implcito nos seus estudos sobre subjetivao, na anlise da relao que os indivduos estabelecem com as estruturas polticas e sociais. Interessou-se pela constituio dos sujeitos nos jogos de verdade, nas relaes de fora, presentes nos planos do saber/poder, que tornavam possvel aos homens experincias que os levavam a se reconhecerem, a se verem e se construrem como sujeitos a partir de suas classificaes como loucos, delinquentes, perversos, entre outras. Essas classes surgem referidas a verdades filosficas, cientficas ou religiosas que nos oferecem, nessas categorias, a nossa verdade e, portanto, sugerem o que somos e, consequentemente, nos impem o modo como precisamos nos conduzir. Do saber nascem prescries, normalizaes da vida. Foucault nos advertiu de que as verdades produzidas instituem cdigos prescritivos, normalizadores
universalizantes, face aos quais a subjetivao produzida como efeito (Foucault, 1979).
Porm, mais avante em suas pesquisas, a partir da Histria da sexualidade I (FOUCAULT, 1977), o tema da tica mais claramente explicitado. Ela aparece articulada ao domnio da moral e como resistncia aos modos de submisso s normas, formas de assujeitamento na produo de si que da decorrem. Ou seja, sublinha-se que a composio a ser construda entre
69
subjetividade e norma pode variar de acordo com o tipo de conectividade, com as composies de foras em jogo no momento. Essas duas direes diro ambas do processo de construo do sujeito moral. Mas a orientao tica apontar para apenas uma delas.
Na relao com a norma existem duas possibilidades para a subjetividade. Numa delas, os cdigos agem como mandos absolutos, palavras de ordem, e circunscrevem apenas opes de obedincia ou pura desobedincia. Porm, em paralelo relao centrada no cdigo, que resulta na subjetividade como assujeitamento, aparecem relaes de problematizao inventiva, de equivocao das identidades e das normas, ativando processos de subjetivao inventivos. No primeiro caso, trata-se do sujeito jurdico, produzido na submisso ao cdigo. No segundo, falamos do sujeito tico, como aquele relativo ao processo de estilismo de si. A clnica assumiria a direo de instigar a produo de modos ticos de subjetivao.
A direo clnica e o sujeito tico Percebemos que o processo de subjetivao est recoberto pelo domnio da moral, ocupado pelas relaes entre o indivduo e as normas. E aqui esbarramos com outra questo - a do governo dos outros e do governo de si mesmo. A experincia na clnica vai integrar ambas as formas de governo. Vejamos rapidamente cada uma delas. Por exemplo, a investigao do governo dos outros, trabalhada por Foucault nos textos sobre histria da loucura (FOUCAULT, 1978), revelou que o conjunto de normas produzidas para lidar com a loucura, eram, na verdade, normas que tambm serviam a produo dos no loucos, ou seja, elas funcionavam como linhas de corte que serviam distino e classificao que legitimava a distino dos loucos dos no loucos. Vemos a que o saber sobre o sujeito institua princpios normalizadores. Um mesmo conjunto de normas generalizado para todos e autoriza identificar os indivduos, classificando-os nessas duas categorias homogeneizantes. A concepo de governo de si vai alterar o quadro geral das prticas de controle para oferecer maior autonomia ao processo de subjetivao. Nas
70
investigaes desenvolvidas a partir dos estudos da Histria da sexualidade I (FOUCAULT, 1994), surge a noo de governo de si articulado ao tema de governo dos outros. A noo de governo no diz apenas do controle sobre os outros, mas tambm do controle de si, gerenciamento exercido pelo indivduo sobre si mesmo. neste ponto que observamos uma significativa virada. O processo de subjetivao, agora, explicita duas direes. Na continuidade com as foras do governo dos outros, a subjetivao permanece imersa no exerccio da homogeneizao referida norma como princpio absoluto, gerada nos saberes/poderes que produzem as verdades sobre o sujeito. Por exemplo, as normas fazem ver, dizer, e neste procedimento, produzem o outro classificado como louco, neurtico, perverso, drogado e assim por diante, pois quando estas so tomadas como a verdade sobre si, foram sua obedincia. As palavras de ordem e as verdades inquestionveis que carregam podem funcionar como referncia unificadora de todas as experincias, regulao nica dos modos de existncia. Temos a subjetivao como submisso, gerando sujeitos jurdicos. A perspectiva do governo de si pode articular-se ao processo de criao de sentidos e os movimentos de subjetivao. Quando a norma no experimentada como refm de verdades absolutas dada experincia interrogar as verdades geradas no governo dos outros. E o governo de si vem atuar nesse cenrio em funo de sua caracterstica principal de preservar a heterogeneidade da experincia. (FOUCAULT, apud. EWALD, 1984). Enfatiza-se, assim, sua direo tica como estratgia que se desvia da atitude de conectar elementos existenciais distintos em uma unidade homognea, proveniente de certa verdade
inquestionvel, para estabelecer conexes entre termos distintos, que mantm sua disparidade. A lgica da estratgia, a lgica da conexo do heterogneo e no a lgica da homogeneizao do contraditrio. (FOUCAULT, 2004, p. 44). O governo de si resiste normalizao ao preservar a heterogeneidade dos componentes existenciais na experincia e, assim, permitir a coexistncia de disparidades para, no lugar de gerar sentidos unificados e coerentes, instaurar a problematizao da norma, a problematizao da experincia. Do governo de si extramos o modo de subjetivao tica. Se entendermos a subjetivao pelo vis do governo de si, veremos que este poder tomar para si a regulao de sua conexo com a norma (FOUCAULT, 2004). A relao consigo
71
mesmo assume o lugar da relao com os outros, ou seja, ganha independncia em relao ao plano geral das foras, e das verdades a produzidas. Assim, o efeito de assujeitamento, de produo de si mesmo pelas tendncias convergentes s regularidades e s formas, entra num estado de suspenso. A relao a si articula-se a lgica da conexo do heterogneo. As foras plurais, heterogneas, vindas do Fora, quando invadem a forma subjetiva interrogam a unidade do eu, pois elas remetem experincia paradoxal do encontro de componentes cuja divergncia irredutvel. Ou seja, a experincia oscila entre pluralidade e unidade. A coexistncia entre dispares leva o sistema a um estado crtico, exigente de resoluo. Estes componentes plurais realizam-se tal como os elementos anmalos a-semiticos que vimos desestabilizar a unidade do sentido j estabelecido. As foras do Fora, ao servirem a desestabilizao da unidade do eu, forjam a atitude crtica de si e o desmonte das verdades institudas pelas relaes poder/saber e, consequentemente, do sentido mandatrio da palavra de ordem que es sustentam o si. Elas o fazem, destituindo saberes, normas, regularidades que produziram e alimentam a crena num eu: atitudes, sentimentos, hbitos. dessubjetivao que remetemos, experincia sem eu, sem norma, sem sentido. Aposta-se nessa dissolvncia como experincia crtica exigente de resoluo, tal como Simondon nos aponta. Eis ai explicitado o ato crtico como ato clnico - klinamem. As foras do Fora, mediando a relao a si, voltam-se sobre si mesmo e, na dobra que este movimento constroi, so arrastados os fragmentos intensivos. E no vacolo a constitudo, nesse no lugar, grau zero de sentido, de normas e do eu, as partculas a-subjetivas, vindas do Fora, estaro disponveis como condio para a reedio dos nexos, para a reutilizao dessa matria fragmentar em outras composies. Estamos face a um conjunto lasso de matrias intensivas (a-subjetivas) a serem reconectadas diferentemente, oferecendo outras direes para o processo de subjetivao tico. Neste ponto, duas questes relevantes se colocam. Uma delas diz respeito constatao das normas como formas de controle, tendncias
homogeneizao que comprometeriam o movimento das foras, uma vez que este alimentado pela relao entre componentes dspares. Com isso, elas dificultariam a promoo de processos de subjetivao tica. A partir da
72
poderamos ter a falsa compreenso de que os cdigos, sendo contrrios direo tica da subjetivao, precisariam ser eliminados ou minimizados por este processo e assim seriam estimuladas atitudes opositivas, de combate aos cdigos. O estimulo subtrao dos cdigos, isto , eliminao das regulaes que sustentam determinada ordem de fatos, nos leva a uma outra questo. Neste quadro, a experincia de subjetivao tica estaria voltada somente dissolvncia das formas e suas normas, e a dissoluo dos pontos de vista que a acompanha. Nesta atitude, a subjetivao se restringiria a movimentos de deriva, deixando pensar que a tica e, assim, a clnica que da decorre, incitaria, exclusivamente instantes de passagem, movimentos ininterruptos de dissipao dos modos de subjetivao, perguntamos: sem sedimentao a aposta numa clnica forma.. focada E, no
consequentemente,
estaria
deslocamento infindvel de ns mesmos? para o esclarecimento desta questo que comparece a noo de tica da metaestabilidade em Simondon .
Simondon e a tica da Metaestabilidade Como Debaise (2002) indica, a noo de sistema aplicado
processualidade do ser presente no princpio de individuao de ser vivo, desenvolvido por Simondon, supe, na base, uma relao entre elementos heterogneos, produzindo uma organizao imanente... (p. 60). Trata -se de um conjunto de elos formado pela tenso existente entre os integrantes de cada situao. Ou seja, da relao de disparidade entre os componentes emerge uma energia potencial, um plano relacional como condio para a segregao de certos conjuntos que ento se destacam do plano maior de diferenas potenciais, dando a ver o contorno de uma forma destacada, individuada. A partir da, podemos conceber dois modos de funcionamento distintos, mas interligados, que alimentam a vitalidade do sistema.
Simondon fala em duas dimenses do ser: o individuado e o pr-individual. A primeira corresponderia realidade marcada pela tendncia reproduo de si mesmo e reconhecida por regularidades. a dimenso representvel. A outra dimenso seria constituda por pontos singulares, isto , por puras diferenas potenciais, alheias ordenao. Enquanto a dimenso do individuado ostenta
73
aparente contorno e homogeneidade interna, esta outra, a do pr-individual, caracterizada justamente pela inexistncia de limites e por sua dissimetria. Visto no existir um mnimo sequer de repetio entre os componentes do segundo plano, no h denominador comum que os unifique e tampouco elos classificadores, teis s estratgias de organizao.
Para a caracterizao desse outro plano, Simondon apresenta-nos um sistema metaestvel, portador de intensidades qunticas que jamais atingem uma situao de equilbrio, seja pela compensao das foras, seja por sua reduo. A metaestabilidade de que nos fala no tampouco um estado de desequilbrio, intervalo entre perodos de equilibraes, definido negativamente em relao ao equilbrio, que ento funcionaria como referncia a um estado perdido e para o qual tende todo o sistema existente. Ao contrrio, a disparidade entre os componentes traduz sua natureza real. Compe-se de valores extremos jamais conciliveis, de partculas descontnuas, tais como as descritas pela fsica quntica que, pelo aleatrio de sua trajetria, extraem de seus componentes sua materialidade energtica em movimento (DELEUZE e GUATTARI, 1997). A matria pr-individual definida por sua natureza no delimitvel por contornos precisos. Por esse motivo, descrita como fluxo de energia, por variaes que interferem a todo instante na gnese contnua dos indivduos. Este plano asubjetivo compe-se de puras intensidades que j apresentam caractersticas prprias, no entanto, no classificveis pelas iniciativas da representao.
O processo de cristalizao utilizado, por Simondon, como paradigma da operao de individuao das formas, realizada em todos os nveis do real. No incio, ainda no momento anterior ao aparecimento dos dois planos, haveria exclusivamente uma soluo supersaturada, plena de potencialidades singulares, energias qunticas sem comunicao entre si e, portanto, irregularmente distribudas. Esta composio metaestvel, num certo instante, atinge um estado que reuniria, simultaneamente, a mais alta incerteza e poder de determinao (SIMONDON, 1964, p. 264). Estamos na presena de um estado crtico (intensidade de energia potencial mxima), infinitamente sensvel, de tal modo que um simples acidente local pode pr a seu servio a energia do sistema.
74
Forma-se a um germe cristalino, produzindo comunicao entre os elementos dspares do ser. O cristal individuado, ou seja, a regio de convergncia de energia acaba por defasar-se do comportamento do resto do plano, distinguindose dele e produzindo as duas regies no ser (SIMONDON, 1964).
No vivo, este processo se mantm ininterrupto aps a primeira individuao. A matria tratada como domnio pr-individual do ser, diferente de uma matria que se esgotaria na forma que recebe, continua a expor sua defasagem em relao forma individuada. O pr-individual jamais absorvido no plano individuado, garantindo a gerao de novos estados crticos do prindividual e/ou dos muitos instantes de comunicao estabelecidos entre as duas dimenses. Do contato entre os dois planos, criam-se situaes problemticas, gerando a busca de resoluo. As singularidades pr-individuais, em contato com a forma individuada, propem novas direes como soluo para a crise. Outras ordens so anunciadas e, com elas, novos princpios capazes de lidar com a incompatibilidade gerada em cada uma das situaes crticas. Cada nova fase individuada redefine tanto o individuado quanto o pr-individual.
Neste quadro, ocasies de desestabilizao, dissolvncias, coexistem com tendncias conservao, a regularidades, indispensveis atualizao efetiva de novas realidades. na relao entre individuado e o pr-individual que ambos se recompem e reorganizam suas fronteiras. A redefinio da forma com seus novos contornos inclui tambm redesenhar, necessariamente, o que lhe escapa, como seu exterior, redimensionando, assim, a amplitude de cada um dos dois planos.
Ao mesmo tempo, cada ato tico implica necessariamente sua integrao heterogentica com outros atos. Falamos de uma rede heterogentica. No existem regies isoladas, ilhas perdidas, ou seja, atos fechados sobre si. Pois o sentido tico do ato define-se tanto no seu exterior como no seu interior. Ou seja, o ato tico estabelecido em rede, expe-se como multiplicidade, expande-se em direes infinitas, equivocando os sentidos tradicionalmente atribudos s conexes internas ao sistema, como, por exemplo, a horizontalidade e a
75
verticalidade. As conexes, ento, se fazem segundo as especficidades da rede a cada momento, conferindo imprevisibilidade s solues encontradas (ESCSSIA, 2009).
Simondon no cr, portanto, numa definio fechada de tica ou moral 28 na medida em que ela, como qualquer outra forma conceitual ou emprica, jamais poder ser circunscrita completamente. Sua proposta lanar as bases para a tica da processualidade prpria individuao. A tica, portanto, definida como o sentido da individuao, o sentido da sinergia das individuaes sucessivas (SIMONDON, 1989, p.242).
Sua concepo tica parte da crtica s duas concepes de tica - a tica pura e a tica aplicada que estariam ambas apoiadas numa mesma axiomtica lgica da estabilidade, do absoluto incondicional. A tica pura diz do ser imutvel, definido como um e completamente dado na substncia individualizada (SIMONDON, 1989, p. 236), enquanto a tica prtica ou aplicada fala da perptua variao, do ininterrupto movimento que marca as paixes, a servido, o vcio, a existncia. Vemos as duas realidades dicotomizadas: de um lado o ser eterno e de outro as corrupes da vida. A tica prtica, nesse ponto de vista, se constitui na oposio tica da substncia, na contraposio entre o ser eterno e a vida em devir. A vida se desdobraria em torno de ser, no lhe pertencendo e nem o modificando na sua essncia, de maneira que ficaria assegurada sua estabilidade. Segundo Simondon, as duas ticas seriam insuficientes para dar conta do processo de individuao do ser, uma vez que, ou temos a fixidez completa, ou o puro movimento sem lastro, sem permanncia, sem atualizao efetiva de seus efeitos. preciso buscar outras composies entre instantes de maior fluidez e perodos de constncia relativa, aliar os instantes de passagem com certa conservao, necessria para a instaurao de realidades. Como compor instabilidade e estabilidade? Por esta razo o autor prope substituir a dicotomia entre tica do ser e a tica do puro fluxo pela tica cujo sentido aponta para o ser como srie sucessiva de estados de equilbrio metaestvel (SIMONDON, 1989). essa tica da metaestabilidade que nos interessa.
28
Para Simondon os termos tica e moral se equivalem. Cf Simondon, (1989).
76
Distantes de encontrar identidades entre Simondon e Foucault, ou de buscar esclarecimentos de um autor no outro, apostamos no uso da concepo de tica metaestvel para sublinhar alguns aspectos, j presentes no pensamento foucaultiano, que auxiliam para a melhor compreenso de nossa questo. A proposta recorrer a Simondon, mais precisamente sua concepo de tica, a fim de justificar a articulao entre estabilidade e instabilidade, entre forma e movimento, como maneira estratgica de esclarecimento da tica da clnica. Esta, uma vez voltada ao processo de subjetivao, no vai afirm-la nem como substancialidade, muito menos aprision-la num processo de variao vazio e incessante. A pura fluidez no serve de direo clnica que buscamos.
Clnica e Poltica: condio metaestvel de inveno de cdigos e de subjetividades
Na composio entre Foucault e Simondon propomos a tica da processualidade metaestvel, alimentada pelos momentos de crise, estado crtico com intensidade de energia potencial mxima e infinitamente sensvel. Instantes nos quais a mais alta incerteza multiplica os encaminhamentos possveis face abertura ao indefinido, ao Fora. O absoluto incondicional sai de cena nas suas duas formulaes: seja na forma totalizada e definitiva, seja no puro movimento. A direo se cumpre na produo de diferentes modos individuados de ser, na ateno tanto s formas como ao seu processo contnuo de gnese de formas (SIMONDON, 1989). No processo, as prescries normativas se constituem nos princpios reguladores de cada fase individuada, que no se querem absolutos e nem abolidos, sob o risco de o processo transformar-se numa pura sucesso na qual nenhuma norma possa valer. A tica no orienta a prtica clnica procura de um estado ideal a atingir e nem fluidez completa, mas ao exerccio de composio. Neste, as normas institudas no se do como fatores de homogeneizao, mas como componentes de prticas de liberdade, uma vez que a partir da liberdade de transmutao das normas que novos modos de ser tero lugar. Da dizer que as normas no se opem liberdade, visto que existem tambm como material a
77
partir do qual possvel a extrair componentes para uso singular. Vale desconsiderar a prioridade conferida a uma nica norma ou a um nico conjunto delas e, no lugar, reconhecer a metaestabilidade das prprias normas. Podemos, neste momento, explicitar a modalidade de experincia regulada pela atitude tica da clnica: quando a experincia expe seu vis crtico, questionando todo o repertrio de aes disponibilizadas, assim como as normas que as regulam, esta problematizao conduz inveno de novas relaes com o cdigo que, por sua vez, criam aberturas para efetivao de modos inditos de subjetivao. A clnica acompanha e incita a subjetividade na direo de sua essncia inventiva, procura de modos inditos de experimentar e agir junto norma. Cava no limiar entre a obedincia e desobedincia, poros e vieses que operam transvazamentos, e multiplicam a rede de resolues para que, ento, sejam instauradas maneiras de agir imprevistas, desestabilizando e
reconfigurando as antigas normas. Portanto, podemos dizer que os processos de subjetivao seguem duas direes possveis. Consideradas ambas como da ordem da experincia moral, elas expem sua dupla natureza: a de conduzir atitude de submisso ao cdigo, prpria ao sujeito jurdico e a tendncia a por em questo o cdigo e, na relao inventiva com ele, propor outra realidade moral. Retomando a questo da clnica, observamos que, se na sua relao com o cdigo que o sujeito moral (tico ou jurdico) constitui-se, cabe ao manejo clnico privilegiar essa relao. Para tal, precisamos remeter os impasses do sujeito, relativos aos cdigos, ao plano coletivo de foras que os engendrou e os alimenta para, assim, acompanhar o funcionamento do diagrama, as relaes de poder com seus preceitos: seja como regulao dos corpos individualizados pelo poder disciplinar, seja como linhas de corte das distribuies organizadoras da populao pelo biopoder. Uma vez cartografadas essas linhas de fora, vale ficar espreita dos instantes crticos, em que as normas so problematizadas, oportunizando instaurao de tantas outras ainda no experimentadas. funo da escuta clnica detectar esses instantes de bifurcao do processo e trabalhar, na relao com o sujeito, a amplificao do poder de conectividade na direo de novos encaminhamentos para sua trajetria.
78
Neste caso, constatamos que prticas de sujeio, de adequao aos cdigos vigentes, na verdade, no se incluem na prtica clnica. Como klinamem, ela provocadora de rupturas na rota existencial. Pratica a tica em seu vis de desconcerto e abertura indeterminao. nesse sentido que o ato clnico efetiva-se nos desvios de rota, nos deslocamentos do indivduo de sua trajetria estabilizada, na direo da inveno de outros modos para o si e para as normas. A crise como experincia crtica de metaestabilidade o nosso analisador por excelncia. Para tal, cuida-se para que os desgovernos da processualidade do si no vigorem em sua completa negatividade, que a crise que os habita no seja tomada como prejuzo a ser abolido ou minimizado por prticas de reabilitao. A tica clnica indica a produo e o acompanhamento da experincia crtica pois ela que impulsiona o movimento. Interessa clnica examinar modos possveis de reinveno das normas, pois se elas modelam, tambm podem inspirar movimentos, desvios e recomposies. Como prtica de si, a clnica aposta na porosidade da relao que podemos construir com os preceitos, de modo a detectar outras rotas, tanto para a subjetividade quanto para a ordem social. Face ao cdigo, precisamos ser convocados experincia da problematizao. Por este vis, estabelecemos a proximidade entre a definio tica de clnica como desvio, como klinamem, e a noo foucaultiana de liberdade, de sujeito tico, ou seja, do uso desviado e singular das normas na direo da criao de si e de outras realidades. Nesse sentido, a crise como experincia crtica, desestabilizadora, precisa perder seu valor negativo. Como ressalta Neri (2005), a experincia da falncia das leis, valores e preceitos de nossa sociedade atual no se configura numa patologia do contemporneo, inrcia da ordem jurdica, num entrave organizao dos homens, a ser superado ou controlado por cdigos ainda mais restritivos. A desestabilizao do poder das leis, diferentemente, expe um momento de crise, e este precisa ser afirmado como condio necessria para a experincia tica como atitude crtica, movendo, sempre para frente, o social em seu processo. O que queremos dizer que a problematizao do si carrega a problematizao das normas. Ambas se fazem num mesmo movimento. Como
79
vimos no segundo captulo, as verdades institudas pelos saberes geram cdigos prescritivos, normalizadores, reguladores das formas-sujeito produzidas. De modo que as prticas polticas de produo so, na verdade, prticas morais. As leis e as normas institudas constituem-se nos pressupostos implcitos das palavras de ordem que produzem a forma sujeito. Com efeito, esta resulta da relao de submisso s verdades que se desdobram nesses princpios normalizadores da vida. So justamente estas verdades e as normas explcitas, ou no, que delas decorrem, que sero interrogadas, transversalizadas no processo de subjetivao tica. Apenas na reedio inventiva das normas unificadoras, a subjetividade vai poder criar para si outros modos de existncia. Portanto, toda transformao do sujeito em uma dada experincia de si implica j a desestabilizao das normas que, at ento, o produziam. nesse ato de problematizao e reformulao das formas subjetivas, que carreiam os cdigos - leis e costumes -, que a clnica se encontra com a poltica e pode, ento, exercer-se como prtica de liberdade, de reconfigurao social (TEDESCO & RODRIGUES, 2009). Segundo Foucault (1995) e Deleuze (1992), as normas vigoram na vida cada vez mais insistentemente, porm usam encaminhamentos imperceptveis. Vivemos sob a forte presso moral do contemporneo, na qual proibies e princpios reguladores desenvolvem novos modos de controle mais abrangentes e, principalmente, bem mais sutis. Espalham-se, para alm das instituies, nos espaos abertos da sociedade da comunicao: redes cibernticas e telefnicas nos conectam a todos, no importa onde estejamos, para nos ofertar cada vez mais preceitos. Controle e comunicao miditica andam juntos. No entanto, a estratgia clnico-poltica no reside em sublinhar tais preceitos como bloqueios absolutos ao movimento, vinculando liberdade abolio dos cdigos. A delicadeza do processo criador exige que habitemos o plano da norma, no para cair no seu jogo, mas inventar outros jogos, descobrir seus vieses, suas margens e limites a fim de propor sua reinveno. Na parceria com Foucault e Simondon, deixamos para trs a compreenso da tica como substncia para tom-la como exerccio, cuja efetivao envolve o aparecimento de configuraes inditas para os cdigos. Frente norma, nem normalizados, nem juzes normalizadores, mas inventores cuja existncia tica implica a liberdade de arriscar outros modos de
80
viver e de criar mundos. E neste ponto coloca-se a pergunta: como instaurar, no interior do prprio regime normalizador, outros modos de regulao mais condizentes com a vida, com o movimento que nos inerente?
81
CAPTULO 4
A CLNICA DAS DROGAS NO BRASIL CONTEMPORNEO
A primeira coisa que fiz foi reduzir a dose para quarenta, depois trinta e, o mais rpido que pude, a uma dzia [...] e durante todo o perodo em que diminu o pio, sofri os tormentos de um homem que passa de um modo de existncia a outro. Thomas de Quincey, Confisses de um comedor de pio
Avancemos na preparao do encontro entre clnica transdisciplinar com a clnica das drogas. Uma breve cartografia29 deste campo de prticas psi valer para explicitarmos algumas das foras a presentes, com suas tendncias, presses que nos mobilizam, ou melhor, visam nos imobilizar em nosso cotidiano. Passaremos a comentar as duas principais vias de encaminhamento teraputico distribudas na rea das drogas no Brasil atual. Um deles conhecido como modelo proibicionista, encontra seu desdobramento legal no projeto jurdico de Justia Teraputica, o outro encaminhamento corresponde proposta do ministrio da sade apoiada na perspectiva de Reduo de Danos. De um lado a justia criminalizando30 e, assim, restringindo a ao da clnica, de outro a sade, tensionando na direo da descriminalizao, e nesse entre os dois, o olhar da clnica transdisciplinar.
29 30
Sobre o uso d cartografias nos estudos empricos cf. Escssia e Tedesco, 2009 Segundo o jurdico, o projeto da Justia teraputica iria na mesma direo do Ministrio da Sade de descriminalizar o usurio, dando-lhe a oportunidade de tratamento no lugar de ser processado, mas, como visto, a criminalizao permanece, porm, escamoteada pela situao de tratamento compulsrio.
82
O proibicionismo da experincia da droga e a clnica.
O modo de atuao da poltica de represso s drogas foi importado dos E.U.A. chega ao Brasil na dcada de setenta e alocada no SENAD Secretaria Nacional antidrogas. Longe da gesto do Ministrio da Sade, esta poltica absorvida pela Secretaria de Segurana. Nesta trajetria podemos perceber que o problema da droga, segundo este ponto de vista, permanece alheio s questes da sade. Aqui, a prioridade recai sobre a segurana nacional, com todas as aes de controle e defesa a envolvidas. A reboque da segurana, vai comparecer a clnica, refm desta estranha aliana comprometedora de sua tica.
O investimento principal desta poltica dirigido imposio da abstinncia que serve oferta do novo produto idealizado a ser consumido: a sociedade limpa de drogas, sociedade sem drogas. O foco do tratamento, portanto, a droga, entendida como substncia ativa, perigosa, fonte de prazeres fceis e infindveis. Como pressuposto implcito desta palavra de ordem tem-se a expectativa de que o cidado moralmente bem constitudo seja capaz de resistir ao seu uso. No caso, a criminalizao daquele que busca o tratamento inevitvel31.
Com a criminalizao e com o consequente preconceito, emergem dificuldades para o usurio. Observam-se muitos pontos de estrangulamento na rede de relaes estabelecida no seu territrio existencial. A famlia, a escola, o trabalho, inclusive os servios nas clnicas, hospitais gerais, etc., apresentam atitudes de hostilidade. Neste quadro o usurio que busca atendimento includo na categoria de cidado inferior, deficiente na sua formao por no resistir ao apelo da droga e, consequentemente, infrator da regra maior da sociedade atual a eliminao do grande mal as drogas. No caso, a criminalizao daquele que busca o tratamento inevitvel. Um dos efeitos principais o baixo ndice, tanto de busca espontnea dos servios pelos usurios, quanto sua adeso aos mesmos. A procura pelo tratamento, quando se realiza, se d quando o processo
31
Embora, no momento, no caiba nos limites deste trabalho discutir tal questo, vale sublinhar a produo poltica do drogado como substituto da figura do louco, ou seja, como categoria produzida, que serve de referncia para que, por oposio, os padres da normalidade sejam produzidos.
83
j avanou em demasia, apresentando perdas significativas. E ainda observamos que o usurio, frequentemente, chega ao servio pelas mos de terceiros (familiares, escola, ou outras instituies do estado). Com isso, o carter espontneo da busca de atendimento desaparece. Devido ao grande avano do problema e o carter compulsrio da busca pelo servio, as chances de sucesso no atendimento se reduzem consideravelmente.
O modelo tem como princpio a abstinncia, devendo, o termo princpio, ser entendido em dois sentidos: como orientao geral, meta nica a atingir, foco central da ao teraputica, e como condio necessria para dar incio e continuidade ao tratamento. No primeiro sentido, a abstinncia comparece como princpio orientador, meta definida a priori, geral e nica para todos, impondo-se como norma absoluta na excluso de qualquer atitude, exceto a obedincia.
preciso considerar que tal proposta elimina a experincia compartilhada, o plano do comum das foras de afetao recproca, to caras clnica, a partir das quais a problematizao do si e da norma se far possvel. Uma vez isolando o sujeito de seu plano de foras, desaparece a experincia da droga, a experincia do drogar-se e, ou, a experincia de no resistir droga. A experincia de crise no compartilhada no tratamento, deixando o processo clnico prejudicado, sob a tutela de metas gerais, pr-estabelecidas, que funcionam como normas prescritivas, moldando os indivduos a partir de verdades transcendentes. Observamos que, seguindo esta direo, a clnica opta pela produo de sujeitos jurdicos, modalidade de subjetivao que, sem interrogar as normas, a elas se submetem na excluso de outros encaminhamentos existenciais possveis. No segundo sentido, temos a abstinncia das drogas exigida como condio necessria para que o tratamento possa se realizar. preciso aguardar que o paciente j seja capaz de evitar o uso da droga para iniciar o tratamento e nos casos, nos quais a abstinncia inicial no ocorre (o que nos parece, na prtica, ser muito mais frequente) existe a opo do internamento, durante o qual a abstinncia ser imposta (MARLLAT E GORDON, 1988). Percebemos que a exigncia inicial da abstinncia envolve uma contradio. Se a clnica tem como orientao de sua prtica a queixa do paciente, no caso, suas
84
dificuldades em gerenciar o uso da droga, como se pode, mesmo antes do processo clnico ocorrer, exigir do paciente a remisso da queixa que o leva a buscar tratamento? Observamos que a relao, o nexo do paciente com a droga no analisado, problematizado, de modo que os jogos de fora produtores da dominncia da relao com a droga na vida do indivduo so ignorados32. Se eliminamos a experincia do drogar-se, como provocar a atitude crtica, o confronto consigo mesmo e o processo de singularizao frente s normas?
No lugar da crise, como condio da problematizao, construda na relao clnica, circula a palavra de ordem segundo a qual a dependncia ao uso excessivo da droga um problema irrecupervel e, neste caso, a soluo possvel resume-se ao estabelecimento ou intensificao de fora psquica e/ou moral de esquiva s drogas (COMTE, 2004). A tcnica repousa, ento, em etapas de treinamento e/ou fortalecimento de atitudes de esquiva fora de atrao pelas drogas. Uma vez instalada, a atitude de controle dever ser mantida viva, como um estado de vigilncia constante pelo outro, caso contrrio a fora de atrao ou apelo s drogas reassumiria o controle. Temos a fora de atrao pela droga a ser vencida pela fora de esquiva. Ou seja, a abstinncia como norma exterior se ope atrao pela droga, sendo este jogo fixo de oposio de foras a nica realidade possvel. Uma vez acatada a exigncia normalizadora de esquiva, o sujeito ficaria livre das drogas, porm refm do mando absoluto, estabelecido e mantido no tratamento, mas fora da alada de deciso do sujeito. Em vez do exerccio de inveno de si na relao com as normas, efetivado na sensibilidade aos jogos de fora do plano do comum, o sujeito treinado a acatar normas modeladoras. Neste contexto, s a produo do sujeito jurdico tem lugar.
Tal situao retomada a cada risco de recada, apontado, neste modelo de tratamento, como situao inexorvel, vivida recursivamente por todo dependente. Sendo a dependncia considerada, nesta perspectiva, como uma doena incurvel, a subjetividade ter que viver da em diante atenta ao mais leve sinal de aumento da fora de inclinao ao uso da droga, assim como submetida a prticas para fortalecimento de sua atitude de submisso norma de
32
Voltaremos mais a este ponto frente.
85
abstinncia e a outras normas de vida que da decorrem: freqncia ao grupo de apoio, reduo do espectro das amizades aos companheiros do grupo de apoio, assim como eliminao de pessoas, atividades, ambientes nos quais o apelo ao uso da droga possa ser facilitado. A abstinncia da droga, neste caso, se faz acompanhar frequentemente de forte grau de abstinncia da prpria vida.
Entende-se o estado de tenso em que vive o usurio tratado por esta tcnica. Cada experincia de recada, por mais tnue que seja, traz a reboque o medo do fracasso e muito frequentemente conduz o usurio busca pela droga, como redutor do insuportvel estado tensional. Aps a experincia efetiva do fracasso, s uma sada se mostra possvel: a retomada do processo de tratamento desde seu incio para recuperao das foras repressoras. Temos a explicitado um crculo vicioso, onde o paciente se mantm refm do treinamento constante e das recadas frequentes, porm consideradas como ciclos da doena e, consequentemente, do tratamento interminvel. Neste contexto, a prpria prtica teraputica, muito frequentemente, transforma a dependncia qumica em dependncia teraputica e/ou institucional. Uma vez produzida como doena incurvel e cclica, a dependncia passa a superlotar os servios pblicos ou transforma-se em boa e ininterrupta fonte de lucros para os profissionais e instituies da rede privada.
Modelo da justia teraputica programa especial para usurios de drogas (PROUD)
O modelo est implementado desde 1980, como poltica brasileira preveno, fiscalizao e represso de entorpecentes. Gerado no mbito do jurdico, tal proposta nasce e permanece at hoje longe das prticas de sade. Este modo de atendimento est fortemente vinculado ao jurdico e, portanto, apoiado nas teses proibicionistas. Baseado na lgica da Drugs Court Americana, adotada por Pases como E.U.A., Inglaterra, frica do Sul, entre outros, chega ao Brasil o Programa da Justia Teraputica. Inicialmente concebido pelo ministrio pblico do estado do Rio Grande do Sul, o projeto teve
86
sua aplicao gradualmente ampliada a domnios como do direito da Famlia e da justia de infncia e da juventude em todo pas. Sua novidade maior a mudana do paradigma na abordagem jurdica do uso de drogas ilcitas, ao oferecer o tratamento em substituio submisso, do usurio, a processo legal e pena do encarceramento. A sobrecarga populacional, a onerosidade e a constatada ineficincia do sistema prisional, so apontadas como alguns dos argumentos para a mudana de paradigma (LIMA, F. A., 2002) Justificado tambm por razes humansticas, que visam recuperao e ressocializao dos cidados, e no lastro do respeito aos direitos da infncia e adolescncia, o projeto de justia teraputica diz realizar um passo frente da justia retributiva (programas punitivos) e da justia reparadora (como pagamento de multa ou reparao de danos vtima). Segundo fomentadores do projeto, o objetivo no penalizar o usurio de drogas e eliminar o estigma de infrator ao liber-lo de uma condenao/processo legal (JESUS, 2002). A problemtica das drogas reconfigurada. A lei, no mais isolada em sua soberania jurdica, estende-se por outros domnios do saber. Comportamentos ilcitos podem, agora, no ser penalizados juridicamente. Quando o delito cometido por ru primrio, envolvido com drogas lcitas ou ilcitas e, em especial sendo jovem, ele tem como prerrogativa o tratamento que pode livr-lo tanto do encarceramento quanto do processo jurdico. Muitos se beneficiaro da abertura da lei e no cairo no sistema penal, dispositivo reconhecidamente vicioso e produtor de criminalidade (FERNANDES & CORDEIRO, 2002). Novos ares animam o jurdico. Porm, a tentativa de atenuar o peso da lei traz a reboque consequncias que valem ser problematizadas. A aliana entre justia e clnica, parece comportar desdobramentos inusitados ao exerccio de ambas. Atentos prtica clnica, em especial, sua dimenso tica-poltica, cabem-nos alguns comentrios. Sem dvida, grandes mudanas no campo jurdico esto se efetivando. Mas que direo elas tomam? Ou melhor, que efeitos elas produzem efetivamente? Como efeito inesperado das motivaes humanistas orientadoras da reviso do modelo punitivo, assistimos sobressaltados ao alargamento da categoria clnico-jurdica de patologia criminosa. O modo encontrado para atenuar
87
a tendncia criminalizadora do uso de drogas estabelece um atravessamento entre direito e psicopatologia. Os comportamentos ilcitos ligados a drogas no sero mais penalizados pela justia e sim clinicamente tratados. Vejamos algumas caractersticas desta clnica jurdica ou justia teraputica. O Programa da Justia Teraputica aplica-se a uma esfera de crimes bem especfica, ou seja, dirige-se a prticas, por adolescentes ou adultos, de delitos da Lei dos txicos (porte ou uso de drogas ilcitas) ou delitos em que substncias consideradas entorpecentes sejam detectadas como fatores imediatamente desencadeantes. Por exemplo, roubo ou furto sob efeito de substncia txica ou ainda prticas de crimes com fins a obter, com o produto do crime, drogas lcitas ou ilcitas (JESUS, 2002). Includo na esfera das aes alternativas, a Justia Teraputica oferece o tratamento como opo s penas restritivas de liberdade. Mesmo sendo acordado com o paciente, o carter compulsrio do tratamento claro. O objetivo oferecer ao indivduo envolvido na prtica do ato infracional, vinculado ao uso abusivo ou dependncia de substncias entorpecentes, tratamento compulsrio em alternativa ao Scio-educativa propriamente dita... (FERNANDES & CORDEIRO, 2002, p.7). Sublinhamos aqui dois efeitos principais desta formulao. Em primeiro lugar, observamos que o tratamento surge no desdobramento de um processo jurdico, que, inclusive, poder ser anulado (mantendo o sujeito condio jurdica de primeiridade) no caso da avaliao positiva dos seus resultados. Oferecer o tratamento como alternativa a outras formas de penalizao e, sobretudo, afirmar a liberdade penal como a direo tica da clnica criar um nexo semitico entre esta e prticas de punio. Tramos assim o sentido etimolgico da palavra clnica de que falamos anteriormente. Compromete-se a atitude de acolhimento dirigida quele que demanda tratamento, ou seja, o processo de construo do plano do comum, da experincia compartilhada, essencial condio de afetabilidade recproca na qual a clnica est apoiada. Em segundo lugar, notamos que, dado o carter compulsrio, a demanda de tratamento deixa de ser explicitada pelo cliente, ou seja, a queixa no do sujeito, mas da sociedade, representada pelo jurdico, que se sente desrespeitada pela quebra do contrato social que o delito efetiva. O efeito principal, neste caso, o engessamento do processo teraputico. Se a
88
prtica clnica apoia-se num contrato, numa aliana de trabalho conjunto, estabelecido entre terapeuta e cliente, perguntamos: que modalidade de contrato clnico pode ser realizada nestas condies de penalizao? Embutido na inteno corretiva, detectamos nesta prtica fortes sinais dos valores da justia retributiva, marcada pela represso e punio. Em consonncia com a declarao do Conselho Federal de Psicologia, sublinhamos que o acesso sade e, por conseguinte, o acesso ao tratamento um direito e no um dever a ser imposto (CFP, 2003). Alm destas caractersticas, observamos no projeto a indicao para que a equipe mobilizada a atuar deva ser formada no s por mdicos, psiclogos, assistentes sociais, entre outros profissionais da sade, mas tambm, por representantes do poder judicirio e da defensoria pblica na funo de avaliao do processo. Ou seja, a opo para o sujeito ser submeter-se ao tratamento monitorado por fiscalizao judicial. Exames peridicos e relatrios serviro para atestar se o paciente obedece s condies mnimas necessrias continuidade do tratamento (abstinncia) sob o risco de ser excludo do programa e sofrer condenao e encarceramento. Vemos decises de cunho eminentemente clnico passarem para as mos do poder judicirio. Ao mesmo tempo, a fiscalizao do processo teraputico, como avalia documento do Conselho Federal de psicologia, fere os princpios ticos da clnica, na medida em que impe a quebra do sigilo como padro (CFP, 2003). O projeto tambm interfere na conduo do tratamento, delimitando-o numa faixa que se estende desde as sesses teraputicas internao em fazendas de tratamento, passando por penas restritivas de direitos, como limitao de fim de semana, que permite a imposio de tratamento sob a forma de cursos, palestras e atividades especficas. Alm dos empecilhos conduo da clnica criados pela exigncia de abstinncia, j comentadas acima no item anterior, a incluso de penas restritivas de direito entre as opes de tratamento explicita mais uma vez a forte presena do jurdico que faz coincidir tratamento e penalizao. Vale observar os efeitos da proposta do PROUD. O cruzamento entre a prtica da justia e a clnica se faz ver pelo carter judicativo imposto ao
89
tratamento, observado desde as orientaes para seleo da clientela at a direo da cura. Segundo o jurista Ricardo Oliveira Silva:
O conceito de justia engloba aspectos do direito, aspectos legais e sociais enquanto o termo teraputico, relativo cincia mdica, define tratamento, reabilitao de uma situao patolgica. Justia teraputica atenderia a princpios do direito na inter-relao do estado com o cidado, na busca da soluo do conflito com a lei, dos problemas sociais do indivduo e da coletividade nas doenas relacionadas ao consumo de drogas. (Oliveira Silva, 2004, s/p.)
O trecho esclarece a forte mobilizao para construo de um modelo jurdico na interface com outros domnios de conhecimento. Porm, preciso perceber que a interface se realiza apoiada na dominao da anlise jurdica sobre outras esferas do saber, como a sociologia, a medicina e a clnica em geral, implicando muitos constrangimentos. preciso reconhecer, nas observaes feitas acima, que traos essenciais desses outros campos ficaram
excessivamente esmaecidos, tornando-os inoperantes. A utilizao dos conceitos clnicos pelo campo do jurdico produziu perdas comprometedoras e, assim, revela a incompatibilidade deste projeto com toda e qualquer prtica clnica.
Portanto, se a concepo jurdica de pena se altera, simultaneamente, como sua consequncia, inventa-se uma nova prtica teraputica inusitada - a pena-tratamento. A clnica e justia confundem-se num espao misto, ao mesmo tempo, de terapia de controle legal.
Se justia cabe julgar e penalizar, a clnica segue rumo diverso. Apoia-se no estabelecimento do nexo teraputico cuja natureza antipredicativa e antijudicativa notria33. Sem esta aliana, a experincia clnica torna-se impensvel. Neste ponto vale a pergunta: Como realizar atravessamentos entre domnios com orientaes tico-profissionais to diversas?
Percebemos que o projeto de Justia Teraputica reduz, porm no elimina, a criminalizao do usurio e a consequente imposio da abstinncia
Ao discutir o vnculo clnico, Freud foi incisivo na defesa da regra da neutralidade do terapeuta Cf.. em especial Freud (1972) e Baremblit (1992)
33
90
como meta nica. Sem flexibilizaes, mostra-se como conjunto de foras facilmente capturveis pela tendncia moralizante j h muito atuante na rea das drogas. Na verdade, essa rigidez, que no oferece seno uma nica direo absoluta para o processo clnico e, consequentemente, para os processos de subjetivao, poderia ser aproximada aos estados de dominao de que nos fala Foucault, como engessamentos que se instalam nas relaes de poder, comprometendo na totalidade, ou quase, os movimentos, a circularidade das foras. Trata-se de fatos, ou estados de dominao, nos quais as relaes de poder, em vez de serem mveis e permitirem aos diferentes parceiros uma estratgia que os modifiquem, se encontram bloqueadas e cristalizadas (FOUCAULT, 2004 p. 266). So situaes em que, atravs de certos instrumentos, chega-se a bloquear o aglomerado de relaes de poder, tornandoo imvel e impedindo qualquer reversibilidade do movimento. Desta forma Foucault diferencia as relaes de poder dos estados de dominao. A condio de abertura resistncia, a porosidade da superfcie aparentemente lisa, seria o que permitiria diferenciar as relaes de poder dos estados de dominao; ou seja, quando h possibilidade de fazer circular as assimetrias do poder ou produzir desvios nas rotas estabilizadas ou impostas, podemos falar de relaes de poder, mas quando a possibilidade de resistncia tende a zero, no se est frente a jogos de poder, mas a estados de dominao. Temos que as relaes de poder, como nos diz Foucault, se estabelecem entre sujeitos ativos, logo livres, entendendo-se por isso, sujeitos individuais ou coletivos que tm, diante de si, um campo de possibilidades, onde diversas condutas, diversas reaes e diversos modos de comportamento podem acontecer. (FOUCAULT, 1995 p. 244).
Face a esta realidade atual da poltica das drogas, fortemente marcada por condies muito prximas aos estados de dominao, como lev-los a retomar o movimento? No cogitamos a abolio dos jogos de poder ou das normas reguladoras. A direo tica nos prepara para a busca de propostas, sobretudo mais arejadas. Estamos procura, na poltica das drogas, de recursos para ampliar os pontos de vista um pouco alm do espectro oferecido pelo modelo proibicionista e pelo projeto da Justia Teraputica, a includo. Buscamos
91
polticas que flexibilizem a direo do tratamento para assim provocar, um pouco que seja, a circularidade das foras atuantes nas prticas de subjetivao.
Programa de Reduo de Danos
Aqui comentaremos a reformulao da proposta sobre a clnica das drogas no Brasil efetivada pela rea da sade, que segue direo distinta daquela impressa na rea jurdica. Trata-se da implementao de polticas pblicas dirigidas migrao do Programa de Reduo de Danos (PRD), utilizado na preveno de DST/AIDS, para o campo de tratamento34 das drogas. Como assinalado no projeto do Ministrio da Sade:
A ao de Reduo de danos, mesmo dando prioridade preveno e ao diagnstico de HIV, [...] deram visibilidade aos usrios de drogas no SUS. Hoje se configura, diante do atual cenrio a necessidade de sua expanso de forma a contemplar os estilos de vida dos diferentes usurios de lcool e outras drogas, lidando com situaes complexas e configurando-se num campo de aes transversais e multisetoriais, que misture enfoques e abordagens variadas, ou seja, que resgate sua dimenso de promoo sade. (Ministrio da Sade, 2003, p.32)
Observamos na citao acima a indicao para expanso do PRD para a rea das drogas a fim de promover mudanas no trato do usurio de drogas em geral. A relevncia desta iniciativa residiria na aposta de que o PRD produz o desvio do olhar moralizante, frequentemente presente nos discursos e prticas clnicas dirigidas aos usurios de drogas. A proposta da transposio a outro campo cria a necessidade de refletir sobre seus desdobramentos neste outro campo de prticas. Ambos dirigem-se aos usurios de drogas, porm algo os distancia. Neste sentido, vale a reflexo sobre este movimento de migrao que certamente vai exigir de ns forte exerccio de criao. Neste sentido a transposio da PRD para o campo da clnica mostra-se como um desafio que merece reflexo cuidadosa para modular, propor diferenciaes, a fim de que possamos maximizar os efeitos potencializadores deste contato entre universos distintos. Cabe ainda notar que este processo iniciado em 2000 ainda se encontra em curso, de modo que nosso trabalho consiste no acompanhamento de um
92
processo vivo, ou seja, analisamos o movimento no instante em que se realiza. De um lado, o desafio do ineditismo constante, do impacto de lidar com o indeterminado, de outro, a vantagem de conviver mais intimamente com a implantao da proposta, ainda em vias de realizao, a fim de elaborar intervenes no processo em andamento. Caber aqui a avaliao dos avanos que este movimento representa para a clnica das drogas tanto quanto o reconhecimento dos desafios a que somos convocados e que nos lembram do compromisso tico de manter em constante anlise nossas prticas acadmico-profissionais. A poltica da reduo de danos e a clnica das drogas A migrao do Programa de Reduo de Danos (PRD) para o campo do tratamento das drogas aponta para o alargamento de suas margens, abrindo assim espao para que a tica clnica tenha lugar. Com isso estamos longe de afirmar termos encontrado, com o PRD, a soluo dos constrangimentos to frequentes na rea das drogas. Como veremos mais frente, a vantagem do PRD funcionar como prtica de liberao (FOUCAULT, 2004) e, assim, ampliar os limites to restritivos da poltica proibicionista. Essas margens mais flexveis abrem-se a prticas menos judicativas, que podem experimentar, ousar guiar-se na orientao tica das prticas de liberdade. como movimento de liberao que o PRD interessa clnica transdisciplinar. Mais frente, voltaremos a essa questo.
O PRD, criado para preveno oficial dirigida a DST/AIDS, elege como direo principal a reduo de danos no uso de drogas. Proposta iniciada em pases europeus, uma vez instalada no Brasil, diferente de outros atendimentos anteriormente dirigidos aos consumidores de drogas, conseguiu considervel disseminao e adeso na comunidade e assim reduzir a taxa de incidncia de DST e HIV positivo entre usurios de drogas injetveis de 25% para 13% (Ministrio da Sade, 2003).
Sua novidade advm do modo como o movimento surge e se desenvolve. Podemos falar de iniciativa espontnea dos prprios usurios. Tendo os
93
movimentos sociais como fonte, sua aposta na extensa capilarizao do movimento, fomentadora da descentralizao na tomada de decises.
A transversalidade das relaes, proposta pelo PRD, ao se disseminar na esfera da clnica das drogas, permite-lhe retomar seu direcionamento tico. Nesta clnica, o usurio participa como co-gestor do processo. Deste modo, elimina-se o risco da sua excluso do tratamento, tal como ocorre na poltica proibicionista que acabamos de expor. No Projeto do Ministrio da Sade lemos:
Vemos aqui que a reduo de danos, oferece-se como um mtodo (no sentido de methodo, caminho) e, portanto, no excludente de outros. Mas, vemos tambm, que o mtodo est vinculado direo do tratamento e, aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de co-responsabilidade daquele que est se tratando (Ministrio da Sade, 2003, p.10)
s decises a priori e unilaterais inspiradas no programa antidrogas se fazem substituir por metas e manobras elaboradas na relao clnica entre terapeuta e usurio, tendo como referncia maior a escuta sensvel s demandas deste ltimo. Caem por terra tambm as generalizaes excessivas.
Nota-se que a proposta distancia-se da viso eleitora de padres a serem cumpridos por todos. No se afirma uma realidade universal, no se impe uma natureza geral e uniforme para a subjetividade. Abandona-se a afirmao de regras absolutas, inquestionveis, cuja transgresso entendida como recada, ou fracasso do tratamento. Consequentemente, elimina-se, ou pelo menos minimiza-se, o risco das atuaes implicitamente punitivas ou corretivas dirigidas a condutas no consagradas pela maioria, a fim de permitir clnica afirmar sua atitude neutra e distante de posturas judicativas.
Inspirados na abertura proposta pelo PRD, somos levados a repensar a clnica das drogas na retomada de seus encaminhamentos ticos, assim como incitar a adoo de polticas pblicas que incluam estratgias mais ousadas e que fomentem a pluralidade de modos de vida. No lugar de preceitos universais, pensar em tticas locais, em vez de padronizaes normalizadoras, afirmar respostas singularizantes, de modo a fazer com que a transmisso de conhecimentos fixos d espao experimentao (ROLNIK, 1996).
94
Muitas outras mudanas na clnica das drogas sero observadas a partir da eleio desta nova tica. Aqui tratamos apenas de algumas delas, certos de no esgotar a discusso, mas, ao contrrio, deflagrar seu incio. Do mesmo modo como vantagens foram apontadas, tambm precisamos estar alertas para os muitos perigos que esta migrao pode acarretar. Nossa sugesto manter um movimento de problematizao constante que no tome as dificuldades encontradas no percurso como impasses intransponveis e desanimadores e sim como desafios a serem levantados no s ao nvel das discusses acadmicocientficas, mas tambm e, principalmente, no cotidiano de nossas prticas.
Uma questo para a clnica das drogas - reduo de danos no territrio existencial.
Como visto, o PRD indica uma direo tica para abordagem geral do usurio, no se constituindo numa prtica de tratamento. Portanto, um trabalho cuidadoso de transposio do domnio da preveno de SDT/AIDS para a clnica das drogas nos exigido.
Ao recolocar em cena a relao com a droga, o PRD, aplicado preveno da DST/AIDS, inclui a subjetividade-usurio no processo. Tal abertura arregimenta condies para construo, na relao com o terapeuta, do plano comum das foras constituidoras da experincia do drogar-se. O PRD, na preveno da DST/AIDS, elege como meta ou medida de sucesso qualquer passo que oferea menos risco ou danos ao organismo, atravs da prtica de distribuio de seringas, dos kits para cocana e crack, e ainda da orientao de medidas de higiene nas aplicaes de silicone entre os travestis. A clnica, embora solidria com a prtica de reduo de danos para a preservao do funcionamento do organismo, exerce sua prtica voltada mais especificamente a fazer perseverar o movimento metaestvel, prprio da subjetividade/usurio. Visa reduo de danos rede existencial do usurio.
Seguindo a tica do PRD, a clnica no mais tomar como foco diretamente a droga. O olhar mais abrangente buscar detectar os danos promovidos no
95
territrio/usurio, impasses no conjunto de relaes que alimentam a rede existencial. Relembramos que a subjetividade em jogo no se sobrepe ao conceito de sujeito, limitado realidade mental fechada sobre si mesmo. Como vimos, o processo da subjetividade existe para alm dele (SCHRER, 2000). No lugar da pessoa, figura fechada sobre um si mesmo, tem-se uma rede de relaes, um conjunto de tudo o que nos afeta num dado momento. Construdo como pluralidade de sensibilidades reunidas numa paisagem, o territrio existencial comporta as conexes, desde as mais institucionalmente formalizadas como as familiares, os elos produzidos na escola, no trabalho, at as menos claramente definidas como amizades, paixes, sensibilidades (DELEUZE & GUATTARI, 1995).
Cabe, portanto, clnica mapear essa paisagem, constituidora da subjetividade-usurio. Logo de incio, precisamos considerar que as redes existenciais na sua construo so orientadas pelas experimentaes, pela abertura ao inusitado. Isto porque a instaurao de novas modalidades de ser exige o risco de testar modos ainda desconhecidos de afetar e ser afetado pelo mundo. E as drogas fazem parte deste cenrio de experincias.
Os casos que nos chamam a ateno so aqueles em que a experincia reverte o movimento de expanso, de abertura mudana e ganha lugar central, dominante na vida do sujeito, constituindo-se em obstculo ao movimento vital de produo e expanso dos nexos. No seu texto Duas questes (s/d), Deleuze chama a ateno para esse efeito imperioso do uso, que reduz excessivamente a potncia de produzir nexos, chegando muitas vezes a eliminar outras formas de relao para alm da droga. Esta impera como meio nico de conexo com o mundo, como matriz exclusiva das conexes. No territrio reduzido, a subjetividade, em sua natureza conectiva, sufoca na ausncia de outros elos por onde a vida se mantm O estado de dominao, descrito por Foucault, parece imperar e o sujeito mantm-se refm da prxima dose, nessa compulsiva repetio do idntico.
96
Certamente, a interveno se inscreve sobre o esgotamento do territrio, cujo grau de abertura tende a zero. Neste sentido, a estratgia principal ativar a produo de nexos por mais reduzidos ou esmaecidos que sejam. Ficar espreita, junto ao sintoma, das linhas germinais, linhas de criao pelas quais as novas conexes territoriais podero ter lugar. Cabe o cuidado, quando j for possvel, de assinalar elos que comportem um diferencial na direo regular, nexos que desviem o processo de produo de subjetividade do seu encaminhamento habitual. importante que a subjetividade se veja, se oua, se experimente diferentemente para ter reativada sua potncia metaestabilidade.
O trabalho cartogrfico da clnica mapeia os pontos de estrangulamento, os danos promovidos no jogo estabelecido entre desconstruo/criao destes vnculos territoriais para construir, a partir da experincia compartilhada, estratgias graduais para reduo desses prejuzos e assim reativar a rede e suas conexes (TEDESCO, 2004).
Vale observar que este trabalho clnico apenas se torna possvel caso a crena numa nica meta (abstinncia) seja desconstruda. Este um dos principais atributos do PRD. Como dissemos antes, na parceria com o PRD, o trabalho da clnica no est dado, pronto, ao contrrio, ele est no seu incio.
Considerando a distino foucaultiana entre prticas de liberdade e prticas de libertao ou liberao, inclumos o PRD como exerccio de liberao. Enquanto a liberdade da ordem da inveno de subjetividades, do estilismo de si, da prtica que nos incita a dar a forma que escolhemos para ns mesmos, as prticas de liberao so movimentos que agem sobre os constrangimentos de leis muito restritivas que muito diminuem a amplitude da ao. Elas no servem garantia da liberdade do processo de criao de si mesmo e sim estabelecem as condies necessrias para que um nmero maior de aes seja possvel. Essa nossa reflexo encontra eco nas palavras de Rachman: ... a liberdade dos homens nunca assegurada pelas leis e instituies [...]. Por isso que quase sempre todas essas leis so perfeitamente passveis de serem invertidas. Nunca pode ser inerente estrutura das coisas garantir o exerccio da liberdade (1993,
97
p.136). O processo de liberao condio necessria para a liberdade, mas no condio suficiente. Nesse sentido, o PRD, como movimento de liberao, essencial clnica ao expor a porosidade do campo das drogas de que precisamos. Ou seja, amplia as conectividades da rede existencial, necessrias para que a clnica possa atuar, incitando prticas de liberdade.
A partir da porosidade do campo da clnica das drogas possvel reativar a multiplicidade infinita de encaminhamentos clnicos, inventar, na experincia compartilhada com o paciente, procedimentos voltados incitao das prticas de si, das prticas de liberdade. Vale detectar os movimentos emaranhados nas linhas da rede de subjetividade. A direo da problematizao efetiva dos danos restritivos do territrio existencial do drogado e da reverso do movimento de reduo de sua abrangncia para multiplicar os desdobramentos expansivos de si. (TEDESCO e MATTOS, 2005). Cabe menos sublinhar a aprisionamento no qual os usurios se encontram do que apontar por onde possvel escapar.
Pensamos o PRD no como um cdigo fechado, a ser obedecido em sua ntegra, mas como outro olhar sobre a problemtica das drogas que vem oxigenar nossas prticas. tica mais fluida, que nos oferece novos matizes do problema em questo. Em suma, no se trata de fidelidade a um modelo fixo e absoluto e sim da abertura pluralizao de pontos de vista. Consequentemente, a importao direta e simples do PRD para o domnio da clnica das drogas seria insuficiente para assegurar sua eficcia e, portanto, perigoso, podendo invalidar a iniciativa. Para evitar tal equvoco, aconselhamos pensar esta parceria como uma experincia de contgio, de sensibilizao por outros olhares sobre nosso objeto de prtica. Enfim, afirmar a clnica como clnica de si mesma, ou seja, clnica da clnica, ato ininterrupto de traar o mapa de seus impasses e desafios.
98
Captulo 5 A CONSTRUO DO PLANO COLETIVO NA CLNICA EM INSTITUIES
Minha abordagem sempre foi e sempre ser experimental: do meu ponto de vista a nica postura realmente inventiva e completamente criativa a experimental Helio Oiticica, Encontros
Seguindo a proposta de imerso no domnio das prticas empricas, retomaremos a clnica em seu duplo movimento, exposto no terceiro captulo. Para tal, ser preciso lanar mo dos diferentes temas desenvolvidos ao longo do trabalho, como: linguagem, subjetividade, clnica transdisciplinar e poltica das drogas em suas interfaces. Traremos anlises de duas situaes relacionadas clnica das drogas para discutir, na prtica, a direo tica da clnica: como klinicos, inclinao ou acolhimento, entendido como criao do plano comum de foras e como klinamem ou desvio, indicando os processos de desestabilizao, a provocao da atitude crtica a si, o exerccio de inveno de outros modos de existncia. No contexto, a noo de coletivo comparece como direo tica. Seguiremos a proposta apresentada no terceiro captulo, em que o plano coletivo ou plano comum de foras corresponde ao ato clnico do acolhimento. O que vamos ver, na prtica, so os efeitos de encontros entre disparidades. Existe sempre nas formas, sejam objetos ou sujeitos, um lastro de indeterminao. O no-lingustico e o a-subjetivo seriam essas dimenses correspondentes ao lado de fora, a exterioridade absoluta s classificaes. Falamos dos signos sem sentido, das experincias destitudas de referncia a um eu. So singularidades linguageiras ou existenciais, elementos cujas qualidades so intensivas, irredutveis s foras, aos nexos de convergncia competentes para a organizao homogeneizadora destas em classes gerais, em regimes de regularidades. A atitude tica mostra-se como o exerccio de resistncia aos vetores de ordenao unificadora. Como dissemos no terceiro captulo, a tica
99
tem como condio de seu exerccio o acesso ao plano coletivo em sua dimenso mais fluida, na qual impera a heterogeneidade mais intensa. Uma vez atingida a dimenso indiferente s classificaes, uma vez sob o efeito do contgio dessa neutralidade impassvel s diversas ofertas de ordenao, as diferenas puras dispersas podero ser pinadas e articuladas diferentemente na formao de novas configuraes. Note-se, no entanto, que os nexos sero de outra natureza do que aquela fortemente organizadora, comprometida com a formao de blocos homogneos de realidade, irrespirveis em sua superfcie lisa. Sem porosidades, esses grupamentos fechados desaceleram a vida. A conduo tica seguir por linhas menos duras, ela se utilizar de elos que, ao mesmo tempo em que pem em contato, no buscam enfileirar as diferenas segundo um denominador comum, um metro padro avaliador. Essa outra direo constri quase-figuras, as hecceidades mveis, generosas nas linhas de escape, mais afeitas s equivocaes do movimento de criao. Deleuze (1988b), no livro sobre Foucault, fala desses nexos como no-relaes por se isentarem do efeito unificador normalmente promovido pelas relaes. esta dimenso coletiva, condio de acesso aos fragmentos livres e construo de elos mais lassos, sempre a ser construda a cada momento na clnica, que ser apresentada agora em prticas de atendimento na rea das drogas. Observamos ainda que o coletivo que diz das ligaes entre dspares so acessveis em diferentes situaes, no sendo uma prerrogativa das situaes de grupo. No entanto, as atividades de grupo se mostram como ocasio bastante profcua ativao/construo do plano comum e s desestabilizaes e iniciativas de criao de si e de mundo, que dele podem emergir. Passaremos a discutir e a propor procedimentos especficos, modos de manejo do coletivo nas situaes grupais. Clnica das drogas e a construo do plano coletivo das foras Esta cartografia foi realizada numa instituio de atendimento a adolescentes com envolvimento com drogas, instalada na periferia do estado do Rio de Janeiro, com clientela de adolescentes de idade entre 14 e 18 anos em sua maioria, com fraca escolaridade e que provm de reas de populao de muito baixa renda, subrbios ou favelas, reas ocupadas tambm pelo trfico de
100
drogas. A proposta da instituio funciona dentro da lgica do PRD e, nesta direo, so oferecidas vrias atividades de construo das condies para experincias de desestabilizao, de desvios das regularidades subjetivas. Alm dos atendimentos psicolgicos, individuais ou em grupos, ocorrem atividades como: teatro, percusso, artes plsticas, apoio pedaggico, produo de renda e esportes (futebol, pingue-pongue e natao). Aps cinco meses de imerso nas atividades institucionais, chamou nossa ateno a queixa de um grupo de profissionais da instituio, sobre uso, pela clientela, de um modo de falar particular, de um cdigo muitas vezes "incompreensvel", no dominado pelos tcnicos. Tal linguajar era relatado como obstculo ao tratamento, dificultando o funcionamento geral da instituio. Tomamos como analisador essa situao de heterogeneidade lingustica, tal como denominada pela anlise francesa do discurso (Authier-Revuz,1990), e seus efeitos sobre as relaes em jogo na instituio. Visamos averiguar, junto aos participantes da instituio, profissionais e clientela, o sentido que atribuam disparidade de cdigos. Como procedimentos, utilizamos, alm da observao participante que j realizvamos, entrevistas dirigidas clientela e aos profissionais da instituio. As falas das entrevistas, com sua complementao na observao participante, forneceram um material emprico excessivamente frtil. A
produtividade incessante dos fatos revelava, a cada instante, novos aspectos, de modo que a questo inicial acabou ganhando novos contornos. De modo geral, os profissionais e a clientela falavam de obstculos ao funcionamento, criados pela heterogeneidade lingustica. Porm, os dois grupos divergiam na avaliao dos motivos e efeitos. Um grupo de profissionais apontava esta linguagem como verso empobrecida do portugus padro, resultado do ambiente de forte carncia econmica e cultural, identificando a a presena da comunidade das favelas e a influncia do trfico de drogas. Ligado pobreza e violncia, este meio seria desfavorvel ao bom aprendizado da linguagem. A desvalorizao da linguagem da clientela era clara, principalmente nas falas onde a soluo era encontrada na frequncia mais assdua escola, ou no
101
contato com os profissionais da instituio. O argumento desse grupo de profissionais era de que o uso da linguagem correta seria necessrio para a melhor aceitao, dos jovens, em ambientes como escola, trabalho, etc., sendo este um dos objetivos explcitos da instituio, ou seja, integr-los na sociedade. Segundo a clientela, a dificuldade era outra. Poucos citavam a dificuldade de compreenso dos tcnicos por eles, mas ao contrrio, a maioria relatava o incmodo de ser insistentemente indagado sobre o sentido de suas falas. A insistncia dessas perguntas os deixava "bolados", pois percebiam ocorrer a a uma espcie de investigao e desvalorizao de sua linguagem usual.
Quando os playboyzinho no me entende. Ahhhh! a, pergunta, pergunta, pergunta, fico bolado...a num d pra desenrolar mais. quando a conversa fica difcil, vai fechando a palavra, me entendo como si num fosse daquele bando,
As falas da clientela, diversamente da avaliao geral, mostraram forte vivacidade. Observamos neste uso menor do portugus (Deleuze e Guattari, 1995) variaes lexicais singulares: - vacilo que vai l na boca de fumo e d a volta, t ligado. Da leva a ralo, tem que met o p de l. Se f consciente maluco, contece nada, t ligado? - Os home sobe largando dedo, no sabe nem em quem vai peg, t entendendo? A que esquenta o bagulho, t entendendo? - a tem muitas pessoas que gostam de tirar onda com a cara dos outros na pista, a chega na comunidade o corrigimento outro, t entendendo? - bom saber que tem quem se preocupa pelo qui t passando pela pessoa do cara
102
Linguagem mais fluida no plano da significao e que se destaca por grande velocidade de variao. Por exemplo, termos como : leva a ralo, consciente maluco, meter o p, largar o dedo, passar pela pessoa do cara, corrigimento surgem mensalmente, evidenciando fortemente processos de variao lingustica. Mas, tal linguagem, como qualquer outra, no se restringe ao lxico ou gramtica. Outras variveis lingusticas interessam ao plano geral do sentido. Como nos advertem Gobard e Edwards (1979) somos, de maneira geral, prisioneiros do sentido ligado frase e, portanto, surdos s variaes do som na fala. A linguagem tambm msica, portanto, fomos levados a dar nfase sonoridade do dito. Ao deslocarmos nossa ateno para este outro domnio da linguagem, fomos surpreendidos por modos diversos de pr a linguagem em variao, por novas formas de produo de sentido. Agora, chamava a ateno fenmenos relativos prosdia: a pronncia, o ritmo, a modulao singular da voz. As variaes tambm afetavam a entonao, a velocidade e a altura. A articulao dos sons era trabalhada, produzindo prolongamentos, arritmias na pronncia. Certos fonemas e palavras restavam quase inaudveis, outros tinham sua acentuao sublinhada. A fala ainda introduzia partculas sonoras inusitadas, pequenos fragmentos, a princpio, incompatveis com o contedo do dito, acrescidos de segmentos sonoros com grande variao entre sons nasais e vibrantes (Campos, 1998). Componentes repetidos sistematicamente, com ritmo marcado, ferem o limite da linguagem para ostentar-se na distncia indiscernvel entre fala e cano. A polcia diferente, ele pega e se for de escula ch, ele vai esculach, se for de mat, ele vai mat, se for de bat, ele vai bat, no quer nem sab H s [violncia] quando deixa a droga domin a pessoa, a h. Se deixa domin, a h. H droga, h morte, h violncia, h tudo, certo? Se voc for consciente maluco, Ah!, acontece nada. A repetio de palavras dos ltimos trechos, que poderia ser
equivocadamente tomada como evidncia de carncia lexical, comporta, na verdade, efeitos semnticos interessantes. A boa mistura de ritmo e rima interfere no sentido. O ritmo preciso, a forte repetio, cruza o plano da expresso, resvala no plano do contedo num efeito de nfase sobre o que enunciado. Deste modo
103
a fala, um quase-R.A.P., provoca a reciprocidade intrnseca entre expresso e contedo, entre o dizer e o dito de que tratamos no primeiro captulo. No podemos deixar de registrar as expresses faciais e movimentos no s da cabea como de todo o corpo e que tambm participam do dizer. A dimenso de rostidade da linguagem excessivamente variada (Deleuze e Guattari 1995). Trata-se de uma fala cantada e fortemente gingada. Msica e dana articulam-se nas enunciaes. E cabe ressaltar que, como esclarecido anteriormente, em se tratando de linguagem, cada um desses componentes precisa ser considerado como participante do processo criador de sentido. Retomo o que desenvolvemos no segundo captulo sobre a relao de determinao mtua entre os dois termos linguagem e subjetividade. Na ausncia de qualquer forma de hierarquia ou predominncia na relao, cada um dos termos , a um s tempo, agente de produo e tambm produto. Podemos j reconhecer a a presena de um terceiro termo o elo de produo recproca - e acrescento, prontamente, estar este elo, a linha de criao, caracterizado por um movimento constante e produtor de intervenes na processualidade subjetiva. Neste caso, a conexo, espcie de dobradia maqunica, ganha fora de inveno. Entre linguagem e subjetividade detectam-se interferncias recprocas, conducentes produo de novos sentidos e de novos modos de existncia. este binmio, que podemos nomear de estilo-subjetividade ou estilismo de si, que interessaria clnica trabalhar, com fins de utiliz-lo na ativao de novos encaminhamentos para a subjetivao. Uma vez constatada a vivacidade desta linguagem, deste estilo coletivo, a questo tomou novo rumo. Fomos forados a bifurcar nosso pensamento e recolocar o problema. A preocupao agora era esclarecer o que impedia a escuta ao inusitado destas falas. De onde vinha a surdez da equipe para esses componentes de variao, to relevantes direo clnica? No seriam eles recursos ativao de foras, das linhas de criao ainda em germe? Como entender as avaliaes dos tcnicos, que se referiam ao modo de falar deste grupo exclusivamente como uma "linguagem pobre"? O que os levavam a ouvir nestas falas apenas signos de insuficincia?
104
Vale sublinhar que no negamos a esta linguagem sua dimenso de regularidade, sua funo recodificadora, que a faz produzir sentidos j muito familiares a todos ns habitantes das grandes cidades. Este dizer tambm estabelece fortes hierarquizaes, sustenta rgidos cdigos de conduta, faz ameaas, condena morte. No isentamos esta linguagem de seu compromisso com contextos de violncia. O que nos intriga a homogeneizao e a generalizao presente escuta desse grupo de tcnicos, insensvel fora criadora que tambm habita esta linguagem. Na tentativa de resposta ao enigma da escuta-surda dos tcnicos aos atos de criao linguageira, trazemos cena linhas de pensamentos distintos, mas entrelaados em seus efeitos. Como comentamos no primeiro captulo, a potncia das palavras reside em sua deriva, sendo justamente a, no uso das irregularidades, que encontramos a essncia da linguagem, sua diversidade e vivacidade prprias (Depreto, 1997; Bakhtin, 1992). Nesse sentido, o privilgio conferido lngua padro pelos tcnicos fazia desaparecer o processo de criao ali presente. Outra linha de raciocnio til nos leva a retomar nossa exposio do segundo captulo, ou seja, a compreenso da escuta limitada dos tcnicos nos conduz s teses foucaultianas sobre a gnese histrico-poltica da realidade. Nem o olhar e o dizer sobre as coisas so naturezas isentas, nem os objetos vistos e descritos pr-existem a estes. O olhar e o dizer a realidade so prticas ao mesmo tempo produzidas e produtoras daquilo que tomamos como realidade (Foucault,1987). Em nossa anlise, cujo foco a linguagem, percebemos que a rede discursiva montada pelos dizeres da polcia, da mdia, da populao em geral, dos centros de tratamento do menor, entre muitos outros, esto constantemente produzindo enunciados sobre este binmio, pobreza e drogas. No h consenso ou unidade entre os discursos que divergem em muitos pontos na avaliao do problema, mas servem produo de um nexo criminalizante entre pobreza, insuficincia e ilegalidade. Esclarecem-se assim a escuta produzida dos profissionais que s ouvem nessas falas a falta da boa escolaridade, a carncia dos bons princpios de civilidade, no lugar do estilismo de si, marcado pela prosdia, pela ginga especial
105
dessas falas. A escuta restringe-se ao registro do que classificam como "linguagem do trfico", ou "linguagem da violncia". Tais categorizaes, fortemente desqualificadoras, carregam em seu lastro pragmtico-poltico a surdez para outras rotas linguageiras tambm reais. Neste caso, depara-se com o que Sennet (2001) denomina exerccio da "tirania", ou seja, referir todas as questes a um princpio comum, elegendo uma crena como padro nico para enfrentar a realidade. Ficamos retrados frente ao indeterminado da experincia, surdos s inmeras rotas descortinadas nossa frente e, consequentemente, submissos s prticas construtoras do saber unificado. O perigo maior se apresenta nas atitudes dicotomizantes, promotoras do raciocnio binrio que, na medida em que elege um ponto de vista, desqualifica qualquer outro encaminhamento. O binarismo reflete o pensamento da representao. Impe a subordinao das diferenas a classes gerais, a reduo das variaes s variveis de uma funo. As experincias singulares, destacveis, caem sob a influncia de categorias classificadoras, dos repertrios unificados e unificantes dos saberes institudos. Estamos frente ao processo de dicotomizao da realidade, pelo qual o pensamento abole tudo o que escapa unificao e ordenao classificatria em hierarquizaes. Quanto menor o ndice de afastamento do padro, melhor o posicionamento na hierarquia. Diferir ganha tom negativo. Vale o idntico, desqualificam-se as variaes. Compreendemos agora que situaes de heterogeneidade frequentemente correm o risco de cair nas armadilhas do raciocnio binrio, onde a coexistncia de diferenas atinge a esfera do impensvel. A eleio de determinado padro de subjetividade, confere-lhe valor absoluto e destitui outras modalidades de existncia do direito de pleno exerccio. Consideradas como afastamento equivocado em relao ao modelo ideal escolhido, elas precisam ser corrigidas ou eliminadas. A partir da, o contato entre modos de existncia distintos carrega o tom de beligerncia. Atos de excluso recproca ganham a cena, podendo envolver embates vigorosos, produtores de relaes de dominao e de violncia. A questo que se coloca, neste momento, a que indaga acerca das condies para a problematizao desta situao provocadora do hiato semitico.
106
Algumas alianas vo nos permitir ver o problema diferentemente. No prefcio traduo francesa de O pragmatismo, Brgson (1920) sublinha a
indissociabilidade entre a noo de verdade em James e a afirmao da realidade como multiplicidade. A realidade para James, sendo superabundante e instvel, jamais forma um todo. Longe de coerncia e sistematizao, ela escorre num fluxo inesgotvel de fenmenos, expresso de sua natureza nem finita e nem infinita, mas indefinida. Por sua vez, a verdade ou o saber acerca do mundo surgiria da seleo de uma nica rota traada entre as muitas rotas possveis para a construo da realidade. A verdade, portanto, comparece como apenas uma nica rota entre diversas outras tambm reais. E assim como se deu no caso da escuta produzida dos tcnicos, corre-se sempre o risco de se ficar fixado numa determinada rota, afirmando, dos fatos, uma nica verdade. Retomando nossa questo relativa clnica, gostaramos de pensar aqui a funo de acolhimento que reconhecemos como exerccio de construo do plano do comum de foras heterogneas, da experincia compartilhada. Como cultivar outros olhares e escutas? A direo seria deslocar a escuta na busca por outras rotas reveladoras do estilismo de si. E para tal, valeria desconstruir o binarismo que impedia a clnica de se exercer como klinicos, que acolhe, na relao entre o clnico e o paciente, a construo do plano comum de afetabilidade recproca. Como recurso ao desmonte da binarizao, obstculo ao exerccio clnico, resgatamos o conceito de Hospitalidade, desenvolvida por Schrer (1993), Como movimento de transversalizao das diferenas, este vai permitir interrogar o abismo beligerante. Nessa empreitada, percebemos tambm que a noo de hospitalidade servir para revermos o duplo movimento da clnica de que falvamos h pouco: acolhimento (Klinicos) e desvio (Klinamem). Pensar o acolhimento clnico como hospitalidade, j entend-lo tambm como provocador de desestabilizaes. Ou seja, acolhimento e desvio esto fortemente comprometidos, um estende-se necessariamente sobre o outro, compondo um mesmo e s movimento. Nascida na filosofia de Plato e Aristteles, a noo de hospitalidade passa por mltiplas derivaes em autores como Fourier, Kant, Klossowski, Derrida entre outros. Com Schrer, nova reconfigurao atribuda a esta funo
107
reguladora da relao com o outro entendido como habitante de outras terras, de territrios distantes em sua organizao: modos de existncia, saberes, regras de funcionamento. Caracterizada por dupla seta, ela diz respeito tanto ao hspede quanto ao hospedeiro, sem estabelecer hierarquias ou favoritismos nos deveres e direitos de visita. Hospitalidade, como conceito filosfico, comparece para interrogar o sentido tradicional de acolhimento. Interessa principalmente pinar no bojo semntico do termo hospitalidade, o jogo a presente entre dois componentes irredutveis. A hospitalidade nos desafia a articular no acolhimento o que, a princpio, parece incompatvel: o distante e o prximo; o estranho e o ntimo. Segundo Schrer, hospitalidade expe a bizarra relao entre o prximo e o distante. No a idia de prximo que esclarece a hospitalidade, bem mais o inverso (Schrer, 1993, p.21). No de trata de amor ou ateno ao prximo. Nem o traado de uma linha de continuidade entre hspede e hospedeiro, responsvel pela construo de um plano homogneo, redutor de um universo ao outro. Bem diferente disto, em vez de atitudes de identificao, vale a inveno do prximo, pois Ela [a hospitalidade] detm o segredo da passagem ao distante, ele se atualiza nela (SCHRER, 1993, p.21), guarda o enigma da desconcertante conexo entre dspares. A alteridade, seja na figura do a-subjetivo ou do nolingustico, comparece para nos conduzir pela proximidade contagiosa ao movimento de diferenciao de ns mesmos. Hospedar a diferena condio necessria existncia do prximo, s acessado pela via da inveno do si. Acolher a diferena, para tom-la como referncia bifurcante sofrer os efeitos desestabilizadores da experincia de estranhamento. Eis a secreta passagem, a abertura proposta pela hospitalidade na clnica: o prximo como inveno produzida na distncia que o habita. Esta modalidade de encontro, portanto, est ausente nos atos de invaso, de conquista. Por exemplo, na usurpa, seja de objetos materiais, seja de estilos de vida, os invasores ou conquistadores desrespeitam o direito visita. Do mesmo modo, assistimos mesma transgresso na animosidade e no controle acirrado imposto aos visitantes.
108
O termo hospitalidade, do latim hospitalitate diz do ato de abrigar ou alojar, aponta a qualidade do acolhimento, abrigo incondicional do prximo. No entanto, vale assinalar que no se trata de amor ao prximo, bondade, filantropia original [...] no philia/afiliao, nem amizade natural (Schrer, 1993, p.55). Hospitalidade no pode ser confundida com exerccio de benevolncia com outros mundos distintos. Pensar a hospitalidade como atitude generosa de
confraternizao sublinhar sua natureza homogeneizadora. E, uma vez tomada como dispositivo centralizador, apaziguaria discrepncias e eliminaria traos de diversidade refratrios unificao. Tampouco ela opera atravs do fascnio, de prticas sedutoras que apenas servem para reforar a assimetria dos grupos, traindo assim tanto o hspede quanto o hospedeiro. Portanto, tanto a invaso de territrios alheios quanto a coero exercida sobre os visitantes, assim como a seduo ou a tolerncia, todas ferem a hospitalidade. Por exemplo, na desqualificao constatada na instituio, visando abolio da linguagem dos jovens, em nada ganharamos com a substituio da beligerncia por atitudes tolerantes ou s elogiosas. No interessa a generosa benevolncia dos tcnicos com os dizeres da clientela ou mesmo a apologia de sua linguagem. Pois claro est, que nessas situaes, a hierarquizao dicotomizadora dos mundos, o isolamento mtuo fortemente conservado. Tomando outra direo, ela rechaa e contradiz o princpio de centralizao (SCHRER, 1993, p.16), ou seja, reage reduo unidade, instrumento chave para comparaes e hierarquizaes. Como hspedes de uma semitica estrangeira, os tcnicos da instituio poderiam exercitar o deslocamento de atitudes inspitas para no cair na armadilha de agir tal como os colonizadores de terras estranhas, que abusam da hospitalidade, negam o outro, e sentem-se no direito propriedade e no dever de impor suas leis, seu prprio mundo. Diferentemente, a hospitalidade fora o movimento intensivo e limtrofe, constri ligaes inusitadas, sem apelo harmonia ou sntese unificadora. Os discursos dos tcnicos e dos jovens certamente so passveis de conexo, mas no por possurem similaridades, ao contrrio, eles se aproximam pela discrepncia ostentada. a diferena que ao mesmo tempo as distancia e assegura algum contgio criador. preciso atingir a consistncia da diferena para que se estabelea o plano comum no qual se
109
registra o encontro entre universos de existncia ou territrios distintos (tcnicos/clientela). Exercer a hospitalidade permite perceber as vozes em suas distncias e, no roar de linguagens destoantes, dar ouvidos potncia de desestabilizao, de ruptura de universos de sentido j dados. A experincia de estranheza na escuta conduz runa dos regimes de signos dicotomizados em nome de novos sentidos, outras linguagens, modos singulares de existncia. A prtica da hospitalidade pensada como o movimento de acolhimento na clnica nos oferece sensibilidade efetiva aos signos inventores de outras subjetividades. Note-se que na parceria com Schrer a compreenso do acolhimento clnico como hospitalidade nos faz repensar o duplo movimento da clnica. Uma vez definida hospitalidade como ato de hospedar a diferena, o ato de acolher transforma-se no gesto de experimentar a alteridade, instalando o processo de desestabilizao do eu que da decorre. Detalhando melhor, teramos que, no contato com o diverso, a unidade egica com seu sistema regular reconhecvel interrogada pelo novo componente inassimilvel. A partir dessa experincia de dessubjetivao (DELEUZE, 1988b), em que a unidade desfaz-se, o sistema, para compor com o elemento indito, precisa desviar-se de sua antiga direo para outras muitas a serem inventadas. neste sentido que o desvio estaria j presente em germe no prprio gesto que acolhe, hospeda a demanda de tratamento, no podendo um existir sem o outro. No lugar de dois procedimentos, os veramos como dois aspectos de um e mesmo movimento. A Clnica e os seus procedimentos de construo do plano do comum ou coletivo Passaremos a tratar, agora, de procedimentos clnicos ligados ao duplo processo da clnica, tal como o explicitamos a partir do conceito de hospitalidade, que nos permite aliar o acolhimento e o desvio, como dois aspectos de um mesmo e s movimento. Acolher hospedar a diferena, acessar o plano do comum que opera o aumento dos graus de abertura ao indeterminado, provocar a experincia da diferena e as desestabilizaes que dela decorrem. Claro est que impasses podem produzir desgovernos a cada instante, sem garantias para a realizao da sequncia.
110
Tal como nos esclarece Schrer (1993), o comum ou coletivo diz da coexistncia das foras heterogneas, ao mesmo tempo distantes, porque distintas, e prximas, pelos efeitos de contgio, pela afetao recproca. A questo seria agora: como convocar os jogos de foras, a experincia compartilhada? No falaremos de uma tcnica fechada, de um mtodo soberano, mas de um ethos, a partir do qual escolhas tm lugar face s caractersticas de cada situao. Ou seja, o mtodo pensado na inverso do seu sentido etimolgico. Ao rachar a palavra mtodo ou met-hdos, encontramos que hdos (caminho) vem depois e inteiramente condicionado pela met que o antecipa e o predetermina. Porm, pensemos no mtodo como hdos-met como uma aposta na experimentao do pensamento um mtodo no para ser aplicado, mas para ser experimentado (PASSOS, KASTRUP e ESCOSSIA, 2009, p.10). Ao mesmo tempo, lembremos dos procedimentos estilsticos, expostos no segundo captulo. No estilo, tambm falamos dos procedimentos como mtodos, estratgias preferenciais. E ali tambm tomamos o cuidado de sublinhar, nessas posturas reiteradas, seu carter facultativo e provisrio. No caso da clnica, trata-se do compartilhamento de certa direo, modos clnicos de agir dirigidos instalao de alto grau de abertura indeterminao da experincia, diferena. Um mtodo que pode variar com cada autor... (G. DELEUZE e F. GUATTARI, 1992, p. 217) e que funcione como normas a serem equivocadas e expostas como matria intensiva, como fragmentos reutilizveis nos ritornelos de criao. O manejo da rede coletiva Nossa anlise dos procedimentos de ativao do coletivo estar apoiada numa situao de grupo vivida numa assembleia, na mesma instituio citada anteriormente. E, para entendermos a direo dos procedimentos, que, a partir deste momento, tambm chamaremos de manejo, vamos trazer algumas indicaes conceituais desta prtica do coletivo em redes discursivas. Citamos o conceito de dialogismo e de discurso indireto livre de M. Bakhtin (2003,1992). E, em especial, a noo de interferncia discursiva que oferece contorno conceitual ao movimento de contgio entre falas no processo de inveno de novos sentidos e de novos modos de subjetivao.
111
Formulado na rea da estilstica por Bakhtin (1992) e reatualizado por Bordas (1997) e por Depretto (1997), o discurso indireto livre expe o carter dialgico35 da linguagem e pode ser esclarecido em relao aos dois tipos de discurso tradicionalmente conhecidos: o discurso direto e o discurso indireto. No primeiro, trata-se do relato da enunciao de algum, em que a forma original mantida. Como exemplo, citamos o comentrio de um usurio, entrevistado por ns, sobre a linguagem dos funcionrios do setor administrativo: Ns fala um pouquinho e fala tudo, elas, cada velha tagarela! Falam tudo aquilo l e no dizem nada. Protegida pelas aspas, a proposio guarda a primeira pessoa e no apresenta elementos de ligao. A fala de outrem repetida sem qualquer mudana. Denomina-se discurso indireto, quando o que dito por algum reproduzido segundo o ponto de vista do narrador. A forma pronominal a da terceira pessoa e o uso de termos de ligao obrigatrio. Tomando o exemplo anterior, a transposio do dito do adolescente no discurso indireto poderia ser: os adolescentes reclamam que os tcnicos falam muito para dizer pouco enquanto que com poucas palavras eles dizem tudo que necessrio. Neste caso, a enunciao atribuda ao narrador que relata a fala do outro, com suas prprias palavras e expresses. O discurso indireto livre tem a particularidade de conter, a um s tempo, dois tipos de discursos. Ele formulado pelo narrador, segundo seu ponto de vista, porm, contm palavras e expresses que s poderiam ser ditas pelo personagem. O falante, contando fatos passados, introduz a enunciao de um terceiro sob a forma independente da narrativa, na forma que ela teve no passado (BAKHTIN, 1992, p. 175). O discurso constitui-se num misto, num ato de interferncia entre ditos: do personagem e do narrador. O mesmo exemplo anterior no formato de discurso indireto livre ficaria: eles dizem que os tcnicos falam o tempo todo, p! cada velha mais tagarela! para no dizer nada e que eles falam um pouquinho e dizem tudo. A forma pronominal indica a fala de narrao, mas a interjeio seguida pelo comentrio - p! cada velha mais tagarela - que d o tom expressivo frase, no pode ser atribudo ao narrador. O discurso narrado intrometeu-se no discurso do narrador, interferiu no sentido da frase,
35
O dialogismo expressa a natureza heterognea da linguagem provocada pela multiplicidade de dizeres que a compem (Bakhtin, 1992).
112
introduzindo uma tonalidade inapreensvel de sentido. A indissociabilidade dos dois discursos, novidade desse estilo, explicita outro hibridismo que nos interessa particularmente, a saber: a existncia de dois pontos de vista distintos e coexistentes na enunciao. A interferncia recproca impe a polifonia como trao essencial da linguagem e esclarece a particularidade de o discurso comporse a um s tempo de enunciaes distintas e irredutveis. A partir desta leitura conceitual do ato coletivo chamamos a ateno para dois efeitos importantes. Um deles diz respeito ativao do plano impessoal, negao dos sujeitos como ponto de partida de enunciaes individualizadas. O outro remete noo de interferncia, modo como podemos, aliados a Bakhtin, qualificar de a natureza criadora do elo entre as falas. No primeiro, observamos que em certos momentos as enunciaes perdem a nitidez de seus contornos, misturam-se umas nas outras num encadeamento misto de falas. No estamos em face de autorias especificveis. As palavras pem em cena a multiplicidade dos ditos, e desse modo, "assinalam a superposio de vrias vozes" (DUCROT, 1987; p. 172). Nenhuma subjetividade ali presente, isoladamente, funciona como fonte das falas ou como centro gerador da ideia, da resoluo. Em muitos momentos flagrante o hibridismo das resolues encontradas. A resposta final no tem ponto de partida ou direo final, ela paira suspensa no conjunto disperso dos discursos. No pertence a ningum, resulta do atrito das falas em jogo. A manifestao antes coletiva e, portanto, carrega seu tom impessoal a-subjetivo. No segundo caso, acionamos a noo de Bakhtin de interferncia. Ela explicita a natureza inventiva das relaes estabelecidas entre vozes
discordantes. Ou seja, estamos frente a efeitos de variao ou de devir, produto de uma correlao entre dois processos dissimtricos agindo na lngua. Cria-se a, um tipo especial de elo entre as falas, o qual pe em relao diferenas puras e impede o tratamento unificador das tramas de enunciaes (DELEUZE, 1995). No conjunto, os relatos se alinham pela e na diferena. As resolues encontradas no constituem um somatrio de ocorrncias enunciativas
individualizadas e nem resultam forosamente na unificao dos pontos de vista coexistentes. Diferente de produzir acordo, uma proposta harmoniosa comum a
113
todos, o carter disperso do conjunto investe na divergncia entre falas coexistentes e mantm em suspenso a simples e imediata finalizao do sentido. No caso da incongruncia semntica, o sentido, esta ponte que liga o signo ao no signo, escapa ao seu funcionamento esperado. Porm, no nos expulsa do domnio da linguagem, no esgota sua funo de produo de sentido, ao contrrio, a intensifica. O sentido inconcluso conduz experincia de enigma experincia limite, desestabilizadora, na qual o no-sentido coexiste com a exigncia de sentido. A partir dela, o processo de produo de sentido se instala, diferentes sentidos sucedem-se, alarga-se indefinidamente o plano semntico, num processo constante de variao. No caso do signo enigma, o sentido no jamais ausncia, e sim excesso, e carrega intensa diversidade interna. Lembramos que o trabalho clnico se aproveita do ultrapassamento da dicotomia entre expresso e contedo, comentada no primeiro captulo. E permite, no lugar de focar a dimenso do contedo, da pura descrio do contedo vivido, no separar esses contedos de seu processo e, assim, ampliamos nosso olhar e nossa escuta para a incluso das variaes da prpria experincia comum em curso. Portanto, o aparecimento de novas perspectivas, de falas inventivas, ser tomado como expresso, como signos do movimento de variao da experincia coletiva ali acontecendo: seus momentos de passagem, de abertura. O manejo clnico quer trazer cena o processo da experincia em suas variaes. Uma experincia do desvio na rede coletiva Trazemos uma situao clnico-institucional relativa oficina de gerao de renda. O interesse ser destacar modos de manejo clnico da situao de grupo, capazes de incitar atravessamentos entre prticas linguageiras e de subjetivao. Trata-se da rede coletiva de dizeres expondo processos de estilo-subjetividade ou estilismo de si. A cooperativa era formada por 12 mes de adolescentes atendidos na instituio, e voltada produo de refeies a serem vendidas ao pblico na forma de quentinhas. A cozinha localizava -se nas instalaes da instituio e, atravs da parceria com a Secretaria do Bem Estar Social da prefeitura da cidade,
114
cursos e atividades de qualificao profissional eram oferecidos s cooperadas. Profissionais de nutrio, de cozinha industrial, de contabilidade e de organizao cooperativista, oriundos de diferentes instituies pblicas ligadas prefeitura, trabalhavam com a cooperativa e frequentavam muitas vezes as assembleias. Nas assembleias gerais da oficina de cooperativismo, eram discutidos problemas do funcionamento cotidiano, com fins busca de solues construdas e votadas por todas. Numa situao especfica, vivida na assembleia da cooperativa de quentinhas, um problema havia sido detectado. Grande reduo de lucros estava ocorrendo em funo do desperdcio de alimentos. Era consenso, entre as cooperadas, a ocorrncia frequente de sobras na feitura das refeies. A orientao dada pelos profissionais de nutrio recaa sobre a regra corrente nos restaurantes de jogar no lixo toda sobra de alimento, pois a possibilidade de consumo das sobras, pelos funcionrios da cozinha, trazia como efeito o aumento significativo das mesmas. No discurso de muitos profissionais era frequente a afirmao da dificuldade dessas mulheres de gerenciarem sua prpria empresa36.
Constantemente assinalavam a incapacidade delas em exercitar a auto-gesto. Mas logo observamos tambm (observao participante) que, para alm dos problemas ligados ao exerccio interno da cooperativa, das relaes entre cooperadas, muitas dificuldades derivavam das relaes fortemente
hierarquizadas com a instituio e com a rede poltica ligada Secretaria do Bem Estar Social. Era comum nas assembleias, os tcnicos tomarem a palavra privilegiadamente e fornecerem solues j prontas ao grupo, de modo que, se a discusso do grupo acontecia, ela ficava circunscrita aos limites das propostas sugeridas pelos tcnicos. Ao mesmo tempo, nossa frequncia instituio permitiu a escuta de dizeres das cooperadas que afirmavam a impossibilidade, para a maioria delas, de jogar fora as sobras, de jogar fora alimento bom para consumo, quando a maioria delas vive um cotidiano de extrema carncia. Propusemos ao grupo a realizao de alguns encontros, no mesmo formato de assembleia geral, a que estavam acostumadas a participar semanalmente, nos quais o tema deflagrador seria o problema vivido pela cooperativa. Como nos
36
A dificuldade das cooperadas de respeitar essa norma era comentada nos discursos de muitos tcnicos como efeito da baixa escolaridade e do baixo empenho delas na consolidao de um empreendimento de longo prazo.
115
assinala a anlise institucional, as assembleias so espaos privilegiados para a palavra, abertos ao exerccio do discurso questionador da ordem ou desordem vigente na instituio (MONCEAU 1996). E assim, tomamos a frente na moderao do funcionamento coletivo destas assembleias. Como tema central, exploramos o paradoxo construdo face ao problema, ou seja: praticar o desperdcio (jogar comida boa no lixo) com fins a evitar o desperdcio (sobras financeiramente prejudiciais). O manejo do coletivo privilegiou: (1) o estmulo circulao das falas; (2) a deteco dos instantes de divergncia entre dizeres; (3) a assinalao pelo moderador, ou seja, os procedimentos de relance para o grupo desses instantes de divergncia; (4) o cuidado para que as hierarquias no imperassem; (5) a interrogao do grupo quanto aos movimentos discursivos dirigidos aos consensos fceis e artificiais. Deste modo nossa aposta visava desestabilizao das relaes de subordinao entre as realidades distintas (cooperadas e profissionais) expressas no embate entre duas enunciaes diversas e coexistentes. Tnhamos, no entanto, a clareza de que tais intervenes serviriam para a construo das condies necessrias, favorveis, mas jamais garantidoras do processo de criao nas falas. Passemos narrativa de um trecho de uma dessas assembleias. Num certo momento do terceiro encontro, em meio s falas, uma fala ganha destaque: preciso seguir quem sabe mais! Solicita -se a manifestao de cada uma a esta colocao. Tal dito, ento, reverbera por todo grupo. A mesma frase quase que totalmente repetida por muitas e, curiosamente, na repetio opera-se um processo de diferenciao. Como discurso indireto livre, o fluxo de vozes inicia o trabalho de equivocao do sentido da frase e faz agir a expresso, a entonao do dizer, sobre o contedo do dito. Primeiro, o sentido assertivo coabita com o de resignao e assim inicia a equivocao do sentido inicial da enunciao: mesmo isso!...s d pra seguir os tcnicos! No haveria o que fazer, seno acatar a proposta dos profissionais. No entanto, a circulao das falas mantm-se e o tom queixoso acrescenta-se em algumas delas: P! essa gente sabida nos obriga a cada coisa.... A queixa desacele ra a discusso ao jogar sobre outrem a responsabilidade pela tomada de deciso.
Gradativamente, o sentido dos dizeres vai revelando forte hibridismo e aloja-se no
116
intervalo entre constatao, resignao e queixa. A coexistncia de mltiplos sentidos em cada dizer notria e faz proliferar mais falas. Logo depois, ouvimos a queixa tender ao protesto e revelar-se num misto de reclamao e crtica: ... quero ver, esses tcnicos, que diz tudo, ouvir, feito ns, filho com fome! A polivocidade do que dito ou ouvido impera, relanamos para o grupo com um simples: Como assim?. O grupo reage. A queixa/protesto desvia -se numa pergunta, carregada de desconfiana: preciso mesmo seguir esses que sabe mais?. Nesse instante, a necessidade de intervir se mostra s uprflua, o manejo centrado foi substitudo pelo manejo coletivo 37 gerando muitos comentrios espontneos. O burburinho propaga-se, ostentado entre pergunta e incredulidade: Detecta-se nesta alternncia o anncio de uma significativa mudana, pois agora o discurso no portava exclusivamente desnimo, no era mais resignao impotente de minutos atrs e nem era s queixa paralisante. Ele convocava tambm dvida, ou seja, impelia a duvidar sobre quem saberia mais. A legitimidade da proposta inicial de acatar a palavra de profissionais foi abalada e, na continuidade das falas, uma enunciao acaba por selecionar apenas uma parte da colocao inicial e, assim, transforma todo sentido do dito: Quem sabe mais? Este dizer atua no grupo e a conversao avana mais uma vez: Quem pe pra frente a cooperativa n tambm que sabe mais dela? A partir desta enunciao vrias propostas so formuladas. Chega-se a uma deciso coletiva: as sobras, quando houvesse, no seriam jogadas no lixo, poderiam ser consumidas e, ao mesmo tempo, o controle das sobras seria respeitado, porm no mais atravs do desperdcio de comida no lixo. O coletivo anunciou uma nova norma de regulao do desperdcio realizada pela orientao de pesar e registrar o montante das sobras a cada dia, e isto, ento, seria discutido nas assembleias. Neste relato, que expe a linguagem como discurso indireto livre, percebemos o processo de diferenciao cunhado na repetio. Tal processo de diferenciao interessa por implicar num procedimento de reverso das linhas discursivas tendenciais. Segundo Ducrot (1987) e Grice (RECANATI, 1979), preocupados em elaborar princpios reguladores da conversao, toda pergunta seria regulada pelo pressuposto obrigatrio de gerar uma resposta, seja ela
37
Comentaremos essa distino entre modalidades de manejo mais frente.
117
afirmativa ou negativa, tal como toda ordem pressupe como resposta sua obedincia ou desobedincia. Portanto, o problema inicial proposto (diminuir o desperdcio), na medida em que estava vinculado ao saber dos profissionais da rea, portava como pressuposto duas opes: responder sim ou no ao mando, acatar ou no a orientao das nutricionistas. Porm, a partir do plano coletivo, no lugar de apenas responder ao problema inicial proposto, o grupo opta por romper com as regras do dizer e responde a pergunta, com outra pergunta, isto , problematiza a prpria questo inicial e desfaz a configurao geral da situao. A pergunta-desafio Mas quem sabe mais? pe em questo o mando inicial: preciso seguir quem sabe mais! e, na disputa entre os dois dizeres, o primeiro desestabiliza a situao dicotomizadora (saber/no saber) e faz ressoar um novo sentido para quem sabe mais. Se antes apenas os profissionais eram considerados como detentores de um saber, ficando as cooperadas no lugar do no saber, a proposta final, formulada do grupo transversaliza a convocao inicial. O coletivo despreza o pressuposto implcito do comando, neste caso, obedecer ou desobedecer ao aconselhamento - que apenas refora a hierarquizao/dicotomizao entre os grupos e que diz respeito ao sujeito jurdico. A partir deste momento, o grupo interroga o encaminhamento esperado, diluindo a fora do comando, e desvia-se das regras institudas do dizer para propor a realizao de outro compromisso, agora com processos de subjetivao tica: o de construir trajetria singular, na direo do exerccio de criao de si. Com a desestabilizao da regra proposta pelos profissionais, desconstroem-se tambm as subjetividades jurdicas submissas ao cdigo. A ativao do plano coletivo, explicitado no discurso indireto livre, provocou o desvio em relao regularidade da rede lingustica e a consequente afirmao do outro de si (sujeito tico). Chamamos a ateno, no exemplo, de que a dimenso coletiva no se confundiu com o direcionamento da ateno dos participantes a uma temtica geral partilhada. A afirmao de um objetivo comum no fez superar o individualismo subjetivista. No disto que se trata. No no consenso em torno de um problema, de questo comum a ser resolvida, que situamos a dimenso coletiva. Mas sim, na heterogeneidade das sugestes, na divergncia dos encaminhamentos propostos. Torna-se essencial, portanto, escapar a atitudes de
118
organizao binria das diferenas, o que ressalta o sentido opositivo de disputa, de conflito, normalmente atribudo divergncia. no atrito no beligerante entre as diferentes posies ativadas na discusso que o coletivo emerge. Outro aspecto do manejo diz dos graus de abertura dos discursos. Se no estamos tratando da combinao ou recombinao das respostas individuais j formuladas, e sim de processos de criao, consequentemente, a discusso e, portanto, as falas, precisam acontecer sem estarem circunscritas rigidamente aos limites dos temas ou por princpios lgicos da cognio. Nos estudos sobre ateno, nos quais so trabalhadas noes de concentrao e focalizao, evidenciado que no processo de criao interessa, no a ateno focada num ponto. A criao exige processos de encontros entre diversos, choques, breakdowns, desestabilizaes de crenas, de sentidos familiares (KASTRUP, 2004). So processos que se realizam bem mais nas margens do que no foco da experincia e cuja pertinncia nem sempre evidente, indicando que os discursos precisam circular mais livremente. Eles perseguem rotas distantes dos eixos da representao, movidas por pensamentos fora de lugar, percepes sem finalidade, reminiscncias vagas, objetos desfocados e ide ias fluidas (IBDE, p4). Os graus de abertura da discusso devem ser intensificados para que o processo siga os rumos da criao. Cabe ao moderador assegurar o acolhimento das falas sem desestimular as que aparentemente indicam desvios ou incongruncia em relao ao tema. Evita-se, portanto, o direcionamento das falas, o traado rgido de contorno nos dizeres, para que no haja comprometimento dos graus de abertura ao plano comum das foras que caracterizam a experincia. As ideias fluidas, sem delimitaes claras, so efeitos dos momentos crticos, provocaes de sentidos sempre presentes, mas frequentemente imperceptveis. Cabe ao moderador realizar intervenes, na forma de comentrios e relances para apontar, fazer escutar a desestabilizao de sentidos que agem e alimentam a processualidade da experincia. Quanto aos procedimentos operados na situao, eles podem ser divididos em manejo centrado e manejo coletivo. No primeiro, as intervenes do moderador se fazem mais presentes e dirigem-se reiteradamente ao
estabelecimento da circularidade das falas, ou seja, o manejo centrado do moderador tem como direo a descentralizao da discusso. Aos poucos, as
119
relaes no grupo se intensificam e a discusso vai se desenvolvendo bem mais entre os participantes, sem necessidade de falas dirigidas ao moderador, ao mesmo tempo em que este, gradativamente, reduz suas intervenes, embora as mantenha pontualmente. No exemplo, sublinhamos um momento do grupo cujo manejo coletivo ficou claro. Referimo-nos ao instante em que os participantes interagiram entre si e a trama, operada entre as prprias falas, passou a alimentar a discusso. Num processo dialgico, as enunciaes reagiam umas s outras, produzindo interferncias mtuas, e se atravessavam de tal modo que na proposta final no pudemos reconhecer autores especficos. Como dissemos anteriormente, evidencia-se nesses instantes a transversalidade na discusso, sua natureza de discurso indireto livre, que leva o grupo a experimentar sua autonomizao. As duas modalidades de manejo podem oscilar durante toda a sesso e cabe ao moderador detectar as modulaes da discusso no grupo para afinar suas intervenes. Uma vez que a transversalidade pressupe a circularidade das falas, preciso estimular os menos participativos, solicitando, por exemplo, seus comentrios sobre a fala de outros, ou o esclarecimento sobre algum ponto da discusso, ou o relato de uma experincia vivida. Por outro lado, deve-se intervir desmontando a tendncia dominao e hierarquizao da discusso pelos mais falantes ou afeitos liderana. No manejo coletivo do grupo o privilgio recai sobre circulao da palavra, a incitao ao pluralismo das enunciaes, descartando os apelos a frmulas rgidas de hierarquizaes. Ele deve evitar a sobrecodificao das falas, que reduzem o espectro da discusso ao conferir direes privilegiadas, reduzir as chances das rupturas, das divergncias. Duas tendncias devem ocupar a ateno do moderador: a conformidade entre as falas, ou seja, a busca de sntese harmnica em consensos fceis, e as polarizaes extremas. Vale nos determos no segundo ponto. A experincia como processualidade se expressa nas variaes, nas rupturas instauradoras de novas configuraes. Tais modulaes vo depender de desvios produzidos na continuidade da discusso. E, como vimos, o dissenso que promove as quebras de sentido e, com ela, a emergncia de novas direes. No entanto, preciso cuidar para que as divergncias no sejam experimentadas como litgio a ser combatido, instalando enfrentamentos entre as posies discordantes em vez de
120
parcerias, ou dicotomias hierarquizadas no lugar de reconfiguraes. Esses instantes de incongruncia precisam receber ateno do moderador, a fim de que sejam acessados e relanados ao grupo para que reverberem e produzam, no atrito, o contgio das falas orientadas em novas direes. Objetiva-se assim a coexistncia de diferentes pontos de vista, a multiplicidade de posies. no encontro de heterogneos que emerge a efetiva dimenso do trabalho em grupo. O que importa no coletivo das falas a efetivao do acolhimento, hospedar a diferena, evitando tanto quanto possvel solues de sntese unificadora. O que mobiliza o plano comum a todos, porm distinto do somatrio de indivduos, de um conjunto de relaes interpessoais. Experimentar o coletivo aceder ao plano do impessoal, das diferenas coexistentes. Envolve um plano que s comum justamente porque atravessa a todos, mas no de ningum. comum por estar alm e aqum da dimenso pessoal, da dimenso das individualidades. no encontro entre diferenas irredutveis que o coletivo se realiza. No elo linguagem-subjetividade, o duplo funcionamento da subjetividade foi fortemente explicitado. Pudemos observar que, refns dos sentidos usuais, j h muito estabelecidos, explicitamos a tendncia conservao, regularidade, apoiando-nos nas ordenaes j estabelecidas, com suas hierarquias valorativas, suas dicotomizaes semnticas. Mas quando o paradoxo de sentidos, o signoenigma nos afeta, surgem outros direcionamentos. Nesses casos, diramos que a linguagem expe sua outra face, sua vertente de criao. A palavra ostenta mais claramente sua fora de equivocao, de abertura variao e, ao ressoar mais livremente como diferena, exige o encontro de sentidos ainda no reconhecveis. A no unificao do sentido coexiste com a resistncia unidade do eu. Ou seja, a heterogeneidade semntica desestabiliza as palavras de ordem habituais que servem s categorizaes do eu para, no lugar, fazer reverberar outros sentidos ainda no explorados, tanto para o si, quanto para o mundo vivido. No movimento proliferante de busca de sentido podem surgir (sem que nenhuma certeza seja prometida) inusitadas modalidades de subjetivao, modos singulares de ver, de sentir, de agir, enfim, experincias que pem a subjetividade em variao. A experincia de bifurcao do sentido invade o si, ativando seu
121
carter de multiplicidade (KASTRUP, TEDESCO, PASSOS, 2008). A abertura da escuta na clnica ultrapassa a tolerncia s diferenas. Bem mais que isto, ela a toma como matria rgia. Incita sua emergncia para, a partir do contgio entre elas, produzir interferncias inventivas que tragam novas resolues para o processo de subjetivao tico.
122
CONSIDERAES FINAIS...
Alis Lygia [Clark] me disse isso: se esvazie totalmente e deixe nascer o novo, a nica forma.
J. Macal, Encontros
Nossos objetos de interesse na pesquisa esto em movimento, tm vida, enquanto os recortes feitos pelas investigaes, de modo geral, no suportam seno o inanimado. Neste sentido s valorizam sua inrcia. O compromisso com a ordem da razo representacionista tal que, s aps a organizao imobilizadora da realidade em conceitos, o estudo ganha padres de qualidade aceitveis. Ao contrrio, seguindo o alerta das vrias parcerias conceituais, tentamos mostrar ao longo de nosso trabalho, que o estudo apenas interessa quando no se pe insensvel, cego ou surdo, vivacidade do mundo. Nesse esforo, traamos trajetria especfica para a construo conceitual e prtica de certo exerccio clnico que envolveu no apenas o sujeito, mas tambm a subjetivao, termo cuja composio por duplo signo expressa o processo mais amplo, a ao ou ato de subjetivar. Por este motivo, tivemos que descartar muitas ferramentas disponveis, pois precisvamos evitar mortific-lo em classificaes e diagnsticos para, no do lugar, buscar conceitos abertura e ao
procedimentos
voltados
preservao
movimento,
indeterminado que o alimenta. Neste caso, no lugar da preciso, optamos pela experimentao do pensamento sobre a processualidade prpria subjetividade, s atualizvel no encontro, no embate de foras oscilantes na funo/forma de afetar e ser afetada (DELEUZE & GUATTARI, 1995). Privilegiamos um encontro especial, no limite entre linguagem e subjetividade. Deste encontro, reatualizamos e deformamos a noo de estilo-subjetividade, proposta por ns, em trabalhos anteriores. Ela reapareceu como a arte de desfigurar os limites, dobradia instalada entre a
123
forma e o a-forme capaz de derivar outras subjetividades, outras linguagens, outras ordens para o mundo. Isso nos solicitou desenhar o contorno da noo de linguagem que nos serviria. E, ao deline-la, foi preciso explicitar que a linguagem no cabe toda na linguagem, forando-nos a faz-la escorrer pelo seu exterior que, para ns, compareceu como o extra-lingustico e no-lingustico da linguagem. Dois planos que, ao lado do plano lingustico, abrem a linguagem vida, conferem-lhe fora poltica de interveno sobre o mundo. Na sua extenso ao extra-lingustico ela fato, ela performativa. No representa a realidade, mas a institui. A expresso prolonga-se no contedo e vice-versa, de modo que a linguagem no fala sobre o mundo, ela fala o mundo, ou seja, toca, afeta, transforma realidades ao mesmo tempo em que tambm por elas transformada. As redes conectivas compareceram para fazer convergir dizeres com modos de ver na delimitao dos objetos que acreditamos compor a realidade. J no seu prolongamento ao nolingustico, a linguagem arte da criao. O dizer tem compromisso com a inaugurao de novos mundos, ele equivoca sentidos j estabilizados, rompe com a redundncia das redes discursivas. essa dimenso-arte da linguagem que a permite dizer o acontecimento. Explicitamos que nas zonas de indefinio do no-lingustico da linguagem, que recobrem a distncia amorfa entre as formas e suas normas, age o estilosubjetividade. Sob sua ao, a subjetividade revela seus intervalos de variao voltada inveno de modos nicos de existncia. No sendo propriedade intencional de um sujeito, , ao mesmo tempo, de todos e de ningum. Enfim, ele consiste nos modos especiais de criar novos nexos a partir da multiplicidade discursiva que o sustenta. O estilo-subjetividade expe a natureza coletiva da subjetividade O prximo passo foi aproximar estilo-subjetividade da noo foucaultiana de estilismo de si como argumento de que no h criao sem a equivocao das normas vigentes. Na sua base, a criao carrega algo de transgressivo, de distanciamento em relao ao cdigo, assim como aos modos habituais de dizer e de fazer. Estimular o estilismo incitar os momentos de desestabilizao das normas, do esperado, para que efetivamente o novo ganhe passagem.
124
Na aliana com Foucault no procuramos outro modelo de existncia absoluto e sim modos de vida regulados pelas regras facultativas dos homens livres (DELEUZE, 1988b). O governo de si expe foras autnomas em relao aos jogos de poder. No qual a subjetivao efetiva-se na dobra das foras do fora, do a-subjetivo, do no-lingustico, sobre si mesmas. Tal vacolo corresponde forma subjetivante mltipla e porosa, hecceidade, que carrega em seu bojo as foras do fora e no os cdigos transcendentes. Da experincia da diferena, a repetio pura do si mesmo falece e deixa passagem para que, na composio com as foras do fora, com outros modos de vida, sejam instauradas outras normas que fomentem os atos de perseverar a si mesmo. Sublinhamos que a relao a si s se estabelece se efetuando (DELEUZE, 1988b, p.107) e assim a clnica convocada ativao e ao acompanhamento do exerccio crtico de si. A clnica do estilismo de si trabalha os desgovernos que afetam esse processo de subjetivao tico. Na
transversalizao entre estilo-subjetividade e a noo foucaultiana de estilismo de si, traamos a tica do processo de produo de subjetividade, e com ela, tambm a direo tica da prtica clnica o acompanhamento e a incitao ao movimento que persevera a subjetividade nos processos clinico-polticos de diferenciao de si e do mundo. A prtica clnica prope atos de resistncia, entendidos no como relutncia ou averso s formas produzidas e s normas a presentes, mas na inveno de modos inditos de ser/fazer que sigam outras direes, instaurem desvios em relao aos atropelos, cristalizaes, estados de dominao que elas promovem quando se querem absolutas. Apresentamos a clnica do estilo-subjetividade ou estilismo de si voltada de procedimentos preferenciais para a construo de novos modos de relao com os cdigos. Ou seja, nos esforamos para evidenciar que afirmar a inveno de si como inveno de normas carrega a indissociabilidade entre clnica e poltica. Vista por esta perspectiva, a subjetivao envolve necessariamente inveno de mundo, atravs da instaurao de nova realidade moral. Passamos ao esclarecimento da tica da metaestabilidade, proposta por Simondon, como direo clnica, a fim de permitir pens-la como modo de interveno sobre o processo contnuo de individuao da subjetividade, como prtica zelosa em traar as tendncias s cristalizaes do eu e das normas para
125
descobrir germes das linhas flexveis que deixam agir a diferena e que fazem circular as relaes de poder. Enfim, buscar linhas de maior mobilidade e criao para a subjetividade. Experimentar os conceitos no emprico foi nosso prximo movimento. Naquele momento nossos riscos aumentaram, pois nos propusemos a participar de jogos polticos na rea das drogas, na qual os perigos 38 da normalizao biopoltica so macios e se realizam numa velocidade preocupante, nos exigindo frequentes reposicionamentos, rpidas decises, repetidas mudanas de estratgia. Para seguir por esses caminhos labirnticos elegemos uma perguntaguia, diretora de nossas pesquisas: Que direo tica segue a clnica das drogas? Como efetiv-la, face a polticas to homogeneizantes e normalizadoras no Brasil contemporneo? Tentamos buscar, nas duas propostas que mais fortemente atravessam as polticas pblicas na rea de ateno s drogas, rupturas, poros de indeterminao, aberturas a parcerias com a clnica, e, mais especialmente, com a clnica transdisciplinar. Buscamos maneiras de nos movimentarmos nessa rea, de fazer da clnica das drogas uma clnica do estilismo de si, que envolvesse a inveno de outras relaes a si e com o cdigo, e que no recasse na produo do sujeito jurdico, de atitudes de simples subordinao aos cdigos. Para esta anlise, decidiu-se fazer uso da distino foucaultiana entre estados de dominao e prticas de liberao. Percebemos que o projeto da justia teraputica e a lgica proibicionista a presente, ao estabelecer a abstinncia como meta nica e, a priori, eliminam qualquer outra modalidade de relao com o uso da droga, cerceando assim tanto as aes possveis do usurio quanto os encaminhamentos clnicos. Reconhecemos nesta, portanto, a prtica produtora de estados de dominao que reduzem a quase zero a abertura inveno de si e das normas. E acima de tudo avaliamos que suprimir a escuta da experincia do usurio, seja a experincia da droga, seja a da crise, impede a construo da experincia compartilhada, esse plano comum de afetabilidade recproca, indispensvel clnica. Sem distncias, sem interstcios assinalveis,
38
Usamos o termo perigo na mesma acepo de Foucault, no texto em que discute a noo de tica. Cf. Foucault, 1995.
126
as relaes de poder mantm-se fixas, imveis, impedindo o exerccio clnico dirigido s prticas de si. No lugar do estilismo da subjetividade, em substituio a essa arte da composio inventiva com a norma, reifica-se o drogado como dependente eterno das drogas e/ou dos tratamentos. Na perspectiva da reduo de danos encontramos certa porosidade, por onde ampliam-se os modos possveis de relao com as drogas e, consequentemente, consigo e com os cdigos. Ao afirmar a aposta nesta parceria, tivemos o cuidado de no explicit-la como uma proposta clnica. Ela no indica procedimentos determinados ou prticas de si. E mais, no a afirmamos como garantia da efetivao de prticas ticas. O que tentamos mostrar que ela abre a cena a outras perspectivas sobre a droga, a outras foras que pem em circulao o que se apresentava estagnado. Desvia o olhar judicativo para multiplicar olhares e dizeres, e assim permite a retomada da mobilidade dos jogos de fora, nesta rea, to engessada pelo proibicionismo. A clnica conta com a flexibilizao da problemtica das drogas, com a circularidade das foras do poder oportunizada pela PRD. E, na medida em que a PRD foi instalada, com sucesso, no projeto da preveno da DST/AIDS, e que sua aplicao rea da clnica das drogas um processo ainda em andamento, entendemos nosso compromisso em apresentar modos de transposio deste projeto para a clnica. Nesse sentido, nosso trabalho assumiu o desafio de pensar a transposio dessa lgica da reduo para nosso domnio de atuao. A transposio do PRD para a clnica nos interessa de dois modos. No primeiro, vemos efeitos sobre o plano operacional da clnica propriamente dita. Ocorre a flexibilizao das metas, a ampliao dos pontos de vista sobre a droga, a incluso da experincia do drogar-se e, com ela, do protagonismo do usurio na construo do plano coletivo da clnica. Em contraposio fixidez judicativa do projeto de justia teraputica, nossa a aliana com o PRD permite a prtica da hospitalidade diferena, do acolhimento dos mltiplos modos de relao com a droga. Ou seja, defendemos a importncia do PRD para a clnica na expanso dos graus de abertura por onde o movimento clnico pode fluir na construo da experincia compartilhada, a partir da qual os procedimentos clnicos operadores do exerccio de reinveno de si podero ter lugar. No segundo modo, nosso
127
trabalho considerou as consequncias de pensar a clnica das drogas como prtica de reduo de danos vida. Sua direo tica comparece na preservao do movimento inerente subjetividade. Assim, mantivemo-nos na continuidade com a lgica do PRD ao concordarmos que a ateno ao usurio visa reduo de danos vida, porm, para tal, preciso ampliar o sentido do termo dano, na medida em que entendemos vida no apenas na sua acepo biolgica, orientada sobrevivncia do organismo. A concepo de danos alarga-se porque entendemos vida transversalizada pela concepo de conatus spinozista. Deste modo, a vida ressurge como fora pela qual uma coisa persevera em si prpria. E se, como visto, a perseverao da subjetividade efetiva-se em seu movimento conectivo, o termo dano ganha o sentido de diminuio da potncia de criar nexos, lentificao ou mesmo cristalizao do movimento prprio ao plano comum de foras. Nesse ponto, afirmamos que a tica da clnica transdisciplinar conduz a reconhecer os danos vida como empobrecimento do processo de subjetivao tico, como dificuldade de inveno dos ritornelos existenciais. No contexto, a direo tica da clnica das drogas instala-se na preservao da vida como conatus, ou seja, ela atua na reverso do impacto das drogas sobre o plano comum de foras, a saber, na reduo dos efeitos de estrangulamento sobre as conexes que o constituem. A clnica se exerce nas prticas de reduo dos danos potncia de conectividade que o nexo dominante com a droga provoca. Face ao enfraquecimento das aes ticas, a clnica age potencializando o estabelecimento de novas relaes, o retorno ao movimento inerente subjetividade. O clnico, ao mesmo tempo em que desestabiliza, interroga nexos cristalizados, tomados pretensamente como invariantes, tambm age na busca de signos de novas conexes, presentes nas pontas germinais das linhas flexveis, que, muito frgeis, no atingem ainda seu desdobramento em aes inditas face s drogas. Aes que, inclusive, podem abarcar a conduta da abstinncia, desde que esta no comparea como resultado da obedincia a uma norma fixa, e sim como norma a ser problematizada, reconfigurada, enfim, reconstruda no processo clnico.
128
Na continuidade do esclarecimento da clnica como exerccio de construo do plano coletivo, estendemos nosso trabalho prtica com grupos, como oportunidade para elaborar, na parceria com nossos conceitos,
procedimentos que servem ativao deste plano essencial na clnica. A partir de nossa prtica construmos duas formas de manejo - manejo centrado e manejo coletivo teis ao exerccio da experincia impessoal a que acessamos reiteradamente ao longo dos encontros com o grupo. As duas modalidades de manejo clnico vo oscilar ininterruptamente, visto que a dimenso coletiva no se configura num estado fixo a atingir uma vez por todas. Ao contrrio, ela se expe nos interstcios da pessoalidade que tambm nos constitui. Os procedimentos clnicos so tambm exerccios de ativao reiterada deste plano existente sempre ao lado das formas regulares, seja o sujeito, seja o grupo. Ao longo do trabalho sublinhamos que o estilismo de si e a clnica que o incita se esclarecem por sua dimenso coletiva, para aqum e alm de toda tentativa de distino entre realidade social ou individual. Pois como vimos, o coletivo o lado de fora tanto do grupo como do indivduo, uma dimenso da realidade que atravessa a ambos. Vemos a, na compreenso do plano coletivo como dimenso inerente subjetividade e prtica clnica, um modo de equivocar os limites entre o individuo e o grupo e, consequentemente, fortes argumentos no s para equivocao dos limites entre disciplinas como sociologia e psicologia, de que falamos no primeiro captulo, como tambm para a transversalizao das compartimentaes tradicionais da psicologia. Foi o encontro com a empiricidade, na prtica da clnica institucional das drogas, que nos forou a repensar a noo de hospitalidade como operao clnica por excelncia. Tomar a situao de heterogeneidade discursiva na instituio como analisador resultou em perceb-la imersa numa disputa expressa no abismo semitico hierarquisador de mundos. A hospitalidade precisava tomar o lugar da hostilidade. Porm, era preciso extra-la de seu sentido humanitrio. Nem a tolerncia diferena, tampouco o relativismo dos valores nos interessa. Da mesma maneira, a questo do hospedeiro no passa pela aceitao do outro, da diferena, como simples variao interna ao conceito unificado. Como vimos, a potncia da diferena amortizada quando se transforma em distino nomeada, classificada. Esta no comporta estranhamento. A linguagem dos adolescentes,
129
por exemplo, ao ser reconhecida como uso empobrecido da lngua portuguesa, permanecia como distino cristalizada em categorias j conhecidas. No serviu ao rompimento com o j conhecido. Ao contrrio, a hospitalidade diz da abertura diferena, ao ser sem nome, sem identidade, sem rosto. Ela diz da ruptura das fronteiras na direo da desestabilizao de mundos. Nossa proposta foi fazer avanar esta noo no apenas nas reflexes conceituais que realizamos acerca da clnica, mas, principalmente, na resoluo de impasses que a realidade concreta da sua prtica em instituies nos revelou. Na operao da extenso dos limites da noo de hospitalidade sobre o emprico, fomos levados a redesenhar os encaminhamentos da clnica. Atravs desta noo, tal como trabalhada por Schrer (1993), o trabalho clnico de acolhimento altera sua configurao, recompondo-se numa relao ntima com a heterogeneidade, com a atitude crtica que instaura rupturas, desvios. Klinicos e klinamem tornam-se, agora, indissociveis. Claro est que no indicamos o abandono das duas noes como direcionamentos da prtica clnica. Ao contrrio, visamos ativ-las em sua potncia de variao, em seu nomadismo conceitual. Uma se insinua na outra. Reconhecemos que no acolhimento, na escuta demanda de tratamento, o que vai ser acolhido vai muito alm da queixa. Acolhem-se as foras que compem a paisagem existencial, na medida em que nelas se efetiva a construo do plano comum, da experincia compartilhada de sentidos e, em especial, de modos de subjetivao. E se hospedar no traar uma linha de continuidade homognea entre hspede e hospedeiro, temos que esse encontro vai produzir desvios de rota, pluralidade de encaminhamentos. Ora, o plano misto e, portanto, no carrega s familiaridades, hbitos, mas tambm e, principalmente, a dimenso a-forme do no-lingustico, do a-subjetivo. De modo que a heterogeneidade que acolhemos. Vigora o compartilhamento do plano de afetabilidade recproca s foras em seus efeitos de desruptores. So nestes ltimos que assistimos aos jogos de fora, atiados pela clnica, trabalhar os momentos de dessubjetivao, o rompimento dos sentidos familiares ao eu, das normas reguladoras. Nesses momentos, no lugar da repetio pura, da continuidade, a identidade do eu desfalece, permitindo encaminhamentos semiticos diversos para a subjetividade. No novo desenho explicitado para o movimento prprio clnica ressaltamos que a funo de acolher hospedar a
130
dimenso impar das disparidades que compem a subjetividade e, com isso, efetivar o exerccio de deriva de si. O acolhimento da clnica, pensado como hospitalidade, comporta necessariamente o contato com o no sentido, o processo de dissolvncia das pretensas invarincias, efeito ao mesmo tempo da problematizao dos sentidos, das normas e do sujeito. Assim, o trabalho clnico, ao hospedar os nexos de proximidade e, principalmente de distncia, convoca experincia do fora - o plano compartilhado do desconcerto. Assim, a clnica como hospitalidade formula reiteradamente o convite a dar passagem a outras sensibilidades sonoras, a diferentes linguagens e subjetividades, enfim, a outros mundos. Gostaramos ainda de dizer que tais consideraes neste trabalho no se querem conclusivas, no representam seno um recorte, um instante do processo de pesquisa que segue ainda. Para ns, elas funcionam como pa rtes eternamente parciais levadas pelo tempo, caixas entreabertas (DELEUZE,1987, p.161) que esperamos servirem para reverberar ideias, crticas e, com elas, novas aberturas e encaminhamentos para nossas investigaes.
131
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS AUSTIN, J. L. Quando dizer fazer. Lisboa, Artes Mdicas, 1990. AGAMBEN, G. A Imanncia absoluta. EM. ALLIEZ, . Gilles Deleuze: Uma vida Filosfica, So Paulo, Ed 34, 2000. AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidades Enunciativas. Cadernos de Estudos Lingusticos, Campinas, Ed.Unicamp, 1990. BAHKTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. So Paulo: Hucitec, 1992. BAREMBLIT, G. Cinco Lies sobre Transferncia, Hucitec, So Paulo, 1992. BERGSON, H. Introduo. EM: James,W., Le Pragmatisme. Paris, Flamarion, 1920. BLANCHOT, M., Lespace littraire, Folio, Paris, Gallimard, 1955 BORDAS, E. Idiolecte ou sociolecte? Lenonciation romanesque selon Bakhtin. Em: Depreto C., LHeritage de Bakhtin. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1997. BOURDIEU, P. La langage autoris. IN; Acte de la Recherche in sciences sociales, nov, n.5/6, 1975. BUYDENS, M. Sahara, Lesthtique de Gilles Deleuze. Paris,Vrin, 1990. CALVINO, I. As cidades invisveis, So Paulo:Companhia das Letras, 1990. CAMPOS, V. M. Borges & Guimares na Esquina Rosada do Grande Serto, So Paulo, Perspectiva, 1998. CANETTI, E., Masse et puissance, Gallimard, Paris, 1966. CANGUILHEN, G.O. Normal e o patolgico. Rio de Janeiro, Forenseuniversitria, 1978. CFP. Conselho Federal e Conselhos regionais de Psicologia, Justia teraputica: tratamento no pode ser punio, EM: Jornal do Conselho Federal de Psicologia, ano XVIII, n.74,2003. CHOMSKY, N. Regras e representaes, Rio de Janeiro, Zahar, 1981. COMTE, M., Drogadio: entre a angstia e as possibilidades de interveno EM: Mello, A.; Souza castro, A.L.; Geiger, M., Conversando sobre a adolescncia, Porto Alegre, CRP7/Libretos, 2004. COSTA, R. Flix Guattari: gritos e sussuros na escuta clnica. Cadernos de subjetividade, 4, 362 364, 1996. COUTINHO,E. O. Grande Serto: Veredas e a linguagem literria EM:Perspectiva 2: ensaios de teoria e crtica. Rio de janeiro, UFRJ,1992 DEBAISE, D. Les conditions dune pense de la relation selon Simondon. EM: Pascal Chabot (coord.). Simondon. Paris, Vrin, pp.53-68, 2002
132
DELEUZE, G. Logique du sens, Paris, Minuit, 1969. DELEUZE, G. Boulez, Proust et le temps: Occuper sans compter. EM: Eclats/Boulez, Paris, ed.Centre Pompidou, pp. 98-100, 1986. DELEUZE, G. Nietzsche e a filosofia. Rio de janeiro, Ed. Rio.1976. DELEUZE, G. Diferena e Repetio. Rio de Janeiro, Graal, 1988. DELEUZE G. Foucault. So Paulo,Brasiliense, 1988b. DELEUZE G. Um concept philosophique. Cahiers Confrontation, n 20, hiver, pp. 89-90. 1989. DELEUZE, G. Quest-ce que lacte de cration? Conferncia em vdeo. Paris, Ed. Femis, 1987. DELEUZE, G. Controle e devir EM: Conversaes. Graal, Rio de janeiro, Ed. 34, 1992. DELEUZE, G. GUATTARI, F. O que a filosofia?, Rio de Janeiro, ED.34. 1992. DELEUZE, G. GUATTARI, F. Mil Plats. v. 5, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1997b. DELEUZE, G. GUATTARI, F. Mil Plats. v. 3, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1996. DELEUZE,G. e GUATTARI, F. Mil Plats: capitalismo e esquizofrenia, v.2, Rio de Janeiro, Ed 34, 1995. DELEUZE,G. e GUATTARI, F. Mil Plats. v.4, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1997. DELEUZE,G. e GUATTARI, F. Mille Plateaux. Paris, Minuit, 1980. DELEUZE,G. e GUATTARI, F. Quest-ce que la philodophie?, Paris,Minuit, 1991. DELEUZE,G. e GUATTARI, F. Mil Plats.v.2, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995b. DEPRETO, C. Preface Em: Depreto C.(org.), LHeritage de Bakhtin. Bordeaux: Presses Univeristaires de Bordeaux, 1997. DEPRETO, C. Lheritage de Baktine, Bordeaux: Presses Univeristaires de Bordeaux, 1997. DUCROT, O. Referente. IN: Enciclopdia Einaudi, v.2, Linguagemenunciao, Lisboa, Imprensa Nacional, 1984c. DUCROT, O. Referente. IN: Enciclopdia Einaudi, v.2, Linguagem enunciao, Lisboa, Imprensa Nacional, 1984c. DUCROT, O. Actos Lingusticos IN: Enciclopdia Einaudi, v. 2, Linguagemenunciao, Lisboa, Imprensa Nacional, 1984d. DUCROT, O. Actos Lingusticos EM: Enciclopdia Einaudi, v. 2, Linguagem enunciao, Lisboa, Imprensa Nacional, 1984d.
133
DUCROT, O. O dizer e o dito. Campinas, Pontes, 1987. EIRADO, A. PASSOS, E. A noo de Autonomia e a dimenso do virtual. Psicologia em Estudo (impresso), Maring, v.9, n.1, p. 77-85, 2004. EIRADO, A. ET ALL. Estrategias de pesquisa no estudo de cognio: O caso das falsas lembranas, Psicologia & Sociedade, Florianopolis, 2010. EWALD, F. Michel Foucault EM: Escobar, C.H. (org.) Dossier/ Ultimas Entrevistas. Rio de janeiro, Taurus, 1984. FELLINE, F. Livro dos sonhos, Paris, Flamarion, 2007. FERNANDES, M.M. & CORDEIRO, J. K., Justia Teraputica, Rio de Janeiro, Ed. Al.line, 2002. FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da priso. Petrpolis, Vozes, 1977. FOUCAULT, M. Histria da sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal, 1977. FOUCAULT, M. Microfisica do poder. Rio de Janeiro, Graal,1979. FOUCAULT, M. As palavras e as coisas, So Paulo, Martins Fontes, 1985. FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de janeiro, Forense, 1987. FOUCAULT, M. Histria da sexualidade 2: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro, Graal, p. 219, 1994. FOUCAULT, M. Dits et ecrists, Paris, Gallimard, 1994. FOUCAULT, M. Sobre a genealogia da tica: Reviso do trabalho. EM: DREYFUS, H. RABINOW, P. Michel Foucault uma trajetria filosfica: para alm do estruturalismo e da hermenutica, Rio de janeiro, Forense Universitria, 1995. FOUCAULT, M. tica, sexualidade e poltica. EM: BARROS DA MOTTA(org.) Coleo Ditos e Escritos, Vol. V. Rio de Janeiro, Forense Universitria, 2004. FOUCAULT, M. A tica do cuidado de si como prtica da liberdade. EM: 2004. FOUCAULT, M. Seguridade, territrio, populacin. Cours au Collge de France, Edio: Senellart, M. Edwal, F. Fontana, A., 2006. FREGE G. Lgica e filosofia da linguagem. So Paulo, Cultrix, 1978. FREUD, S. Observaes sobre amor transferencial (novas recomendaes sobre a tcnica da psicanlise), Rio de Janeiro, vol. XII, Imago, 1972 GOBART & EDWARDS. La langue est une Musique, EM: Vincennes ou le Desir D Apprendre, Paris, Alain Moreau, 1979. GUATTARI, F. La politique de Lnonciation. Semiotexte I, So Paulo, Cultrix N 3, PP. 9 17, 1978.
134
GUATTARI, F. Psychanalyse et transversalit, Paris, Francois Maspero, 1974b. GUATTARI, F., ROLNIK, S. Cartografias do desejo, Vozes, Rio de Janeiro, 1986. HJELMSLEV, L. Prolegmenos a uma teoria da Linguagem. Perspectiva, So Paulo, 1975. JESUS, D. 11 Perodo de sesses da comisso de preveno do crime e justia penal das Naes Unidas, So Paulo: complexo Jurdico Damsio de Jesus, 2002. Disponvel em: WWW.damasio.com.br/frame_artigos.htm KASTRUP, V., A aprendizagem da ateno na cognio inventiva, Psicologia & Sociedade, 16 (3) 7-16, 2004 KASTRUP, V., TEDESCO, S., PASSOS, E., Polticas da Cognio, Porto Alegre, Sulinas, 2008. LIMA, F.A.A., Penas e medidas alternativas: avano ou retrocesso? EM; Direito na Web,Adv.brAnoI, Disponvel em: HTTP//WWW.direitonaweb.adv.br/doutrina/dprocpen, 2002. MARLLAT G. A. & GORDON, R. Relapse prevention: maintenance strategies in treatment of addictive behaviors, New York, Guilford Press, 1988. MINISTRIO DA SADE - A Poltica do Ministrio da Sade para Ateno Integral a Usurios de lcool e outras Drogas/Ministrio da Sade, Secretaria Executiva, Secretaria de Ateno Sade, CN-DST/AIDS, 1Edio, Braslia: Ministrio da Sade, 2003. MONCEAU, G., Lintervention socianalytique. Pratiques de formation Analyses n32 (socianalyse et ethnosociologie), Saint Denis: Universit Paris 8, 1996. NANCY, J-L, Apresentao Do Cahiers De Confrontation, N 20, Paris Aubier, P. 5-11, 1989. OLIVEIRA SILVA, R., Um programa judicial de ateno ao infrator usurio e ao dependente qumico, acessvel no site: http://www.abjt.org.br/index.php?id=99&n=86 2004. PASSOS, E., KASTRUP, V., ESCOSSIA, L.(org.) Pistas do mtodo da Cartografia, Porto Alegre, Sulinas, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009. PASSOS, E.; BARROS, R. B. Clnica e biopoltica na experincia do contemporneo. Rio de Janeiro, PUC-RJ, v. 13, n. 1, p. 89-99, 2001. PROUST, M. No caminho de Guermantes. Rio de janeiro, Globo,1991. RECANATI, F. La Transparence et Lnonciation. Paris, Seuil, 1979. RECANATI, F. Regards sur Deleuze, Paris, Kim, 1998.
135
REN SCHRER. Homo tantum. O impessoal: uma poltica EM. Gilles Deleuze. Uma vida filosfica, So Paulo, Ed. 34, 2000. RODRIGUES & TEDESCO. Por uma perspectiva tica das prticas de cuidado no contemporneo, (org.) Silvia Tedesco e Maria Lvia Nascimento, Porto Alegre, Sulinas, 2009 ROLNIK, S. Pensamento, corpo, devir uma perspectiva tico/esttico/poltica no trabalho acadmico. Cadernos de subjetividade, v.1, n2, So Paulo p. 241 251, 1993. ROLNIK, S. e GUATTARI, F. Micropolticas: Cartografias do desejo. Petrpolis, Vozes, 1993. ROLNIK, S., Esquizonlise e antropofagia. Cadernos de subjetividade, 4, So Paulo, p 83-94, 1996. ROSA, J.G. Grandes sertes: veredas. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1979. SCHRER, R. Zeus Hospitalier, Paris, Armand Colin, 1993. SCHRER, R. Regards Sur Deleuze, Paris, Kim, 1998. SCHRER, R. Homo Tatum. O impesssoal : Uma politica. EM. ALLIEZ, . Gilles Deleuze: Uma vida Filosfica, So Paulo, Ed 34, 2000. SEARLE, J.R. What is a speech act? IN: The philosophy of language, Londres, Oxford University Press, 1979b. SEARLE, J.R. Speech Acts. Londres, Cambrigde University Press, 1969. SENNET, R. O Declnio do Homem Pblico As Tiranias da Intimidade. So Paulo, Companhia das Letras, 2001. SIMONDON,G. Lindividu et as gense physico-biologique. Paris, PUF, 1964. SIMONDON,G. Lindividuation psychique et collective. Paris, Aubier. 1989 TEDESCO, S. H. Perspectivas formalistas e pragmticas no estudo da linguagem. Rio de Janeiro, v. 45, n. , p. 125-149, Arquivos Brasileiros de Psicologia, 1993. TEDESCO, S. H. A Natureza Coletiva do Elo Linguagem -Subjetividade. Psicologia. Teoria e Pesquisa, Braslia, v. 19, n. 1, p. 85-89, 2003. TEDESCO, S. H. Adolescncia, drogas e medidas scio-educativas em meio aberto EM: Conversando sobre Adolescncia e Contemporaneidade. Porto Alegre. Ed. CRP/07, 2004. VARELA, F. Autonomie et connaissance. Paris, Seuil, 1989.
You might also like
- Considerações Acerca Da Articulação Clínica Rizoma e TransdisciplinaridadeDocument18 pagesConsiderações Acerca Da Articulação Clínica Rizoma e TransdisciplinaridadeMayrá LobatoNo ratings yet
- Bergson e as duas vias de acesso ao real: entre a metodologia intuitiva e a metodologia analíticaFrom EverandBergson e as duas vias de acesso ao real: entre a metodologia intuitiva e a metodologia analíticaNo ratings yet
- O Caso da Integralidade na SaúdeDocument11 pagesO Caso da Integralidade na SaúdeThiago SartiNo ratings yet
- Tese O Pavor Da Carne. Paula Sibilia (Uerj, 2006)Document197 pagesTese O Pavor Da Carne. Paula Sibilia (Uerj, 2006)Edy BerNo ratings yet
- 24 7 - Capitalismo Tardio e Os Fins Do SonoDocument15 pages24 7 - Capitalismo Tardio e Os Fins Do SonoTiago NascimentoNo ratings yet
- Bixa Travesty e o Queerlombismo A NegritDocument6 pagesBixa Travesty e o Queerlombismo A NegritAlfredoTaunayNo ratings yet
- Kino-Coreografias - Entre o Vídeo e a DançaDocument13 pagesKino-Coreografias - Entre o Vídeo e a DançaAlexandre VerasNo ratings yet
- ROSARIO, N. Mitos e Cartografia - Novos Olhares Metodologicos Na ComunicaçãoDocument28 pagesROSARIO, N. Mitos e Cartografia - Novos Olhares Metodologicos Na ComunicaçãoCarmen PereiraNo ratings yet
- Estereótipos e identidade de gêneroDocument15 pagesEstereótipos e identidade de gêneroPaulo RodriguesNo ratings yet
- Heterotopia e espaço público: Uma análise a partir de FoucaultDocument20 pagesHeterotopia e espaço público: Uma análise a partir de FoucaultCláudia MouraNo ratings yet
- Etnopsiquiatria PDFDocument6 pagesEtnopsiquiatria PDFcamila marquesNo ratings yet
- Notas sobre Leonilson e Bispo do RosárioDocument8 pagesNotas sobre Leonilson e Bispo do RosárioWalerie GondimNo ratings yet
- Resenha A Invenção Das RaçasDocument3 pagesResenha A Invenção Das RaçasEmerson Freire dos SantosNo ratings yet
- GOFFMAN Ordem InteracDocument33 pagesGOFFMAN Ordem InteracJulia RbywNo ratings yet
- CHIESA, Gustavo Ruiz. Gregory Bateson e Tim Ingold PDFDocument26 pagesCHIESA, Gustavo Ruiz. Gregory Bateson e Tim Ingold PDFPedro Freitas Neto100% (1)
- Crítica de cinema entre realismo e ideologiaDocument7 pagesCrítica de cinema entre realismo e ideologiarodcassio@hotmail.com100% (1)
- O Verdejar Do SerDocument2 pagesO Verdejar Do ServerabzzzNo ratings yet
- 15 A Clinica Do Corpo Sem Orgaos Entre LacosDocument26 pages15 A Clinica Do Corpo Sem Orgaos Entre LacosMilton Ferreira100% (1)
- Escravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultFrom EverandEscravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultNo ratings yet
- O Que É Periódico CientíficoDocument4 pagesO Que É Periódico CientíficoEduardo Leme100% (1)
- O Corpo Incerto Corporeidade, Tecnologias Médicas e Cultura ContemporâneaDocument3 pagesO Corpo Incerto Corporeidade, Tecnologias Médicas e Cultura ContemporâneaAnne MoraisNo ratings yet
- Fronteiras da PaisagemDocument290 pagesFronteiras da Paisagemnelsoncpj0% (1)
- A origem da fotografia e sua influência na arteDocument6 pagesA origem da fotografia e sua influência na artejoanammendesNo ratings yet
- O Grupo como Dispositivo: uma análise conceitualDocument19 pagesO Grupo como Dispositivo: uma análise conceitualisabella_pessan2823No ratings yet
- Um resgate do olhar na EJA através da arteDocument22 pagesUm resgate do olhar na EJA através da arteRafael SandimNo ratings yet
- Artigo Travestis EnvelhecemDocument11 pagesArtigo Travestis EnvelhecemLuis Henrique Martins100% (1)
- O desejo oculto do vermeDocument64 pagesO desejo oculto do vermeCorpo EditorialNo ratings yet
- Memória do corpo na arteDocument14 pagesMemória do corpo na artebruno o.No ratings yet
- A Ilusão Teórica No Campo Da Comunicação PDFDocument7 pagesA Ilusão Teórica No Campo Da Comunicação PDFEmerson NunesNo ratings yet
- A Recepção, o Visual e o SujeitoDocument16 pagesA Recepção, o Visual e o SujeitoJosé Paulo GuimarãesNo ratings yet
- Magia e Realidade No Trabalho de João Maria Gusmão e Pedro PaivaDocument20 pagesMagia e Realidade No Trabalho de João Maria Gusmão e Pedro PaivaHiperativaNo ratings yet
- Relativizando Roberto DaMattaDocument18 pagesRelativizando Roberto DaMattaWILLIAN GABRIEL MENDES DE SA DE ALMEIDA100% (1)
- Susan Okin Gender The Public and The PrivateDocument22 pagesSusan Okin Gender The Public and The PrivateNancy Miranda100% (1)
- As "dobras" e as "des(re)territorializações" no ensino de Filosofia: a "escrita de si" e a singularidade dos sujeitos-professoresFrom EverandAs "dobras" e as "des(re)territorializações" no ensino de Filosofia: a "escrita de si" e a singularidade dos sujeitos-professoresNo ratings yet
- Semiótica: Cláudia Renata Pereira de Campos André Corrêa Da Silva de AraujoDocument14 pagesSemiótica: Cláudia Renata Pereira de Campos André Corrêa Da Silva de AraujoFábio Lins de AraújoNo ratings yet
- Análise da concepção do corpo como objeto nas artes dos anos 1960 e 1970Document15 pagesAnálise da concepção do corpo como objeto nas artes dos anos 1960 e 1970Juliana NotariNo ratings yet
- Fractal: Revista de Psicologia, v. 29. Dossiê Corporeidade.Document136 pagesFractal: Revista de Psicologia, v. 29. Dossiê Corporeidade.Beatriz GalhardoNo ratings yet
- Como a cultura molda a visão de mundoDocument22 pagesComo a cultura molda a visão de mundoMirene MarquesNo ratings yet
- 2010 2 Antropologia Do Cuidado (AF)Document77 pages2010 2 Antropologia Do Cuidado (AF)Alvaro Mota Magalhaes100% (1)
- Etica e Negocios - Laercio Antonio PilzDocument62 pagesEtica e Negocios - Laercio Antonio PilzLuis EduardoNo ratings yet
- Ética - Leila MachadoDocument18 pagesÉtica - Leila MachadoTuane DevitNo ratings yet
- As Metamorfoses Do EspelhoDocument18 pagesAs Metamorfoses Do EspelhodudiramonerockNo ratings yet
- Dossiê LiterAmazônicas-Volume II - AcademiaeduDocument159 pagesDossiê LiterAmazônicas-Volume II - AcademiaeduAna CNo ratings yet
- Cadernos de DesenhoDocument280 pagesCadernos de DesenhoKerol Bomfim0% (1)
- Educação inclusiva: desafios nas práticas cotidianasDocument14 pagesEducação inclusiva: desafios nas práticas cotidianasedgartnNo ratings yet
- Estudo sobre arte abjetaDocument119 pagesEstudo sobre arte abjetaMatheus AhNo ratings yet
- Poetica Do Site Specific - TeseDocument230 pagesPoetica Do Site Specific - TesePedro CândidoNo ratings yet
- BORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDocument156 pagesBORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDaniel CisneirosNo ratings yet
- Harmonia CoercivaDocument11 pagesHarmonia CoercivaLuciana FerreiraNo ratings yet
- Repensando o Animado, Reanimando o Pensamento - Tim Ingold PDFDocument16 pagesRepensando o Animado, Reanimando o Pensamento - Tim Ingold PDFCícero PortellaNo ratings yet
- A Construção Da Imagens Na Pesquisa de Campo em AntropologiaDocument19 pagesA Construção Da Imagens Na Pesquisa de Campo em AntropologiaTucandeira UnderlineNo ratings yet
- Política Dos Afetos em Espinosa PDFDocument18 pagesPolítica Dos Afetos em Espinosa PDFLuísa TavaresNo ratings yet
- Deleuze Quatro Formulas KantDocument3 pagesDeleuze Quatro Formulas KantchurianaNo ratings yet
- Fragmento de "Monstrologia Reversa - Inexistência". Jota MombaçaDocument2 pagesFragmento de "Monstrologia Reversa - Inexistência". Jota MombaçaBruno De Orleans Bragança ReisNo ratings yet
- BERGSON Materia e Memoria FichamentoDocument6 pagesBERGSON Materia e Memoria FichamentoinfoFreeNo ratings yet
- A trajetória de Lygia Clark rumo ao paradoxo da percepção e sensaçãoDocument21 pagesA trajetória de Lygia Clark rumo ao paradoxo da percepção e sensaçãoSandro NovaesNo ratings yet
- Pode o Subalterno FalarDocument5 pagesPode o Subalterno FalarLaura Roratto FolettoNo ratings yet
- Curriculo Como Maquina DesejanteDocument10 pagesCurriculo Como Maquina DesejanteivlivsclbNo ratings yet
- A an-arquia que vem: Fragmentos de um dicionário de política radicalFrom EverandA an-arquia que vem: Fragmentos de um dicionário de política radicalNo ratings yet
- Trabalho - Estudos Complementares de Psicologia GeralDocument3 pagesTrabalho - Estudos Complementares de Psicologia GeralJeaneSouzaNo ratings yet
- Roteiro Turístico - 2019Document1 pageRoteiro Turístico - 2019JeaneSouzaNo ratings yet
- Cronograma de EstudosDocument1 pageCronograma de EstudosJeaneSouzaNo ratings yet
- Roteiro Turístico - 2019Document1 pageRoteiro Turístico - 2019JeaneSouzaNo ratings yet
- V28n4a06 PDFDocument14 pagesV28n4a06 PDFJeaneSouzaNo ratings yet
- Autorização de Uso de ImagemDocument4 pagesAutorização de Uso de ImagemJeaneSouzaNo ratings yet
- Reunião de LíderesDocument3 pagesReunião de LíderesJeaneSouzaNo ratings yet
- Relatório de Conclusão de Estágio SupervisionadoUFFDocument6 pagesRelatório de Conclusão de Estágio SupervisionadoUFFJeaneSouzaNo ratings yet
- Ofertas Godllywood 2017 Abril À JunhoDocument1 pageOfertas Godllywood 2017 Abril À JunhoJeaneSouzaNo ratings yet
- TextilDocument14 pagesTextilJeaneSouzaNo ratings yet
- Confeitaria ColomboDocument10 pagesConfeitaria ColomboJeaneSouzaNo ratings yet
- Medidas de líquidos e alimentos em xícaras e gramasDocument2 pagesMedidas de líquidos e alimentos em xícaras e gramasJeaneSouzaNo ratings yet
- Marina AbramovicDocument9 pagesMarina AbramovicPamela ZechlinskiNo ratings yet
- A atenção na oficina de cerâmicaDocument14 pagesA atenção na oficina de cerâmicaJeaneSouzaNo ratings yet
- 6 Ferramentas Chave para A Excelencia em GRCDocument16 pages6 Ferramentas Chave para A Excelencia em GRCroland nitscheNo ratings yet
- Economia UNIMARDocument147 pagesEconomia UNIMARAngelo eduardo pereira rosa EduaradoNo ratings yet
- Portifólio 10Document19 pagesPortifólio 10NiloAlvesPereiraNo ratings yet
- Jogo Da MigraçãoDocument33 pagesJogo Da MigraçãoKelly AdamsNo ratings yet
- Ciencias 7 Ano Vol 2 PDFDocument83 pagesCiencias 7 Ano Vol 2 PDFAdriana Bochembuzio100% (1)
- CDT - Araújo - SEFMGDocument1 pageCDT - Araújo - SEFMGJoão RibeiroNo ratings yet
- 22 de Novembro - Dia Do MúsicoDocument5 pages22 de Novembro - Dia Do Músicocamilacs09No ratings yet
- BAUDELAIRE TEXTO - O Pintor Da Vida ModernaDocument16 pagesBAUDELAIRE TEXTO - O Pintor Da Vida ModernaMiriamKarlaMachadoNo ratings yet
- Cartilha Execução OrçamentáriaDocument19 pagesCartilha Execução OrçamentáriaJesus RosaNo ratings yet
- Regulamento do Corpo de Bombeiros do RN define estrutura e funçõesDocument12 pagesRegulamento do Corpo de Bombeiros do RN define estrutura e funçõesSimon DárioNo ratings yet
- Corrente Proletária na EducaçãoDocument140 pagesCorrente Proletária na EducaçãoAlisson MartinsNo ratings yet
- Art. de Bajubá em Bajubá Onde É Que Vai DarDocument15 pagesArt. de Bajubá em Bajubá Onde É Que Vai DarEpaminondas ReisNo ratings yet
- Historia de Vida CARLA GONÇALVESDocument3 pagesHistoria de Vida CARLA GONÇALVESmarina machadoNo ratings yet
- A Oficial PDFDocument413 pagesA Oficial PDFMarcia S. R. CarneiroNo ratings yet
- Lei 8.112/90- Hipóteses de provimento, penalidades e direitos dos servidores públicosDocument18 pagesLei 8.112/90- Hipóteses de provimento, penalidades e direitos dos servidores públicosElizeu SilvaNo ratings yet
- Aula 04. Recrutamento e SeleçãoDocument5 pagesAula 04. Recrutamento e SeleçãoTatiane DaveNo ratings yet
- Vozes verbaisDocument14 pagesVozes verbaisAlex OliveiraNo ratings yet
- Informe RendimentosDocument1 pageInforme RendimentosAlexssandro LopesNo ratings yet
- Miguel PereiraDocument10 pagesMiguel PereiraFabianoFersantNo ratings yet
- 2 Hierarquia FuncionalDocument16 pages2 Hierarquia FuncionalJose Pereira(12LHCSE)No ratings yet
- A história e simbologia da acáciaDocument14 pagesA história e simbologia da acáciaWagner Cruz da Cruz100% (1)
- A Crise de 1954 e o Suicídio de Getúlio VargasDocument66 pagesA Crise de 1954 e o Suicídio de Getúlio VargasMarcusPierreNo ratings yet
- Portifólio - Fundamentos e Metodos - 3Document4 pagesPortifólio - Fundamentos e Metodos - 3Gustavo GonçalvsNo ratings yet
- Governo Do Estado de PernambucoDocument1 pageGoverno Do Estado de PernambucoGabriel FerreiraNo ratings yet
- Manual de Classificação Da Despesa - SCGE - 21Document252 pagesManual de Classificação Da Despesa - SCGE - 21Orçamento SASNo ratings yet
- Causalidade no Atomismo de Leucipo e DemócritoDocument10 pagesCausalidade no Atomismo de Leucipo e DemócritoglowsnNo ratings yet
- Termo de responsabilidade técnica para obras em Foz do IguaçuDocument1 pageTermo de responsabilidade técnica para obras em Foz do IguaçuMayara Marquezini OliveiraNo ratings yet
- Missa de 7o dia de falecimentoDocument3 pagesMissa de 7o dia de falecimentoJ.Rogerio72% (36)
- Fontes do Direito 40cDocument4 pagesFontes do Direito 40cMoises AlmeidaNo ratings yet
- Processo Civil - Teoria Das Normas Fundamentais Do Processo Civil (Caderno de Aprofundamento)Document10 pagesProcesso Civil - Teoria Das Normas Fundamentais Do Processo Civil (Caderno de Aprofundamento)Asdgxz DcvxzNo ratings yet