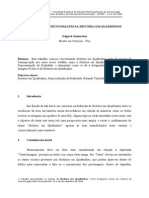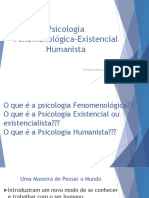Professional Documents
Culture Documents
O Espaco Como Matriz Epistemologica Na Comunicacao - Paulo Roberto Masella Lopes
Uploaded by
Selma Olli0 ratings0% found this document useful (0 votes)
24 views0 pagesOriginal Title
O Espaco Como Matriz Epistemologica Na Comunicacao_Paulo Roberto Masella Lopes
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
24 views0 pagesO Espaco Como Matriz Epistemologica Na Comunicacao - Paulo Roberto Masella Lopes
Uploaded by
Selma OlliCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 0
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAES E ARTES
PAULO ROBERTO MASELLA LOPES
O espao como matriz epistemolgica
na comunicao
So Paulo
2007
PAULO ROBERTO MASELLA LOPES
O espao como matriz epistemolgica
na comunicao
Dissertao apresentada Escola de Comunicao e
Artes da Universidade de So Paulo para obteno do
ttulo de mestre.
rea de concentrao: Teoria e pesquisa em
comunicao.
Orientador: Prof. Dr. Ciro J. Marcondes Filho.
So Paulo
2007
AUTORIZO A REPRODUO E DIVULGAO TOTAL OU PARCIAL
DESTE TRABALHO POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU
ELETRNICO PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA DESDE QUE CITADA
A FONTE.
Masella Lopes, Paulo Roberto.
O espao como matriz epistemolgica na comunicao / Paulo Roberto
Masella Lopes. So Paulo: P. R. Masella Lopes, 2007.
181 p.
Dissertao (Mestrado Programa de Ps-Graduao em Cincias da
Comunicao. rea de Concentrao: Teoria e Pesquisa em
Comunicao). Escola de Comunicaes e Artes da Universidade de So
Paulo.
Orientador: Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho.
1.conceito. 2. natureza. 3. corpo. 4. tcnica. 5. subjetividade. 6.
visibilidade. 7. acontecimento. I. Ttulo.
CDD 21.ed. 070
FOLHA DE APROVAO
Paulo Roberto Masella Lopes
O espao como matriz epistemolgica na comunicao
Dissertao apresentada Escola de Comunicao e
Artes da Universidade de So Paulo para a obteno
do ttulo de Mestre.
rea de Concentrao: Teoria e Pesquisa em
Comunicao.
Aprovado em:
Banca Examinadora
Prof. Dr. ___________________________________________________________
Instituio: _________________________________ Assinatura:_______________
Prof. Dr. ___________________________________________________________
Instituio: _________________________________ Assinatura:_______________
Prof. Dr. ___________________________________________________________
Instituio: _________________________________ Assinatura:_______________
DEDICATRIA
Este trabalho dedicado memria de todos lugares por onde estive e o
acontecimento da comunicao passou.
Este trabalho dedicado aos lugares que vim a conhecer porque, antes,
fora seduzido pela fora de suas imagens.
Este trabalho dedicado regio do Vale do Rio Preto na Serra da
Mantiqueira, um lugar onde possvel habitar.
Este trabalho dedicado a todos aqueles que estiveram ou esto presentes
na minha vida em todos esses lugares.
Acima de tudo, esse trabalho dedicado a todos os encontros que
fundaram um lugar em minha vida.
A todos os encontros e os desencontros que marcaram e deram sentido a
minha vida.
Porque nesses lugares onde eu habito.
AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho pela oportunidade que me ofereceu em
desenvolver meu projeto de pesquisa de forma incondicional e pelo encontro
que promoveu com a comunicao.
Ao Prof. Dr. Joo Maia pelo estmulo que sempre deu para que eu retornasse
vida acadmica.
Profa. Dra. Marilena Chau por acentuar meu gosto e admirao pela filosofia
durante minha graduao.
Profa. Dra. Lucrcia DAlessio Ferrara pela receptividade e interesse que
demonstrou pelo meu trabalho e pelas sugestes dadas na qualificao.
Profa. Dra. Dulclia Helena Schroeder Buitoni pela participao e sugestes
dadas na qualificao.
Ao Prof. Dr. lvio Rodrigues Martins, Profa. Dra. Maria Mnica Arroyo, ao
Prof. Dr. Mrio Miranda, ao Prof. Dr. Dennis de Oliveira e ao Prof. Dr.
Massimo Di Felice, pela oportunidade que me ofereceram de aprimorar meus
conhecimentos ao participar de suas aulas.
A Paulo Bontempi por sua dedicao junto ao CJE.
USP por ainda acreditar e promover uma educao pblica, autnoma, e de
qualidade, apesar das vozes dissonantes.
Ao CNPq pelo estmulo pesquisa acadmica por meio da concesso de bolsa
em meu ltimo ano de vnculo ps-graduao.
Aos seguintes amigos que, em nveis e intensidades diferentes, contriburam
para a realizao deste trabalho: Adriana Candotti, Ana Elisa Viviani, Carolina
Marinho, Cristina Pontes Bonfiglioli, Daisy Perelmutter, Eliany Salvatierra
Machado, Jorge Landmann, Ktia Prates, Laura Menegon Zacarelli, Lili, Marco
Toledo Assis Bastos e Ricardo Moura.
Aos meus pais pelo apoio e compreenso.
A Mrio Rodrigues Quero pelo companheirismo.
[...] De onde nem tempo nem espao,
Que a fora mande coragem para a gente te dar carinho,
Durante toda viagem que realizas no nada,
Atravs do qual carrega o nome da tua carne.
Terra, por mais distante,
O errante navegante,
Quem jamais te esqueceria.
Terra Caetano Velloso
[...] Vou voltar, sei que ainda vou voltar,
No vai ser em vo
Que fiz tantos planos de me enganar
Como fiz enganos de me encontrar
Como fiz estradas de me perder
Fiz de tudo e nada de te esquecer
Sabi Tom Jobime Chico Buarque
gua de beber, bica no quintal, sede de viver tudo
e o esquecer era to normal que o tempo parava,
tinha sabi, tinha laranjeira , tinha manga-rosa, tinha o sol da manh
e na despedida, tios na varanda, jipe na estrada, e o corao l.
Fazenda Nelson ngelo / Geraes: Milton Nascimento
E a cidade, chamam-lhe Lisboa
Mas s o rio que verdade,
S o rio, a casa de gua, casa da cidade em que vim a nascer.
Tejo, meu doce Tejo, corres assim, corres a milnios sem te arrepender
s a casa da gua onde h poucos anos eu escolhi nascer.
Tejo Madredeus
Come to me, Ill take care of you, protect you; come, come []
You dont have to explain, I understand.
Come to me Bjrk
Home, home again; I like to be here when I can;
When I come home cold and tired; Its good to warm my bones beside the fire.
Breathe in the air Pink Floyd
radio-tour information/ transmission tlvision/ reportage sur moto/ camera video et foto/ les
equips prsentes/ le depart est donn/ les tapes sont brules/ et la course est lance [] la
montaigne les valles/ les grands cols les dfils/ la flamme rouge dpasse/ maillot jaune
larrive/ radio -tour information/ transmission television/ reportage sur moto/ camera micro et
foto.
Tour de France Kraftwerk
RESUMO
MASELLA LOPES, Paulo Roberto. O espao como matriz epistemolgica na
comunicao. 2007. 181p. Dissertao de mestrado Escola de Comunicaes e Artes,
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2007.
Esta dissertao sustenta a hiptese de que o espao possa servir como
matriz epistemolgica comunicao a partir de duas frentes de anlise: A primeira
parte do impacto causado pelas tecnologias da comunicao na constituio do espao
que, ao romperem com o modelo anterior da modernidade, teria m aberto uma crise no
seu sentido. Crise essa que parte da crena de que a virtualidade do espao encontra-se
exclusivamente nos meios tcnicos e no fundamentalmente no pensamento ou nas
formas de subjetividade que dele decorrem. A outra motivao parte da premissa de que
a prpria epistemologia, j em sua origem grega, possui uma matriz espacial ao
promover a ciso do mundo pela separao entre discurso (logos) e natureza (physis).
Espacializado, o pensamento capaz de demarcar as fronteiras entre as coisas , fazendo
da natureza um amontoado de objetos cognoscveis . Permite-se assim, conceber uma
interioridade da conscincia e presenciar uma objetificao do mundo que
progressivamente acentuada pelo poder da tcnica em criar um discurso autnomo que
no se refere mais ao seu criador seno a si prprio. Por outro lado, esse procedimento,
que faz da conscincia o lugar de inteleco do mundo, leva a um esquecimento do
corpo como interface cognitiva com o mundo, deixando de ser coisa espacializante para
ser, tal como quaisquer objetos, coisa espacializada.
Quanto comunicao, pressupomos dois planos para sua compreenso:
como meio tcnico e como acontecimento . Como meios tcnicos de comunicao
entendemos todas as formas de comunicao que se valem de um aparato tcnico para se
realizarem. Todavia, esta definio, por mais convencional que seja e justamente por
isto , no nos exime das dificuldades que decorrem de arbitrar sobre o que seja um
aparato tcnico ou mesmo a prpria comunicao. No que diz respeito tcnica, pode-se
sempre argumentar que a escrita ou mesmo a linguagem configurem-se como tcnicas,
deslocando e atenuando o impacto que os meios tcnicos de comunicao possam ter na
contemporaneidade. Portanto, buscamos, alm das estruturas da linguagem, uma
especificidade para os meios tcnicos de comunicao que justifiquem uma mudana na
ordem poltica, social e, muito provavelmente, epistemolgica. Acreditamos que essa
especificidade dos meios tcnicos de comunicao possa ser encontrada em sua
capacidade de operar um recorte espao-temporal na natureza. Quanto ao espao,
pensamos que esse recorte possa ser dado pela visibilidade, pela proximidade e pela
continuidade que os meios tcnicos possibilitam manipular na ordem natural da
percepo dos eventos. Mediante uma ordem tcnica, os eventos passam agora a ser
passveis de (re) produo no mais segundo a presena do corpo como mediador, mas
de um aparelho tcnico como interface. Embora cada meio tcnico possua sua
especificidade, toda a comunicao realizada atravs desses meios parece obedecer a
essa nova ordem. Se os meios tcnicos possuem essa especificidade, sugerimos que a
comunicao como acontecimento tambm esteja submetida a esta matriz espacial na
medida em que para realizar-se dependa da subjetividade, da criao de um espao
comum de acolhimento e pertencimento.
Palavras-chave: conceito, natureza, corpo, tcnica, subjetividade, visibilidade, distncia,
acontecimento.
ABSTRACT
MASELLA LOPES, Paulo Roberto. The space as an epistemological matrix in
communication. 2007. 181p. Masters degree dissertation Escola de Comunicaes e
Artes, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2007.
This dissertation sustains the hypothesis that space operates as an
epistemological matrix in communication processes considering two points of view: the
first comes from the impact caused by communication technologies in the organization
of space which, by breaking with the previous model of modernity, might have opened a
crisis in its meaning. Crisis that is based on the belief that space virtuality finds itself
exclusively in the technical means, and not fundamentally in the thought or in the forms
of subjectivity that derive from it. The second point of view addresses the premise that
epistemology itself, already in its Greek origin, possess a spatial matrix since it splits the
world into rational speech (logos) and nature (physis). Spacing the thought makes
possible to demarcate the borders between things, transforming nature into a mass of
cognizable objects. Consequently, it makes possible to conceive the consciousness as
interiority as much as an objectification of the world, which is intensified by the power
of technique in creating an autonomous speech that no longer refers to its creator but to
itself. On the other hand, that procedure leads to a forgetfulness of the body as a
cognitive interface with the world becoming a spatialized thing instead of spatializing
thing.
Concerning communication, we presume two levels to achieve its
understanding: as technical means and as an event . As technical means, we understand
all the forms of communication that make use of a technical apparatus to take place.
However, this definition, although conventional, does not exempt us from the difficulties
of defining whatever a technical apparatus is or even what communication is. It is
always possible to argue that language is a technique, displacing the impact that
technical means of communication may have nowadays. Therefore, we seek, beyond the
structures of language, specificity for technical means of communication that justify a
change in the social, political and epistemological order. We believe that specificity can
be found in the capacity of technical means to operate a space-time framework of nature.
Regarding space, we think that this framework idea can be given by the visibility,
proximity and continuity that technical means manipulate in the natural order of the
events perception. By means of a technical order, events become possible through a
technical device as the main interface with the world instead of the presence of the body
as a mediator. Although each technical medium holds its specificity, communication
carried out through those means looks to obey to that new order. If technical means hold
that specificity, we suggest that communication as an event is also submitted to this
spatial matrix since it depends on subjectivity to take place. Thus, it depends on the
construction of a common space in a sense of belonging and shelter.
Keywords: concept, nature, body, technique, subjectivity, visibility, distance, event.
SUMRIO
SUMRIO
INTRODUO 01
PARTE I: A MATRIZ EPISTEMOLGICA.
I.1 ESTRATGIAS DE PODER. 05
I.2 A TRAMA DOS CONCEITOS E A REDE DOS SENTIDOS. 11
I.2.1 O CONCEITO. 16
I.2.2 O MOVENTE. 19
I.2. 3 O ILIMITADO. 23
I.3 O CORTE EPISTMICO. 28
I.3.1 O ESPAO. 37
I.3.2 O CORPO. 40
I.3.3 A NATUREZA. 45
I.4 SUBJETIVIDADES. 51
PARTE II: O ESPAO E SEUS MOVIMENTOS DE TERRITORIALIZAO E DESTERRITORIALIZAO.
II.1 APRESENTANDO O ESPAO. 59
II.2 TERRITORIALIZAO E NOMADISMO. 63
II.2.1 TERRITRIO E PODER. 68
II.2.2 O ETERNO RETORNO DO TERRITRIO. 72
II.3 AS FORMAS DO ESPAO. 77
II.3.1 A GEOMETRIZAO DO ESPAO. 77
II.3.2 A LIQUEFAO DO ESPAO. 85
II.4 (DES)CONSTRUIR O ESPAO: UMA QUESTO EPISTEMOLGICA. 92
II.4.1 O OLHO E O CORPO. 100
PARTE III: COMUNICAO: ENTRE O ESPAO VISVEL DO MEIO TCNICO E O INVISVEL DO ACONTECIMENTO .
III.1 TCNICA. 113
III.1.1 OBJETIFICAO DO MUNDO. 114
III.1.2 A REPRODUTIBILIDADE DA IMAGEM. 121
III.1.3 A CONDIO ESPACIAL. 129
III. 2 COMUNICAO E PODER. 136
III. 2.1 O PRXIMO E O DISTANTE. 138
III.2.2 A VISIBILIDADE E A INVISIBILIDADE. 153
III.2.3 O CONTNUO E O CONTGUO. 164
III.3 COMUNICAO COMO ACONTECIMENTO. 175
REFERNCIA BIBLIOGRFICA ____
INTRODUO
1
INTRODUO
As motivaes que nos levam a crer que o espao seja uma matriz epistemolgica na
comunicao surgem a partir de duas frentes de anlise. A primeira parte do impacto causado
pelas tecnologias da comunicao na constituio do espao. Ao romperem com o modelo
anterior da modernidade, que se fundava sobre a medida e projetava-se sobre a ntida demarcao
de territrios, tais tecnologias teriam aberto uma crise no sentido do espao. Crise essa que deriva
da crena de que a virtualidade do espao encontra-se exclusivamente nos meios tcnicos e no
fundamentalmente no pensamento ou nas formas de subjetividade que dele decorrem. A outra
frente de anlise parte da premissa de que a prpria epistemologia, j em sua origem grega,
possui uma matriz espacial ao promover a ciso do mundo pela separao entre discurso ( logos) e
natureza (physis). Espacializado, o pensamento racional capaz de demarcar as fronteiras mais
ou menos rgidas entre as coisas, fazendo da natureza um amontoado de objetos cognoscveis.
Permite-se assim, conceber uma interioridade da conscincia e presenciar uma objetificao do
mundo que progressivamente acentuada pelo poder da tcnica em criar um discurso autnomo
que no se refere mais ao seu criador, seno a si prprio. Por outro lado, esse procedimento, que
faz da conscincia o lugar de inteleco do mundo, leva a um esquecimento do corpo como
interface cognitiva com o mundo, deixando de ser coisa espacializante para ser, tal como
quaisquer objetos, coisa espacializada. O espao cumpre, portanto, uma dupla funo neste
estudo: objeto de anlise atravs do qual observamos uma mudana histrica no seu conceito
que vai da materialidade imaterialidade; e matriz epistemolgica na medida em que permite
tanto objetificar o mundo seccionando a natureza, como possibilita uma maneira de estar e
habitar o mundo.
2
mediante essa alternncia de modos de entendimento do espao que almejamos no
s um aparato metodolgico que opere como corte genealgico, como tambm epistemolgico.
Como corte genealgico, buscamos o sentido da noo de espao fundamentalmente atravs de
dois perodos histricos: a modernidade e a ps-modernidade
1
, em que a materialidade e a
imaterialidade situam-se respectivamente como modelos de seu entendimento. Como corte
epistemolgico, utilizamos o espao como matriz do prprio processo cognitivo ao partirmos do
pressuposto de que, em sua origem, a episteme surge a partir de uma fratura da natureza que
ainda que de forma incipiente disponibiliza dois plos do conhecimento: o sujeito e o objeto.
Quanto comunicao, pressupomos igualmente dois planos para sua compreenso:
como meio tcnico e como acontecimento. Como meios tcnicos de comunicao entendemos
todas as formas de comunicao que se valem de um aparato tcnico para se realizarem. Todavia,
esta definio, por mais convencional que seja e justamente por isto , no nos exime das
dificuldades que decorrem de arbitrar sobre o que seja um aparato tcnico ou mesmo a prpria
comunicao. No que diz respeito tcnica, pode-se sempre argumentar que a escrita ou mesmo
a linguagem configurem-se como tcnicas, deslocando e ao agir assim atenuando o impacto
que os meios tcnicos de comunicao possam ter na contemporaneidade. Afinal, se a escrita e a
linguagem, por exemplo, forem efetivamente tcnicas de comunicao, muito do calor do debate
atual sobre a onipresena da mdia
2
no mundo globalizado perderia sua intensidade diante da
1
Ao longo deste estudo, o termo modernidade, quando por ns utilizado, deve ser entendido como perodo que se
inicia com o cartesianismo e finda com a crise da razo em meados do sculo XX, momento este que inaugura
aquilo a que chamamos de ps-modernidade. Todavia, a rigor, devemos compreender ambos os termos antes como
discursos do que como perodos histricos.
2
Ao longo deste estudo, no feita uma distino rigorosa entre mdia(s) e meios tcnicos de comunicao.
Entendemos por meios tcnicos de comunicao todas as formas de comunicao mediadas por um aparelho tcnico
que incluem do telefone Internet, passando pelo rdio e televiso. Trata-se de uma definio mais tcnica, enquanto
a palavra mdia ou mdias , de uso generalizado em nossa cultura, possui uma conotao mais social, institucional.
Senso comum, ambas definies implicam no polmi co conceito de cultura de massa, j que supem a difuso de
informaes em larga escala. Todavia, as dificuldades em conceituar o termo cultura de massa aumentam quando
3
constatao de que a sociedade sempre viveu sob o severo regime dos meios e modos de
produo da comunicao. Dizer que as mdias fornecem-nos a pauta de nossa comunicao por
mais cotidiana que esta seja, das discusses polticas s amorosas, dos temas macro aos micro-
sociais, parece-nos ainda extremamente relevante, assumindo todas as premissas e conseqncias
que a teoria crtica nos legou e ainda mobiliza nossas reflexes. Em outras palavras, afirmar que a
racionalidade tcnica seja a racionalidade da dominao em absoluto soa-nos anacrnico.
Todavia, essa racionalidade tcnica, que os tericos da Escola de Frankfurt
3
pontuaram, tem uma
especificidade histrica que no se confunde com essa viso digamos mais estruturalista que
sugere que escrita e linguagem constituam-se em tcnicas de comunicao. Conseqentemente,
ao admitirmos que, no limite, comunicao e linguagem se confundem, estaramos esvaziando a
teoria crtica de seus pressupostos histricos, j que a prpria estrutura tcnica da linguagem
carregaria o propsito de uma dominao na medida em que opera sob uma ordem do discurso.
Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdies que o
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligao com o desejo e com o poder. Nisto no
h nada de espantoso, visto que o discurso como a psicanlise nos mostrou no
simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; , tambm, aquilo que objeto
do desejo; e visto que isto a histria no cessa de nos ensinar o discurso no
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominao, mas aquilo por que,
pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. (FOUCAULT, 2004b, p.10).
Portanto, se quisermos buscar uma especificidade para os meios tcnicos de comunicao que
justifique uma mudana na ordem poltica, social e, muito provavelmente, epistemolgica,
precisamos encontr- la alm das estruturas da linguagem. E, nesta busca, talvez, descobrir um
novo conceito para a comunicao.
consideramos a linguagem como meio ou tecnologia de comunicao; alm de no ser menos rduo estabelecer um
critrio rigoroso para o que venham a ser as novas ou velhas tecnologias da comunicao a despeito da Internet.
Neste estudo, como a nfase recai sobre a questo tcnica e espacial, preferimos adotar o termo meios tcnicos de
comunicao. No entanto, no decorrer do trabalho, sempre que houver alguma aluso ao termo mdia ser por
considerarmos sua conotao mais justa ao contexto em que for mencionado.
3
Referimo-nos aqui basicamente a Theodor Adorno e Max Horkheimer.
4
Acreditamos que essa especificidade dos meios tcnicos de comunicao possa ser
encontrada em sua capacidade de operar um recorte espao-temporal na natureza. Quanto ao
espao, pensamos que esse recorte possa ser dado pela visibilidade, pela proximidade e pela
continuidade que os meios tcnicos possibilitam manipular na ordem natural da percepo dos
eventos. Mediante uma ordem tcnica, os eventos passam agora a ser passveis de (re) produo
no mais segundo a presena do corpo como mediador, mas de um aparelho tcnico como
interface. Embora cada meio tcnico possua sua especificidade, toda comunicao realizada
atravs desses meios parece obedecer a essa nova ordem. Quanto comunicao como
acontecimento acreditamos tambm que esteja submetida a uma matriz espacial j que para
realizar-se dependa da subjetividade, da criao de um espao comum de acolhimento e
pertencimento.
Se a percepo espacial um elemento seminal comunicao atravs do controle
das distncias que os seus meios tcnicos operam, tambm o atravs do corpo, j que as
afinidades possveis entre comunicao e espao no se do exclusivamente por meio das
tcnicas, mas atravs de outrem. Antes que a tcnica tivesse criado um corpo para si, o corpo
humano j era presente ao definir um espao para si. Se h uma poltica nas relaes entre os
meios tcnicos e a sociedade, h igualmente uma poltica que permeia a comunicao entre os
corpos que no mediada s pela palavra, pela escrita ou pelo discurso, mas tambm pelo
silncio, pelos gestos e pelo indizvel; por um espao de subjetividade que os meios tcnicos
colocam sistematicamente margem, em uma zona de invisibilidade. Alm e aqum da
linguagem, comunicao como acontecimento talvez caiba uma outra possibilidade que no a
discursiva, que de fundir os corpos, de antecipar as falas, de reconstruir os limites, e de no
mais transmitir o mesmo e sim de acolher a diferena.
PARTE I
A MATRIZ EPISTEMOLGICA
5
I.1 ESTRATGIAS DE PODER.
Para se atingir os objetivos de uma pesquisa, o procedimento metodolgico no
representa apenas um modo de aproximao com o objeto de estudo, mas tambm a prpria
condio de sua possibilidade. A crena positivista na autonomia do objeto no deve passar
inclume crtica do prprio processo investigativo pelo qual pretende-se cerc- lo. As
dificuldades que se apresentam ao pensamento na captura do objeto sempre se mantiveram dentro
do aspecto cognitivo enquanto possibilidades de conhecimento. Kant sabia disso, mas, como diria
Nietzsche, talvez no tivesse colocado a questo com a crtica necessria. A esse respeito,
Deleuze (1976, p.73) afirma: Kant concebeu a crtica como uma fora que devia ter por objeto
todas as pretenses do conhecimento e verdade, mas no o prprio conhecimento, no prpria
verdade. Faltava, portanto, fazer a crtica do prprio conhecimento, da prpria episteme, e no
apenas de suas condies. Faltava colocar em dvida o prprio objeto: no suas propriedades ou
atributos, suas qualidades intrnsecas, sua essncia; mas suas zonas limtrofes, que o fazem
existir, que o possibilitam a vir a ser. Conseqentemente, antes que se possa traar um mtodo de
captura do objeto, preciso seguir a rede na qual este se constitui e o plano onde esta se amarra.
Provisoriamente podemos pensar que temos aqui dois objetos de estudo: o espao e a
comunicao; mas entendemos que aquilo que possibilita a prpria captura do objeto seja antes
uma relao de foras que, ao espacializar-se, constitui uma malha de poder que engendra espao
e comunicao. Um poder que no se localiza em nenhum ponto especfico da estrutura social,
mas atua atravs de uma rede de mecanismos que alimenta o saber cientfico, j que a cincia
(episteme), que funda o objeto, no deixa de sempre pressupor uma motivao poltica. Nesse
sentido, no h como distinguir cincia de ideologia, j que no se pode arrogar ao conhecimento
6
a neutralidade objetiva do universal, mas, ao contrrio, constatar sua inexorvel dependncia de
uma estrutura social sujeita sempre s condies de sua possibilidade histrica, com suas
continuidades e rupturas.
Todo saber poltico. No porque irremediavelmente seja absorvido pelo poder
central do Estado, mas porque tem sua gnese nas prticas sociais, na posse do objeto, no
domnio de uma poro do espao. Todavia, se o pensamento no cabe em sistemas fechados,
no busca encontrar verdades no cu das origens nem no horizonte do porvir, no pretende
explicar os fenmenos confundindo as causas com seus efeitos, nem diluir a singularidade dos
acontecimentos na necessidade ou em uma continuidade, uma sada possvel seria encontrarmos
no propriamente uma nova teoria para pensar o mundo segundo um modelo ideal, mas, ao
contrrio, perseverarmos na crtica que no permite pensar um objeto sem recorrer a uma
construo, no limite, sempre arbitrria, j que o saber no feito para compreender , mas para
cortar
4
. (FOUCAULT, 2004a, p.28). Conseqentemente, no queremos esboar um mtodo sem
que estejamos convictos das implicaes cognitivas que coloca em jogo, ainda que desse queira
ocultar-se, dissimulando-se em meio a proposies que, no limite, sempre se referem a um estado
de coisas j institudo, consolidado e determinado historicamente. Isso implica em no
recusarmos a singularidade do acontecimento que, embora guarde vnculos com o estado de
coisas, no raramente desprezado nas pesquisas cientficas por uma certa ablepsia que no lhes
permite captar a invisibilidade de certos fenmenos. Sem dvida, quando se busca a excelncia
de resultados pela funcionabilidade e eficincia de um sistema, como encontramos, por exemplo,
no procedimento cientfico, ater-se a detalhes que se constituem em desvios pode
4
A concepo de uma teoria (theoria) no deve ser exatamente a que os gregos propuseram de contemplao da
realidade, mas tal como Foucault (2004a, p.XI), entendemos que: [...] toda teoria provisria, acidental,
dependente de um estado de desenvolvimento da pesquisa que aceita seus limites, seu inacabado, sua parcialidade,
formulando conceitos que clarificam os dados organizando-os, explicitando suas interrelaes, desenvolvendo
implicaes mas que, em seguida, so revistos, reformulados, substitudos a partir de novo material trabalhado.
7
comprometer todo esforo empreendido ao longo da pesquisa na busca de um modelo que possa
ser replicado ao infinito. Todavia, a questo de mtodo no se constitui no cerne do problema.
Parece-nos haver uma interrogao que, se no lhe anterior, , ao menos, premente. A questo
parece ser que o objeto sempre se mostrou muito evidente para todo o pensamento, mesmo
quando parecia no o ser, desde que o saber se transformou em busca da verdade, em episteme.
Fala-se nas cincias da comunicao como um campo especfico do conhecimento.
Este um ponto crucial e, talvez, tenhamos que fazer algumas consideraes antes de prosseguir.
Vemos aqui ao menos duas redues: primeiro: a do saber em cientfico, depois: a da
comunicao em uma cincia. Isso no pouco, posto que por cincia possamos deduzir que a
comunicao adota uma metodologia herdada do procedimento cientfico. No se trata de
distrairmo-nos com uma questo semntica, mas a prpria reduo do saber em cientfico
pressupe outros saberes em zonas de excluso. Acreditamos que haja, ao menos, dois grandes
campos distintos de anlise no fenmeno da comunicao: como meio tcnico e como
acontecimento. Dois espaos de pesquisa que se distinguem embora tambm se misturem. Se a
questo da tcnica na comunicao propiciou o surgimento de uma cincia da comunicao,
pensamos que seja necessrio investigar quais os instrumentais de anlise este campo do saber
apropria-se para cercar seu objeto e no que ele difere dos modos de compreenso da comunicao
como acontecimento. Paralelamente, percebemos que a noo de espao construda desde a
modernidade entra em crise a partir da disseminao no uso das tecnologias da comunicao na
contemporaneidade, o que nos permite supor uma sincronia entre estes dois eventos. Nossa
aposta reside na hiptese de que o espao atue como uma matriz epistemolgica na comunicao,
j que esta supe um espao comum de pertencimento e acolhimento como condio de sua
possibilidade. Todavia, ao forjar um meio tcnico de cognio do mundo, destituindo o corpo de
8
uma certa primazia que realiza na percepo do mesmo, os meios de comunicao estariam
sistematicamente relegando invisibilidade inmeros acontecimentos.
Os acontecimentos so talvez invisveis porque so como que fascas, das quais no
podemos captar sua instantaneidade por circularmos demais diante de objetos to visveis,
habituando-nos a sua presena ostensiva. Mas, por vezes, inversamente, tambm so invisveis
esses prprios objetos aos quais nos deparamos cotidianamente que, de to visveis, passam
desapercebidos por ns. Estranho paradoxo esse que nos confunde o instituinte e o institudo, os
acontecimentos e o estado de coisas, a diferena e a repetio. A obsesso pelo objeto
inexoravelmente cindiu o mundo e nos cindiu, ou ainda, essa clivagem entre o interior e o
exterior s nos faz enxergar objetos. Nessa perspectiva espacial que se move entre um dentro e
um fora, nada escapa a nossa vontade de ordenar o caos. Concorde-se ou no com Kant, quando
coloca o tempo e o espao como categorias apriorsticas do entendimento, seu mrito ter
colocado a questo de que nada possa escapar a nossa compreenso que no esteja sujeito a essas
duas variveis e, por isso, sempre retornamos a sua filosofia ainda que seja para contest- la.
Questo metafsica por excelncia, ela no sucumbe com a histria quando esta recoloca, com a
cincia contempornea, a relatividade do tempo e do espao, e atualiza-se com as novas
tecnologias da comunicao quando anunciam que o tempo aniquila o espao. Mas tal assertiva
e isso fundamental em nosso estudo parte do pressuposto de que o espao seja algo
previamente dado, como uma substncia dotada de propriedades intrnsecas, um objeto passvel
de representao. Todavia, pensamos que o seu sentido no se esgote em sua materialidade e
mensurabilidade. Pensamos que, como matriz epistemolgica, o espao pressuponha haver,
simultaneamente a qualquer conhecimento possvel, a manifestao de uma espacialidade que
nos permite fundar os objetos, tornando-os visveis, j que, antes de sua evidncia ou
representao, os objetos precisam estar disponveis para nossa captura.
9
O apelo ostensivo filosofia neste estudo no tem como propsito eleger um modelo
explicativo, nem se apoiar em um mtodo seguro, nem introduzir um sistema de idias como
legtimo, assentando nossas proposies em um coerente jogo de perguntas e respostas. Ao
contrrio, o apelo filosofia, antes aquele percebido por Merleau-Ponty
5
quando afirma que
algum perder a relao com a filosofia se deixar de interpelar o mundo, os homens e a si
mesmo, dando assentimento imediato a eles, pois quando o fizer, viver na vida decente dos
grandes sistemas. A filosofia, aqui, revela-se como um quadro de inconformismo.
Inconformismo que, justamente, no se contenta em derivar da crise contempornea do saber
como um estado de no-filosofia a partir do qual devssemos ou apegar-nos ao passado sob a
condio de lament- lo ou reviv- lo, ou destru- lo mediante as facilidades de uma fria
iconoclasta que a tudo critica e nada afirma. Mais uma vez, a posio de Merleau-Ponty parece
esclarecedora: como ignorar que o movimento que anima o trabalho da filosofia est sempre a
desfazer o tecido da tradio rompendo o fio de uma continuidade apaziguadora?. Movimento
esse que interroga a experincia da prpria filosofia e a cegueira da prpria conscincia porque
se volta para o mistrio que faz o silncio sustentar a palavra, o invisvel sustentar a viso e o
excesso de significaes sustentar o conceito. Trata-se de ver na contingncia, no silncio, no
no-dito, no mistrio, a prpria condio de uma viso metafsica do mundo e no mais nas
certezas trazidas pelas idias de razo, natureza e histria, cuja positividade permitia o
surgimento de duplos imaginrios e igualmente positivos: a irrazo, a vida e a disperso dos
acontecimentos.
A filosofia aqui se faz presente no s para mostrar qual caminho no desejamos
percorrer, mas tambm para expressar uma desordem interior que no se satisfaz com a
5
Cf. CHAU, 1981, p.182-190.
10
petrificao dos conceitos institudos em modelos e sistemas de entendimento. Se por um lado,
temos que ser cautelosos com o risco das supersties tal qual como o foi a filosofia grega, ao
recusar o discurso mitolgico, e a filosofia moder na, ao se afastar da intolerncia religiosa , por
outro, temos que igualmente ter cuidado com os mitos contemporneos que a filosofia, entendida
e confundida como cincia, promoveu por toda modernidade. A filosofia fundamentalmente
incita-nos a pensar, a nos colocar em marcha, em movimento. Que desse movimento que busca
ordenar todo esse caos resulte em territrios seguros no podemos esquivar-nos, mas tambm no
podemos solapar nossos movimentos de fuga, de procura por novas aventuras, novos sentidos.
Outra vez: no se trata de escolher entre um ou outro, nem de procurar por uma sntese, um
resultado dessa tenso; mas de mergulhar no movimento de perturbao, na velocidade do
pensamento.
Parte substancial de nosso empenho demover as bases sobre as quais os modelos do
saber cientfico constituem-se, criando um domnio de poder para si, uma zona de incluso que
exclui toda diferena e expurga o acontecimento. Se os conceitos guardam uma verdade no
porque de fato as tenham encontrado, mas porque delas precisam para se diferenciar da
complexidade do caos. Se dos conceitos propagam-se modelos de entendimento, preciso deles
duvidar j que no se possa deles afirmar que sejam imutveis e perenes, ao contrrio, eles
transformam-se por toda parte, a cada momento que se permita vislumbrar o novo e o diferente.
A permanncia, que, com efeito, encontra-se por toda parte, antes um estratagema que uma lei
universal e, aqui, reside todo valor da crtica
6
.
6
Enquanto para Kant, utilizando-se do sentido grego da palavra, a crtica o estudo das possibilidades do
conhecimento verdadeiro, para Nietzsche a crtica dirigi-se prpria noo de conhecimento e verdade. Nietzsche
determinou a tarefa da filosofia quando escreveu: os filsofos no devem mais contentar-se em aceitar os conceitos
que lhes so dados, para somente limp-los e faz-los reluzir, mas necessrio que eles comecem por fabric-los,
cri-los, afirm-los, persuadindo os homens a utiliz -los. At o presente momento, tudo somado, cada um tinha
confiana em seus conceitos, como num dote miraculoso vindo de algum mundo igualmente miraculoso, mas
11
I.2 A TRAMA DOS CONCEITOS E A REDE DOS SENTIDOS.
O conceito pode ser provisoriamente entendido com um elemento paradigmtico
7
que
sustenta uma srie de enganos e iluses do conhecimento em sua pretenso de atingir o absoluto e
o universal. A paralisao de um processo de consolidao de um objeto que vai do vago ao
certo, do borrado ao preciso, da metfora idia, findando como uma pedra, slida e densa, a
partir da qual se constri o edifcio da racionalidade. Este movimento de aproximao do sujeito
que visa capturar uma verdade que habitaria as coisas desde sempre, esgotando- lhes os sentidos
possveis em um tempo e espao nicos, solapa os mltiplos devires atravs dos quais essas
coisas vm a ser, ao atribuir- lhes uma identidade pela diferenciao de uma parte de um todo
indiferenciado. Isso remete-nos a uma arte do tornar o visvel invisvel, a uma tcnica de
apreenso. preciso que primeiro as coisas venham luz para que seja possvel agarr-las, mas
depois preciso ocult- las: uma arte do ilusionismo, uma tcnica de dominao.
A idia de captura do objeto apresenta ento dois problemas iniciais, quais sejam: a
de que existe efetivamente um objeto a ser apreendido e a de que essa apreenso seja possvel.
Neste caso, h concordncia por quase toda histria da filosofia, tendo, contudo, discordncias
quanto aos modos e aos resultados deste procedimento. No entanto, a possibilidade de que haja
incontestavelmente esse objeto raramente questionada pela filosofia racionalista, que o toma
por pressuposto motivo, alis, pelo qual funda-se uma epistemologia; uma suposio na qual a
razo baseia-se em sua faculdade de inteleco do mundo, cuja forma de apropriao dada pelo
conceito, enquanto manifestao de uma essncia que, inevitavelmente, guarda um carter
necessrio substituir a confiana pela desconfiana, e dos conceitos que o filsofo deve desconfiar mais.
(DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.13-14).
7
Para Deleuze e Guattari, contudo, o conceito um elemento sintagmtico por justamente no ter um carter
ontolgico como poderemos observar nos prximos captulos.
12
ontolgico
8
. Ontologia que, por sua vez, exprime-se atravs da noo de identidade
9
. Trata-se de
um raciocnio circular em que o conceito e a essncia escondem-se reciprocamente, garantindo a
prpria condio do conhecimento.
Se por um lado, a trama conceitual reside na eliminao das diferenas pela
imposio de uma identidade, a produo de sentido busca, diversamente, a manifestao da
diferena no indiferenciado. Enquanto os conceitos prestam-se produo de enunciados
rigorosos que aspiram universalidade, os sentidos abrem-se diversidade. Trata-se de uma
questo de autoridade e legitimao que a razo proclama ao proferir enunciados supostamente
verdadeiros, que, por definio, no comportam posies dissonantes. Essa dominao que o
racionalismo, em sua lgica incondicional, exerce no pensamento ocidental marca profundamente
uma epistemologia que se funda no desprezo pela alteridade e na negao do movimento ao
cindir o mundo num campo estvel onde habitam sujeitos e objetos
10
.
A razo, contudo, sofre um vigoroso golpe com Nietzsche (1978), que a fratura em
suas bases ontolgicas. Aqui, a pertinncia de Nietzsche est em sua crtica da vontade de
verdade
11
com que a filosofia teria se contaminado a partir de Scrates. Filosofia essa que, para
8
O conceito, confundido com idia, ou modelo ideal, desde Plato, guarda um carter ontolgico que alvo de
crticas nesse estudo. Contudo, em certas vertentes do pensamento filosfico, como no caso do estoicismo grego, do
nominalismo medieval e na lingstica, o conceito tambm poderia ser entendido como um signo ou uma
representao lingstica que mantm uma relao significacional com os objetos do conhecimento, sem, contudo,
guardar aspectos ontolgicos.
9
Segundo Aristteles, a relao necessria entre dois termos de uma proposio que possuem a mesma substncia, a
mesma essncia.
10
A histria da civilizao ocidental a prpria histria da luta pela auto-imposio do racionalismo como modo
dominante de pensar. Em todo seu transcorrer ocorreu o conflito entre as vises de mundo que apostavam na
estabilidade, na consolidao, na cristalizao de fenmenos, processos e desenvolvimentos, e a perspectiva do
movimento, da mutabilidade, da permanente transformao. Plato o primeiro - como chamou ateno Nietzsche
em sua histria de um erro - a separar subjetividade de objetividade, apontando a existncia de uma razo acima de
ns. Seu modo de pensar e a ruptura entre o sujeito pensante e a coisa pensada vo encontrar seu desenvolvimento
mais avanado nos pensadores ps-renascentistas, que apostam na matematizao do real. (MARCONDES FILHO,
Razo durante ).
11
Essa pretensa potencialidade da razo em firmar um telos, que solapa toda possibilidade do imprevisvel, e
estabelecer uma origem fundamentada na idia de um Bem, serve de alvo aos ataques de Nietzsche (1978, p.48)
13
conhecer o mundo, necessita antes estabiliz- lo, neutraliz- lo, retirando- lhe a sua imanncia para
enquadr-lo enquanto mundo de representaes que, atravs da configurao sujeito-objeto,
remove das coisas toda sua textura para extrair das mesmas os empobrecidos conceitos de
identidade e de essncia. Nietzsche demonstra as artimanhas e ardis que os homens recobrem-se
ao aludir que os conceitos surgem pela negao da diferena nas coisas, ao dizer que: Todo o
conceito nasce por igualao do no- igual
12
. Sua concepo de que no h nada nas coisas
que possa identific- las seno como esforo de representao humana. Nada igual a nada, tudo
diferena! Eis, aqui, a trama dos conceitos : os conceitos, ao invs de revelarem das coisas sua
essncia, revelam- nos nossa vontade de verdade; ao invs de revelarem uma verdade escondida
nas coisas, revelam- nos nossa arbitrariedade; ao invs de revelarem o divino, revelam- nos o
profano de nossa humanidade.
A crtica nietzschiana noo de verdade, que entendemos desdobrar-se em uma
crtica s tramas conceituais, permite-nos estabelecer uma relao entre a formao dos conceitos
e os processos de territorializao, aqui entendidos provisoriamente como construes espao-
temporais que se cristalizam em modelos de conhecimento. A territorializao seria esse
processo pelo qual os homens apropriam-se do mundo, inicialmente de forma metafrica, mas
que, posteriormente, ao reivindicarem uma universalidade, atravs de uma trama conceitual,
tanto ao hegelianismo como ao platonismo que, em plos e momentos diversos, aproximariam os conceitos de razo
e verdade. Esse desespero da verdade, ou impulso verdade, inmeras vezes mencionado na obra nietzschiana,
segundo a qual a verdade no passa de uma espcie de metfora, de uma representao que toma o conceito por
um processo de igualao do no -igual e cujo impulso deve-se necessidade humana em viver gregariamente.
Nesse sentido, a verdade, a linguagem, no passam de construes que pouco guardam de aspectos ontolgicos com
as coisas a que se referem. O combate nietzschiano noo de verdade a destituio do princpio de identidade,
caro no s lgica aristotlica como dialtica histrica.
12
Ao mencionar que, na natureza, nenhuma folha igual outra e que o conceito de folha somente surge como
forma de representao, Nietzsche (1978, p.48) faz uma crtica contundente no s ao platonismo, bem como a toda
a uma epistemologia que, baseada em suas idias, fundamenta uma concepo do conhecimento que reduz as coisas
a uma caracterstica funcional para, delas, extrair uma identidade. Ao se conceituar algo como sendo uma folha,
por exemplo, como se admitssemos que h uma espcie de folha primordial, um modelo, uma essncia ou uma
idia de folha, tal como sugere Plato em sua Teoria das Idias.
14
petrifica-se na condio de institudo. A gnese do conceito, segundo Nietzsche (1978, p.48),
ocorre precisamente na passagem do subjetivo para o universal, da experincia nica de um
mundo vivido para a necessidade de uma linguagem comum que os homens tm de existir de
modo gregrio. O conceito a demarcao de um espao rgido: o territrio, onde as impresses
singulares e fugidias so esquecidas para que sejam erigidos totens perenes. Admirvel e
complexa construo, pois, como diria Nietzsche (1978, p.49), so tnues como fios de aranha
para poderem flutuar sobre fundamentos to mveis quanto as guas de um rio. Todavia, se o
conceito aqui, ainda, tal como o sentido , marca a passagem do indiferenciado ao diferenciado,
o que efetivamente lhe define e o diferencia, portanto, do sentido sua imposio como
universal e, portanto, o esquecimento de que seja antes uma imagem ou uma metfora, do que a
identidade entre a idia e a prpria coisa. Se os processos de territorializao fomentam os
conceitos ao referirem-se diretamente aos procedimentos de que o conhecimento utiliza-se em
seus processos de representao, poderamos provisoriamente supor que os sentidos, plur vocos,
seriam resultados de processos de desterritorializao. Procurando uma trilha que se dirija para
essa constatao, partimos da revoluo que Nietzsche promove na tradio epistemolgica ao
recusar a dualidade metafsica da aparncia e essncia e, tambm, a relao cientfica do efeito e
da causa substituindo-as pela correlao entre fenmeno e sentido. Como comenta Deleuze
(1976, p.3), referindo-se filosofia nietzschia na:
Jamais encontraremos o sentido de alguma coisa (fenmeno humano, biolgico ou at
mesmo fsico) se no sabemos qual a fora que se apropria da coisa, que a explora, que
dela se apodera ou nela se exprime [...] Toda fora apropriao, dominao, exp lorao
de uma quantidade da realidade. Mesmo a percepo em seus diversos aspectos a
expresso de foras que se apropriam da natureza. Isto quer dizer que a prpria natureza
tem uma histria. A histria de uma coisa geralmente a sucesso das foras que dela se
apoderam e a co-existncia das foras que lutam para dela se apoderar. Um mesmo
objeto, um mesmo fenmeno muda de sentido de acordo com a fora que se apropria
dela.
15
O mtodo de pesquisa pode, portanto, perseguir duas trilhas distintas: h um caminho
que se fundamenta em uma epistemologia com base ontolgica centrada em uma razo que
esgota dos objetos sua potencialidade ao se aproximar de uma prtica cientfica que investe todos
seus recursos em aes dispostas em torno de recortes cirrgicos da realidade; assim como h
outra via possvel que se abre para uma perspectiva de multiplicidade e dos devires que prpria
aos processos de produo de sentido. Cabe aqui refletir como ocorrem esses processos, de que
maneira aproximam-se ou distanciam-se da racionalidade, e que apesar de opostos, no so
excludentes, pois atuam atravs de processos de territorializao e de desterritorializao. Se os
processos de territorializao atuam como formas de apreenso do mundo que se concretizam na
solidez do conceito, usualmente atravs de uma razo que se pretende universal, permanente e
atemporal; os processos de desterritorializao so acionados pela busca de sentido que se deixa
transpassar e transfigurar pela idia de um mundo movente, no se retendo ao tempo nico. O
que os diferencia, fundamentalmente, a ordem espao-temporal atravs da qual fixam-se ou
movem-se. Enquanto a razo opera atravs de rgidas tramas conceituais que tendem fixao, os
sentidos fluem atravs de redes que, embora findem em pontos de fixao, trafegam
aceleradamente em um espao multidimensional. Se o sentido possui um carter direcional, o
conceito constitui-se como dimensional; se o sentido move-se atravs de fios ou linhas em
redes , o conceito assenta-se sobre pontos, cr culos fechados; se o sentido desconhece as
coordenadas da relao espao-temporal, sobre estas que o conceito atualiza-se; no obstante,
no se pode pensar em um sem o outro.
16
I.2.1 O CONCEITO.
Se a crtica nietzschiana ao conceito reside em seu carter arbitrrio, pelo qual o
pensamento dirige-se s coisas garantindo- lhes um sentido unvoco ao transformar a experincia
pessoal de uma imagem em uma representao universal, porque, em boa medida, procura
contrapor-se a um idealismo transcendental que pressupe atingir a essncia das coisas. J em
Deleuze e Guattari (1997a), a trama conceitual adquire um grau de complexidade maior na
medida em que, para realizar-se, conjuga o plano transcendental ao imanente. Partindo da crtica
nietzschiana tradio epistemolgica, eles propem uma nova concepo dos modos de
construo do pensamento, disponibilizando novos instrumentos de compreenso do seu
mecanismo. Instrumentos esses que se valem de matrizes espaciais.
Ao introduzir a geo-filosofia, Deleuze e Guattari (1997a, p.113) apostam, desde o
incio, que: O sujeito e o objeto oferecem uma m aproximao do pensamento. Pensar no
nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revoluo de um em torno do outro.
Pensar se faz antes na relao entre o territrio e a terra. Esses dois elementos: terra e
territrio so conjugados em dois movimentos: (re) territorializao e desterritorializao,
cuja antecedncia no pode ser determinada, mas que se manifestam pela interao de dois planos
do pensamento: da transcendncia e da imanncia, que atuam respectivamente mediante um eixo
vertical e horizontal. Por sua vez, os movimentos de desterritorializao e (re) territorializao
no so excludentes, mas antes complementares na medida em que o primeiro afirma o segundo
naquilo que trar como nova terra por vir.
Embora a obra de Nietzsche seja inspiradora do pensamento deleuziano, a geo-
filosofia introduz uma significativa mudana que, para ns, fundamental, no que diz respeito
ao lugar que o conceito ocupa em ambas obras. Se em Nietzsche o conceito parece impor-se
17
como uma verdade absoluta herdada do idealismo transcendental, para Deleuze e Guattari,
diversamente, ocorre uma correo desse percurso, na medida em que o conceito, ainda que opere
uma ascese no eixo transcendental, somente realize-se no plano da imanncia
13
.
O conceito definido por Deleuze e Guattari (1997a, p.31) como sendo um todo
fragmentrio. fragmentrio porque constitudo por componentes e constitui-se em um todo
na medida em que os totaliza. Os componentes que constituem um conceito tambm podem
revelar-se igualmente enquanto conceitos em um movimento que tende ao infinito, assim como
so distintos e inseparveis naquilo que define sua especificidade enquanto o conceito de alguma
coisa e no de outra. Cada componente de um conceito apresenta uma endo-consistncia, um
recobrimento parcial, uma zona de vizinhana ou um limite de indiscernibilidade com um outro
que se constitui em um domnio comum onde se processa o devir, e uma exo-consistncia
expressa nas relaes que mantm com outros conceitos.
O conceito no tem outra regra seno a da vizinhana, interna ou externa. Sua
vizinhana ou consistncia interna est assegurada pela conexo de seus componentes
em zonas de indiscernibilidade; sua vizinhana externa ou exoconsitncia est
assegurada por pontes que vo de um conceito ao outro, quando os componentes de um
esto saturados. (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.119).
O conceito, portanto, define-se ao ordenar seus componentes interiores, demarcando um
contorno, um espao, um territrio
14
, ainda que impreciso, com relao aos demais com os quais
mantm uma rede de conexes que, se alteradas, modificariam seu significado.
13
possvel que isso se deva porque, em Nietzsche, o conceito alvo de crticas por ser unicamente resultante do
processo cognitivo de um sujeito transcendente, enquanto que, para Deleuze e Guattari, o pensamento, para atingir o
conceito, embora se valha circunstancialmente do eixo transcendental como uma espcie de legitimao que lhe
garanta sua unicidade e totalidade ainda que fragmentria , necessita submeter-se inapelavelmente ao eixo
imanente.
14
Em Mil Plats, Deleuze e Guattari (1997c, p.138) dizem que o problema da consistncia concerne efetivamente a
maneira pela qual os componentes de um agenciamento territorial se mantm juntos. Mas concerne tambm a
maneira pela qual se mantm os diferentes agenciamentos, com componentes de passagem e de alternncia.
Partindo tambm de uma teoria da consolidao, proposta pelo filsofo Eugne Duprel, Deleuze e Guattari (Idem,
p.140) afirmam que a vida no vai de um centro a uma exterioridade, mas de um exterior a um interior, ou antes, de
um conjunto vago ou discreto sua consolidao.
18
O conceito , portanto, ao mesmo temp o absoluto e relativo: relativo a seus prprios
componentes, aos outros conceitos, ao plano a partir do qual se delimita, aos problemas
que se supe resolver, mas absoluto pela condensao que opera, pelo lugar que ocupa
sobre o plano, pelas condies que impe ao problema. absoluto como todo, mas
relativo enquanto fragmentrio. infinito por seu sobrevo ou sua velocidade, mas
finito por seu movimento que traa o contorno de seus componentes . (DELEUZE;
GUATTARI, 1997a, p.33-34).
Cada conceito um ponto de coincidncia, de condensao ou de acmulo de seus
prprios componentes que atuam como traos intensivos, como singularidades que se
particularizam ou se generalizam, conforme se lhes atribuam valores variveis ou se lhes designe
uma funo constante
15
. Aqui, o conceito, longe de revelar a essncia ou a prpria coisa, como na
tradio metafsica que busca no princpio de identidade a sua estabilidade, desdobra-se como
acontecimento. No h qualquer estabilidade possvel no conceito se no o remetermos a um
plano transcendente como Plato o fez ao introduzir na filosofia a noo de idia. Imerso em um
plano necessariamente imanente, o conceito, em Deleuze e Guattari (1997a), embora incorporal,
se efetua nos corpos, e se define uma espacialidade enquanto campo de significao atravs
de uma temporalidade que o transpassa, de uma intensividade que permanentemente lhe
alimenta. Se a idia, enquanto conceito platnico, corrompe-se e deteriora-se ao ser remetida ao
plano da imanncia, porque o tempo entendido como linearidade, no se constituindo no
tempo, tomado em sua simultaneidade. A diferena consiste em retirar o conceito de seu plano
15
Como exemplo, Deleuze e Guattari (1997a, p.37) nos remetem ao conceito de eu, assinado por Descartes, que
pode ser visto como acontecimento do pensamento a partir de seu enunciado: eu penso, logo eu sou, ou de maneira
mais abrangente: eu que duvido, eu penso, eu sou, eu sou uma coisa que pensa. Nesse caso, o conceito de eu
possui trs componentes: duvidar, pensar e ser, que se ordenam em zonas de vizinhana e indiscernibilidade, mas
coincidem e se condensam no conceito de eu. Assim, para que o conceito eu seja circunscrito, ele coloca em ao
seus componentes, por exemplo: duvidar e pensar, assim como pensar e ser constituem zonas de vizinhanas que
podem ser respectivamente expressas pelas relaes: eu que duvido no posso duvidar que penso e para pensar
necessrio ser. Todavia, tais relaes de vizinhana definem tambm uma fase, um momento, em que os
componentes se encontram, que justamente representam o fechamento do conceito. Assim, o componente pensar,
que tambm um conceito (poderamos dizer, nesse caso, um conceito adjacente), pode significar sentir, imaginar,
ou ter idias, de acordo com suas fases, dentre as quais uma ser retida no momento do fechamento do conceito (da
a totalidade fragmentria) cartesiano de eu, de modo que para se passar ao conceito de Deus, ser necessrio que se
tome dentre as fases do pensamento aquela que solicita a idia de infinito, transpondo-se da fase de um pensar que
duvida para a fase de um pensar que vislumbra a idia de infinito. Vai-se do conceito de eu para o conceito de Deus
que, por sua vez, tambm ser constitudo por componentes que podem estar presentes no conceito de eu, mas que
so ordenados diferentemente.
19
transcendente para subjug- lo ao plano da imanncia, no atravs de uma temporalidade linear
que o adultere, mas atravs de uma sincronicidade que o constitua. Significa dizer que o conceito
no antes algo de estvel e imutvel que s se altera ao ser submetido ao plano corruptvel da
imanncia, mas que sua estabilidade, decorrente de um plano transcendente, inseparvel de sua
instabilidade do plano imanente. No h um antes e um depois, mas uma simultaneidade.
I.2.2 O MOVENTE.
A questo do movimento em Henri Bergson pode-nos ajudar a elucidar a trama
conceitual que se processa ao tentar submeter o conceito ao plano exclusivo da transcendncia,
que visa estabiliz- lo de tal forma que finda por operar uma espcie de territorializao da
filosofia e, portanto, do prprio pensamento, separando-o de um processo de desterritorializao
que lhe simultneo
16
.
Em A evoluo criadora, Bergson (1964) permite-nos vislumbrar como isso
possvel, exemplificando esse processo atravs da metfora de que o pensamento tende a atuar de
acordo com o mecanismo cinematogrfico. Segundo tal perspectiva, o pensamento tende a
observar e apreender os fenmenos tal como o cinema opera as imagens: primeiramente
congelando-as em instantneos e, depois, colocando-as em movimento atravs de uma seqncia
lgica em que se restitua a noo de movimento. Dispostas uma em seguida da outra, as imagens
16
Evidentemente, no se trata aqui de um movimento que parte de um sujeito, de um esprito em busca de sua plena
realizao, nem aquele, aparentemente inverso, do materialismo histrico que, igualmente, apresenta aspectos
teleolgicos. Em ambos, ainda que mediante movimentos contrrios, a realidade movimenta-se em uma direo
unvoca, e a evoluo que se manifesta nesta dialtica visa atingir um fim, onde, ento, a estabilidade alcanada ou
redimida. Redimida, pois, parte-se do pressuposto que a estabilidade esse centro do qual nos distanciamos por
contingncias que precisam ser superadas, como se essas mesmas contingncias operassem como obstculos, a partir
dos quais devssemos desviar-nos em busca da realizao de nosso verdadeiro ser. Como se o ser fosse predestinado
a vir a ser algo de prometido, acabado e pronto.
20
resgatam a idia de movimento, atravs de uma iluso mecanicista, pois, de fato, nenhum
movimento efetivo apreendido.
A origem dessa iluso remontaria aos filsofos da Escola de Elia que, ao
espacializarem o tempo, tornaram possvel medi-lo
17
. Mas o que uma metfora para
exemplificar a tendncia do pensamento em perceber o movimento como uma sucesso de
imagens estticas, constitui-se em uma prtica que pode ser estendida tradio racionalista do
pensamento que procede de modo a crer que: quanto maior o nmero de recortes que exercemos
sobre um fenmeno, maior a preciso na compreenso do mesmo. Todo procedimento cientfico
apia-se nesta crena: de que em aumentando-se a preciso dos instrumentos que medem um
fenmeno, aumentam as probabilidades e o grau de certeza de conhecimento sobre o objeto.
Ao reter do objeto apenas sua instantaneidade com a inteno de observar o
fenmeno com suposta maior preciso, retirar-se-lhe- ia a durao do movimento como um todo
e cometer-se-ia o que Bergson (1964, p.270) chama de iluso do pensamento, ou seja: em
acreditar que possvel pensar o instvel por intermdio do estvel, o movente por intermdio do
imvel. Submete-se a realidade do fenmeno, plena de movimento e durao, espacializao
de um tempo abstrato, homogneo e mensurvel, territorializando-lhe. Subverte-se a ordem das
coisas pela ordem dos conceitos e da lgica que os consagra em objetos estticos e
territorializados. Trata-se do mesmo expediente utilizado por Plato e seguido pela maioria dos
17
Como exemplo, Bergson (1964) menciona o raciocnio espacializado de Zeno de Elia que, ao discorrer sobre o
movimento de uma flecha de um ponto de partida A at seu ponto de inrcia em B, estabelece pontos intermedirios
(como, por exemplo, C e D) no seu curso ao projetar tal trajetria em um plano horizontal. Ocorre que ao supor que
o movimento de uma flecha, que percorre uma trajetria de A a B, possa ser seccionado, e ao afirmar que num ponto
intermedirio C ou D a mesma se encontra parada, Zeno disso conclui que todo movimento possa ser reduzido a
uma forma lgica em que o tempo percorrido entre A a B seja igual somatria de (A+C) + (C+D) + (D+B). Ao
traduzir o movimento em uma equao matemtica, Zeno cometeria, segundo Bergson, um paradoxo ao entender
que em C ou D existe efetivamente a possibilidade de a flecha estar parada. O mecanismo cinematogrfico utilizaria
o mesmo recurso s avessas, ao partir de imagens estticas fazendo-as por quadros dispostos cronologicamente
suceder para aludir a sensao de movimento.
21
pensadores, que, apesar de certas correes aplicadas, no foge da mesma concepo originria
que submete os fenmenos a uma perspectiva espacializada e imobilizante enquanto objetos
18
.
Diversamente, a durao promove uma desterritorializao do conceito, que menos
do que aparenta, estvel no espao, e mais do que tende a ser, no devir. Encaradas unicamente
como objeto do conhecimento, passveis de apreenso pela inteligncia, as coisas so apenas
produtos, resultados, mistos, definidos por Bergson
19
como: uma mistura de tendncias que
diferem por natureza, mas, como mistura, um estado de coisas em que impossvel apontar
qualquer diferena de natureza. Nesse sentido, a cincia s v das coisas mistos, pois as
percebe enquanto objetos em um espao homogneo, territorializados em um tempo abstrato,
passvel de mensurao, e, portanto, nada v das coisas em seu tempo concreto, em sua durao,
em sua tendncia de vir a ser. Privilegiando a inteligncia intuio, a cincia consegue obter
resultados prticos muito teis, mas no consegue perceber o fenmeno em sua totalidade, a
realidade em sua complexidade
20
. De maneira semelhante, a crtica de Bergson metafsica
18
De acordo com Plato, a realidade percebida no passa de um conjunto de cpias imperfeitas de modelos ideais
localizados num plano atemporal e eterno. Como Plato exemplifica em sua parbola do Mito da Caverna, nossos
sentidos nos aprisionam em um mundo de iluses, de opinies mais ou menos apropriadas sobre o que seja
efetivamente a realidade, mas que no passam de imagens que se constituem em simulacros da realidade. O mtodo
dialtico platnico permite, no entanto, que se consiga atingir essncia das coisas e contemplar a realidade, que se
constitui em um modelo ideal povoado de conceitos. Se por um lado, Plato acredita que somos como que cpias
imperfeitas de um conceito ideal de ser, por outro, nos permite atingir a essncia das coisas atravs de um processo
de ascese onde a dialtica nos possibilita relembrar nossa remota origem e alcanar o plano perfeito das idias. A
crtica de Bergson ao platonismo incide, segundo Deleuze (1999), sobre o fato de conceber esse mundo das idias
como um lugar descolado da prpria durao das coisas, pois para os platnicos todo movimento ao qual a matria
est sujeita no tempo implica em sua deteriorao e degradao, ao invs de conceber as coisas inseridas numa
durao que permanentemente as atualize.
19
Cf. DELEUZE, 1999, p.99.
20
A busca pela durao, contudo, no exclusiva a Bergson, mas tambm perseguida por artistas do sculo XIX
que procuram em suas obras captar o objeto pela expressividade do movimento: O que produz o movimento, diz
Rodin, uma imagem em que os braos, as pernas, o tronco, a cabea so tomados cada qual num outro instante, que
portanto mostra o corpo numa atitude que ele no teve em nenhum momento, e impe entre suas partes ligaes
fictcias, como esse confronto de incompossveis pudesse e fosse o nico a poder fazer surgir no bronze e na tela a
transio e a durao. Os nicos instantneos bem-sucedidos de um movimento so os que se aproximam desse
arranjo paradoxal, quando, por exemplo, o homem que caminha foi captado no momento em que seus dois ps
tocavam o cho: pois ento temos a quase ubiqidade temporal do corpo que faz o homem cavalgar o espao.
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 41).
22
reside na sua concepo de perceber das coisas apenas diferenas de intensidade, como se estas,
mergulhadas no tempo (abstrato) e no espao, distanciassem-se da perfeio do ser eterno,
original e imutvel, degradando-se em direo a um nada, tal qual como propunha Plato ao
fundamentar a metafsica. Para tanto, Bergson recoloca a necessidade de aplicar-se o mtodo
intuitivo como nico capaz de perceber dos mistos, das coisas espacializadas, suas diferenas
de natureza. preciso ento que se considere que as diferenas de natureza no esto
efetivamente entre as coisas, mas entre as tendncias. Por outro lado, a natureza da diferena
aquilo que no difere com relao outra tendncia seno a si prpria, ou seja: a durao; pois
o movimento no caracterstica de alguma coisa, mas possui um carter nico, prprio,
indivisvel. A durao no um misto, no alguma coisa que se espacialize, ao contrrio,
ela que permite que a matria se espacialize, pois:
O prprio espao um misto de matria e durao, de matria e memria. Eis ento o
misto que se divide em duas tendncias: com efeito, a matria uma tendncia, j que
definida como um afrouxamento; a durao uma tendncia, sendo uma contrao.
(DELEUZE, 1999, p.102).
A primazia do tempo
21
(entendido, aqui, no meramente em sua abstrao, mas como
concreto, virtual) sobre o espao fica ento evidente, e como conseqncia desta, toma
sentido nossa crtica territorializao da filosofia que sempre move-se tomando o tempo como
varivel do espao
22
. Com efeito, o conceito no resultado de uma diferenciao o resultado
so objetos , afirmao da diferena. A linguagem, o conceito, no podem sobrepor-se s
coisas, eliminando suas diferenas, tomando-as apenas em seu plano atual, mas as coisas esto
antes imersas num fluxo contnuo, num movimento permanente que s se pode captar pela
21
A primazia do tempo sobre o espao objeto tambm de crticas ao longo desse estudo , demonstra que Bergson
talvez no tenha suposto que tambm o espao, e no s o tempo, possa ter uma dimenso virtual, pois em seus
textos sempre tende a tomar o espao em sua materialidade.
22
A dialtica platnica no despreza o tempo e o movimento, mas os v como processos de degradao da matria,
subjugando, portanto, o tempo movente ao tempo eterno. A dialtica hegeliana, certo, coloca em movimento a
filosofia, mas ainda se movendo atravs de um espao histrico, datado, mensurvel, e caminhando rumo a um
objetivo.
23
intuio, pois a inteligncia s consegue apreend- las cercando-as em sua contingncia espacial,
destituindo-as de seu movimento, retirando-as de sua durao e domesticando-as em um
territrio. O que chamamos de territorializao , por conseguinte, um processo de estabilizao
dos fenmenos que pretende situ- los num espao possvel de atuao para que o conhecimento
possa deles extrair verdades mais ou menos possveis. Para que o conhecimento alcance tais
objetivos, preciso que retire dos fenmenos seu carter mutante, movente, e retenha dele o que
h de atual, realizado. Assim feito, obtm-se das coisas, por eliminao de suas diferenas
externas, conceitos que traduzam seu estado atual, mas jamais suas tendncias, suas
potencialidades de vir a ser, que, moventes, resultariam em novas diferenas, em novos objetos,
em novos conceitos. Conseqentemente, o conceito refere-se tanto ao objeto, mobilizando os
vetores territorializantes do pensamento, como ao acontecimento, acionando os vetores
desterritorializantes do mesmo.
I.2.3 O ILIMITADO.
Deleuze e Guattari (1997a, p.153) afirmam que a cincia no tem por objeto
conceitos, mas funes que se apresentam como proposies nos sistemas discursivos e que,
diferentemente da filosofia, no procura guardar as velocidades infinitas que atravessam o caos,
mas renuncia a estas para ganhar uma referncia capaz de atualizar sua virtualidade.
Guardando o infinito, a filosofia d uma consistncia ao virtual por conceitos;
renunciando ao infinito, a cincia d ao virtual uma referncia que o atualiza por
funes. A filosofia procede por um plano de imanncia ou de consistncia; a cincia por
um plano de referncia. [...] A cincia e a filosofia seguem duas vias opostas, porque os
conceitos filosficos tm por consistncia acontecimentos, ao passo que as funes
cientficas tm por referncia estado de coisas ou misturas: a filosofia no pra de
extrair, por conceitos, do estado de coisas, um acontecimento consistente, de algum
modo um sorriso sem gato, ao passo que a cincia no cessa de atualizar, por funes, o
acontecimento num estado de coisas, uma coisa ou um corpo referveis. (DELEUZE;
GUATTARI, 1997a, p.157, 164, grifo nosso).
24
Um sorriso sem gato, eis uma imagem preciosa para ilustrar o acontecimento! O
conceito exprime esse momento em que as coisas adquirem um campo de significao tomando
dos acontecimentos uma posio. Como posio, o conceito diz o acontecimento, imprime uma
diferena nas coisas, fazendo que estas prprias venham a ser. Dito de outra maneira, o conceito
inventa o objeto; traa um crculo sobre o indiferenciado, fazendo-o destacar, a vir a ser. Um
sorriso no pode ser um sorriso sem uma face que lhe venha a dar expresso, contudo, enquanto
conceito, o sorriso ganha uma significao que lhe permite desprender-se da face que o sorri. Se
o acontecimento melhor traduz-se como um sendo, o porque o gerndio aqui aparece como a
mais apropriada forma para se descrever essa situao em que o tempo no pode ser mensurvel,
em que a velocidade tende ao infinito. Inversamente, a cincia remete o acontecimento, o sorriso,
ao seu estado de coisas, referindo o sorriso face que o sorri, fazendo o verbo flexionar na forma
do indicativo: aquele rosto que sorri.
O conceito entre a virtualidade do acontecimento e a atualidade do estado de coisas
opera uma passagem entre esses dois mundos, entre essas duas tenses temporais, espacializando,
tornando possvel essa potencialidade de vir a ser que o acontecimento contm. Deleuze e
Guattari (1997a, p.52-59) afirmam que se os conceitos so acontecimentos, o plano de imanncia
o horizonte o qual povoam. O plano de imanncia consiste em um campo no qual o
pensamento lana-se em seu movimento e velocidade infinita, no se deixando apreender atravs
de uma suposta reteno de seus deslocamentos em coordenadas espao-temporais, pois, como
vimos em Bergson, o movimento no se reduz ao deslocamento seno mediante a suposio de
uma temporalidade abstrata. O plano de imanncia a terra, seu campo de desterritorializao,
25
em que os conceitos, enquanto territrios, assentam-se. tambm um corte no caos que lhe d
consistncia sem, contudo, lhe impor referncias tal qual a cincia usualmente procede
23
.
Segundo Deleuze e Guattari (1997a, p.61-62), o plano de imanncia constitui-se de
duas faces: uma determinvel, a Physis (natureza), na medida em que d uma matria ao ser, e
outra como a Nos (pensamento), enquanto d uma imagem ao pensamento
24
. Todavia, aqui
que incide o risco de uma confuso: ao se atribuir imanncia tanto materialidade da natureza
como imagem do pensamento, ao invs de o plano de imanncia, ele mesmo, constituir esta
matria do ser ou esta imagem do pensamento. A diferena reside em colocar o conceito antes
do plano de imanncia, em pensar-se o conceito de natureza, ou de idia, como imanentes,
levando o conceito a tornar-se um universal transcendente e o plano a atributo no conceito;
pois a imanncia no se imputa a algo, mas a um plano pr-filosfico; pr-conceitual
25
. Dotar o
conceito de uma imanncia significa habilit- lo a atuar enquanto sujeito ou objeto: o pensamento
passando a se constituir em um sujeito e a natureza em objeto; mas no se pode fazer isso seno
partindo de uma arbitrariedade como bem demons tram Deleuze e Guattari ao exporem o conceito
de outrem como expresso de um mundo possvel antes de se constituir em sujeito de campo
ou um objeto no campo
26
.
23
O plano, assim como o pensamento, no se constituindo enquanto conceito coloca-se em uma condio pr-
filosfica que pode ser entendida, em Deleuze e Guattari (1997a, p.57-58), como algo que no existe fora da
filosofia, embora esta a suponha, e a garantia de toda a filosofia enquanto possibilidade de criar conceitos.
24
As duas faces desse plano so inicialmente indistin tas entre certos filsofos pr-socrticos por ainda remeteram os
elementos da natureza (as archs) a um princpio ou plano transcendente, sustentando ainda uma teogonia. Segundo
Deleuze e Guattari (1997a, p.61), Anaximandro teria sido o primeiro a fazer uma distino mais rigorosa ao
combinar o movimento das qualidades com a potncia de um horizonte absoluto, o Aperon ou o Ilimitado sobre o
mesmo plano, substituindo a genealogia por uma geologia. Antes, os elementos da natureza, como a gua (para
Tales de Mileto) ou mesmo o nmero (para Pitgoras), como princpios fundadores ainda estariam submetidos a um
plano eminentemente transcendente.
25
Essa busca de um plano pr-filosfico ou pr-conceitual , encontra-se tambm na fenomenologia: Merleau-Ponty
(2000), por exemplo, fala em uma ontologia pr-reflexiva ou selvagem para situar a filosofia em um plano anterior
cognio.
26
Sobre a falcia de se pensar o mundo atravs do binmio sujeito-objeto, Deleuze e Guattari (1997a, p.27-28)
perguntam-se: Sob quais condies um conceito primeiro, no absolutamente, mas com relao a um outro? Por
26
O esforo que at aqui empreendemos o de perceber que o conceito no possui um
valor ontolgico, mas conseqncia dos processos de territorializao que se constituem em um
momento do pensamento, sem o qual, este seria submetido a uma vertigem que o confundiria
com o caos. Trata-se de uma questo de sobrevivncia! Precisamos do conforto que a iluso do
conceito, enquanto territrio, nos traz, como quando, com medo, comeamos a cantarolar,
procurando esboar um centro estvel e calmo, estabilizador e calmante, no seio do caos
27
.
Depois, traamos um crculo, erigimos uma muralha. Os territrios so iluses
28
, miragens do
pensamento que se explicam pela circulao estereotipada das opinies dominantes, e porque
no podemos suportar esses movimentos infinitos, nem dominar estas velocidades infinitas que
nos destruiriam
29
. Diante desse quadro, em que definimos a filosofia a partir da criao de
conceitos e que atingimos constatao de que os conceitos so como que iluses, poderamos
dizer que a filosofia cria iluses? Talvez, no haja objeo a esta assertiva se reduzirmos a
filosofia a sua forma territorializada que sempre procura no transcendente uma forma de
depositar toda a autoridade e centralidade do conceito:
fatal que a transcendncia seja reintroduzida. E se no se pode escapar a isso, porque
cada plano de imanncia, ao que parece, no pode pretender ser nico, ser O plano,
seno reconstituindo o caos que devia conjurar: voc tem a escolha entre a
transcendncia e o caos [...]. (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.70).
exemplo, outrem necessariamente segundo em relao a um eu? Se ele o , na medida em que seu conceito
aquele de um outro sujeito que se apresenta como um objeto especial com relao ao eu: so dois componentes.
Com efeito, se ns o identificarmos a um objeto especial, outrem j outra coisa seno o outro sujeito, tal como ele
aparece para mim; e se ns o identificarmos a um outro sujeito, sou eu que sou outrem, tal como lhe apareo.
Outrem, aqui, no ningum, nem sujeito nem objeto. H vrios sujeitos porque h outrem, no o inverso. Outrem
um mundo possvel diante de um mundo em que no se possa fundar um conceito absoluto a partir do qual tudo
se ordene sem que haja nesta atitude algo de arbitrrio.
27
Cf. DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p.116.
28
Segundo Deleuze e Guattari (1997a, p.67-68), so diversas iluses: da transcendncia (tornar a imanncia
imanente a algo, e reencontrar a transcendncia na prpria imanncia), dos universais (quando se confundem os
conceitos com o plano), do eterno (quando esquecemos que os conceitos devem ser criados), da discursividade
(quando confundimos as proposies com os conceitos).
29
Cf. DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.67.
27
No sabemos ao certo se o pensamento filosfico desperta do sono letrgico da iluso
do territrio atravs de seus processos de desterritorializao, ou se o pensamento nmade se
cansa de vagar por desertos em sua velocidade infinita procurando refgio no osis, no territrio
estvel e seguro que o conceito
30
representa. Enfim, como no Ritornelo
31
: saltamos do caos
que nos amedronta, procurando a partir de um centro seguro estabelecer uma ordem; traamos
um crculo procurando demarcar um territrio; abrimo-nos para o mundo novamente para que
saiamos ou deixemos algum entrar
32
.
Em A dialtica do exterior e do interior, Gaston Bachelard (1974) fornece-nos uma
viso similar sobre esse movimento de interiorizao e exteriorizao do pensamento:
O exterior e o interior formam uma dialtica de dissecao, e a geometria evidente dessa
dialtica nos cega desde o momento em que a fizermos aparecer nos domnios
metafricos. Ela tem a nitidez decisiva da dialtica do sim e do no, que tudo decide.
Fazemos de tal dialtica, sem tomar maiores cuidados, uma base para as imagens que
comandam todos os pensamentos do positivo e do negativo. Os lgicos traam crculos
que se produzem ou se excluem e logo todas as suas regras ficam claras. O filsofo, com
o interior e o exterior, pensa o ser e o no -ser. A metafsica mais profunda enraza-se
numa geometria implcita, numa geometria que queiramos ou no espacializa o
pensamento; se o metafsico no desenhasse, ser que ele pensaria? O aberto e o fechado
30
A noo de conceito proposta por Deleuze e Guattari (1997a) evidentemente bastante complexa na medida em
que diz tanto do acontecimento como do objeto, do estado de coisas. Embora este estudo no tenha a inteno de
fazer dessa noo o foco de nossas anlises, no pudemos nos furtar a coment-la exaustivamente aqui para mostrar
como efetivamente ocorrem os processos de territorializao e desterritorializao e como o conceito tem um carter
espacializante. No entanto, para efeito de simplificao, no decorrer desse estudo, a noo de conceito ser
preferencialmente tratada em sua acepo territorializada, ou seja, o conceito ser tomado, como inicialmente o
fizemos, como estvel, como idia, destitudo da tenso e instabilidade permanente que sua virtualidade lhe garante.
31
Sobre o Ritornelo e o fato de haver uma simultaneidade ou no entre os processos de desterritorializao e
reterritorializao, no encontramos indicaes suficientemente claras na obra de Deleuze e Guattari: enquanto na
passagem mencionada no texto, extrada de Mil Plats (v.4, p.117), h uma clara indicao de simultaneidade: no
so trs momentos sucessivos numa evoluo. So trs aspectos numa s e mesma coisa, o Ritornelo, em O que a
filosofia (p.90-91), persiste a dvida: no se pode mesmo dizer quem o primeiro, e todo territrio supe talvez
uma desterritorializao prvia; ou, ento, tudo ocorre o mesmo tempo.
32
Michel Serres (2005, p.84) chama de branco a esse espao formal que depois foi definido e mensurado, no qual
habitam nossos corpos e almas desde a poca dos gregos. Esse espao recebeu imediatamente o nome de Terra,
mensurada e disciplinada pela Geo-metria. O sentido global de geo na palavra geometria encontra-se com o sentido
de aperon, nosso hbitat indefinido, aberto e branco, um mundo sem definio de nosso ser-no-mundo. O processo
do conhecimento se inicia no momento em que um ser vivo vagueia pelo espao branco e o habita. Ainda, sobre a
habitao branca, Serres (2005, p.77) diz: Execute cuidadosamente a limpeza de sua casa, para que nela no reste
qualquer vestgio de ratos, aranhas, moscas ou larvas. Segundo os preceitos desse mtodo, seu nicho se tornar
reluzente. Nele o corpo branco poder exteriorizar-se e transformar o campo ou o interior de uma habitao num
lugar branco. Ele habitar esse lugar e far dele sua morada. [...] Essa limpeza, esse branco, esse zero, esse nada
transformam-se num espao hospedeiro.
28
so, para ele, pensamentos. O aberto e o fechado so metforas que ele liga a tudo,
inclusive aos seus sistemas. (BACHELARD, 1974, p.493).
Provavelmente, o carter metafsico dessa forma de pensar, que remete a uma lgica
binria de incluso e de excluso, do dentro e do fora, possa ser justificado na medida em que
nada seja passvel de ser afirmado seno mediante essa estabilidade que o territrio assegura em
contraposio vertigem que o caos, o tudo aberto que o plano ilimitado da imanncia nos lana.
O aqum e o alm repetem surdamente a dialtica do interior e do exterior: tudo se desenha,
mesmo o infinito. Queremos fixar o ser e, ao fix-lo, queremos transcender todas as situaes
para lhe dar uma situao de todas as situaes
33
. Estamos diante de uma imagem do
pensamento que se movimenta entre o territrio e o ilimitado, entre o interior e o exterior, mas
tambm entre o estvel e o movente, entre a transcendncia e a imanncia. No obstante, no
queremos fazer desta relao uma dialtica do sim e do no na qual a epistemologia ancora-se,
mas, ao contrrio, tratar o espao como uma metfora para expressar os movimentos que o
pensamento percorre em seus processos contnuos e sincrnicos de territorializao e
desterritorializao.
I.3 O CORTE EPISTMICO.
Supomos at agora que o conceito espacializa o pensamento possibilitando tanto o
acontecimento como a demarcao de um limite entre as palavras e as coisas, entre a ordem e o
caos, entre o conhecido e o incerto. O conceito, como marca do pensamento filosfico, como
marco da epistemologia, tanto se abre ao devir, ao movente, como estabiliza e petrifica o sentido
quando busca normatizar o mundo atravs de uma idia, de uma essncia. Instituinte e institudo,
33
Cf. BACHELARD, 1974, p.484.
29
o conceito guarda em seus limites imprecisos a tenso de uma virtualidade do sentido que
vagueia entre os movimentos de desterritorializao e territorializao do pensamento. At aqui,
o espao no foi seno um modo de constituio do objeto, de trazer o mundo cena
epistemolgica que surge e entra em crise na histria. Mas em que espao ou vazio? situar-
se-iam os objetos antes de virem a ser? Em que espao esto as coisas que existem, ainda que
disformes? Em que espao circula o pensamento em sua virtualidade seno no ilimitado de um
caos que se transmuta em uma infinidade de objetos cognoscveis a cada movimento de
territorializao que os atualiza? Se a transcendncia remete o conceito a uma estabilidade que
lhe define uma espacialidade precisa, a um interior, como nomear esse campo exterior, ilimitado,
em que se d a imanncia? Se a interioridade uma construo do prprio pensamento, seu
abrigo e fronteira do caos, em que plano esto as coisas?
Ora, no podemos imaginar a epistemologia fora da filosofia. O conhecimento, para
os gregos, torna-se episteme, fundamentalmente a partir do momento que Plato estabelece um
vnculo direto entre conceito e idia. Com a noo de idia, o pensamento ganha uma
virtualidade que a palavra jamais alcanara, na medida em que o conceito diferentemente de
uma estrutura mtica ou religiosa no diz respeito a uma entidade sobrenatural, ma s s prprias
coisas (da natureza, do mundo fsico). Com o conceito, a linguagem sofre um corte epistmico, j
que ela no se reduz mais a uma simples mediao ou dilogo entre os homens
34
, mas estabelece
um vnculo entre uma nova forma de discurso racional e a transcendncia como prpria
condio de inteligibilidade das coisas. ordem do discurso religioso, impe-se ento uma nova
ordem do discurso racional; e a comunicao ganha um nvel de abstrao, de complexidade, e de
poder, instaurando uma nova ordem social.
34
Situao que, em parte, podemos ainda imaginar presente em Scrates.
30
Retornemos Grcia. Se imaginarmos o mundo pr-socrtico como um plano de total
imanncia que j se contrapunha a uma tradio religiosa destituda de qualquer ordem natural
das coisas, interior s coisas, veremos proliferar neste ambiente uma srie de noes filosficas
que iro fundamentar o pensamento ocidental at nossos dias. Dentre tais noes, trs delas
parecem-nos imprescindveis para compreender de que modo o saber constitui-se com a filosofia
em uma epistemologia: a natureza (physis), a verdade (alethia) e a razo ( logos). Ambas diferem
muito se transportadas do mundo pr-socrtico ao platnico, que opera uma significativa virada
epistemolgica em seus significados. Basicamente, essa virada consiste em estabelecer uma
clivagem espacial em um mundo que se pensava ainda enquanto uma totalidade
35
, como total
exterioridade, imersa, como interpretam Deleuze e Guattari, em um plano de total imanncia.
Scrates teria sido o primeiro filsofo a conduzir a natureza
36
para um novo plano ao
procurar aproximar a physis (natureza) e o nomos (lei, costume) segundo a natureza e segundo a
lei
37
, atravs de uma razo que no apenas demonstrativa ou crtica, mas tambm normativa.
Ao faz-lo, Scrates opera no s uma nova concepo de natureza como de razo, colocando a
natureza atrelada noo de essncia e de idia, e a razo, antes discursiva ou demonstrativa,
para o plano de uma razo crtica e normativa. Sob esse prisma, o que ocorre com o advento de
uma forma de pensar propriamente filosfica (em oposio mtica) a ciso da natureza pela
razo, que passa a concentrar o divino fora da natureza, em oposio natureza, impelindo-a e
35
A idia de totalidade j estaria presente nos textos homricos como a Ilada que pressupe um mundo sustentado
por uma ordem ainda que mantida por uma hierarquia divina; nos pr-socrticos, essa totalidade poderia ser
interpretada, segundo Marcondes Filho (2004, p.21), atravs da noo de logos como uma espcie de lei comum de
todas as coisas e que as governa, ou ainda, como uma razo demonstrativa.
36
Tal noo inexistente nos poemas de Hesodo e tampouco nas narrativas bblicas, e surge entre os pr-socrticos
como um plano privilegiado onde se assenta a filosofia, na medida em que transforma em passado em ultrapassado
, o mundo da tradio, da religio e da opinio (doxa). Sua concepo , portanto, anterior instaurao de uma
filosofia poltica, ligada s coisas da polis, aparecendo como uma imagem de um mundo indistinto entre coisas,
como pura exterioridade, como matria-prima anterior a qualquer forma de interioridade que, depois, viria a cindi-la.
37
Nomos teria tido primeiramente um sentido religioso e moral bastante vizinho de cosmos: ordem, arranjo, justa
repartio. Mais tarde, tomar, em Atenas, o sentido de lei poltica, regra. (VERNANT, 1990, p. 366, nota 51).
31
regulando-a do exterior. Ciso que resulta em uma dualidade do homem expressa tanto pela
oposio corpo e alma j que esta no mais um pedao da natureza, talhado no estofo dos
elementos, mas adquire uma interioridade
38
, como na oposio entre sociedade e natureza,
o que vai permitir que o discurso filosfico realize sua ambio poltica de deslocar a ordem
mtica para uma nova ordem racional.
A cidade realiza no plano das formas sociais esta separao da natureza e da sociedade
que pressupe, no plano das formas mentais, o exerccio de um pensamento racional.
Com a Cidade, a ordem poltica destacou-se da organizao csmica [...]. A ordem
social, tornada humana, presta-se a uma elaborao racional do mesmo modo que a
ordem natural tornada physis. (VERNANT, 1990, p.365 -366).
Physis e Nomos; natureza e lei poltica. Esto estabelecidas as condies para o procedimento
epistemolgico manifestar-se tomando a natureza e a sociedade como objetos do conhecimento e,
separando-os, permitir razo operar segundo uma base espacial, territorial, demarcando
fronteiras e limites entre objetos
39
.
Se o conceito de natureza surge e transforma-se na Grcia, de solo para objeto do
conhecimento, a partir da modernidade que uma estreita relao entre os conceitos de natureza
e de espao fortalece-se quando o pensamento cartesiano e a cincia clssica passam a considerar
a exterioridade do objeto como condio epistemolgica para o entendimento.
Na base de uma ontologia objetiva est a convico de que o trabalho do filsofo,
refletindo sobre o Ser, consiste em realizar uma depurao do contato imediato que
38
Como afirma Vernant (1990, p.357-359): Por detrs da natureza, reconstitui-se um pano de fundo invisvel, uma
realidade mais verdadeira, secreta e oculta, da qual a alma do filsofo tem a revelao e que o contrrio da physis
[...] O desdobramento da physis, e a distino que da resulta de vrios nveis do real, acusa e acentua essa
separao da natureza, dos deuses, do homem, que a primeira condio do pensamento racional. Ainda segundo
Vernant, se na religio, o mito exprimia uma verdade essencial, um saber autntico, um modelo da realidade,
no pensamento racional, inversamente, o mito no seno imagem do saber autntico, cujo modelo se constitui no
Ser imutvel e eterno.
39
Como a filosofia se desenvolve do mito, como o filsofo deriva do mago, assim tambm a Cidade se constitui a
partir da antiga organizao social. Para ilustrar essa passagem, Vernant (1990, p.366-367) menciona a reforma
poltica promovida por Clstenes para assentar as tribos jnias da tica sobre uma base puramente geogrfica,
dissolvendo uma ordem antes fundamentada em laos consangneos por outra territorial. A ordem da Cidade a
ordem na qual a relao social, pensada abstrata e independentemente dos laos pessoais e familiares, se define em
termos de igualdade e identidade. E mais alm, se por um lado as reformas de Clstenes acusam os traos
caractersticos do novo tipo de pensamento que se exprime na estrutura poltica da cidade, tambm propiciam
entender o aparecimento da filosofia a partir da transformao do mito em razo.
32
temos com o Ser, para discernir o que slido, o que resiste ao entendimento. A
natureza exterior reduz-se ento, segundo Descartes, extenso. A extenso possui duas
caractersticas: ela indefinidamente divisvel e, na medida em que podemos falar em
pontos de extenso, cumpre consider-los como no substituveis reciprocamente, ou
seja, tendo cada um sua localidade prpria. Cada parte no outra coisa seno a sua
alteridade em relao s outras. Da resulta que cada parte plenitude de ser. Com
efeito, no sendo cada ponto seno a sua alteridade, a extenso a mesma em todos os
seus pontos, sem cus nem relevo. A extenso por toda parte igualmente plena, porque
igualmente vazia. Ela s o que ela . Por isso o mundo exterior ser inteiramente
atual: no h lugar para uma diferena entre os seres atuais e os seres possveis, nem
para uma remanncia do passado ou uma antecipao do futuro. Nada existe de mais
nem de menos em suas partes simultneas, tal como no existe em seu desenrolar atravs
do tempo. Situando-nos nesse ponto de vista compreende-se que a conservao est
implicada na criao. As leis segundo as quais o Mundo se conserva esto inscritas em
sua estrutura: desde que foi criado, a extenso necessria. (MERLEAU-PONTY, 2000,
p.204-205).
A modernidade inaugura uma nova cincia da natureza que agora pressupe um
universo infinito, uma geometrizao do espao e um modelo mecnico de cincia. Analisemos
cada uma: a idia de infinito, herdada da tradio judaico-crist, que permite, segundo Merleau-
Ponty (2000, p.10-13), natureza desdobrar-se em um naturante e um naturado. ento em
Deus que se refugia tudo o que podia ser interior Natureza. O sentido refugia-se no naturante; o
naturado torna-se produto, pura exterioridade. Com Descartes, a natureza, mais uma vez, perde
seu interior, torna-se sinnimo de existncia em si, sem orientao, sem interior. No tem mais
orientao. O que se pensava ser orientao mecanicismo. A geometrizao do espao torna-o
neutro, homogneo, mensurvel, sem hierarquias, valores ou qualidades, possibilitando Galileu
afirmar sobre o universo que possvel conhec-lo plenamente desde que se aprenda a decifrar a
lngua matemtica em que ele est inscrito. Por fim, o modelo mecanicista de cincia da
natureza, ao supor que os corpos sejam constitudos por partes dotadas de grandeza, figura e
movimento determinados, condiciona o conhecimento s leis necessrias de causa e efeito.
Embora a idia de substncia, como toda realidade capaz de existir em si e por si
mesma sendo um modo ou acidente da substncia tudo que precisar de outro ser para existir ,
remonte aos gregos que admitiam uma pluralidade infinita de substncias , so os modernos
33
que a simplificam ao reduzi- la a trs tipos: infinito (Deus), pensamento (idias), extenso
(matria dos corpos). Ora, ao outorgar extenso o atributo principal ou essncia da matria,
e ao separ-la radicalmente do pensamento (substncia no extensa), a possibilidade de
conhecimento passa ento a alojar-se inexoravelmente na conscincia, tornando o corpo, mesmo
o daquele que pensa, um objeto, e aproximando a matria, cujo atributo principal sua extenso,
do conceito de espao. Ora, temos aqui a anunciao da materialidade do espao. O espao
confunde-se com tudo aquilo que concreto, tangvel e passvel de mensurao, enquanto o
objeto ganha sua ontologia, aprofundando o abismo entre cincia e filosofia que o positivismo
tratar de cavar. Todavia, no teria sido justamente conseqncia dessa ciso (entre cincia e
filosofia) que levara o saber a uma crise na contemporaneidade? A saber: a crena na
infalibilidade do objeto e nas certezas advindas de um modelo epistemolgico que no cessa de
buscar a estabilidade na ncora do verdadeiro. E no foi ironicamente seno atravs das
descobertas feitas pela cincia contempornea que, de alguma maneira, filosofia e cincia
passaram a se reconciliar? Foi preciso ento que os atuais, e no os antigos, inquilinos da verdade
reconhecessem os inmeros graus de incerteza pelos quais movem-se os objetos para que tanto a
crise fosse anunciada como, em certo sentido, debelada, j que, ao menos hoje, podemos
legitimar a prpria ambigidade. Afinal, como Merleau-Ponty (2000, p.137) expe, essa
cincia contempornea
40
j admite e faz freqentemente a sua autocrtica e a crtica de sua
prpria ontologia ao colocar em questo seu prprio objeto e sua relao com o objeto.
40
Em A Natureza, Merleau-Ponty (2000) refere-se cincia produzida principalmente a partir do incio sculo XX
como cincia moderna em oposio cincia clssica, produzida na modernidade a partir do sculo XVI, no
entanto, utilizamos aqui o termo cincia contempornea para essa cincia comprometida com as descobertas da
fsica quntica e com as teorias da probabilidade j que, neste estudo, os termos moderno e modernidade esto
estreitamente relacionados quela filosofia que tem incio no sculo XVII e prolonga-se at o final do XIX, ou
mesmo at meados do XX. O mesmo raciocnio aplica-se fsica quando mencionada nesses termos.
34
Seguindo esse raciocnio, a quebra do paradigma epistemolgico introduzida pela
fsica contempornea mais exatamente pela mecnica quntica com relao fsica clssica
traz novamente uma mudana na concepo do ser e na noo de espao. Tomando como base da
fsica clssica o pensamento de Laplace, Merleau-Ponty (2000, p.142-143) afirma que esta no
passa de reflexo de uma ontologia cartesiana, contaminada, portanto, pelo causalismo e por uma
concepo determinista da necessidade da natureza e do ser. Mas tambm, tal pensamento supe
uma concepo espacial do ser natural, j que o mundo tem uma existncia inteiramente
extensiva em que cada elemento tem um lugar objetivo, uma localizao nica, excluindo,
portanto, a idia de um ser em devir, em mudana. Comparando-se tal viso com o pensamento
cientfico contemporneo chega-se diferena de que um pensa que se deve compreender o Ser
antes de compreender o seu comportamento, ao passo que o outro s apreende seu ser
apreendendo o seu comportamento. Partindo-se de tal concluso, podemos inferir que a
concepo de espao da qual somos herdeiros desde Descartes est atrelada idia de uma
identidade do Ser, ou ainda, idia de substncia que reduz toda realidade dos objetos a sua
materialidade, a sua extenso e a sua espacialidade.
Essa ontologia do objeto , contudo, abalada com as pesquisas cientficas de Einstein,
de Broglie, Von Neumann, Bohr e Heisenberg, entre outros. Ainda que, como pondera Merleau-
Ponty (2000, p.144), a fsica no possa fornecer uma imagem clara da realidade, nessa juno
do universo do cientista e do universo da linguagem que cumpre examinar a mecnica quntica,
de modo que o aparecimento de uma nova ontologia cientfica que, por mais discutvel que
seja, far com que nunca mais se possa restabelecer a ontologia laplaciana, pelo menos com o
mesmo dogmatismo. A mudana epistemolgica que ocorre de uma ontologia do objeto, tpica
lgica clssica, para as teorias probabilsticas, que afirmam que a imagem estvel de um objeto
apenas uma possibilidade de uma realidade vir cena por conta de uma configurao especfica
35
observador-aparelho-objeto, parece caminhar no sentido de que a realidade do objeto no uma
iluso ou uma aparncia, mas apenas a atualizao de um campo virtual onde foras interagem.
O fenmeno estatstico no composto, portanto, de objetos virtuais, dos quais um seria
real e outros fictcios. Ele a imagem mxima do objeto cujas situaes diferentes
reveladas pela medida so apenas exemplos. A razo desse esforo em direo a uma
nova lgica tem a ver com a nova relao estabelecida entre a coisa observada e a coisa
medida. O postulado da lgica clssica diz que, sendo o observador uma subjetividade
falvel, ali pode haver aparncia, mas essa aparncia , de fato, redutvel de direito por
um melhor conhecimento do aparelho e de nossas imperfeies sensoriais. A idia de
verdade objetiva no inatingvel. Para os probabilistas, ao contrrio, aparelho,
observador e objeto fazem parte de uma realidade nica existente no de fato, mas
fundamentalmente, de direito, por princpio. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.149).
Ora, nesse sentido que entendemos que no h qualquer objetividade possvel seno enquanto
atualizao de um campo virtual onde foras interagem; assim como no possvel falar em uma
ontologia do objeto na medida em que este no passa de uma espacializao do pensamento. A
partir do mesmo raciocnio, ao falarmos de uma crise do sujeito, temos de admitir uma crise do
objeto
41
, j que ambos participam da mesma matriz epistemolgica.
Ao analisar a obra de London e Bauer
42
acerca dos aspectos cognitivos colocados em
jogo na funo observador-aparelho-objeto, Merleau-Ponty (2000, p.149-152) afirma que tal
funo s fornece probabilidades em vista de uma medida eventual, sendo assim,
probabilidades potenciais, no dizendo respeito preciso com a qual o estado de sistema
atualmente conhecido. Ainda, ao comparar essa funo em que a viso do observador tem das
coisas com a de uma testemunha que olha para o observador, comenta que a situao parece
pouco mudar na medida em que o sistema observador-aparelho-objeto enquanto uma funo
passa a ser o objeto para esse segundo observador. Significa dizer que o observador, em virtude
41
[...] o objeto ao qual o pensamento clssico assimila o sistema fsico uma onda de probabilidade; o papel do
observador no o de fazer passar do em-si ao para-si (como em Descartes); o objeto quntico um objeto que no
tem existncia atual. O papel do observador ser o de cortar a cadeia das probabilidades estatsticas, de fazer surgir
uma existncia individual em ato. O que faz surgir essa existncia no a interveno de um para-si mas um
pensamento que anexa a si um aparelho. [...] Toda operao da nova mecnica uma operao no mundo, que nunca
alheia ao ato do medidor. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.152).
42
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.141-161: La thorie de lobservation en mcanique quantique.
36
de sua posio, tem um ponto de vista nico daquilo que toma por objeto, porquanto sempre faa
uma separao da conscincia de um Eu de um mundo exterior onde se situam o aparelho e o
objeto, constituindo ento uma nova objetividade ao atribuir- lhe uma nova funo.
O aparelho, em fsica quntica, j no tem o mesmo sentido que em fsica clssica. Para
os clssicos, o aparelho prolongamento de nossos sentidos. Do ponto de vista
gnoseolgico, os aparelhos so comparados a uma sensorialidade mais precisa, eles nos
fazem conhecer o estado de uma coisa. Os aparelhos em mecnica ondulatria deixam
de ser amplificadores; eles empregam processos de desencadeamento e de avalanche,
suscetveis de provocar a manifestao, no nvel macroscpico, de fenmenos
extremamente pequenos, to pequenos que a desproporo entre aquilo que realmente
percebido e o que se quer conhecer torna-se enorme. O aparelho no nos apresenta o
objeto. Realiza uma antecipao desse fenmeno, assim como uma fixao. Da, como
observa Bachelard, o carter factcio do fato cientfico moderno. A natureza conhecida
uma natureza artificial. Mas no ser possvel, apesar de tudo, reencontrar a Natureza em
si? O prprio contedo da medida obriga-nos a conceber a medida sob um outro prisma.
O ato de medir vai fixar o objeto, faz -lo aparecer em sua existncia individual.
(MERLEAU-PONTY, 2000, p.150).
A mecnica quntica parece, portanto, apresentar filosofia os eternos problemas
epistemolgicos que sempre tendem a retornar e que dizem respeito possibilidade ou no de
conhecer-se o objeto em si. E no seno por esse motivo que o pensamento kantiano
invariavelmente utilizado como referncia obrigatria para discutir-se at que ponto o objeto
pode ser o resultado de uma construo ideal.
O fenmeno, em Kant, objetivo porque fundado numa idealidade, a do tempo e do
espao. Essa idealidade faz dele outra coisa que no um fenmeno e permite-nos
construir um fenmeno com valor de objeto. Ora, a mecnica quntica no tem essa
virtude de integrao do mltiplo que, segundo Kant, a prpria definio do
pensamento objetivo. O pensamento clssico coordena os fenmenos num modelo
objetivo da Natureza. essa unificao que nos parece impossvel no nvel da mecnica
quntica. Se uma filosofia puder corresponder mecnica quntica, ser uma filosofia
mais realista, cuja verdade no ser definida em termos transcendentais, e tambm mais
subjetivista. Ao eu penso universal da filosofia transcendental deve suceder o aspecto
situado e encarnado do fsico. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.156).
Portanto, o realismo que se pretende extrair dos procedimentos de investigao da mecnica
quntica no aquele do sentido clssico em que h uma coincidncia com um objeto em si,
mas aproxima-se do problema da percepo em que a dualidade do corpo e do campo faz pensar
37
na dualidade do processo perceptivo. Utilizando-se das obras de Destouches-Fvrier
43
, Merleau-
Ponty (2000, p.141-161) esfora-se em demonstrar que a ontologia da pura coisa no a nica
concluso possvel da percepo.
A percepo s desemboca na blosse Sache [pura coisa] se a consideramos, no em seu
campo de origem, mas em sua concluso. A ontologia de Laplace est longe de fundar-
se em percepes naturais, a sua concepo da percepo devida a uma elaborao da
percepo pela cultura. [...] O que o vento percebido? Algum, uma coisa, um
fenmeno? as trs coisas ao mesmo tempo... [...] A prpria noo de escala uma
noo absolutamente incompreensvel se no nos referirmos experincia perceptiva,
implicando a homogeneidade do medido e do medidor que o sujeito faa causa comum
com o espao. A idia de um sujeito encarnado necessria para compreender o
microscpio e a microfsica. [...] a percepo que me d a conhecer a divisibilidade
infinita do espao e que o Ser no composto de elementos. [...] O mundo percebido no
, de maneira nenhuma, um dado imediato. A mediao do saber permite-nos
reencontrar indiretamente e de um modo negativo o mundo percebido que as
idealizaes anteriores nos tinham feito esquecer. Tal concepo no um psicologismo.
A percepo no nos fornece uma construo artificial da natureza. (MERLEAU-
PONTY, 2000, p.160-161).
O empenho de Merleau-Ponty (2000, p.155-159) em mostrar que a percepo, mesmo
no sendo um dado imediato, no atravessada pela cultura, pelas idealizaes, mantendo-se em
uma atitude natural, encontra as habituais resistncias que a fenomenologia enfrenta ao tentar
superar o kantismo. Por isso, foroso retornar a Kant, ainda que seja para refut-lo.
1.3.1 O ESPAO.
Para Brunschvicg
44
, existem dificuldades em lidar com o conceito de espao em Kant
porque o espao , em primeiro lugar, a maneira como somos afetados, mas, em seguida, no
mais contingncia mas necessidade intrnseca, sinnimo da possibilidade de uma constituio
de um objeto para ns. Possui, ento, uma significao ontolgica, visto que, sem ele, no h
43
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.141: La structure des thories physiques e Dterminisme et indterminisme.
44
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.40-62.
38
Ser. Kant hesitaria, portanto, entre a facticidade e a idealidade do conceito de espao, e entre as
duas no existe conciliao possvel.
Segundo Brunschvicg, essas dificuldades provm do fato de Kant ter acreditado na
possibilidade de falar do espao numa intuio pura, de formar uma intuio formal.
Pelo menos idealmente convm, para Kant, distinguir as coisas e o espao, distinguir, no
espao, o continente e o contedo. [...] Para Brunschvicg, mesmo idealmente s h
espao povoado: A filosofia do juzo escapa s antinomias ou, mais exatamente, as
antinomias lhe escapam porque, em vez de considerar o espao geomtrico como um
todo dado que a anlise resolveria em seus elementos, ela coloca-se na origem da ao
que engendra o espao. A noo de espao o sinal de uma tenso, uma experincia
carnal prolongada pelo nosso pensamento para alm de seus prprios limites. O nosso
corpo o instrumento do trabalho pelo qual ordenamos o horizonte de nossa vida
cotidiana, e permanece o centro de referncia em relao ao qual se determinam as
dimenses fundamentais do espao [...]. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.42).
Entre o absoluto newtoniano e a relatividade cartesiana, o espao, na proposio
de Brunschvicg, liberta-se de um ponto de fixao e da medida verdadeira, e devolve- lhe sua
atividade coordenadora que, embora possa estender-se ao infinito, mantm no corpo sua
origem e seu centro de perspectiva, resultando em um dado relativo ao nosso corpo. Segundo
Merleau-Ponty (2000, p.43), tal soluo permite-nos recusar a escolha forosa entre conceber a
matria extensa como estendendo-se ao infinito, ou reduzir o espao matria finita e, portanto,
a concepo do espao como um continente. [...] O espao no finito nem infinito. Ele
indefinido porque est posto diante de um sujeito a-espacial. As implicaes epistemolgicas
que Brunschvicg introduz a de que, em no havendo mais uma idia de Natureza como sistema
de princpios e leis, no temos mais que considerar um a priori e um a posteriori da Natureza,
no cabendo mais distinguir entre aparncia e essncia, seja em ns ou fora de ns. Quanto s
implicaes histricas, podemos supor que no haja uma realidade construda segundo leis
necessrias, conforme pressuponha Descartes, mas apenas sincronismos nos quais se tenta
encontrar leis que no lhe preexistem, tal como Foucault assevera em sua busca por uma
arqueologia do saber.
39
A questo, colocada por Kant, de um a priori no entendimento frontalmente
abordada pela fenomenologia que busca superar o idealismo transcendental que ainda tende a
alojar na conscincia os aspectos cognitivos do Ser , abrigando na experincia perceptiva a
existncia da Natureza e a presena do outro. Todavia, aqui, a fenomenologia encontra um
desafio imenso, j que nossa percepo constantemente pervertida pela reflexo, pela cultura,
criando uma incompossibilidade
45
entre um mundo possvel e um mundo atual. Segundo
Merleau-Ponty (2000, p.64), Schelling teria descoberto aquilo que Leibniz j tinha sugerido: a
percepo nos ensina uma ontologia que ela nica a poder nos revelar. Da, para Schelling
diversamente de Fichte, que acreditava que toda aparncia de subjetividade derivada da
conscincia , o papel do mundo percebido como ambiente de experincia em que no h
projeo da conscincia sobre todas as coisas, mas participao da minha prpria vida em todas
as coisas, e reciprocamente. Conforme aponta Merleau-Ponty (2000, p.117), a fenomenologia
quer descobrir uma passividade originria, por oposio passividade secundria do hbito e,
nisto, Husserl distingue-se de Kant, pois a sntese passiva, que faz com que eu perceba a coisa,
nunca pensada como construo do Eu. [...] O que criado pela atividade do homem so os
objetos culturais, as idealizaes, como dir Husserl no final de sua vida. Ora, o que a
fenomenologia persegue uma estrutura pr-reflexiva, pr-cognitiva, cuja percepo de um
mundo vivido supe a existncia de um corpo e a presena de outrem
46
.
45
O que faz a diferena entre o mundo possvel e o mundo atual so as incompossibilidades, incompossibilidades
estas que, segundo Leibniz, so o segredo de Deus. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.65).
46
Trata-se, no presente caso, de uma filosofia transcendental muito diferente daquela de Kant: a conscincia, mesmo
reduzida, conserva um recanto nela prpria, uma zona fundamental e originria sobre a qual construdo o mundo
das idealizaes. Kant ignora os graus inferiores da constituio, ou seja, a infra -estrutura que precede os atos de
idealizao, e que fornecem uma base quase natural para o desenvolvimento do Ego cogito, porque o que interessa
em primeiro lugar a Kant a constituio dessas idealizaes que so a cincia e a filosofia. Husserl, por seu lado,
quer compreender aquilo que no filosfico, o que antecede a cincia e a filosofia: da seu interesse por esse
trabalho preliminar pelo qual se constitui uma coisa prvia e que da ordem do primordial; da a descrio do papel
do corpo na percepo. Toda a filosofia da cincia supe que o problema est resolvido em seus graus mais baixos:
Kant, por exemplo, no coloca o problema do Outro. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.117).
40
O estabelecimento de um momento pr-reflexivo parece no ser uma ambio
somente da fenomenologia, mas tambm de autores ps-estruturalistas como Deleuze e Foucault
que procuram um campo de construo do sentido em um ambiente pr-cognitivo em que a
conscincia seja expurgada de sua potncia ativa e unificadora na inteleco da realidade,
deslocando o mundo interior e, por vezes, solipsista onde se aloja o sujeito categrico, para
formas mais plurais e abertas a uma exterioridade em que o pensamento possa mover-se. Trata-se
de um esforo permanente para superar a crtica kantiana, para desterritorializar o pensamento de
seu campo transcendental, acomodando-o ou melhor, colocando-o em movimento , na medida
do possvel, em uma subjetividade desprovida de centralidade, exposta ao mundo emprico
47
.
1.3.2 O CORPO.
Tentando superar as ambigidades de Husserl quanto ao papel da conscincia na
cognio do mundo, Merleau-Ponty estabelece o corpo como rgo do eu posso (ich kann),
como excitvel, como sujeito-objeto, aparecendo como o zero da orientao.
Quando toco minha mo esquerda com minha mo direita, minha mo tocante apreende
minha mo tocada como uma coisa. Mas, de sbito, dou-me conta de que minha mo
esquerda comea a sentir. As relaes se invertem. Fazemos a experincia de um
recobrimento entre a contribuio da mo esquerda e a da mo direita, e de uma inverso
de suas respectivas funes. Essa variao mostra que se trata sempre da mesma mo.
Como coisa fsica, ela continua sendo sempre o que e, no entanto, diferente segundo
for tocada ou tocante. Assim eu me toco tocando, realizo uma espcie de reflexo, de
cogito, de apreenso de si por si. Em outras palavras, meu corpo torna-se sujeito: ele se
47
Mas a fenomenologia no demonstra ter tantas certezas quanto parecem ter os ps-estruturalistas de que a
conscincia possa ser abolida como estrutura fundamental na cognio do mundo. Husserl oscila, como mostra
Merleau-Ponty (2000, p.118), entre a ruptura com a atitude natural e a compreenso desse fundamento pr-
filosfico do homem. Para Husserl, o irrefletido desempenha tanto o papel de fundante e de um fundado; e
refletir , ento, desvelar o irrefletido, no que residiria a um certo estrabismo da fenomenologia: aquilo que, em
que certos momentos, explica, o que est no grau superior; mas em outros, ao contrrio, o que superior a presenta-
se como tese sobre um fundo. Assim, a fenomenologia denuncia a atitude natural e, ao mesmo tempo, faz mais do
que qualquer outra filosofia por reabit-la. De modo que, somente no final de sua obra, Husserl ir considerar
como um trao essencial da fenomenologia que o mundo das idealizaes seja construdo sobre um mundo pr-
reflexivo, um Logos do mundo esttico, o Lebenswelt.
41
sente. Mas trata-se de um sujeito que ocupa espao, que se comunica consigo mesmo
interiormente, como se o espao se pusesse a conhecer-se interiormente. Deste ponto de
vista, certo que a coisa faz parte de meu corpo. H entre eles uma relao de co-
presena. O meu corpo aparece como excitvel, como capacidade de sentir, como
uma coisa que sente. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.123).
Analisemos o que foi dito. Epistemologicamente, temos que o corpo, aqui, atua como uma
espcie de matriz perceptiva do mundo: no s as coisas passam por ele, como ele prprio passa
por si. Aqui, esse sujeito no mais uma substncia extensa nem pensante, mas, quando muito,
ambas. Entre Espinosa
48
e Leibniz
49
, a proposio de Merleau-Ponty parece situar-se em uma
paralela. O corpo, se ainda coubesse dele dizer que uma substncia, simultaneamente extenso
e pensante, j que tanto define uma espacialidade como conhece a si mesmo. Mas, esse corpo que
ocupa espao tambm um espao que reconhece a si mesmo enquanto tal. Como espcie de
cogito, o corpo tambm marca o zero da orientao, como aquilo a partir do qual torna-se
possvel no s a reflexo, mas que tambm absorve o mundo, enquanto alteridade, em um
campo nico, j que ele existe enquanto habitante do mundo, no mundo, e no fora dele.
Eu organizo com meu corpo uma compreenso do mundo, e a relao com o meu corpo
no a de um Eu puro, que teria sucessivamente dois objetos, o meu corpo e a coisa,
mas habito o meu corpo e por ele habito as coisas. [...] a conscincia que tenho de meu
corpo uma conscincia escorregadia, o sentimento de um poder. [...] dele que
procedem todos os lugares do espao: no s porque a localidade dos outros lugares se
concebe a partir do lugar do meu corpo, mas tambm porque meu corpo define as formas
otimais; quando observamos algo atravs do microscpio, diz Husserl, h uma
estranha teleologia do olho, a qual faz com que este seja instintivamente chamado por
uma forma otimal do objeto. a atividade do corpo que define essa forma; e assim
estabelecida em ns a idia de um Rechtgrund [fundamento de direito], a partir do qual
ser formado todo o conhecimento. Eu poderia em seguida deslocar as normas, mas a
idia de norma foi fundada por meu corpo. O absoluto no relativo, eis o que meu corpo
me proporciona. Mas se no existem coisas sem a freqentao de meu corpo, a coisa
dada ao meu corpo est longe ainda de ser a pura coisa, ela permanece retida como
uma lasca no interior do meu corpo. O sujeito levado s coisas por seu corpo, mas o
papel de seu corpo ainda no consciente. preciso que eu aprenda a considerar meu
corpo como um objeto, pois o meu corpo ainda no est completamente objetivado. [...]
Um indivduo que s tivesse olhos, diz Husserl, no teria o conhecimento de si mesmo.
Falta-lhe um espelho. Faltam-lhe os outros. At aqui, temos apenas uma coisa solipsista
como o corpo. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.123-124).
48
O qual prope a existncia de apenas uma substncia: a infinitamente infinita: Deus; da qual herdamos apenas os
seus dois atributos: o pensamento e a extenso.
49
Para quem existem infinitas substncias: as mnadas, que podem ser extensas ou pensantes, alm de Deus, nica e
infinita.
42
Simultaneamente sujeito e objeto, o corpo matriz, grau zero da orientao com as
coisas. O corpo, contudo, no pode ser entendido aqui como um mero recurso tautolgico que
transfere o local da cognio de uma conscincia para seu suporte material, como uma espcie de
receptculo da alma. Essa percepo de outrem, que faz com que eu apreenda o corpo como
habitado, no consiste em transferir para o corpo de outrem o que eu sei [...]. A Einfhlung
[empatia] uma operao corporal. Ou seja, a presena de algum no nos dada por seu
conhecimento, por uma atividade originalmente reflexiva, mas por uma estesia, uma percepo,
tal qual quando nos apercebemos do vento que sopra em nosso sentido ou do sol que nos aquece.
uma situao complexa em que no sabemos o que exatamente nos toca, mas temos a certeza
da presena de algo que cria entre ns e o mundo um vnculo, uma espacialidade comum. Ao
apertar a mo de outrem acabo sentindo algum no fim dessa mo: perceber outrem perceber
no s que lhe aperto a mo, mas que ele me aperta a mo. H uma simultaneidade nesta ao
que faz com que a relao sujeito-objeto dissolva-se em um campo intersubjetivo em que no h
anterioridade de nenhuma das partes no ato desse reconhecimento. Eu no projeto no corpo de
outrem um Eu penso, mas apercebo o corpo como percipiente antes de aperceb-lo como
pensamento. [...] Essa relao carnal com o outro absolutamente indispensvel para pensar uma
blosse Sache. De modo que no possamos afirmar que os objetos existam antes
50
de minha
relao com o mundo, antes que eu possa estar no mundo enquanto algo que se espacializa. As
minhas percepes vo tornar-se eventos localizados no espao e no tempo. Vou conve rter- me
em Raumding, coisa espacial
51
.
50
Existe uma universalidade primeira da sensao. O universal no o conceito, mas essa percepo em carne e
osso, fundamento da minha relao com os outros. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.129).
51
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, P.125-126.
43
Se o corpo algo que se espacializa, ento o que esse espao onde se situa o meu e
os demais corpos? Como denominar esse espao onde se do as espacializaes que os corpos
operam? Segundo Merleau-Ponty (2000, p.126-130), Husserl j havia alertado que para
constituir o mundo da cincia, preciso supor um Umwelt [ambiente, meio] prvio onde as
coisas se do, onde os objetos emergem. Talvez a Natureza, entendida enquanto a prpria Terra,
seja esse solo onde as relaes espaciais entre os corpos e as coisas se do.
Para Descartes, a Terra apenas um corpo entre outros, mas para a percepo originria
a Terra indefinvel em termos de corpo: ela o solo de nossa experincia. Dela no
se pode dizer que finita ou infinita, no um objeto entre os objetos, mas a matriz em
que se engendram os objetos. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.127).
A Terra, talvez como o Ilimitado, como um plano de imanncia. De todo modo, no podemos
pensar sem referncia a um solo de experincia desse gnero, pois aqui a Terra tambm surge
como um campo de possibilidades antes de se constituir num campo de objetos: a Terra pode ser
considerada como portadora de todo o possvel, ou ainda, a Terra como Offenheit, como
abertura, com horizontes que so apenas horizontes. Ora, ainda que no se confesse,
acreditamos, mais uma vez, que haja aqui um ponto de contato entre a fenomenologia e o ps-
estruturalismo na busca de um campo pr-reflexivo que rompa com a tradio epistemolgica
fundada na dicotomia conscincia-mundo. Para a fenomenologia, ao menos, tudo o que se passa
no se explica pela interioridade, nem pela exterioridade, mas por um acaso, que a
concordncia entre esses dois dados, e que assegurada pela Natureza. Quem define, ou melhor,
quem percebe e d sentido s coisas no est localizado no pensamento seja por uma positividade
ou passividade do mesmo diante dos objetos, mas nesse intermundo, nesse espao comum que
se cria entre meu corpo e as coisas que os objetos vm cena.
No se podem deduzir das puras coisas as nossas relaes com o nosso corpo, com os
seres percebidos e com os outros seres percipientes. Cumpre admitir, portanto, que este
mundo no aparncia em relao quele das puras coisas mas, ao contrrio, que
fundador em relao a essas puras coisas. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.128).
44
Aqui, a questo epistemolgica ganha uma nova configurao, mas est longe de ser solucionada,
j que o corpo persiste como absoluto, como grau de zero da orientao, situando-se num pla no
pr-reflexivo antes do qual no se pode pensar. Por isso, a pergunta de Husserl sempre retorna:
deve-se passar da doxa pistm, ou da doxa Urdoxa, doxa primordial?.
Parece que andamos em crculos, voltando sempre quele momento de tentativa de
superao das aporias socrticas. A fora do conceito de natureza reside, em parte, dessa mesma
indagao, j que a physis grega aparece em um momento anterior a toda especulao sobre a
origem do prprio conhecimento. A natureza d o conforto desse solo do qual participamos e
pertencemos inexoravelmente at o dia em que dele fomos expulsos por procurar o conhecimento
52
. A busca pelo fogo primordial, pela rvore do conhecimento, criou um abismo entre ns e o
mundo
53
. Por isso, a Terra, enquanto solo, ou plano de imanncia, a partir do qual as coisas
operam, permanece como aquilo atravs do qual ns mantemos uma relao de carter original e
primordial, como espao em que todos os objetos podem ser apresentveis originariamente.
Ilimitado, esse solo sempre o mesmo, porque as fronteiras e limites que impomos a esse
continuum no passam, de alguma forma, de arbitrariedades, de diferenciaes, que fazemos no
mundo ao procurar dotar de sentido os inmeros fenmenos que nele ocorrem.
Aonde quer que eu v, daquele lugar fao um Boden [solo, terra]. Ligo o novo solo
ao antigo em que habitei. Pensar duas Terras pensar uma mesma Terra. No h duas Terras,
porque a velocidade, ou o sobrevo, do pensamento to infinita quanto o solo absoluto que
percorre. E no seno quando o habitamos, traando um crculo em sua vastido, espacializando
52
Talvez, possamos ilustrar esse corte epistmico, que separa o homem da natureza, o corpo do conhecimento, pela
passagem bblica descrita no Gnesis em que ocorre a expulso de Ado e Eva do paraso. Justamente por terem
provado da rvore do conhecimento e descoberto que estavam nus, por punio divina, ambos passam ento a
distinguir o bem do mal.
53
A partir do qual, podemos tambm pressupor uma tentativa de reconciliao com esse mundo, que, de modos
diferentes, teria sido suscitada por parte de autores como Husserl e Heidegger.
45
o movimento que lhe atravessa, que encontramos a segurana do finito que o territrio lhe
assegura.
I.3.3 A NATUREZA.
Retornemos noo de espao. O que, atravs da cincia, sabemos sobre o espao?
1) O espao euclidiano no pode ser considerado uma condio a priori de nossa cincia
e de nossa experincia. No uma estrutura de direito. Os gemetras no-euclidianos, ao
generalizarem a noo de espao, fazem do espao euclidiano um caso particular.
2) Os espaos no-euclidianos mostram-nos que o espao euclidiano no uma estrutura
privilegiada de fato. No o nico espao real entre todos os espaos possveis. Pode -se
considerar que ele um aspecto que o espao no-euclidiano adquire em pequenas
distncias.
3) A prpria questo da natureza do espao no tem sentido.
(MERLEAU-PONTY, 2000, p.163).
A partir da anlise da obra de Reichenbach
54
, Merleau-Ponty (2000, p.165-169) afirma que no
h experincia da geometria pura na qual possamos apreender a estrutura do espao, o que
colocaria em dvida a idia de uma natureza em si do espao. A parte que compete estrutura
do espao e fsica do meio s pode ser estabelecida por um esprito que conhece o espao a
partir do exterior, o que implicaria na admisso de um kosmos thoros [contemplador do
mundo]. O espao ento no seria ento nem euclidiano, nem riemaniano
55
. O espao no
algo. As diferentes geometrias so mtricas, e as mtricas no so nem verdadeiras nem falsas e,
por conseguinte, os resultados dessas diferentes mtricas no so alternativas. J Bergson, a
partir de uma interpretao da teoria da relatividade, alega que no existe mais tempo nem
54
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.165: Atome et cosmos .
55
O espao riemaniano, que admite a cincia relativista de Einstein, no seria exatamente real, mas objetivo, na
medida em que permite integrar melhor os resultados da fsica moderna que o espao euclidiano. Nesse caso,
pode-se falar, portanto, de um espao fechado, de tal sorte que ao percorr -lo se retorna ao mesmo lugar, o que
tornaria a sua verificao experimental relativa. De todo modo, os resultados da teoria da relatividade, se
confirmam a objetividade do espao riemaniano, no nos autorizam a dizer que o espao riemaniano. Assim, a
idia do espao fechado no deve ser considerada como retorno a uma tese finista e como uma superao do
relativismo kantiano mas, ao contrrio, como sua plena realizao (tal a posio de Brunschvicg). (MERLEAU-
PONTY, 2000, p.167).
46
espao se no houver mais coisas, se no tiver figura, de modo que para restabelecer as coisas
e, por conseguinte, o tempo e o espao, foroso devolver ao mundo uma figura; mas isso
porque se ter escolhido um certo ponto de vista, adotado um sistema de referncia. Todavia,
Merleau-Ponty (2000, p.169-170) parece contestar tal posio em duas frentes. Primeiro,
colocando que Bergson, com muita freqncia, s reivindica para a filosofia o direito de uma
intuio do tempo diferente das determinaes da fsica, e parece dizer que a essncia do espao
esgota a intuio do espao
56
, alegando que a fsica s possvel se puder ter uma percepo
do espao. Segundo, questionando se a noo de espao deva se submeter s determinaes da
fsica, mesmo quando essa seja formulada por fsicos ou matemticos adeptos da idia de um
espao riemaniano. Conclui, ento, afirmando: No se pode dizer que o espao riemaniano,
nem dizer que no riemaniano, no mximo pode-se falar de tendncia para curvar o espao. O
espao perceptivo polimorfo.
Bergson esfora-se por conceber a relatividade filosoficamente. Encontra na doutrina
dos fsicos um elemento absolutamente vlido: a concepo de um tempo que no seria
independente dos nossos instrumentos de medio e que seria concebido tal como nossos
instrumentos de medio nos ajudam a defini-lo. [...] No obstante, se Durao e
simultaneidade no foi entendido pelos fsicos quando de sua publicao, a fsica
aproximou-se depois de Bergson e at inspirou-se em alguns de seus temas. Admitiu -se
que a pluralidade dos tempos no era necessria, que era preciso distinguir tempo vivido,
tempo atribudo, tempo real e tempo poss vel. [...] Bergson talvez tenha deformado a
fsica relativista, mas a fsica tornou-se bergsoniana. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.175,
177,178).
Todavia, se a fsica tornou-se bergsoniana em parte por ter feito uma crtica da
continuidade na medida do tempo, tambm possvel afirmar que a fsica considera a admisso
da intersubjetividade e a coexistncia dos mundos como fato, de modo que a mesma crtica ao
dogmatismo do tempo nico possa ser estendida ao espao quando a cincia admite a existncia
de um meio do qual no se poderia dizer que no nem temporal nem espacial. Segundo
Merleau-Ponty (2000, p.178-179), Bergson censurado por ter acreditado que essa experincia
56
Tal , segundo Merleau-Ponty, a tese de Bergson em O pensamento e o movente .
47
do tempo, com o qual estamos em contato, e que deve se comparar cincia, inteiramente
fechada sobre si mesma e sem relao com o tempo cientfico, separando radicalmente a
filosofia da cincia; separao que o leva a conceder brutalmente o espao cincia e o tempo
filosofia.
Bergson erra ao falar de uma experincia interna do tempo sem admitir que o espao
possa ser objeto de consideraes idnticas. Em Durao e simultaneidade, no declara
ele que a medida [do espao] esgota a sua essncia?
A cincia atinge o absoluto no
que diz respeito ao espao. No se deveria reencontrar o espao polimorfo do nosso
mundo vivido, que freqentado antes das mtricas, sejam elas euclidianas ou no-
euclidianas? (MERLEAU-PONTY, 2000, p.179).
A dvida, ou mesmo o descaso, de Bergson com o espao compreensvel quando
olhamos em retrospectiva para a tradio filosfica desde, pelo menos, Hegel. O espao como
mero suporte do movimento histrico, como natureza objetivada. O espao como dado, como
materialidade, como um mundo povoado de objetos passveis de evidncia. Da nossa insistncia
em tratar do espao pelo vis epistemolgico que teria outorgado ao lugar da cognio o prprio
espao do objeto. A epistemologia como a instituio de um mtodo que se faz espacializando.
H entre natureza e espao uma estreita relao. Se tomarmos a concepo de
Laplace
57
que supunha a idia de um ser ilimitado dominando a Natureza, ser esse
contemplador do mundo, dominando-o por meio de um sistema de leis eternas, de direito
irredutveis unidade e que do conta da totalidade dos fenmenos, havemos de entender
tambm esta natureza como um Todo exposto, composto de uma infinidade de pontos temporais
e espaciais em que o espao e o tempo devem ser ao mesmo tempo rigorosamente distintos e
rigorosamente correlativos. Distintos, pois nenhuma confuso pode existir entre o espao,
ordem dos acontecimentos simultneos, e o tempo, ordem das sucesses. Correlativos, pois o
tempo e o espao formam um sistema, em que s se pode conceber um dos dois servindo-se do
57
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.183-184.
48
outro. Tal concepo, segundo Whitehead
58
, leva-nos a crer que a nica realidade possvel
encontra-se no instante atual: o flash do presente em que o tempo se reduz ao instante
pontual; idia segundo a qual cada ser ocupa o seu lugar, sem participao nas outras
existncias espao-temporais. Todavia, julga Whitehead, impossvel pensar existncias
espao-temporais pontuais, compor o mundo a partir de tais relmpagos. Essas existncias
pontuais nada mais so do que o resultado de um trabalho do pensamento, de um trabalho de
diviso
59
. Assim como em Foucault (2004a, p.28) o saber no feito para compreender, mas
para cortar, ou ainda como em Deleuze e Guattari (1997a), que o conceito aquilo que povoa o
plano de imanncia atravs de recortes feitos no caos, podemos inferir que Whitehead acredita
que a questo epistemolgica esteja mais prxima de um mapeamento da natureza, de uma
organizao do mundo, do que de um desvelamento de uma verdade que se esconderia por trs
das coisas. As bordas da natureza esto sempre esfarrapadas (ragged edge), acredita
Whitehead, fazendo-nos supor que os limites entre suas partes, entre os objetos que a povoam,
sejam muito mais tnues que uma certa preciso cientfica possa supor.
Quando pensamos em um determinado evento, por mais cotidiano que este o seja,
como, por exemplo, um co atravessando uma rua, tendemos a decompor esse todo que
percebemos como uma durao em vrias partes: o co, a rua, e o que mais seja possvel
nominar. Conferimos a um evento que nos dado como uma cena sua decupagem em conceitos
personificados. Um processo de diferenciao, sem dvida, mas que no institui nada de original,
nada de autntico, a um evento que evidentemente nico. Neste caso, partilhamos apenas de
58
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.183-200.
59
essa idia que nos apresenta a natureza como aquilo em que estamos, aquilo a que estamos misturados. A
natureza , portanto, aquilo em que estamos, mistura, e no o que contemplamos de longe, como em Laplace. A
conseqncia disso tornar impossvel um pensamento substancialista. No existe mais um meio que nos permita
considerar os diferentes fenmenos como reveladores de vrias substncias, ou como atributos de uma nica
substncia.
49
uma subjetividade instituda, daquilo que j foi previamente determinado ao nosso olhar. A
natureza, aqui, decompe-se em objetos que se referem a conceitos pr-estabelecidos, retalhando
o real em partes iguais aos signos que j nos habituamos a identificar: o co, a rua. O
pensamento territorializa-se em cada conceito, ao invs de instituir um sentido novo a um evento
que nos atravessa como um instante indivisvel.
Alm da questo epistemolgica, o que est aqui em jogo tambm uma crtica
noo de matria e de substncia
60
. Noes, como j vimos, caras tanto filosofia e cincia
como ao espao. Toc-las significa atingir pressupostos fundamentais tanto fsica quanto
metafsica j que ambas constroem seus arcabouos epistemolgicos e tericos a partir das
mesmas. Assim, o co e a rua, enquanto objetos identificveis, permanecem imutveis. Sero
sempre as materialidades que convencionamos a substancializar, enquanto os eventos perdem-se
na tentativa de fazer coincidir o espao do acontecimento com uma somatria ordenada de
objetos espacializados. O co e a rua so como que abstraes de nosso pensamento, o que no
significa que sejam falsas ou imaginadas, mas deslocadas de seu contexto, da trama de relaes
em que se inserem, apenas pontuam as sobras de um acontecimento
61
.
60
A concepo tradicional do espao e do tempo como continentes, como aquilo em que a natureza est instalada,
impe uma concepo da matria e da substncia. A matria s pode ser uma entidade substancial da qual todos os
fenmenos sero atributos. Os acentos de nossa experincia so assim deslocados do atributo para a substncia.
Realiza-se desse modo um simples processo de pensamento, legtimo sem dvida se consciente, e que consiste na
passagem do sensrio, ou da conscincia ou revelao sensvel (sense-awareness), discursividade (discursion
knowledge). O curso da natureza foi interpretado como a histria da matria, como as probabilidades da matria
na aventura da natureza. Se temos que procurar uma substncia em alguma parte, eu a encontrarei nos eventos. O
evento ope-se naturalmente ao objeto. [...] O objeto o que no passa, o eterno, o reconhecvel, e o evento o que s
aparece uma vez, o nico. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.189).
61
O objeto no estranho ao evento e reciprocamente, mas no maneira da criao continuada cartesiana, porque
dizer que os objetos so eventos continuados seria repetir o erro de Descartes. a crtica da localizao nica que
deve tornar possvel a concepo do objeto e do evento. O objeto a propriedade focal qual se podem ligar as
variaes submetidas a um campo de foras. [...] O objeto a maneira resumida de assinalar que houve um conjunto
de relaes. A abstrao no um nada: recolocada em seu contexto, ela verdadeira. O que verdadeiro que algo
continua a estar a e em tal momento ou que a Natureza compreende em si enormes permanncias. [...] Mas essa
abstrao que o objeto deve continuar sendo uma abstrao. Pensar a Natureza como passagem do evento ao objeto
tomar nossas abstraes por realidades. S podemos compreender a natureza do Ser se nos referirmos ao nosso
despertar sensvel (sense-awareness), percepo em estado nascente. (MERLEAU-PONTY, 2000, p.190).
50
O espao pode ento ser definido no como sendo um atributo da matria ou da
substncia, mas atravs das foras que, colocadas em jogo em um evento, relacionando-se em um
determinado sentido, possibilitam o sur gimento tanto dos objetos como do acontecimento. A
materialidade sendo ento uma forma entre outras de atualizao do espao; como aquela que
propicia seno sua maior visibilidade sua maior chance de captura. Aqui o espao adquire o
sentido de um agenciame nto de foras que lhe d consistncia e coeso interna, criando um
campo de acolhimento ao qual as foras que nele interagem tambm lhe pertenam. Trata-se
evidentemente de um campo virtual de foras que permite que os objetos existam e que possam
ser atravessados por diversos espaos sem, contudo, confundir-se com eles, mantendo
simultaneamente uma relao tanto de pertencimento e de incluso, como de diferenciao.
Enquanto corpos, por exemplo, somos atravessados constantemente por esses espaos virtuais
que, no entanto, s so percebidos a partir do momento em que nos damos conta que somos
acolhidos por ele. por esses espaos que diferenciamo-nos e identificamo-nos, diferenciamos e
identificamos objetos, e que somos diferenciados e identificados pelo conjunto de outros objetos
que pertencem, a um dado momento, ao mesmo espao. No entanto, esquecemo-nos
constantemente de que esse espao de acolhimento seja efetivamente um espao porque
tendemos sempre a fixar-nos naqueles espaos materiais com os quais possamos compartilhar a
certeza de sua existncia. Existncia que, por sua vez, nos assegurada pela homogeneidade que
o padro de uma medida universal pode oferecer. , nesse sentido, muito mais fcil ter a certeza
de nossa existncia a partir de uma compreenso do mundo do que no mundo. Sentimo-nos mais
seguros fixando-nos em territrios que a exatido dos conceitos e da discursividade asseguram-
nos do que nos diluindo e desterritorializando em um mundo em que os outros, enquanto
extenses de uma mesma trama, nos confundem. Com isso, perdemos a chance de vislumbrar os
acontecimentos, pois preocupamo-nos mais com os significados do que com os sentidos.
51
I.4 SUBJETIVIDADES.
Desfeita a correspondncia entre materialidade e espao, podemos ento entend-lo a
partir de uma relao mais plstica que se estende noo de subjetividade. O espao percebido
como um campo de acolhimento ou agenciamento de foras que interagem e enquanto tal lhe
pertencem, define um mundo de objetos possveis, de compossibilidade. O espao no s como
territrio, mas como territorializao, como um campo de atualizao de virtualidades. Capaz de
atravessar e ser atravessado por outros espaos. Capaz de fazer surgir e acolher tanto o
acontecimento como diversos objetos em seu interior que passam ento a manter uns com os
outros uma relao de vizinhana que lhes garantam uma relao de pertencimento com esse
todo. Um todo que, contudo, no tem seus limites fechados, mas apenas bordas esfarrapadas,
permitindo que, de suas dobras, de suas zonas de interface com outros espaos, ou com um fora
ilimitado, as foras que nele interagem busquem linhas de fuga, encaixes com outros campos de
significao, com novos acontecimentos. Dentro desses espaos de pertencimento, encontra-se
estabilidade e segurana, ganha-se significado; saindo desses espaos, perde-se a orientao, mas
busca-se sentido.
Um corpo. Um nico corpo pode e atravessado por mltiplos espaos embora s
possa encontrar alguma identidade ao refugiar-se em um nico abrigo, ao apelar transcendncia
de um sujeito. A fenomenologia de Merleau-Ponty procura afastar a transcendncia tomando o
corpo como grau zero da orientao; o ps-estruturalismo de Deleuze e Guattari redescobre o
plano de imanncia. Ambas procuram dissolver o peso de um sujeito que tem diante de si um
mundo, ambas buscam um ndice, mnimo ou mximo, de indeterminao do sujeito.
52
Apesar de intrinsecamente ligados, no devemos, contudo, confundir subjetividade
com sujeito do conhecimento. Esse sujeito vinculado noo de identidade aquele que faz um
corte epistmico no mundo, possibilitando que utilizemos o espao como uma matriz do
conhecimento. Por outro lado, temos a herana de Herclito: o ser no , tudo est em devir; o
ser o ser do devir enquanto tal. Dois pensamentos inseparveis, pois no h ser alm do devir,
no h o um alm do mltiplo; nem o mltiplo, nem o devir so aparncias ou iluses; no h
tampouco realidades mltiplas ou eternas que seriam, por sua vez, como essncias alm da
aparncia; o mltiplo sendo a manifestao inseparvel, o sintoma constante do nico
62
.
Aqui j no temos mais a possibilidade de coincidir o sujeito consigo mesmo, pois no h
identidade possvel seno multiplicidade. Um obstculo para o exerccio do poder na medida em
que os espaos identitrios no so mais passveis de demarcao na objetividade de um espao
fsico e mensurvel, mas dissolvem-se na multiplicidade de um ser em transmutao. Aqui no h
corte epistmico, tampouco a chance do espao nos servir de matriz epistemolgica, seno como
possibilidade de acolher o acontecimento. Possibilidade que exige que tomemos o tempo e o
espao como virtualidades.
Podemos diferenciar a subjetividade do sujeito, oferecendo- lhe um ndice de
indeterminao. A subjet ividade j no se encontra alojada em algum como um sujeito. A rigor,
seria melhor falar em subjetividades, j que seus sentidos diferem segundo cada autor, segundo
cada personagem conceitual. Tomemos dois exemplos: a fenomenologia de Merleau-Ponty e o
ps-estruturalismo de Deleuze e Guattari.
A partir de Husserl, Merleau-Ponty (2000, p.180-181) diz que:
Eu formo a idia dos outros recorrendo minha relao com as coisas. S posso
apreender os outros como ocupando situaes no interior do meu mundo. porque duas
conscincias tm em comum a poro externa do campo de experincia exterior de
62
Cf. DELEUZE, 1976, p.19.
53
ambas que o seu tempo uno. [...] Essa co-percepo no percepo idntica. H toda
a movimentao que se quiser. simplesmente a posio de uma unidade, ou seja, uma
simultaneidade filosfica e no fsica. Se o fsico cr reencontrar um mundo por trs das
equaes, porque h nele participao nessa intersubjetividade. Essa simultaneidade
filosfica emerge de nossa pertena ao mundo enquanto mundo donde surgimos. Ela
desvela uma estrutura escondida desse mundo, que se atesta quaisquer que sejam as
espessuras espao-temporais que possam nos separar.
Merleau-Ponty encontra na intersubjetividade o conceito que melhor remete condio de um
ser que no se define pela negao de um outro, pois estende seus domnios para fora de um si,
diluindo-se em uma exterioridade, permitindo-se experimentar o mundo e por ele ser mais
diretamente afetado. Procurando um plano pr-epistemolgico para situar seu pensamento, ele
encontra no conceito de corpo no um mero substitutivo da conscincia como lugar do sujeito
epistemolgico, como se aquele fosse, a partir de ento, o ponto de partida de suas
intencionalidades. Ao contrrio, o corpo no pensa ou reage ao mundo, mas est e integra o
mundo em contnua permanncia como carne do mundo, como intermundo em que o que
importa sua experincia no como psiquismo nem como transcendncia, mas como estesia,
como intersubjetividade, e em que o sentido se d sempre na existncia, no como reduo, mas
como fundao, como instituinte.
J Deleuze e Guattari (1997a) consideram que qualquer coisa como um sujeito no
passa de um tipo psicossocial que pertence histria, enquanto os personagens conceituais so
do devir. Assim, o personagem conceitual como o autor do plano sobre o qual estabelecer
seus conceitos, e, nesta medida, atua duas vezes: fazendo um recorte no caos atravs de um plano
de imanncia e criando os conceitos que vo povo-lo. Ocorre que se o personagem conceitual
como que o sujeito de uma filosofia ou agente de enunciao que se remete ao tipo
psicossocial sem jamais se confundir com ele, significa dizer que no h uma relao causal
entre ambos, do mesmo modo que no se pode dizer que as desterritorializaes e
reterritorializaes do pensamento transcendem as psicossociais, nem que aquelas se reduzam a
54
essas ou sejam delas uma abstrao, uma expresso ideolgica. Sem dvida, no o filsofo
enquanto sujeito histrico, enquanto tipo psicossocial ele mesmo, o autor do plano de imanncia
ou o criador de conceitos, embora inevitavelmente interaja com ele, conquanto no possa deixar
de ser ele mesmo. Todavia, os tipos psicossociais e tampouco os personagens conceituais
reduzem-se histria enquanto sujeitos. Falamos quase sempre evocando uma terceira pessoa
subjacente, justamente por encarnarmos um tipo psicossocial seja este uma categoria social
(empregado, patro), afetiva (namorado, amante), ou outra qualquer; assim como os filsofos
encarnam personagens conceituais. Do mesmo modo, o conceito no se limita a expressar seu
tempo, quase sempre se fazendo ressoar em todas as pocas ainda que sujeito a modificaes.
Se no h dvidas quanto possibilidade do pensamento no se circunscrever a um
contexto histr ico, embora dele se alimente, ainda resta entender de que forma o personagem
conceitual e o conceito possam ser imaginados e entendidos fora de um sujeito que trace, como
autor, o plano de imanncia onde os mesmos se constroem, salvando-os (plano e conceito) de um
vis ideolgico. Melhor dizendo: como pode o plano de imanncia e o conceito forjarem-se fora
de uma transcendncia que busque em uma unidade ou totalidade exterior sua autoridade e
legitimidade? Segundo Deleuze e Guattari (1997a, p.64-66), isso s possvel mediante um
empirismo radical que no apresente um fluxo do vivido imanente a um sujeito, fazendo tal
qual como Sartre que supunha um campo transcendente impessoal que apresentava mundos
possveis enquanto conceitos e outrem (e no outro, que no passa de um sujeito-objeto) como
expresses de mundo possveis ou personagens conceituais. Um plano que apresente seno
acontecimentos e que estes no remetam o vivido a um sujeito transcendente que equivale a um
Eu, mas, ao contrrio, ao sobrevo imanente de um campo sem sujeito . Dentro desse
empirismo, a definio de sujeito s se justifica enquanto um hbito adquirido no campo da
imanncia em que toda transcendncia s tem lugar enquanto impessoal. O que em ltima
55
instncia eles propem que o pensar tenha um sujeito indeterminado, ou melhor, uma partcula
de indeterminao: Pensa-se! Por isso, no antes o filsofo que imagina um personagem
conceitual, mas o personagem conceitual que se d corpo atravs de um filsofo. E assim,
retornamos s tramas conceituais expostas no incio desta seo, pois
[...] pensamento criao, no vontade de verdade, como Nietzsche soube mostrar. Mas
se no h vontade de verdade, contrariamente ao que aparecia na imagem clssica, que
o pensamento constitui uma simples possibilidade de pensar, sem definir ainda um
pensador que seria capaz disso e poderia dizer Eu. (DELEUZE; GUATTARI, 1997a,
p.73).
No somente seno atravs dessa vontade de verdade que o pensamento desvia-se de seu plano
de imanncia para instalar-se na segurana do plano transcendental onde se reconhece como
sujeito, justamente ao encontrar sua identidade na interioridade de uma conscincia que s lhe
possvel em contraposio a um plano que lhe exterior.
Seguindo as trilhas de Deleuze e Guattari, que at aqui conduzem suposio de que
no haja sujeito seno como uma construo do prprio pensamento que, inseguro diante das
foras ameaadoras do caos, procura refugiar-se no conforto de uma conscincia, perguntar-se-ia
ento: como ento nomear essa indeterminao subjetiva do pensar? Ou melhor, como escapar da
inexorabilidade de um pensamento obcecado pela determinao de um sujeito? Acusando o
racionalismo em sua incontrolvel vontade de verdade pelos desvios que o pensamento se
engendra em busca da transcendncia? Se for possvel falar em diversas subjetividades
discordantes, ento por que atribu- las uma origem, uma descoberta, uma data de fundao?
Sendo assim, o que haveria antes dessa construo, seno uma espcie de cogito pr-reflexivo?
63
.
[...] uma vez introduzido na filosofia, o pensamento do subjetivo no se deixa mais
ignorar. Mesmo que a filosofia venha por fim elimin-lo, nunca mais ser o que foi antes
63
Merleau-Ponty (1991, p.167) coloca textualmente a questo de um cogito pr-reflexivo da seguinte maneira:
Deveremos acreditar que a subjetividade estava presente antes dos filsofos, exatamente tal como depois a deviam
compreender? Uma vez sobrevinda a reflexo, uma vez pronunciado o eu penso, o pensamento de ser tornou-se de
tal modo nosso que, se tentarmos expressar o que o precedeu, todo nosso esforo conseguir apenas propor um
cogito pr-reflexivo.
56
desse pensamento. O verdadeiro, por mais construdo que seja [...], torna-se em seguida
to slido como um fato, e o pensamento do subjetivo um desses slidos que a
filosofia dever digerir. Ou ainda, digamos que, uma vez infectada por certos
pensamentos, j no os pode anular; preciso que se cure deles inventando melhores.
(MERLEAU-PONTY, 1991, p.169).
De forma semelhante, Deleuze e Guattari (1997a) argumentam que a subjetividade
um conceito e no uma proposio lgica, uma funo cientfica com referncias a um estado de
coisas, passvel de ser refutado ou superado; ao contrrio, o conceito pode ser confuso, vago,
pode ser desconstrudo, mas no eliminado, pois ele renasce, reconstitui-se atravs de seus
componentes e suas zonas de vizinhana.
Sujeito, subjetividade, intersubjetividade. Todos esses conceitos podem ser remetidos
a uma condio espacial, j que eles sempre definem um espao de pertencimento e acolhimento
mais ou menos identitrio, mais ou menos psquico ou social, mais ou menos histrico, mas
sempre geogrfico. Contudo, no se trata aqui de elaborar uma cartografia desses espaos de
subjetividade, mas apenas de deslocar a questo da espacialidade da linguagem para o
pensamento.
Concordamos que haja um ndice de indeterminao do sujeito. Uma subjetividade
que atravessa os tipos psicossociais de forma a adquirir um ndice de indeterminao que apenas
os encarna, no lhes conferindo nenhuma autoria nos enunciados que proferem, mas que existe
como uma espacialidade que os agrega e os classifica em ncleos cuja identidade sempre
assegurada provisoriamente. Por isso, podemos mudar de opinio acerca desse ou aquele assunto,
bem ou mal dizemos este ou aquele argumento, no nos fixando em um sistema coerente de
idias. Flutuamos ento por diversas subjetividades distintas dependendo de certas circunstncias
que nos levam a pensar e agir desse ou daquele modo, o que nos torna irremediavelmente
contraditrios, mas demasiadamente humanos. No escolhemos propriamente esta ou aquela
subjetividade para nos inserir, mas somos atravessados por formas de subjetividade atravs das
57
quais atuamos como pseudoprotagonistas. Sempre h uma voz a nos dizer coisas que j foram
ditas, pensamentos que j foram pensados. Inserimo-nos em redes de subjetividade que nos
dominam, mas tambm nos libertam daquilo que, outrora, j pensamos ou desejamos. Precisamos
constantemente agarrarmo-nos a esse territrio seguro que representam essas subjetividades para
nos fazer compreendidos, para acreditarmos que no estamos sozinhos, e compactuarmos de uma
mesma linguagem. Precisamos da segurana que a crena da comunicao nos assegura, porque
precisamos viver de modo gregrio como Nietzsche diz. Desse modo, nada nos d mais garantia
de que possamos compartilhar de uma mesma subjetividade como quando projetamos diante de
ns a perspectiva de uma verdade como ncora desse espao cognitivo. Uma ncora, alada aos
cus de um mundo transcendente, em cuja eternidade e imutabilidade possamos confiar nossos
medos e receios, nossa garantia de um territrio seguro, livre do caos, dessa desordem exterior
que, acreditamos, no nos deixe caminhar. Precisamos fundamentalmente do outro para nos
assegurar que no estejamos sozinhos, abandonados nesse deserto cognitivo em que no
encontramos conforto. Precisamos nos comunicar com Deus, com seres intergalcticos, com
animais de estimao, com seres imaginrios, com a famlia, com nossos parceiros, com
estranhos. No porque necessitemos primordialmente trocar informaes que nos garantam nossa
sobrevivncia, estabelecer alianas ou compartilhar experincias, mas fundamentalmente porque
necessitamos de um espao contnuo de pertencimento em que sejamos reconhecidos e
identificados para poder existir.
As subjetividades atua m como essa continuidade de um espao comum que
construda por uma prtica social, fazendo-nos co-autores de um espao cognitivo compartilhado
por discursos e narrativas que nos acolhem e nos afirmam. Aqui, mito, filosofia, cincia e
tecnologia aproximam-se, no evidentemente porque possuam a mesma natureza, mas porque
forjam um territrio de certezas que nos garantem uma identidade. Aqui, aloja-se o conforto, mas
58
tambm mora o poder. O espao como matriz epistemolgica pretende colocar o espao do
discurso como terreno e objeto de prticas polticas, desalojando a histria de sua pretenso em
encar- lo como transformao interna de uma conscincia individual, ou ainda, de uma
grande conscincia coletiva no interior da qual se passariam as coisas
64
. Por isso, o espao
pode servir de matriz epistemolgica comunicao, j que seus meios tcnicos
fundamentalmente operam o controle das distncias. Distncias que, para percorr-las, exigem
subjetividade.
Por outro lado, concordamos tambm que o corpo possa ser o grau zero da
orientao, estabelecendo com o mundo uma relao carnal em que a percepo do outro se
confunda com a de si prprio. Situando-se em um plano pr-epistemolgico, a presena do corpo
como percepto faz de si coisa espacializante antes de ser espacializada pelo pensamento; faz de si
o lugar de instituinte antes do institudo. Se assim fosse, caberia ao corpo esse absoluto sobre o
qual todo pensamento precisa se apoiar. Caberia tambm uma chance maior comunicao,
como acontecimento, se realizar.
64
Metaforizar as transformaes do discurso atravs de um vocabulrio temporal conduz necessariamente
utilizao do modelo da conscincia individual, com sua temporalidade prpria. Tentar ao contrrio decifr-lo
atravs de metforas espaciais, estratgicas, permite perceber exatamente os pontos pelos quais os discursos se
transformam em, atravs de e a partir de relaes de poder. (FOUCAULT, 2004a, p.158).
PARTE II
O ESPAO E SEUS MOVIMENTOS DE
TERRITORIALIZAO E
DESTERRITORIALIZAO
59
II.1 APRESENTANDO O ESPAO.
A escolha do espao como objeto privilegiado de pesquisa da comunicao no
episdico, pois, como justificamos anteriormente, deve-se fundamentalmente a dois fatores.
Primeiro, porque vislumbramos nas tecnologias da comunicao a capacidade de reorganizao
do espao construdo pela modernidade. Depois, porque o espao como matriz serve-nos como
instrumento metodolgico capaz de fundamentar uma espcie de plano a partir do qual os
paradigmas do conhecimento possam ser analisados. A partir desse plano, o espao matriz tanto
da territorializao do pensamento (plano epistemolgico) que o conceito realiza, como da
percepo e da orientao no mundo dada pelo corpo (plano pr-epistemolgico).
Tomemos ento estes planos a partir de uma matriz. Uma matriz no um paradigma.
Se o paradigma atua como um modelo epistemolgico a partir do qual todo conhecimento
estrutura-se em uma determinada poca, a matriz situa-se antes em um campo pr-epistemolgico
a partir do qual os conceitos tornam-se possveis. Conseqentemente, uma matriz espacial no
significa que todas relaes espaciais sejam por ela determinadas, mas apenas as torna possveis,
como afirma Derrida (1995) ao falar sobre Khra que s existe pela passagem dos elementos que
a constituem, os quais, paradoxalmente, ali se formam.
Dentre as inmeras reflexes que possam decorrer sobre o conceito de espao, duas
questes parecem- nos fundamentais: a primeira saber se o espao tem um estatuto ontolgico
ou se uma construo do pensamento; a outra saber se os objetos formam o espao ou este
que os forma. De uma maneira geral, tanto a tradio metafsica, racionalista, como as cincias da
natureza, empirista, tendem a considerar o espao como extenso, associando-o materialidade
das substncias. Nestes casos, o espao seria como que um atributo da matria, como aquilo que
60
lhe d uma forma. Para Aristteles, por exemplo, a forma aquilo que atualiza as virtualidades de
uma matria, fazendo as coisas, os objetos, existirem
65
. Para os modernos, a extenso o que
define uma substncia cujo principal atributo o movimento e o repouso, determinando a massa,
o volume e a figura, opondo-se assim s substncias pensantes (alma, conscincia) e infinita
(Deus). Embora haja evidentemente diferenas entre tais concepes, poderamos afirmar que em
ambas mas indubitavelmente na metafsica clssica o espao define uma essencialidade das
substncias materiais, do seres fsicos. David Hume, no entanto, estabelece uma crise na
metafsica ao considerar que a idia de substncia ou de essncia seja insustentvel, na medida
em que defende que as idias no passem de um simples hbito mental de associar impresses
semelhantes e sucessivas, no garantindo nenhuma identidade s mesmas. Mais tarde, Kant ir
equacionar essa questo, afirmando que as coisas em si (numenos) no podem ser conhecidas,
mas apenas os fenmenos tal como se apresentam para ns. E esses se tornam possveis mediante
as categorias do entendimento e as formas da sensibilidade como o espao e o tempo. O espao
surge, ento, como uma condio do conhecimento e da existncia dos objetos e no mais como
um atributo da prpria coisa. Como as formas da sensibilidade so apriorsticas, o espao no
propriamente percebido, mas aquilo que permite a percepo
66
. De modo bastante simplificado
67
,
podemos ento afirmar que, na soluo kantiana, o espao que forma os objetos, enquanto na
tradio metafsica moderna, so os objetos que parecem, de algum modo, formar ou expressar o
espao.
65
No podemos i nferir, contudo, que a espacialidade seja um predicado ou atributo das substncias em Aristteles, j
que sua noo de espao, embora qualitativa, est ligada a uma hierarquia de lugares em que os seres ocupam na
realidade natural.
66
A soluo kantiana revoluo copernicana procurou superar o impasse entre inatistas e empiristas que
pressupunham que a razo poderia alcanar a realidade em si. Para um inatista, como Descartes, a realidade , em si,
espacial, enquanto para um empirista, como Hume, a realidade, em si, pode ou no repetir fatos contguos no espao.
67
Uma vez que tratamos dessa questo com maior profundidade nos captulos anteriores.
61
Quando nos perguntamos se so os objetos que formam o espao ou este que forma
os objetos, o que se coloca em jogo a prpria possibilidade do conhecimento e o retorno da
questo epistemolgica. Ao aproximarmos o espao prpria condio do conhecimento, no
podemos mais pensar a antecedncia entre um e outro seno sua simultaneidade. Entre espao e
conhecimento haveria, portanto, um regime de sincronia. Se o conceito de espao guarda
tamanha complexidade, os conceitos de territrio e lugar parecem contribuir para uma melhor
compreenso de toda questo. Ambos territrio e lugar inscrevem o espao em um campo de
significao que denota um processo de subjetivao atravs do qual seu sentido construdo.
Sucintamente, Duarte (2002, p.108-111) explica o territrio como sendo uma parte de um
espao onde uma organizao impera sem que, contudo, interfira na matriz espacial. Para tanto,
lana mo de dois exemplos de conceituao territorial extrados respectivamente da etologia e da
geopoltica. No primeiro caso, coloca que, em um mesmo espao, diferentes espcies podem
partilhar de territorialidades diferentes: numa savana, lees, hienas e zebras apropriam-se dos
mesmos elementos do espao, que est, no caso, dominado pelo leo, no entanto, os
formigueiros que se instalem na mesma rea, apropriar-se-iam de alguns elementos comuns (solo
e vegetao) desse espao, nem por isso podendo-se consider- los no territrio leonino. No caso
da geopoltica, afirma que o territrio define-se pela delimitao do Estado-Nao, de modo que,
sob uma mesma matriz espacial, diferentes territrios possam conviver. Por outro lado, lembra
que matrizes espaciais diferentes tendem a entrar em conflito na busca de um territrio
hegemnico. Esta seria a situao da colonizao da Amrica em que os europeus, com matrizes
espaciais diversas dos amerndios, impuseram uma territorialidade diferente daquela vivida pelos
nativos; seria tambm o caso do conflito entre os ocidentais e os islmicos que possuem matrizes
espaciais distintas: os primeiros baseados no territrio do Estado- nao, enquanto os outros
62
partem da idia de ummah, unidade universal baseada em princpios religiosos, que guia toda
sua cultura, inclusive a espacial
68
.
Tais consideraes permitem-nos supor que o espao no deva ser definido
exclusivamente como uma dimenso fsica ou material, mas possa ser disponibilizado por
elementos conceituais que permitam expandi- lo a uma dimenso subjetiva como resultado de
uma prtica social. Tambm podemos atribuir ao territrio uma dimenso no s fsica a partir do
momento em que o espao ganha sentido como campo de significao, cujas fronteiras no mais
necessariamente coincidem dentro de uma geometria euclidiana. Os espaos podem criar zonas
de incluso e excluso, mas tambm se justapor, atravessar e serem atravessados por outros
espaos, j que a contigidade no marca mais os limites de suas vizinhanas em um plano
material, mas a sua continuidade permite que suas relaes de vizinhana se estabeleam em um
plano virtual criando zonas de interface invisveis nos mapas polticos-administrativos, tornando
urgente uma nova geografia desses espaos reais de subjetividade.
Tratar o espao como mero objeto supe circunscrever um campo de anlise atravs
do qual o mesmo ser investigado segundo um determinado arcabouo terico. Em nosso caso,
h o interesse em tomar o espao a partir da comunicao e de seus meios tcnicos, supondo que
os mesmos operem, na contemporaneidade, uma desconstruo de um espao construdo na
modernidade. Todavia, o procedimento genealgico de recuar a esse momento histrico para
compreender as formas de sua construo no nos livra totalmente da dificuldade em determinar
que espao seja esse sem que recorramos a uma questo epistemolgica, na medida em que no
68
Trs conceitos so fundamentais para se entender a matriz espacial islmica: a ummah, a aabaiyya e maml aka.
A ummah designa a comunidade de mulumanos sem considerao com sua posio no espao, a idia que liga
todos os crentes no mundo, unidos por um sentimento de solidariedade e pertena denominado aabaiyya. Se o
territrio a poro de espao significado, a ponto de exercer influencia sobre todos os fixos e fluxos que a se
encontram e se sentem dele fazendo parte, o territrio da ummah a mamlaka, que interliga os mulumanos sem se
importar com limites precisos [...]. (DUARTE, 2002, p.222).
63
podemos conhecer um objeto sem que antes determinemos os modos atravs dos quais ele
apreendido. Essa interdependncia entre a definio do objeto de pesquisa e a epistemologia que
dele se apropria gera a necessidade de esboar uma metodologia que possa dar conta de pensar o
espao tanto como objeto como instrumento de anlise. Conseqentemente, o que pretendemos
no tanto fazer uma retrospectiva histrica das formas de construo e desconstruo do espao,
quanto delinear uma metodologia que trace um esboo atravs do qual se possa captar, ainda que
com menor nitidez, as mutaes que tais eventos desenham
69
.
II.2 TERRITORIALIZAO E NOMADISMO.
Em Mil Plats
70
, encontramos dois pares conceituais que nos servem de referncia
metodolgica para a compreenso da questo do espao: a noo de territorializao (e
reterritorializao) e de desterritorializao; e a de espao liso e espao estriado. As noes de
territorializao e de desterritorializao sugerem uma concepo de espao como um modo de
construo e desconstruo do pensamento, antes de tom-lo como dado constitutivo da realidade
e, por conseguinte, como objeto. Segundo tais autores, a organizao de um espao um dado
posterior ao esboo de um centro estvel e calmo que visa determinar um centro, um interior,
que mantenha, tanto quanto seja possvel, as foras do caos, de um mundo movente e
desterritorializado, em seu exterior. Estabelecido esse centro seguro, esse territrio , abre-se,
aos poucos, uma fresta para seu exterior, para as oportunidades que o mundo oferece, para o
69
Como tambm propusera Foucault (1981, p. 11) em sua arqueologia do saber, trata-se antes de recusar a histria
como condio de necessidade para a formulao de um campo epistemolgico determinado, do que um esforo por
encontrar a partir de que base, de qual a priori histrico e de qual espao de ordem se constituiu o saber; ou seja,
antever suas condies de possibilidade.
70
Cf. DELEUZE; GUATTARI, 1995-1997.
64
encontro com as foras do devir, para o virtual
71
. Se o pensamento territorializado caracteriza-
se pelo racionalismo em sua busca incondicional pela verdade remetendo-se, no limite, s noes
de identidade, permanncia e eternidade, contrariamente, o pensamento nmade atua na busca
permanente do devir, movendo-se pela afirmao da diferena, e no atravs de snteses
totalizantes que excluam a perspectiva da multiplicidade. Contudo, disto no resulta
necessariamente que a diferena instaure-se ao fim desse processo, posto que foras de
reterritorializao podem ajustar-se em novas formas identitrias que refutem a alteridade
72
.
Acreditamos que ao pensarmos a questo do espao como uma construo meramente
racional, mergulhamos em um debate estril sobre os privilgios que o inatismo e o empirismo
possam realizar na determinao do conhecimento, mas se deslocarmos o foco da investigao
filosfica para a produo de sentido, cremos que essas antinomias possam ser superadas, desde
que se considere que o sentido no apresenta um carter teleolgico ou um poder totalizador
como a racionalidade parece conter
73
. A emerso do sentido ocorre atravs do pensamento
nmade, como expresso da virtualidade, como linha de fuga em busca do devir, de ruptura com
os modos atualizados que se estruturam quando se concebe a realidade imersa na estabilidade do
pensamento racional. Todavia, no podemos concluir que razo e sentido sejam necessariamente
71
Cf. DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p.115-170.
72
Tal possibilidade expressa por Guattari (1992, p.169-178) em Caosmose, para quem o capitalismo promove um
nomadismo generalizado, porm reterritorializa as subjetividades em formas identitrias.
73
Supomos aqui que o conceito de razo contenha, em si, o pressuposto de uma noo de causalidade e finalidade,
remetendo a uma concepo de tempo cronolgico e a uma dimenso metafsica do mundo. Este raciocnio associa a
razo a um princpio do pensamento, mas de um pensamento territorializado que busca situar os acontecimentos
segundo uma ordem espao-temporal linear e, como tal, resultado de uma epistemologia que se fundamenta no
preceito de que h uma verdade por trs dos acontecimentos. Nos Seminrios de Zollikon, Heidegger (2001, p.50-
51) discorre sobre o que venha a ser o princpio da razo ao se perguntar se este um princpio evidente ou se ele
pode ser referido ao princpio da contradio, e se pergunta: Ele um princpio do pensar ou do ser? Sobre a
relao entre razo e causalidade, Heidegger diz: O princpio da causalidade fundamentado no princpio da
razo. E segue: O princpio da razo: Razo aquilo que no se pode levar mais para trs. De modo que h tanto
uma razo do ser como para o conhecer, pois todas as vrias razes so fundamentadas no princpio da razo: Tudo
que tem uma razo. Mas resta sempre a dvida em saber o quanto tudo isto no corresponda a uma verdade que,
no fundo, possa ser arbitrria.
65
excludentes, nem sequer faz- los corresponder aos movimentos de territorializao e de
desterritorializao
74
, atribuindo- lhes o peso do positivo ou do negativo e, portanto, tratando-os
como contraditrios, mas de seus cruzamentos e ns que possvel captar o sentido do espao.
Enquanto construo, o espao pressupe uma exterioridade, a partir da qual o sujeito
(enquanto interioridade) elabora representaes tais como a de cidade, regio e de nao, que
possibilitam aos indivduos circunscritos a esses territrios promover identidades. Se no projeto
moderno encontramos um sujeito como protagonista do saber ou como motor de transformaes
sociais, e se o espao, enquanto objeto, tangenciado por relaes sociais passveis de
significao, na contemporaneidade, esses sentidos esvaem-se diante de um cenrio em que as
incertezas avolumam-se, tornando esse sujeito oculto e no mais circunscrito aos ntidos limites
da materialidade, ao mergulh-lo em uma dimenso virtual
75
que abstrai da realidade a
materialidade do espao e, no limite, disponibiliza o tempo em sincronia aos eventos. Nesse
confronto entre tais realidades, o conceito de espao oscila entre a materialidade e a
imaterialidade, e o sujeito, igualmente, desloca-se entre um centro estvel e a diluio em uma
existncia fractal.
Os processos de desconstruo do espao, tpicos da contemporaneidade, se por um
lado, no aboliram ainda os lugares, parecem situ- los preferencialmente como lugares da
memria
76
, impossveis de vivenci- los seno atravs de uma lembrana afetiva que os reduz a
uma construo fictcia, ou ento consideram que as tecnologias da comunicao destituram-lhes
74
Embora na obra de Deleuze e Guattari (1995-1997) transparea uma certa estima pelos processos de
desterritorializao por engendrarem a possibilidade de que o novo nele se instaure e venha a ser, essa uma questo
bastante complexa para que possa ser esboada aqui sem o risco de uma enorme simplificao e, por conseguinte,
procuramos explor -la ao longo de nosso estudo.
75
Por dimenso virtual, entende-se, aqui, a possibilidade de estabelecer com o mundo uma relao no corprea,
como, por exemplo, atravs das tecnologias da comunicao, do telefone Internet.
76
Cf. AUG, 1994. Lugares da memria: como aqueles espaos fortemente referenciados e repertoriados contidos
na tradio antropolgica e na modernidade baudelairiana.
66
de sua imanncia transformando-os em simulacros da realidade. Aqui, torna-se pertinente refletir
sobre as relaes entre o nico e o mltiplo, o autntico e o infinitamente reproduzvel, pois se o
espao, enquanto construo, supe, ou ao menos sugere, uma relao espao-temporal nica, a
contemporaneidade parece disposta a suprimir esses lugares carregados por uma espcie de
aura
77
pela perspectiva de uma multiplicidade de imagens desprovidas de autenticidade,
confinando os lugares ao plano da memria. Mas, estariam os lugares tornando-se no lugares
78
ou efetivamente condenados extino pela supremacia da tcnica e de seus espaos
indiferenciados? Ou, ao contrrio, os lugares no se restringiram a sua contingncia histrica, a
sua dimenso atual, sendo pontos de acumulao de sentido, recobertos por camadas de
atualidade e virtualidade?
Podemos supor um arcabouo terico a partir do qual seja possvel verificar que a
desterritorializao, assim como uma conseqente hibridao dos espaos, no est
necessariamente associada contemporaneidade atravs da globalizao da economia ou da
mundializao da cultura, mas presente desde que haja um sistema de trocas e fluxos materiais
e imateriais operando
79
. Por outro lado, o que parece se constituir como um novo fenmeno nesse
quadro de nomadismo que se, historicamente, os fluxos imateriais eram concomitantes a um
sistema de trocas materiais, o que permitiria atrelar os processos de desterritorializao aos
deslocamentos materiais, na contemporaneidade ocorreria um descolamento desses fluxos
imateriais do plano da materialidade do territrio para o plano da imaterialidade do ciberespao
77
Cf. BENJAMIN (1994).
78
Cf. AUG, 1994. Referncia a Marc Aug que pensa na multiplicao de espaos indiferenciados (os no-lugares)
na contemporaneidade, tpicos das concentraes urbanas, que so tanto as instalaes necessrias circulao
acelerada das pessoas e bens (estradas, estaes, aeroportos), como os prprios meios de transporte e os centros
comerciais. O autor prope uma antropologia contempornea que pense o prximo e o atual, e no o distante e o
remoto como na tradio etnolgica e antropolgica que utilizam as categorias de tempo, espao e indivduo a partir
de uma tica estruturalista, tomando o lugar como objeto de recorte da realidade onde se expressaria a identidade
entre indivduo e sociedade, cultura e poltica.
79
Cf. VALLAUX (1914).
67
atravs de uma dinmica prpria. A questo da desterritorializao na contemporaneidade estaria,
portanto, diretamente vinculada a uma nova relao espao-temporal. A velocidade com que os
modos de propagao dos fluxos imateriais dar-se-iam na contemporaneidade no seria mais a
mesma que a os dos fluxos materiais, pois atravs da apropriao do espao eletromagntico
possibilitar-se- ia o uso de um espao virtual em que os fluxos imateriais circulariam a uma
velocidade muito maior do que os fluxos materiais. O uso do espao eletromagntico , ento, o
fato novo que coincide contemporaneidade, permitindo a fruio dos fluxos imateriais atravs
de uma dimenso infinitame nte mais veloz que a dimenso territorial por onde ainda
necessariamente circulam os fluxos materiais.
O sintoma da contemporaneidade parece ser, portanto, o de fazer coincidir a
virtualidade do ciberespao materialidade do espao geogrfico inaugurando novas mtricas e
subjetividades que recobririam os espaos com uma nova camada de possveis. Partimos da
premissa que os discursos que tratam tanto da construo como da desconstruo do conceito de
espao no sejam propriamente antagnicos e coloc-los como contraditrios constitui-se um
falso problema desde que se entenda o espao a partir da sincronicidade dos processos de
territorializao e desterritorializao do pensamento, j que de seus interstcios que emerge o
seu prprio sentido
80
. Portanto, no se trata de apenas mapear tais discursos, mas tambm de
disp-los obliquamente, na medida em que tratam de abordagens diversas que tanto aproximam o
conceito de espao ao mbito da matria como, ao contrrio, indicam processos de nomadismo
que findam por engendrar novos assentamentos.
80
Gilles Deleuze, ao discutir a possibilidade do sentido, fala que o sentido est na fronteira, em vez de alturas e
profundidades; importa a ele a superfcie de contato, o avesso que continua no direito. Nossa proposio terica e
epistemolgica instala-se na confluncia das duas posies, na captao do princpio que est no pensamento de
Herclito, na afirmao dos processos e na possibilidade de sua apreenso somente e enquanto processos.
MARCONDES FILHO, Razo durante.
68
II.2.1 TERRITRIO E PODER.
Os discursos de construo do espao so usualmente encontrados na tradio
geogrfica que, ao fazer uma leitura do espao fundamentalmente a partir de um pensamento
territorializado, tende a reduzi- lo materialidade e esfera da poltica e do poder
81
. Para essa
cincia, o conceito de espao usualmente insere-se em um contexto de territrio e circulao,
onde o territrio associado poltica e segurana, e a circulao aos fluxos da economia e s
oportunidades
82
.
Mesmo quando um gegrafo como Raffestin (1993, p.158-160) introduz sua
concepo de territorialidade como reflexo da multidimensionalidade do vivido territorial
pelos membros de uma coletividade, permitindo inserir um vetor mais subjetivo na configurao
territorial, persiste em sua anlise uma concepo dialtica em que a territorialidade emerge
81
Esta coincidncia entre Estado, poltica e territrio usualmente associada modernidade e formao dos
Estados-naes, o que denota que a noo de territorialidade guarda profundos vnculos com a noo de soberania e
legitimidade para estes autores. A rigor, sob esta tica, os processos de territorializao seriam derivados de uma
motivao econmica, pois os Estados-naes responderiam aos anseios de um modo de produo mercantilista que
clamava por uma legitimao do espao pblico a partir de uma nova configurao espacial que ento se instaurava.
A esta viso mais economicista do territrio como unidade poltica, podemos contrapor a abordagem antropolgica
inovadora de Pierre Clastres sobre as relaes entre sociedade e Estado, onde procura romper com o postulado
evolucionista de que o Estado seja produto de um desenvolvimento econmico determinvel ao propor a tese de
que nas sociedades primitivas, a guerra o mecanismo mais seguro contra a formao do Estado, opondo-se s
concepes de outros antroplogos, como Lvi-Strauss, que vem na guerra razes predominantemente econmicas.
(DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p.19). Maiores detalhamentos sobre a obra de Pierre Clastres tambm podem ser
vistos em: Arqueologia da Violncia e Sociedade contra Estado.
82
Sobre este aspecto, curioso o paralelo entre pensamento e poltica que o gegrafo Jean Gottman (1973) faz ao
comparar as vises de Plato e Aristteles sobre a funo da polis grega. Enquanto para o primeiro, a polis deve se
preocupar fundamentalmente com a segurana dos seus cidados, para o segundo, a oportunidade de se abrir para o
mundo representa um fortalecimento da esfera pblica. Em Plato, encontra-se uma forte preocupao em se manter
o territrio isolado em si mesmo, auto-suficiente, pois a forma de garantir a estabilidade dos cidados. Em
Aristteles, a abertura para o exterior no implica em tantos riscos quanto possa Plato temer, mas resulta em
oportunidades de trocas comerciais e culturais com os outros povos. Embora o contexto em que os filsofos gregos
expressem suas opinies seja marcado fundamentalmente por motivaes polticas e econmicas, pertinente
ressaltar como a noo de territrio para ambos move-se entre os binmios: territrio-circulao, fixos-fluxos,
estabilidade-velocidade, identidade-diferena. Binmios que podem contribuir para a compreenso do que seja um
pensamento territorializado e um pensamento nmade. Territrio, fixos, estabilidade e identidade aproximam-se
enquanto conceitos que visam demarcar um centro, um interior, estabelecer limites e fronteiras, e criar identidades. O
temor ao estrangeiro, ao desconhecido, ao outro, alteridade e diferena, levando a uma imobilidade e a uma
concepo de tempo que busca sempre permanecer estvel.
69
como resultado de interaes sociais que, no limite, revelam uma relao de poder com o espao,
tomado como objeto. Significa dizer que, embora a territorialidade seja um conjunto de relaes
que se originam num sistema tridimensional sociedade-espao-tempo, a concepo de territrio
que ele expressa ainda entende o espao como uma exterioridade, como um objeto atravs do
qual o sujeito, em suas relaes mediadas pelo social atravs do tempo, modifica atribuindo
valores no mais de uso, mas de troca.
As noes de liso e estriado, contidas no Mil Plats
83
, talvez possam servir de
contraponto perspectiva de Raffestin ao introduzir ao espao uma dimenso distinta dessa
concepo dialtica, combinando os movimentos de territorializao e desterritorializao como
no excludentes ou contraditrios, mas constituintes de uma simultaneidade. Em tal texto, o
espao liso concebido como direcional, em que os pontos so subordinados linha que,
enquanto trajeto, funciona como um vetor, uma direo e no uma dimenso ou uma
determinao mtrica como ocorre com o espao estriado onde, por sua vez, as linhas tendem a
subordinarem-se aos pontos. Em oposio ao espao estriado, o liso um espao intensivo,
mais que extensivo; de afectos, mais que de propriedades; de acontecimentos (singulares) mais
que percebidos pela viso; ocupado por intensidades, como os ventos e rudos, de qualidades
tcteis e sonoras, como no deserto, na estepe ou no gelo. Se o mar o espao liso por excelncia,
a cidade fundamentalmente estriada. Todavia, ambos espaos no podem ser postos em
oposio. Tanto um espao liso, como o mar, pode ser estriado por foras de territorializao,
como a cidade tambm est sujeita a desterritorializaes que restituem o liso
84
. O espao liso,
83
Cf. DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p.179-214.
84
O mar estriado pelo ponto e pelo mapa; pelas rotas martimas que o demarcaram em latitudes e longitudes,
recortando-o e dimensionando-o, pois , enquanto espao liso e nmade, era navegado empiricamente tendo os ventos,
os rudos, cores e sons do mar como marcas. O espao liso tambm pode ser estriado por foras de territorializao
que emanam fora dele, como no caso do campo (liso) que passa a ser cultivado pela agricultura (sedentria) por
foras de estriagem da cidade que inventa a agricultura. J, a cidade, embora seja o espao estriado por
70
portanto, no habitado exclusivamente por nmades como tambm o estriado no o por
sedentrios, posto que a cidade pode ser lida de uma forma nmade como quando por ela
circulamos atravs de uma experincia singular, que no se detm em seus marcos e em sua
geometria rgida
85
.
Em Raffestin (1993), o sistema de representao territorial tambm composto de
pontos, linhas e superfcies sugere uma concepo de espao estriado, resultando em um
sistema smico regido pela ordenao racional do espao. As tessituras, que revelam a
territorialidade de um determinado momento histrico, assemelham-se a uma estriagem do
espao, pois o ordenam dentro de um sistema de limites, ns e eixos que denotam uma ordem
poltica e econmica, traduzindo um vivido socialmente e determinvel temporalmente. A
territorialidade expressa por um espao estriado aparece ento como marca de um tempo, de uma
ordem institucional estabelecida atravs de um sistema smico que se impe como legtimo pela
fora de seus atores sintagmticos. Ainda segundo Raffestin (1993, p.150-152):
[...] a distncia se refere interao entre os diferentes locais. Pode ser uma interao
poltica, econmica, social e cultural que resulta de jogos de oferta e de procura, que
provm dos indivduos e/ ou dos grupos. Isto conduz a sistemas de malhas, de ns e
redes que se imprimem no espao e que constituem, de algum modo, o territrio. [...]
Esses sistemas de tessituras, de ns e de redes organizadas hierarquicamente permitem
assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribudo, alocado ou possudo.
Permitem ainda impor e manter uma ou vrias ordens. Enfim, permitem realizar a
integrao e a coeso dos territrios [...],
excelncia, tambm libera espaos lisos, que j no so s os da organizao mundial, mas os de um revide que
combina o liso e o esburacado, voltando -se contra a cidade: imensas favelas mveis, temporrias, de nmades e
trogloditas, restos de metal e de tecido, patchwork , que j nem sequer so afetados pelas estriagens do dinheiro, do
trabalho ou da habitao. (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p.184-190).
85
Sobre esta leitura nmade da cidade (que seria, por excelncia, um espao estriado) Deleuze e Guattari (1997b,
p.189) mencionam o passeio de Miller, em Clichy ou no Brooklin e Pl Pelbart (2000, p.43) comenta sobre o livro
surrealista de Louis Aragon, O campons de Paris, em que a cidade que ali aparece descrita como um
reservatrio inesgotvel de detalhes, associaes, surpresas, personagens, um campo de deambulao e errncia, e
que tal livro trata menos de um passeio pela cidade, mas de uma metfora do prprio pensamento, de um perder-
se na cidade, perder as referncias, perder-se a si mesmo, contrapondo segunda parte do Discurso do Mtodo de
Descartes, em que o filsofo, ao esboar os fundamentos do pensamento, toma por paradigma a fundao da cidade,
como construo ordenada segundo a razo.
71
constituindo-se no invlucro no qual se originam as relaes de poder. No seno por esse
motivo que as tessituras expressam tanto as relaes de poder e os modos de produo de um
momento histrico. Essas tessituras so o reflexo de um sistema smico que se impe a partir de
um centro o local do poder , a partir do qual se estabelecem no s os limites territoriais, mas
tambm todo o movimento de linhas que se intercruzam formando redes que asseguram o
controle do e no espao. Essas redes denotam a circulao no s de bens, materiais e imateriais,
mas dos prprios agentes, criando uma srie ns, de pontos de encontro, a partir dos quais
estabelecem-se novos centros de poder. Se a circulao gera uma diferenciao do espao,
tambm engendra novos pontos de encontro, a partir dos carrefours [cruzamentos], onde uma
nova ordem institucional e uma nova iconografia podem surgir. Sistemas smicos, portanto, vo
produzindo-se e acumulando-se de forma desigual no tempo. Estado, empresas, indivduos:
atores sintagmticos, em graus, momentos e lugares diversos, produzem novos territrios. So
estratgias de produo que se chocam com outras em diversas relaes de poder. Mudando-se o
poder, muda-se a tessitura; ainda que a territorialidade, como expresso de um vivido que
permanece, possa opor resistncias a essa mudana
86
. Portanto, a leitura precisa de um territrio
remete ao desvelamento das vrias camadas das tessituras que o compem no mais como
superfcie, mas como tridimensio nalidade.
Todavia, acreditamos que essa tridimensionalidade no deva ser s entendida como
acmulo de tessituras, ou estriagens, atravs do tempo (cronolgico), mas tambm como
simultaneidade dos processos de territorializao e desterritorializao do espao. O espao,
ento, j no pode mais ser percebido exclusivamente como objeto, como exterioridade dada a
um sujeito, ou ator sintagmtico; nem o tempo, como cronologia. Pois, as oposies que so
86
Nesse sentido, a territorialidade no se subordina totalmente s mudanas que o poder poltico ou econmico possa
estabelecer. Segundo Raffestin (1993), isso explica como, muitas vezes, as fronteiras entre a ordem poltica e a
ordem econmica no coincidem necessariamente em um dado momento histrico.
72
feitas por certos espaos de subjetividade a essa centralidade do poder no podem ser
subestimadas seno pela tica de um modelo poltico-econmico que s percebe e contabiliza a
diferena como negatividade, como fora que lhe faa uma resistncia direta, e no enquanto
positividade, enquanto fora que subsiste ainda que de forma virtual.
II.2.2 O ETERNO RETORNO DO TERRITRIO.
Em Mil Plats
87
, o territrio aparece como uma espcie de condio de
conhecimento na medida em que possibilita matria um estado de forma, aos meios
corresponderem aos cdigos, s coisas tornarem-se objetos e conscincia tornar-se
sujeito. no territrio que os conceitos se fundam, as proposies so formuladas, e a cincia
opera suas funes lgicas. Se h um espao em Mil Plats , esse espao o prprio Cosmos; se
h uma geografia, esta no certamente humana, mas uma assinatura da Terra; se h um
pensamento, este se move em velocidade infinita entre a terra e o territrio como fora do
Cosmo; se h sentido, este ocorre nas fissuras deste movimento.
O territrio o produto de uma territorializao dos meios e dos ritmos
88
, ou seja,
[...] a partir do momento em que componentes dos meios param de ser direcionais para
se tornarem dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem
expressivos. H territrio a partir do momento em que h expressividade do ritmo. a
emergncia de matrias de expresso (qualidades) que vai definir o territrio
89
.
(DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p.121).
87
Cf. DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p.115-170.
88
Os meios so abertos no caos, que os ameaa de esgotamento ou de intruso. Mas o revide dos meios ao caos o
ritmo. [...] H ritmo desde que haja passagem transcodificada de um para outro meio, comunicao de meios,
coordenao de espaos -tempos heterogneos. (DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p.119).
89
Como exemplo, citam o caso da cor desempenhar certas funes nos animais quando ligadas a um tipo de ao
como agressividade, fuga ou sexualidade e que, no entanto, passa a ser expressiva quando adquire uma constncia
temporal e um alcance espacial que fazem dela uma marca territorial ou, melhor dizendo, territorializante: uma
assinatura. (DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p.121).
73
Quando uma funo comportamental, como a agressividade, torna-se ela mesma uma expresso,
uma marca, que implica na delimitao de um espao, de um territrio, porque um
agenciamento territorial efetivou-se. Com isso, pretende-se atribuir marca qualitativa,
expresso, uma antecedncia na constituio do territrio, uma antecedncia das expresses
territorializantes ante as funes territorializadas. De uma maneira muito simplificada,
significa dizer que a agressividade animal (expresso territorializante) no justificada pelo
interesse em demarcar um territrio (funo territorializada), embora dela o resulte.
Esse dado fundamental, porque se contrape s teses estruturalistas que vem no
territrio o resultado da manifestao de um comportamento agressivo inerente aos animais que
lhes garantiria, em ltima instncia, sua sobrevivncia
90
. Sem dvida, esse embate sobre a
primazia do aspecto econmico ante ao simblico na fundao do territrio extremamente
relevante, no s porque a leitura do territrio como uma espcie de manifestao espacial do
poder recorrente em diversas cincias, como denota uma dialtica implcita que faz do outro o
motivo de ao do eu. Nesse caso, todo movimento decorreria da necessidade de um eu
(indivduo, grupo ou classe) negar um outro para afirmar sua diferena, enquanto para Deleuze e
Guattari (desdobrando a filosofia nietzschiana
91
), a afirmao no depende do papel do negativo
90
Embora, aqui, Deleuze e Guattari (1997c) contraponham-se a Lorenz por apresentar a territorialidade como um
efeito da agresso intra-especfica (Idem, p.122 nota 9), no decorrer do texto, os autores utilizam-se constantemente
de referncias tomadas da biologia, e mais especificamente da etologia, para corroborarem seu discurso. Ao
compararem com os etnlogos, os autores fazem aos etlogos tanto um elogio: eles no caram no perigo estrutural
que divide um terreno em formas de parentesco, de poltica, de economia, de mito, etc. e preservaram a
integridade de um certo terreno no dividido; como uma crtica: mas, de tanto orient-lo, ainda assim, com eixos
de inibio-desencadeamento, de inato-adquirido, eles correm o risco de reintroduzir almas ou centros em cada lugar
e a cada etapa de encadeamento (Idem, p.139). Acreditamos tambm que essa objeo feita a Lorenz possa ser
tambm estendida a certas teses antropolgicas que, como no caso de Lvi -Strauss, pensam na guerra como um
elemento estruturante das sociedades primitivas a partir de uma razo fundamentalmente econmica; tese refutada,
por exemplo, por Pierre Clastres que v antes na guerra uma funo simblica, uma expresso territorializante.
91
Em Nietzsche, a relao essencial de uma fora com outra nunca concebida como um elemento negativo na
essncia. Em sua relao com uma outra, a fora que se faz obedecer no nega a outra ou aquilo que ela no , ela
afirma sua prpria diferena e se regozija com esta diferena. O negativo no est presente na essncia como aquilo
de que a fora tira sua atividade, pelo contrrio, ele resulta desta atividade, da existncia de uma fora ativa e da
74
para realizao de uma sntese, mas dela prpria enquanto agressividade. Tambm como
decorrncia da afirmao do territrio como expressividade do ritmo e de sua antecedncia diante
de outras funes territorializadas como a posse, coloca-se a questo de expurgar qualquer trao
de intencionalidade nesse processo e, portanto, de negar a um sujeito, a uma conscincia, a
atitude deliberada em agenciar um processo de territorializao
92
.
Se o expressivo anterior ao possessivo, porque
[...] as qualidades expressivas ou matrias de expresso so forosamente apropriativas,
e constituem um ter mais profundo que o ser. No no sentido em que essas qualidades
pertenceriam a um sujeito, mas no sentido em que elas desenham um territrio que
pertencer ao sujeito que as traz consigo ou que as produz. Essas qualidades so
assinaturas, mas a assinatura, o nome prprio, no a marca constituda de um sujeito,
a marca constituinte de um domnio, de uma morada. A assinatura no a indicao de
uma pessoa, a formao aleatria de um domnio. (DELEUZE; GUATTARI, 1997c,
p.123).
Ora, essa a idia do personagem conceitual, anteriormente vista, em que no se constituindo
propriamente em um sujeito, em um nome prprio, capaz de agrupar em si as foras que vo
propiciar a criao de um conceito, de um domnio, de um territrio. Essa ostensiva preocupao,
de eliminar o sujeito de qualquer participao relevante na criao dos conceitos e no sentido dos
movimentos do pensamento, revela-se como tentativa de no garantir a qualquer forma de
interioridade o primado de uma condio pr- filosfica, atirando o pensamento sempre para um
efetivamente fora, para uma exterioridade total em que toda unicidade e totalidade s so
cindidas a partir de uma clivagem espacial que o territrio (e no o sujeito) capaz de fazer.
Nada encarna sujeitos seno personagens, nada guarda um aspecto ontolgico seno provisrio,
circunstancial. Toda interioridade sendo unicamente possvel dentro das condies de
afirmao de sua diferena. O negativo um produto da prpria existncia: a agressividade necessariamente ligada a
uma existncia ativa, a agressividade de uma afirmao. (DELEUZE, 1976, p.7).
92
A expressividade no se reduz aos efeitos imediatos de um impulso que desencadeia uma ao num meio: tais
efeitos so impresses ou emoes subjetivas mais do que expresses (como a cor momentnea que toma um peixe
de gua doce sob tal impulso). As qualidades expressivas, ao contrrio, como as cores dos peixes de recifes de coral,
so auto-objetivas, isto , encontram uma objetividade no territrio que elas traam. (DELEUZE; GUATTARI,
1997c, p.124).
75
estabilidade que um territrio oferece. Por isso falamos em subjetividades, porque no sendo
mais possvel encontrar- lhes um sujeito psquico ou universal como porta-voz dos enunciados
que profere, surgem como um agenciamento coletivo a partir de um territrio que elas fundam.
Se o territrio aglutina as expresses territorializantes, as funes
territorializadas , enfim todos esses elementos heterogneos juntos atravs de uma cons istncia
93
tal qual como o conceito o faz , tambm dentro dele que se abre uma fresta para fora, para
um processo de desterritorializao, a partir das diferenciaes que a distncia crtica propicia
ao afastar comportamentos dissonantes ou meios hostis ao territrio fundado. Se os
agenciamentos em vias de desterritorializao prenunciam um por vir, traam uma linha de fuga
para o novo, para o futuro, tambm poderia ser chamado de arte a prpria territorializao. Afinal
o sentido parece menos estar no territrio ou fora dele, mas justamente nos deslocamentos. No
caso da territorializao a arte estaria nesse devir, nessa premncia em que o expressivo constitui-
se enquanto marca de um domnio; enquanto, na desterritorializao, a arte estaria nessa
capacidade de realizar uma sntese das diferenas que se constituem em um novo agenciamento;
uma esfera autnoma que no mais um dentro, nem um fora, mas um novo ritmo . Isso,
porque a arte para Deleuze e Guattari no imitao ou representao
94
. A arte antes esse
93
O problema da consistncia j foi visto quando falamos sobre o conceit o e aqui ele retorna enquanto maneira pela
qual os componentes de um agenciamento territorial se mantm juntos, assim como maneira pela qual se mantm
os diferentes agenciamentos, como componentes de passagem e de alternncia. H, portanto, um duplo problema na
medida em que a consistncia diz respeito tanto territorializao quanto desterritorializao. Ocorre que mesmo
nos agenciamentos territoriais encontram-se componentes desterritorializados que no s possibilitam uma sada
dos territrios, como garantem sua prpria consistncia. Isto se deve porque a consistncia possui tanto um modelo
arbreo como rizomtico. (DELEUZE; GUATTARI, 1997c).
94
Como em Nietzsche, a arte, em Mil Plats criao, afirmao. O conceito de imitao ou representao
desenvolve-se a partir de uma estrutura binria, linear, arbrea: pressupe um modelo, uma essncia; da mesma
forma, procedem as categorias comportamentais de inato e adquirido. Os agenciamentos ultrapassam essa situao
arbrea e inserem-se em uma complexidade rizomtica. No h uma disposio em eixos binrios, em antinomias
insuperveis, mas uma teia, uma rede de linhas e movimentos, da qual capturamos um instante, o acontecimento, e
invariavelmente nos perdemos ao tentar encontrar uma origem, um fim. E, por isso, o apelo arte, msica,
pintura, to constante em Mil Plats, assim como j o era em Nietzsche.
76
tornar visvel aquilo que j o era potencialmente; o prprio devir
95
. por isso que o territrio
sempre retorna, sempre se assenta. uma maneira de debelar o caos que ronda, um modo de
marcar uma distncia crtica com o fora, com o outro; mas tambm um modo para que
diferenas especficas surjam por essa distncia.
Se a questo discutida em territrio e poder era saber em que medida o espao como
um domnio poltico constitui-se em um espao nico como resultado de sua submisso
centralidade do poder, a questo do territrio em Mil Plats perceber que esse espao que
representa o poder apenas a institucionalizao de um processo instituinte que busca a
afirmao do devir. Trata-se, evidentemente, de uma considervel virada epistemolgica, j que
as premissas que sustentam e justificam a prpria idia de que o movimento da realidade seja
resultante de uma racionalidade passam a ser refutadas por uma concepo de mundo em que a
expressividade, ou a afirmao da vida, mais premente do que as estratgias que o
conhecimento se vale para domin- la. A cincia substituda pela arte, e o poder no um
estratagema ou uma finalidade, mas resultado de uma expresso da prpria condio da vida. O
conhecimento como representao antecipado pela arte de tornar visvel aquilo que est por vir,
recuperando a fora do instituinte ante ao institudo, o resgate da diferena e do movimento. Mas,
o territrio sempre retorna, e com ele, as formas institudas garantem sua permanncia,
aglutinando-se em espaos institucionais e centralizando-se em duros ncleos de domnio em que
as diversas subjetividades so capturadas e homogeneizadas.
95
Encontramos em Deleuze e Guattari (1997c) algumas pistas que corroboram tal assertiva: Tornar visvel, dizia
Klee, e no trazer ou reproduzir o visvel (Idem, p.159). Sobre a pequena frase de Vinteuil, dizem: como se ela
trouxesse para Swann a segurana de que o bosque de Boulogne foi efetivamente seu territrio e Odette sua posse
(Idem, p.126). Seja na territorializao que a msica nos remete em Proust, ou desterritorializao que a pintura
nos lana em Klee, a arte teria essa capacidade de no ser conclusiva, mas um estilo. Marca uma presena, de modo
que se possa dizer que arte passou por a (Idem, p.127): como na pintura de Czanne, em que foras no visuais
so tornadas visveis (Idem, p.159).
77
II.3 AS FORMAS DO ESPAO.
At agora, procuramos trabalhar alguns elementos conceituais para o entendimento
das relaes do espao com o territrio, seja como apropriao de um domnio fsico, seja como
movimento do pensamento em direo a sua estabilidade. Detalhamos um procedimento
metodolgico territorializao e desterritorializao (nomadismo) esboado anteriormente
quando tratamos de questes epistemolgicas cruciais para a compreenso do espao.
Adentremos ento nas formas em que historicamente o espao constitui-se como manifestao de
uma subjetividade dominante a partir de dois exemplos sumrios: sua geometrizao na
modernidade e sua liquefao na contemporaneidade.
II.3.1 A GEOMETRIZAO DO ESPAO.
Os edifcios empreendidos e concludos por um s arquiteto costumam ser mais belos e
melhor ordenados do que aqueles que muitos procuraram reformar, fazendo uso de
velhas paredes construdas para outros fins. Assim, essas antigas cidades que, tendo sido
no comeo pequenos burgos, tornaram-se no correr do tempo grandes centros, so
ordinariamente to mal compassadas, em comparao com essas praas regulares,
traadas por um engenheiro sua fantasia numa plancie, que, embora considerando seus
edifcios cada qual sua parte, se encontre neles muitas vezes tanta ou mais arte que no
das outras, todavia, a ver como se acham arranjados, aqui um grande, ali um pequeno, e
como tornam as ruas curvas e desiguais, dir-se-ia que foi mais o acaso do que a vontade
de alguns homens usando da razo que assim os disps. (DESCARTES, 1987, p.34).
assim que Descartes discorre sobre as supostas vantagens de uma cidade racional em uma
passagem da segunda parte de seu Discurso do Mtodo. Embora parea uma simples opinio de
um filsofo do sculo XVII acerca de uma concepo de espao urbano, a citao acima, bem ao
contrrio, exemplifica os fundamentos de um pensamento que influencia at hoje diversas reas
do conhecimento. interessante notar que o que pode soar como uma imagem particular sobre
78
um modelo de cidade ideal a base de um procedimento metodolgico que visa refutar toda sorte
de opinies e pareceres como premissas que possam a vir ser consideradas no processo cognitivo.
Ou seja, para se conhecer efetivamente qualquer coisa, necessrio que no se formule qualquer
assero baseando-se em meras opinies, sendo que estas esto sempre sujeitas particularidade
e, portanto, ao engano.
A geometrizao do espao encontra no cartesianismo um slido fundamento na
prpria constituio do cogito que contrape interioridade do pensamento a exterioridade do
mundo, marcada pela sua extenso, sua possibilidade de mensurao, a partir de uma ordem
racional que se pretende nica. Essa interioridade, que possibilita a cognio do mundo atravs
de sua representao, resulta em uma concepo de espao que se emoldura na relevncia que os
mapas adquirirem na construo de um espao mensurvel que o Estado-nao necessita para
impor sua perspectiva e remover toda forma de dissonncias interpretativas. Bauman (1999, p.
37-38) tambm coloca que a legibilidade do espao tornou-se um desafio do Estado moderno
pela soberania de seus poderes: Para obter controle legislativo e regulador sobre os padres de
interao e lealdade sociais, o Estado tinha que controlar a transparncia do cenrio no qual os
vrios agentes envolvidos na interao so obrigados a atuar. Da o interesse do Estado em
controlar o ofcio de cartgrafo, j que o objetivo da moderna guerra pelo espao era a
subordinao do espao social a um e apenas um mapa oficialmente aprovado e apoiado pelo
Estado e ainda imune ao processamento semntico por seus usurios ou vtimas. A
racionalizao do espao a partir de sua legibilidade e transparncia torna-se, na modernidade,
uma tarefa, um objetivo a ser perseguido sistematicamente. Todavia, essa transparncia do
espao a ser atingida deve servir fundamentalmente aos interesses de quem controla e manter
uma zona opaca de incertezas por parte daqueles que, embora compartilhando do mesmo espao,
no estejam na posio privilegiada de quem observa.
79
Podemos pensar a matriz espacial da modernidade diretamente atrelada questo da
emergncia do racionalismo na filosofia como forma de conceber o mundo. O projeto moderno
pode ser interpretado atravs de uma perspectiva espacial, em que a crena na verdade, em uma
certeza, primeira ou ltima, restitui o homem no centro de todos os acontecimentos. A busca pela
verdade e inteligibilidade do mundo, assegurada pela razo, possibilita ao homem olhar o mundo
atravs de uma objetividade que refuta qualquer alteridade, qualquer dissonncia e idiossincrasia,
dominando e projetando todo o espao ao seu redor. Como lembra Bauman (1999), o surgimento
da perspectiva na Renascena garante ao olhar do sujeito um lugar privilegiado na observao do
espao: um ponto seguro de mapeamento da realidade que permite estabelecer os contornos e
limites precisos entre os objetos que se colocam em seu campo de observao. O espao passa,
ento, a ter uma dimenso no mais subjetiva que recorreria em erros de impreciso por variar
segundo os sentidos de cada sujeito, de cada cultura, para alcanar uma dimenso unvoca, uma
objetividade inquestionvel. Concorre para essa preciso na demarcao do espao, o
aprimoramento dos instrumentos de medio que, no limite, no passam de padres que
possibilitam uniformizar o espao, garantindo uma inteligibilidade que, contudo, impe-se no
como conveno, mas como verdade. Esse um ponto crucial na concepo do espao na
modernidade, pois a legitimidade da medida tomada como padro no se manifesta apenas
enquanto conveno, mas enquanto verdade, enquanto prpria expresso do espao. A
modernidade esquece-se que a mensurabilidade do espao apenas uma forma de apreenso e
leitura possvel do mesmo, e transforma-a em essncia, o que resulta em uma considervel
reduo das possibilidades de interpretao dos objetos e, mais alm, na aniquilao dos
acontecimentos. Mas esse esquecimento que a modernidade promove no episdico ou
gratuito, mas uma forma de garantir aos detentores dos instrumentos de medio o poder de
persuadir os demais de que o espao, que ento se constitui em medida, no um espao
80
qualquer, mas um espao demarcado por um olhar nico. a batalha dos mapas, como
menciona Bauman (1999, p.36-52), que transforma a leitura precisa do espao em luta pelo
poder. Poder em controlar o espao para que toda diferena ou dissonncia interpretativa seja
dissimulada, para que toda alteridade seja negada e abolida. O domnio do espao de tal forma
um instrumento precioso para a realizao do poder que a perspectiva de traduzir o mais
fielmente possvel a realidade atravs do mapeamento do espao gradativamente transformada e
substituda pela imposio do mapa sobre o espao. O modelo (o mapa) passa, ento, a sobrepor-
se ao prprio espao, expediente que a cincia, como um todo, passaria a exercer na sua nsia
pragmtica em controlar e prever resultados, destituindo da realidade sua imprevisibilidade, seu
movimento e pluralidade
96
. a partir desse raciocnio que o Estado busca legitimar seu discurso
de unificao submetendo o espao a sua autoridade direta enfraquecendo as prticas locais e
dispersas por prticas administrativas centralizadas.
Como no panptico de Foucault (2002), a posio privilegiada da autoridade deve
ser onipresente e, ao mesmo tempo, permanecer oculta e distante aos demais para que estes no
tenham acesso perspectiva do poder. Da escala artificial do panptico escala estatal da
manipulao de toda uma sociedade, o mesmo propsito se mantm, qual seja, de manipular
conscientemente e rearrumar intencionalmente a transparncia do espao como relao social,
como relao de poder
97
. Essa simultaneidade entre onipresena e invisibilidade do poder uma
das condies para o exerccio da autoridade estatal na modernidade, pois a centralidade, como
96
A precedncia do mapa sobre o espao constatvel nas vises utpicas das cidades planejadas durante a
modernidade. A arquitetura, de acordo com Le Corbusier, como a lgica e a beleza inimiga nata de toda a
confuso, da desordem; a arquitetura uma cincia afim da geometria, a arte da platnica sublimidade, da ordenao
matemtica, da harmonia; seus ideais so a linha contnua, as paralelas, o ngulo reto; seus princpios estratgicos
so a padronizao e a pr-fabricao (BAUMAN, 1999, p.50). Por outro lado, de acordo com seus crticos, nessas
cidades planejadas no h espao para a controvrsia ou imprevisibilidade, para gestos ariscos ou espontneos ou
gente a flanar. A autoridade do plano postula as verdades objetivas da lgica e a submisso da realidade ao modelo.
97
Cf. BAUMAN, 1999, p.41.
81
posio privilegiada para o exerccio do poder, coloca distncia todas as outras orientaes e
prticas locais dissonantes ordem estabelecida, localizando a diferena em uma zona
perifrica, destituda das prerrogativas de uma localizao central. No por acaso que todas as
solues urbansticas modernas clamem pelo planejamento e procurem regularizar o espao
atravs da uniformidade, homogeneidade e reprodutibilidade de seus elementos. Em nome da
funcionalidade do espao, o organicismo inerente s transformaes sociais e as diferenas so
suprimidos, de modo que, nessas propostas urbansticas, todos que no se adaptem sejam levados
distncia do espao privilegiado da centralidade.
No correto, contudo, ater exclusivamente modernidade o controle do espao a
uma centralidade do poder. Antes, a violncia, a superstio e a f tambm competiam para uma
composio do espao, ainda que mais subjetiva. Essa dimenso subjetiva do espao anterior
Renascena pde ser presenciada pela arte medieval que o representava atravs de uma ordem
sensria, de perspectivas distintas, valorizando o caminhar, o percorrer, de maneira quase ttil. A
tradio da cartografia medieval igualmente acentuava as qualidades sensuais, em que a medida e
o padro no dominavam os traos do desenho em cuja composio conviviam escalas e
perspectivas mltiplas
98
. Contudo, ressalta Harvey (2004), o progresso da monetizao e da troca
de mercadorias na vida social da Idade Mdia implicou em uma nova concepo de tempo e
espao o que demonstraria que o seu controle
99
sempre fo i um importante e eficiente meio de
exercer o poder social
100
. Consoante a esse discurso, Bauman (1999, p.34-36) lembra que antes
que houvesse uma objetividade do espao fsico transposta pelos socilogos para um espao
98
Cf. HARVEY, 2004.
99
Os mercadores medievais, por exemplo, ao construrem uma melhor medida do tempo para a conduta organizada
de seus negcios, promoveram uma modificao fundamental na medida do tempo que representou, na realidade,
uma mudana do prprio tempo. (HARVEY, 2004, p.208).
100
Devemos a idia de que o domnio do espao uma fonte fundamental e pervasiva de poder social na e sobre a
vida cotidiana voz persistente de Henri Lefebvre. (HARVEY, 2004, p.207).
82
social , a dimenso humana era a medida espacial. O corpo humano era efetivamente a
condio de mensurao dos objetos nas mais diversas prticas sociais
101
. Todavia, essa ordem
subjetiva impedia um maior controle dos tributos e impostos dos detentores do poder para com
seus sditos, fazendo-se necessrio controlar e neutralizar o impacto da variedade e da
contingncia atravs da imposio de medidas padro, obrigatrias, de distncia, superfcie,
volume e da proibio das medidas locais, baseadas no grupo ou indivduo. Antes, porm, de
medir-se o espao objetivamente, era preciso ter claro uma idia de distncia. Idia que, na
origem, est atrelada distino entre o prximo e o longnquo a partir da experincia
pessoal
102
e que ser sistemtica e progressivamente subvertida por uma ordem classificatria de
demarcao da prtica social. Das culturas arcaicas analisadas por Lvi-Strauss
103
, chegando-se
ao Estado moderno, teria havido sempre a necessidade do poder em submeter o espao a sua
autoridade direta, separando as categorias e distines espaciais das prticas humanas que os
poderes do Estado no controlavam e substituindo as prticas locais e dispersas por prticas
administrativas de Estado como ponto de referncia nico.
De uma perspectiva etnocntrica, as viagens de descoberta produziram um assombroso
fluxo de conhecimento acerca de um mundo mais amplo que teve de ser, de alguma
maneira, absorvido e representado; elas indicavam um globo que era finito e
potencialmente apreensvel. (HARVEY, 2004, p. 221).
101
Em toda sua histria e at o bem recente advento da modernidade, o homem mediu o mundo com seu corpo
ps, punhados, cvados; com seus produtos cestos ou potes; com suas atividades dividindo, por exemplo, seus
campos em Morgen (manhs ou acres, em alemo), isto , em lotes que pudessem ser arados por um homem que
trabalhasse da aurora at o crepsculo. (BAUMAN, 1999, p.34).
102
A partir de tese de Durkheim/ Mauss sobre as origens sociais da classificao, dito que a noo de distante
que se insere no mapa popular do mundo a partir de um princpio classificatrio que se estabelece entre a casa e o
campo encontra similitude nas divises categoriais de animais e de graus de parentesco. (BAUMAN, 1999, p.35).
103
Como sugeriu Claude Lvi-Strauss, a proibio do incesto, que implicava a imposio de distines artificiais,
conceituais, sobre indivduos fsica, corporal e naturalmente indistintos, foi o primeiro ato constitutivo de
cultura, que da em diante consistiria para sempre na insero no mundo natural das divises, distines e
classificaes que refletiam a diferenciao da prtica humana e dos conceitos impostos pela prtica e no eram
atributos prprios da natureza mas da atividade e do pensamento humanos. (BAUMAN, 1999, p.35-36).
83
estabilidade do mundo medieval, sucedeu-se um fluxo crescente de idias e mercadorias que
demandavam tcnicas precisas de ordenao desse novo espao, tornando o domnio da natureza,
possvel atravs de uma objetificao do mundo, uma condio necessria para a emancipao
humana. Conseqentemente, uma leitura poltica e econmica sobre a modernidade no pode ser
descolada das rupturas epistemolgicas que tal perodo histrico desencadeou no pensamento.
Segundo Foucault (1981, p.33-60), o conceito de semelhana
104
na Renascena
definia um certo tipo de saber e poder atravs do qual eram pensadas as relaes e as articulaes
entre os seres que constituem a natureza. Atravs desse conceito, em que se configura a
epistm do sculo XVI , o mundo permanece idntico, o mesmo, trancafiado sobre si, pois a
linguagem no um sistema arbitrrio, mas est depositada no mundo, como uma coisa da
natureza. A linguagem , em certa medida, a imagem da verdade, estando com o mundo em
uma relao mais de analogia do que de significao, de modo que no se possa distinguir
entre o que se v e o que se l, entre o observado e o relatado. A pintura ainda imitava o
espao, de modo que os mapas s viessem a ser uma representao, uma imagem do mundo, a
partir de uma nova configurao epistmica que descolou as palavras das coisas transformando a
linguagem em discurso.
A profunda interdependncia da linguagem e do mundo se acha desfeita. O primado da
escrita ser suspenso. Desaparece ento essa camada uniforme onde se entrecruzavam
indefinidamente o visto e o lido, o visvel e o enuncivel. As coisas e as palavras vo
separar-se. O olho ser destinado a ver e a somente ver; o ouvido a somente ouvir. O
discurso ter realmente por tarefa dizer o que , mas no ser nada mais que o que ele
diz. (FOUCAULT, 1981, p. 59).
Essa epistemologia, da qual ainda somos em parte herdeiros, faz da natureza seu objeto do
conhecimento, cuja verdade s pode ser apreensvel atravs de um mtodo baseado na ordem e
104
At o fim do sculo XVI, a semelhana desempenhou um papel construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela
que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretao dos textos: foi ela que organizou o jogo dos smbolos,
permitiu o conhecimento das coisas visveis e invisveis, guiou a arte de represent-las. O mundo enrolava-se sobre si
mesmo: a terra repetindo o cu, os rostos mirando as estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que
serviam ao homem . (FOUCAULT, 1981, p.33).
84
na medida. Mtodo que possibilita, pelo discernimento da identidade e da diferena entre as
coisas, que as idias representadas correspondam verdadeiramente s coisas representadas, j que
a noo de semelhana estava sujeita ao risco permanente da descrio e da interpretao.
Diante de um mundo desprovido de um centro e de uma ordem prpria, a territorializao do
pensamento permitiu a ancoragem de um ponto fixo a partir do qual agora este pudesse ser
medido e ordenado
105
.
A geometrizao do espao um pressuposto de objetificao do prprio saber que
est escrito em linguagem matemtica e, portanto, apresenta-se como decodificvel por todo
aquele que disponha do rigor metodolgico capaz de represent-lo. De alguma maneira, podemos
tambm supor que, aqui, a imagem de um mundo, tal como expressa pelos mapas, encontra-se
colada a uma escrita do mundo, confundindo-se em uma nica e universal linguagem que, talvez,
s viesse a se romper com o avano das tecnologias da comunicao ao promoverem uma
autonomia imagem com relao ao texto inaugurando uma nova ordem cognitiva
106
. Se na
modernidade, os mapas representavam a imagem de um mundo atravs da centralidade do olhar
do Estado, hoje, os objetos e imagens tcnicas no mais representam, mas apresentam-se como a
prpria presentificao de um mundo multifacetado. Todavia, aqui como acol, no a
105
A revoluo renascentista dos conceitos de espao e de tempo assentou os alicerces conceituais em muitos
aspectos para o projeto do Iluminismo ao fazer do espao o objeto de uma organizao racional, de uma
conquista, tornando-se parte integrante do projeto modernizador que colocava o homem, dotado de conscincia
e vontade, acima da providncia divina. Todavia, a conquista e o controle do espao [...] requerem antes de tudo
que concebamos o espao como uma coisa usvel, malevel e, portanto, capaz de ser dominada pela ao humana. O
perspectivismo e a cartografia matemtica fizeram isso considerando o espao abstrato, homogneo e universal em
suas qualidades, um quadro de pensamento e de ao estvel e apreensvel. A geometria euclidiana forneceu a
linguagem bsica do discurso, atravs de cujas representaes do espao tornava-se possvel orden-lo.
Exatamente da mesma maneira como os pensadores iluministas acreditavam que a traduo de uma lngua para
outra sempre era possvel sem destruir a integridade de qualquer delas, a viso totalizante do mapa permitiu a
construo de fortes sentidos de identidades nacionais, locais e pessoais em meio a diferenas geogrficas.
(HARVEY, 2004, p.223-231).
106
No que diz respeito ao espao, tal parece ser tambm a tese central defendida por McLuhan (1977, p.340) em A
galxia de Gutenberg: de que a fico de homogeneidade e de continuidade uniforme tanto do espao newtoniano
como euclidiano deriva-se da escrita fontica, especialmente em forma impressa..
85
diversidade que necessariamente expressa nesses mapas-mundi seno a persistente permanncia
do mesmo. Curiosa inverso que faz com que a mudana surja para reverter-se e perpetuar-se na
identidade; curioso movimento que acena como desterritorializao, mas que retorna ao territrio.
II.3.2 A LIQUEFAO DO ESPAO.
Com relao modernidade, a contemporaneidade introduz mudanas significativas
na percepo espao-temporal. Para tanto, competem no s a superao de antigos paradigmas
epistemolgicos pela prpria cincia, como a possibilidade de comunicao intensa e imediata de
bens imateriais atravs do espao eletromagntico, o que permite s mdias, como decorrncia,
exercer um controle crescente sobre os indivduos. o que Raffestin (1993, p.200-201) chama de
poder das redes: A circulao e a comunicao so as duas faces da mobilidade. Por serem
complementares, esto presentes em todas as estratgias que os atores desencadeia m para
dominar as superfcies e os pontos por meio da gesto e do controle das distncias. No entanto,
se at a contemporaneidade, circulao e comunicao formavam um s fenmeno, com as novas
tecnologias da comunicao essa simultaneidade rompida. A comunicao, viajando a uma
velocidade muito maior que os outros bens e seres, altera significativamente a percepo espao-
temporal, redesenhando a geografia do poder. Introduz-se um novo sistema smico que
reorganiza as tessituras originais dos territrios poltico, econmicos e culturais, impondo
leitura do espao um quadro cada vez mais complexo; desfazendo os ntidos contornos do
territrio que a modernidade pretendia garantir atravs da coincidncia entre as esferas do poder
ou seja, entre as diversas tessituras que a ordem poltica, econmica e social constituam ; e
levando, por fim, a um quadro de desterritorializao que muitos autores atribuem como
decorrente do processo de globalizao.
86
De acordo com Duarte (2002), inversamente de uma sociedade industrial, onde os
produtos materiais garantiam um fluxo global de mercadorias, a sociedade contempornea
encontra na tecnologia informacional, com seus fluxos financeiros volteis trafegando em tempo
real pelas redes de informao, o seu dinamismo global. dentro desta perspectiva que Manuel
Castells afirma que
[...] o espao de fluxos substitui o espao de lugares; e ainda que esses continuem
importantes para a concretizao das transformaes econmicas globais, perdem seus
significados culturais , geogrficos e histricos quando integrados s redes
informacionais . (DUARTE, 2002, p.180).
Por outro lado, se Felix Guattari diz que
[...] as cidades deixariam de ser entidades importantes por suas qualidades particulares,
para se converterem em ns da rede rizomtica multidimensional envolvendo
processos tcnicos, cientficos e artsticos, sendo seu principal papel, por abrigar a
populao das sociedades de redes, a produo de subjetividade. (DUARTE, 2002,
p.180),
h tambm que se considerar que redes e fluxos formam-se em geometrias assimtricas e
variveis, e isso implica uma topologia que influencia a dinmica geral do mundo, com fortes
rebatimentos nas matrizes espaciais, porque, como diz Castells, se h fluxos globais de bens e
signos, no se pode dizer o mesmo do mercado de trabalho, pois so poucas as pessoas que
circulam livremente pelo mundo ligadas economia global
107
.
Ao que tudo indica, a questo da suposta liquefao do espao pelas tecnologias da
comunicao no nos permite eliminar a questo geopoltica que sempre esteve associada ao uso
de uma fonte energtica como fora motriz da produo econmica. Muda-se a fonte energtica
(do trabalho escravo ao carvo, do carvo ao petrleo), mas a posse de uma determinada poro
do espao geogrfico determinante da fora econmica e, por extenso, geopoltica. Porm, h
que se ponderar que as redes digitais de informao, sem fontes de energia localizveis, sem sua
converso de produtos materiais, sem a posse de uma determinada poro do espao assegurando
107
Cf. DUARTE, 2002, p.138 -139.
87
a converso de riqueza em influncia, levam tambm a uma crise de integridade do Estado
nacional frente economia digital em rede em que grupos interessados mobilizam o imaginrio
miditico global ao apontar o Estado com um empecilho, e em que o corporativismo do capital
global acaba sendo responsvel por um lento golpe de Estado
108
. Conseqentemente, h
quem pense que, em breve, o local no desempenhar um papel relevante para a produo dessas
tecnologias da informao. Clarisse Herrenschmidt, por exemplo, afirma que
[...] se h uma revoluo comparvel s redes digitais no a da imprensa de Gutenberg,
mas a inveno da escritura das lnguas no final do IV milnio, ou da moeda cunhada no
sculo VII a.C., pois ambas transformaram sistemas de significao de elementos
materiais singulares (a voz e as trocas de objetos) em valores abstratos. (DUARTE,
2002, p.225).
Trata-se da criao de um espao cognitivo inovador, que constri um universo prprio
mesmo que intrincado no mundo concreto. E nesse universo, imediatamente apropriado pela
economia, o Estado atual , nas palavras de Lyotard, um fator de opacidade, pois se antes o
Estado empregava suas foras para a conquista de territrios geogrficos, a informao circulante
lhe desafiadora. Afinal, como observam Manuel Castells e Ignacio Ramonet, diante da
efetiva queda no controle do espao pelo Estado na sociedade de fluxos (de capital, bens e
signos), o Estado volta-se ao controle da mdia, no s por ser o ambiente estrutural da
dinmica informacional em rede, mas por seu poder de infiltrao simblica na sociedade
109
.
Diante das tenses entre uma concepo material e imaterial do espao, Duarte (2002, p.227)
conclui que a convivncia de dois sistemas, um internacional, baseado em Estados nacionais,
outro aterritorial, prprio ao sistema em rede, parece ser a vertente indicada por vrios
pensadores dessa problemtica e, por ora, surge como uma tentativa de adaptao a mudanas
108
Cf. DUARTE, 2002, p.224,226.
109
Cf. DUARTE, 2002, p.225.
88
ainda no completamente compreendidas [...] que indicam transformaes transversais nas
matrizes espaciais.
Embora diretamente intrincadas, a questo epistemolgica demanda uma anlise
especfica a ser tratada transversalmente s questes polticas que envolvem o valor do espao na
era tecnolgica. McHale, por exemplo, fala que a inveno da imprensa mergulhou a palavra no
espao e que , portanto, uma espacializao definida, enquanto a escrita, diz Bourdieu,
retira a prtica e o discurso do fluxo do tempo. O que ambos argumentam que de fato, todo
sistema de representao uma espcie de espacializao que congela automaticamente o fluxo
da experincia e, ao faz- lo, destri o que se esfora por representar
110
.
Todas essas consideraes corroboram as premissas que o espao no se reduz a sua
dimenso material e possui fortes implicaes epistemolgicas. McLuhan (1977, p.340-341)
endossa, em parte, essa perspectiva ao afirmar que a galxia de Gutenberg dissolveu-se
teoricamente em 1905 com a descoberta da curvatura do espao, mas na prtica foi invadida pelo
telgrafo duas geraes antes e, citando Whittaker, diz que: na concepo de Einstein, o espao
no mais o palco no qual se representa o drama da fsica; ele prprio um dos atores, pois a
gravitao, propriedade fsica, inteiramente controlada pela curvatura, que propriedade
geomtrica do espao. Significa dizer que o privilgio da viso entre os demais sentidos a partir
do alfabeto e da tipografia est diretamente ligado a uma questo espacial, alertando para o fato
de que nossas interpretaes e percepes do mundo so sempre vtimas das tecnologias que ns
mesmos criamos.
Defendemos, porm, que o prprio conceito quem, antes da imprensa ou mesmo da
escrita, espacializa toda ordem de fluxos da experincia, territorializando-se ento sobre a
110
Cf. HARVEY, 2004, p.191.
89
palavra. Se a escrita e a imprensa necessitam de um suporte material para espacializar-se, o
conceito antes espacializa o tempo em um territrio cognitivo que eminentemente virtual,
transformando a processualidade do tempo em uma dimenso atual. por isso que podemos
afirmar que o virtual e o atual so apenas dois modos do real. No h nenhum suporte material
no conceito e, no entanto, o territrio que ele funda dimensional porque demarca, como vimos,
uma relao de vizinhana com outros conceitos com os quais guarda tanto uma proximidade
quanto uma distncia que lhe asseguram sua consistncia, sua identidade. O conceito no
uma palavra, oral ou escrita, no cabendo em um sistema lingstico, nem um sistema de
representao, porque ele antes funda o objeto; ele fixa toda uma ordem de intensividades em um
campo de significao atravs de uma temporalidade que o transpassa simultaneamente na
estabilidade de um plano transcendente e na instabilidade do plano imanente. Embora fora do
rigor de um sistema lingstico, o conceito guarda com a comunicao o vnculo com a palavra
quando esta opera o acontecimento entre o instituinte e o institudo, mas aqui a comunicao no
pode ser vista como a posse de um sistema semntico a partir do qual proferem-se enunciados
acerca do mundo como parece ser o caso dos meios tcnicos de comunicao , mas apenas
como o singular momento do acontecimento, que tambm pode ser entendido como uma
compresso espao-temporal na medida em que o que lhe d uma consistncia, ainda que
virtual.
A linguagemque organiza e manipula signos que se reportam a determinados objetos,
a mesma que constri os territrios informacionais, de modo que, transformando-se a
linguagem, alteram-se no s seus territrios como as idias que se tm deles. Ainda que, por um
momento, desconsideremos que os objetos possam existir antes da linguagem, nossa impresso
que a distncia que separa sociedade e natureza, assim como a sociedade das tecnologias da
90
informao, existe na medida exata em que tambm cria seu prprio espao de cognio. Como
colocara Heidegger (2002, p.131-132):
A ponte no apenas liga duas margens j existentes. somente na travessia da ponte que
as margens surgem como margens. A ponte as deixa repousar de maneira prpria uma
frente outra. Pela ponte, um lado se separa do outro. [...] A ponte coloca numa
vizinhana recproca a margem e o terreno.
Se as tecnolo gias da comunicao efetivamente desconstroem o espao da
modernidade porque no h qualquer chance de forjar ao espao elementos que o constituam
fora de uma construo cognitiva. Se essas mesmas tecnologias da comunicao promovem um
processo de desterritorializao porque o nomadismo que colocam em movimento atua como
processo de subjetivao do espao. Como mencionado anteriormente, mesmo em um espao
estriado como o de uma cidade, sempre se pode percorr- lo atravs de uma perspectiva nmade,
desde que no se atente aos seus marcos e a sua ordem estabelecida, mas que se abra diferena,
a novos sentidos. como se diante das camadas de tessituras que se acumulam no territrio,
pudssemos percorr- lo atravs de seus interstcios, desvendando o sentido de suas dobras. O
tempo percorrido pelo pensamento nmade no o da cronologia, da rgida sucesso hierrquica
dos eventos, mas um tempo que se abre fora dos limites da razo; um tempo subjetivo marcado
pela durao. De forma semelhante, preciso conceber que h um componente no espacial do
espao, admitindo-se a exist ncia de vrias mtricas para se percorr-lo. Tais consideraes
poderiam subsidiar uma aproximao com a idia de um pensamento nmade, introduzindo uma
possibilidade de leitura do espao que inclua a subjetividade como componente ativo nos
processos de construo e desconstruo do espao. A distino entre espao contnuo e contguo
igualmente permite-nos pensar em uma dimenso subjetiva do espao em que as fronteiras dos
territrios no se justapem necessariamente em um eixo binrio, mas requerem uma ordem
temporal outra, que no aquela da cronologia, para compreend-la.
91
A impossibilidade em verificar-se uma contigidade espacial na net no implica na
inexistncia de uma continuidade espacial entre os pontos comunicantes (os internautas) que a
operam e que definem e localizam suas bordas. Como vimos no conceito islmico de ummah, a
espacialidade no exige uma contigidade territorial, ou melhor, material, para exprimir-se. O
sentimento de identidade ou pertencimento a uma comunidade, embora possa supor uma base
territorial material ou geogrfica, antes uma potncia que tanto pode atualizar-se sobre um
suporte material como a terra, como virtual, atravs dos meios tcnicos da comunicao. Aqui, o
espao virtual possibilita o inusitado encontro entre tradio e tecnologia, pois os limites entre
um e outro no so mais visveis embora existam. De forma semelhante, o espao virtual permite
nosso encontro com a msica quando nos deixemos absorver pelo seu ritmo e nos subtramos do
espao material onde nos localizamos, criando um continuum rtmico entre corpo e sonoridade.
De uma certa forma, poderamos conjeturar que o estar no mundo (Dasein) a possibilidade de
criar entre ns e o mundo essa continuidade espacial que no identifica objetos, mas antes nos
dilui em um plano de total exterioridade. Por outro lado, o espao feito territrio, identificando,
conceituando, e estabelecendo limites e contornos entre as coisas, o avesso dessa virtualidade
qual nos referimos na medida em que atualiza um estado de coisas, objetificando o mundo,
fotografando um tempo que no tem medida.
Slido ou liquefeito, o espao uma noo suficientemente elstica que tanto se
presta para fundar novos territrios, comprimir o tempo, conter o poder, como para estabelecer
novas alianas, dissolver as lembranas e abrir-se para o devir. Conseqentemente, a perspectiva
de configurar o espao atravs de processos de territorializao e desterritorializao permite no
s uma leitura a partir de uma centralidade legitimada pela soberania da razo, atravs de
paradigmas consagrados na modernidade, mas tambm atravs de um vis que inclua as diversas
subjetividades que o atravessam, j que as subjetividades que emergem na contemporaneidade
92
situam-se imersas em uma nova complexidade que se trama, possibilitando que o espao
transfigure-se, portanto, em um novo campo de possveis.
II.4 DES (CONSTRUIR) O ESPAO: UMA QUESTO EPISTEMOLGICA.
Em sua Fsica, Aristteles (1926, 1931) descreve o espao por meio de distines
qualitativas que garantem cincia estabelecer leis diferentes para os corpos segundo sua matria
e sua forma, ou segundo sua substncia
111
. Trata-se de uma fsica que busca fundamentalmente
explicar o movimento
112
dos seres e, portanto, no s o seu deslocamento, mas tambm as suas
mudanas quantitativas e qualitativas. O espao, aqui, no o plano infinito onde, segundo os
modernos, ocorrem os movimentos, mas um lugar natural, onde a matria atualiza-se, ou
realiza-se melhor do que em outro. No se trata, portanto, de deslocamento; de partir de um ponto
ao outro, mas, ao contrrio, de encontrar o seu lugar. De territorializar-se.
Aristteles alega que o objeto fsico ou natural possui duas caractersticas principais:
existe independentemente da presena humana; e um ser em movimento, em devir, sofrendo
mudanas quantitativas, qualitativas e locais. Constitudo da combinao de quatro elementos ou
substncias, os seres dentre eles os humanos que habitam a regio terrestre ou sublunar
sofrem mudanas contnuas de uma forma outra com o intuito de atualizar o que est em
potncia em sua matria. Todavia, os seres fsicos no se movem, nem se transformam ou
deslocam-se da mesma maneira, mas as mudanas dependem da qualidade de suas matrias e da
111
Os corpos pesados cuja predominncia do elemento terra tm como lugar natural o centro da Terra e,
portanto, seu movimento local natural a queda; os leves, que tm o cu como lugar natural, tendem a subir; os no
inteiramente leves, que tm o espao rarefeito como lugar natural, tendem a flutuar; e os no totalmente pesados,
que tm o lquido como lugar natural, tendem a boiar.
112
Lembremos que o movimento, kinesis, toda e qualquer alterao ou mudana experimentada por um ser:
mudana de qualidade e quantidade e lugar, no sendo, portanto, apenas deslocamento.
93
quantidade em que cada um dos quatro eleme ntos materiais combina-se entre si. a matria que
determina esses movimentos locais a partir da definio de seus lugares naturais.
Diferentemente da concepo de tempo espacializado que Bergson acusara, aqui, o
ser do devir realiza-se no espao, enquanto lugar natural. O espao, enquanto lugar, sendo a
condio do devir do ser, da atualizao da potncia da matria em uma nova forma. Se o tempo
para Bergson no pode ser espacializado, havemos de supor que o espao, por seu turno, no
possa ser desprovido de temporalidade. De qualidades que se modificam no tempo e no com o
tempo. No s acmulo de sensaes e vivncias percebidas mediadas pela experincia no tempo,
mas tambm apreenso imediata e intuitiva da exterioridade pelo nosso corpo em movimento.
Segundo Merleau-Ponty (2000, p.177), Capek
113
mostra que, no contnuo espao-tempo,
prefervel falar-se de uma temporalizao do espao a falar de uma espacializao do tempo. Da
mesma forma, se o tempo, em Bergson, no pode ser apenas abstrato, medido por uma
espacialidade definida atravs dos critrios objetivos da mensurabilidade, a durao tambm no
pode ser desprovida de uma outra espacialidade que, agora, preencha os contedos dessa forma
concreta de tempo que ele prope. Afinal, a que movimento refere-se Bergson quando fala em
durao seno supusermos que o ser que percebe a durao um ser no s no tempo, como no
espao? Se a durao devolve ao tempo suas qualidades, ao espao deve ser tambm recuperada
sua dimenso qualitativa
114
. De modo que no possamos seno concluir que no exista
113
Em artigo intitulado La thorie bergsonienne de la matire.
114
Seria necessria fazer uma crtica dessa desqualificao do espao que vem reinando h vrias geraes. Foi com
Bergson, ou mesmo antes, que isso comeou. O espao o que estava morto, fixo, no dialtico, imvel. Em
compensao, o tempo era rico, fecundo, vivo, dialtico. A utilizao de termos espaciais tem um qu de anti-histria
para todos que confundem a histria com as velhas formas da evoluo, da continuidade viva, do desenvolvimento
orgnico, do progresso da conscincia ou do projeto da existncia. Se algum falasse em termos de espao, porque
era contra o tempo. porque negava a histria, como diziam os tolos, porque era tecnocrata. Eles no
compreendem que, na demarcao das implantaes, das delimitaes, dos recortes de objetos, das classificaes,
das organizaes de domnios, o que se fazia aflorar eram processos histricos certamente de poder. A descrio
espacializante dos fatos discursivos desemboca na anlise dos efeitos de poder que lhe esto ligados. (FOUCAULT,
2004, p.159).
94
espacialidade expungida de toda a espessura temporal
115
. Resta, portanto, que o espao no
seja apenas forma, continente, mas tambm contedo. No evidentemente contedo preenchido
pelo lugar que os objetos ocupam no espao pois ento ainda estaramos reduzindo o espao a
sua materialidade , mas fundamentalmente contedos apreendidos pela percepo, entendida,
aqui, antes como doadora de sentido s coisas do que mera capacidade de representar objetos.
O sentido do espao postulado pela fsica moderna, e definido pela geometria
euclidiana como mensurvel, homogneo e desprovido de diferenas qualitativas, onde todos os
pontos so reversveis ou equivalentes, no se sustenta mais nem diante da fsica quntica, que
admite que a posio dos observadores influi nos resultados de uma pesquisa
116
, nem diante das
descobertas antropolgicas, que demonstram que o espao construdo social e historicamente.
No se trata, contudo, de supor uma evoluo cientfica, mas de uma ruptura epistemolgica que
coloca os ideais de cientificidade como diferentes e descontnuos.
115
Cf. MERLEAU-PONTY, 2000, p.184.
116
H no filme Histrias de Cozinha (Salmer fra Hjokkenet; Noruega/ Sucia; 2003) exibido na 27 Mostra
Internacional de Cinema de So Paulo (cf. catlogo) uma brilhante ilustrao de como a presena de um
observador altera os resultados de uma pesquisa. Nesta comdia sobre os anos de 1950, acompanhamos os estudos
desenvolvidos por um instituto de pesquisa sueco para criar a cozinha ideal, mais prtica, econmica, e agradvel. A
fim de conhecer os hbitos de homens solteiros na cozinha disponibilizado um tcnico para a Noruega com o
propsito de testar prottipos de design revolucionrio. Sob o conhecimento prvio de que est sendo observado, o
morador progressivamente passa a no mais agir conforme costumava a faz-lo, alterando significativamente sua
rotina e colocando em xeque os resultados da pesquisa que o observador pretendia extrair. Embora o pesquisador
sueco tenha todo o cuidado para no interferir no cotidiano simplrio do fazendeiro noruegus, este passa a sentir-se
extremamente incomodado com a presena intrusiva do observador, alterando substancialmente seus hbitos e,
conseqentemente, comprometendo todos os dados da pesquisa que pretendia mapear os itinerrios espaciais do
morador da casa com toda sorte de grficos e esquemas. Da mesma forma, podemos pensar que os reality shows
pouco transmitem de realidade da vida de seus participantes que agem evidentemente como personagens de si
mesmos, como protagonistas de um espetculo, diante da certeza de que estejam sendo filmados. No obstante, essa
situao no pode ser confrontada como sendo necessariamente artificial em contraposio a uma suposta
identidade verdadeira, ou absoluta que cada um de ns possui longe de uma situao de vigilncia. Atuamos
sistematicamente diante das inmeras situaes cotidianas que nos cercam desde o convvio familiar ao
profissional adotando esse ou aquele personagem que mais nos convm diante de uma determinada circunstncia.
Mergulhamos em mltiplos espaos de subjetividade que nos atravessam buscando afirmar nossa possvel identidade
em algum lugar perdido entre nossa memria e desejo. Por isso, a idia de simulacro uma imagem to frgil para
trabalhar com os meios tcnicos de comunicao, porque pressupe alguma zona anterior de autenticidade em que
possamos fiar nossa devoo pelo verdadeiro.
95
A um dado momento, nos Seminrios de Zollikon, Heidegger (2001, p.36),
contestando a afirmao de Max Planck que dissera que: s o que pode ser medido real,
pergunta: Por que no haveria realidades impossveis de serem medidas com exatido? Uma
tristeza, por exemplo. E Heidegger prossegue, afirmando que a existncia de alguma coisa no
pode ser negada pelo simples fato de no poder ser medida, ou mesmo vista. Ainda, ao comentar
sobre o espao, Heidegger (2001, p.47) diz que uma forma de concepo de espao subjetiva, que
dispense a exigncia da medida, no s possvel como talvez mais elevada. Para a cincia, o
espao deve ser homogneo porque as regras do movimento devem ser iguais em todos os
lugares; s assim todo processo pode ser calculado e medido. A natureza vista de uma certa
maneira determinada para que corresponda s condies de mensurabilidade. No h espao
para a diferenciao, no h possibilidade de um lugar para as coisas, como em Aristteles, de
modo que a natureza, na perspectiva cientfico- natural, seja reduzida a sua possibilidade de
mensurao, o que remete a um projeto de um espao e tempo homogneos.
A possibilidade de construir ou desconstruir o espao remete, portanto, a uma
problemtica basicamente epistemolgica que coloca o pensamento diante da falsa questo de
optar entre uma primazia do sujeito ou do objeto no processo cognitivo, na medida em que a
prpria idia de representao induz a essa lgica dicotmica. E dentro dessa lgica inclui- se uma
noo de espao-temporalidade que pressupe um projeto de um espao e um tempo
homogneos. Quando Heidegger (2001, p.52) pergunta-se o que significa a natureza dentro de um
pensar cientfico-natural, diz que seu trao fundamental a sua legalidade e que desta decorre
sua calculabilidade, de modo que de tudo o que s se considera aquilo que mensurvel,
quantificvel, dispensando-se todas as outras caractersticas das coisas
117
. Mesmo um
117
A esse projeto de pensar cientfico-natural, Heidegger (2001, p.53) atribui a Galileu e Newton a sua realizao
numa suposio que considerava a determinao da legalidade de acordo com a qual os pontos de massa se movem
96
pensador de orientao marxista como Harvey (2004, p.189) considera importante contestar a
idia de um sentido nico e objetivo de tempo e espao com base no qual possamos medir a
diversidade de concepes e percepes humanas, embora no defendendo uma dissoluo
total da distino objetivo-subjetivo, mas insistindo no reconhecimento da multiplicidade das
qualidades objetivas que o espao e o tempo podem exprimir e no papel das prticas humanas
em sua construo. At quando os fsicos atribuem uma materialidade noo de tempo e
espao, Harvey argumenta que no se pode subordinar todas as concepes objetivas do tempo e
do espao a essa concepo fsica particular, visto que tambm ela uma construo baseada
numa verso especfica da constituio da matria e da origem do universo, j que a histria
dos conceitos de tempo, espao e tempo-espao na fsica tem sido marcada, na verdade, por
fortes rupturas e reconstrues epistemolgicas
118
.
As teorias sociais concebidas a partir de pensadores como Marx, Weber, Smith e
Marshall , admite Harvey (2004, p.190), privilegiam tipicamente em suas formulaes o
tempo, considerando o espao como uma espcie de fundo natural, de continente onde se
processa a ao humana
119
. Por outro lado, citando Frederic Jameson, Harvey (2004, p.187)
acredita que vivemos uma crise da experincia do espao e do tempo, crise na qual categorias
espaciais vm a dominar as temporais, ao mesmo tempo que sofrem uma mutao de tal ordem
no espao e tempo, mas de forma alguma considerava aquele ente que chamamos de homem, desconsiderando,
portanto, a experincia mesma que determina o ser-homem.
118
Sob a superfcie de idias do senso comum e aparentemente naturais acerca do tempo e do espao, ocultam-se
territrios de ambigidade, de contradio e de luta. Os conflitos surgem no apenas de apreciaes subjetivas
admitidamente diversas, mas porque diferentes qualidades materiais objetivas do tempo e do espao so consideradas
relevantes para a vida social em diferentes situaes. [...] A objetividade do tempo e do espao advm [...] de prticas
materiais de reproduo social; e, na medida em que estas podem variar geogrfica e historicamente, verifica-se que
o tempo social e o espao social so construdos diferencialmente. (HARVEY, 2004, p.189-190).
119
A teoria social sempre teve como foco processos de mudana social, de modernizao e de revoluo (tcnica,
social e poltica). O progresso seu objeto terico, e o tempo histrico, sua dimenso primria. Com efeito, o
progresso implica a conquista do espao, a derrubada de todas as barreiras espaciais e a aniquilao [ltima] do
espao atravs do tempo. A reduo do espao a uma categoria contingente est implcita na prpria noo de
progresso. (HARVEY, 2004, p.190).
97
que no conseguimos acompanhar porque ainda no possumos o equipamento perceptual que
nos permita perceber esse novo tipo de hiperespao, em parte porque nossos hbitos de
percepo ainda se mantm atrelados ao passado. Conseqentemente, a crise da matriz espacial
revela-se como uma crise epistemolgica j que uma alterao do conceito do espao implica em
uma mudana nos modos de ver e compreender o mundo.
Ao admitirmos a idia de que todos os sistemas que inventariamos, das teorias sociais
s fsicas, possuem uma base comum em uma matriz espacial a partir da qual formam e so
formados seus respectivos espaos de atuao, havemos tambm de concordar que o espao
informacional que as novas tecnologias da comunicao introduzem no pode ser entendido a
partir dos mesmos instrumentais de anlise utilizados pela modernidade. As redes de
comunicao atuariam hoje segundo princpios rizomticos desenvolvendo-se e entrecruzando-se
sem a determinao de um centro estvel, suprimindo a estrutura fsica e a dependncia de
centros geradores de fluxos
120
. Todavia, Duarte (2002, p.179-180), citando Daniel Parrochia
(1993), alerta que preciso desconfiar dessas redes ditas acentradas ou difusas, pois,
[...] sua estrutura codificada; mesmo que imaterial, sendo sempre possvel a construo
de algoritmos para calcular a evoluo e alteraes da rede, atravs de processos de
controle que, justamente por serem discretos, podem manipular o conjunto mais
facilmente, sem serem detectados por grande parte do que vivem essas redes.
E, prosseguindo com Parrochia, adverte que a sociedade dita mvel e flexvel [...] conduz de
fato a um espao completamente totalitrio e que a noo de rede encontra a seu sentido
original de instrumento de captura, sempre mais presente e ameaador.
Parece evidente que presenciamos uma quebra de paradigma entre a sociedade
industrial e informacional, quando pensamos que a ordem espao-temporal constituda na
modernidade no mais a mesma que encontramos na contemporaneidade, no entanto,
120
Cf. DUARTE, 2002.
98
duvidoso que a idia de uma sociedade em rede tenha reservado aos lugares o isolamento. Ainda
que a matriz que regula a percepo do espao em contextos histricos e geogrficos distintos
no possa ser considerada a mesma, no podemos necessariamente concluir que os lugares
tenham sido totalmente absorvidos por essa nova matriz espacial tecno-informacional enquanto
um resduo de memria subsistir ao discurso hegemnico de um momento histrico. Supor a
hegemonia de uma matriz espacial s factvel desde que se possam extinguir todos os vestgios
de uma memria coletiva que, embora se refaa por fora de um novo paradigma epistemolgico
inaugurando uma nova ordem poltica e social, sempre permanece como um fundo de
subjetividade que no se apaga.
Podemos associar esse fundo de subjetividade, essa memria coletiva, memria
longa que Deleuze e Guattari (1995, p.25-26) descrevem com sendo prpria aos sistemas
arborescentes: sistemas hierrquicos que comportam centros de significncia e de subjetivao;
assim como agregar o sistema rizomtico das redes de comunicao memria curta.
[...] a memria curta de tipo rizoma, diagrama, enquanto que a longa arborescente e
centralizada [...]. A memria curta no de forma alguma submetida a uma lei de
contigidade ou de imediatidade em relao ao seu objeto; ela pode acontecer
distncia, vir ou voltar muito tempo depois, mas sempre em condies de
descontinuidade, de ruptura e de multiplicidade. [...] A memria curta compreende o
esquecimento como processo; ela no se confunde com o instante, mas com o rizoma
coletivo, temporal e nervoso. A memria longa (famlia, raa, sociedade ou civilizao)
decalca e traduz, mas o que ela traduz continua a agir nela, distncia, a contratempo,
intespetivamente, no instantaneamente. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.25-26).
Todavia, novamente no devemos ceder ao vcio dialtico de opor os dois modelos, julgando que
o ciberespao atue segundo a forma de rizoma, enquanto o espao geogrfico siga as orientaes
de uma ordem arbrea.
Se verdade que o mapa ou o rizoma tm essencialmente entradas mltiplas,
consideraremos que se pode entrar nelas pelo caminho dos decalques ou pela via das
rvores -razes,[...] H, ento, agenciamentos muito diferentes de mapas-decalques,
rizomas -razes, com coeficientes variveis de desterritorializao. (DELEUZE;
GUATTARI, 1995, p.24).
O que conta que a rvore-raiz e o rizoma-canal no se opem como dois modelos: um
age como modelo e como decalque transcendentes, mesmo que engendre suas prprias
99
fugas; o outro age como processo imanente que reverte o modelo e esboa um mapa,
mesmo que constitua suas prprias hierarquias, e inclusive ele suscite um canal
desptico. [...] Trata-se do modelo que no pra de se erigir e de entranhar, e do processo
que no pra de se alongar, de romper-se e de reto mar. [...] Invocamos um dualismo para
recusar um outro. Servimo -nos de um dualismo de modelos para atingir um processo que
se recusa todo modelo. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.31-32).
Em suma, tudo depende do modo como experimentamos os espaos que, antes de constiturem-se
em objetos, so muito mais um meio. Rizoma, mapa
121
e imanncia, assim como rvore,
decalque, transcendncia, so processos de desterritorializao e territorializao que atuam
entre
122
as coisas, atravs das coisas, de modo que no possamos outorgar nem ao ciberespao,
nem ao espao geogrfico, a identidade de um rizoma ou de uma rvore.
Conseqentemente, no passa de um exagero supor que o ciberespao, com sua
estrutura rizomtica, venha instaurar um nomadismo generalizado, substituindo inclusive a
cidade real com seus supostos limites precisos e sua identidade fixa, pois nem o rizoma implica
num quadro exclusivo de nomadismo, nem um sistema particular que no possa ser replicado
cidade real bem como a toda sorte de multiplicidades que compem a realidade
123
.
Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele estratificado,
territorializado, organizado, significado, atribudo, etc.; mas compreende tambm linhas
de desterritorializao pelas quais ele foge sem parar. H ruptura no rizoma cada vez que
linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do
rizoma. Estas linhas no param de se remeter umas s outras. por isto que no se pode
contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a forma rudimentar do bom
e do mau. Faz-se uma ruptura, traa-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco
de reencontrar nela organizaes que reestratificam o conjunto, formaes que do
novamente o poder a um significante, atribuies que reconstituem um sujeito [...].
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.18).
Se o rizoma possibilita uma forma nmade de trabalhar o espao, tambm autoriza seu
fechamento, organizando-o, estratificando-o, significando-o, territorializando-o. Se a Internet
121
Lembremos que, aqui, o significado de mapa aquele atribudo por Deleuze e Guattari que se assemelha ao
rizoma e se contrape ao decalque , nada tendo em comum com o sentido usual expresso nos captulos anteriores .
122
Entre as coisas no designa uma correlao localizvel que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma
direo perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem incio nem fim, que ri
suas duas margens e adquire velocidade no meio. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.37).
123
As multiplicidades so a prpria realidade, e no supem nenhuma unidade, no entram em nenhuma totalidade e
tampouco remetem a um sujeito. As subjetivaes, as totalizaes, as unificaes so, ao contrrio, processos que se
produzem e aparecem nas multiplicidades. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.8).
100
pode ser associada a um processo rizomtico, com entradas e sadas mltiplas, tambm a cidade
pode ser vivenciada da mesma forma. A celebrada interatividade na era da Internet, com sua
estrutura rizomtica e seu quadro de nomadismo, no garante em absoluto o livre fluxo do
pensamento ou do desejo, ou a livre vazo de linhas de fuga; ao menos, no mais do que
podemos vivenciar na cidade com suas ruelas, becos, subsolos e quartinhos escuros. Mesmo que
a propalada interatividade dessas no vas tecnologias da comunicao possibilitem um mais rpido
e livre acesso ao conhecimento em grande medida transformado em bem de consumo , resta
sempre e ainda a questo de como digerir ou ruminar essa quantidade enorme de informao que,
evidentemente, no se traduz em saber. A questo, portanto, parece ser outra: no se trata de
celebrar a estrutura rizomtica que as novas tecnologias da comunicao disponibilizam, mas
de saber como se apropriar desse quadro de nomadismo sem que reterritorializemo-nos no
mesmo. Tudo depende das formas pelas quais ocupamos e agenciamos os espaos. Tudo depende
dos processos de subjetivao que se produzem nesses espaos; dos elementos singulares que
percebemos; das conexes e relaes que estabelecemos com o fora, com os devires; dos planos
de consistncia (plats) que intensificamos; dos acontecimentos que anunciamos. Afinal sempre
existem ns de arborescncia nos rizomas, empuxos rizomticos nas razes.
II.4.1 O OLHO E O CORPO.
A cartografia que expressa a hegemonia de uma matriz espacial em um determinado
momento histrico supe igualmente a primazia de um paradigma epistemolgico e, justamente
por isso, no reflete as complexas relaes que se estabelecem fora dos limites que desenha.
Como meio tcnico, os mapas vem aquilo que lhes interessa ou conseguem mapear. Os limites
dos territrios, assim como os lugares, esto e estaro sempre l, simbolizados respectivamente
101
por linhas e pontos, e ainda que o espao informacional exija uma cartografia evidentemente mais
complexa, sempre subsistiro espaos no representados que, invisveis, articulam-se em uma
dinmica ainda mais veloz que a do olhar tcnico. No obstante, os mapas, assim como as
palavras e as imagens tcnicas, no apenas domesticam nosso olhar, mas aprofundam o abismo
cognitivo entre o olho e o corpo, ao outorgarem quele, as garantias de uma evidncia ontolgica,
no que resulta a dvida em saber at que ponto pode o corpo estar liberto dessa disciplina do
olhar ou, ainda, at que ponto pode o corpo reconciliar-se com o olhar.
Ao analisar a crtica contempornea do mapa de Michel de Certeau como artefato
totalizante, Harvey (2004, p.230) comenta que
[...] a aplicao de princpios matemticos produz um conjunto formal de lugares
abstratos e rene num mesmo plano lugares heterogneos, alguns recebidos da
tradio e outros produzidos pela observao. O mapa , com efeito, uma
homogeneizao e reificao da rica diversidade de itinerrios e histrias espaciais; ele
elimina pouco a pouco todos os vestgios das prticas que o produzem. Enquanto as
qualidades tteis do mapa medieval preservavam estes vestgios, os mapas
matematicamente rigorosos do Iluminismo exibiam qualidades deveras distintas .
E o prprio Certeau (2002, p.171) diz que: Escapando s totalizaes imaginrias do olhar,
existe uma estranheza do cotidiano que no vem superfcie, ou cuja superfcie somente um
limite avanado, um limite que se destaca sobre o visvel. Estranheza essa que o das prticas
do espao que no se confundem com o espao geomtrico ou geogrfico das construes
visuais, panpticas ou tericas, mas que tramam uma experincia antropolgica, potica e
mtica do espao e que remetem a uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada. Uma
cidade transumante, ou metafrica, insinua-se assim no texto claro da cidade planejada e visvel.
O que aqui Certeau prope uma alternativa cognitiva no processo de construo dos espaos ao
distinguir entre ver e ir, entre o mapa e o itinerrio. O mapa, coincidindo com o nascimento do
discurso cientfico moderno, no passa de uma descrio redutora e totalizante de observaes
espaciais, enquanto o itinerrio engendra uma srie de aes espacializantes que produzem um
102
espao vivido cotidianamente: uma arte do fazer espao. Mais uma vez, a arte aqui consiste em
tornar visvel e no em reproduzir o visvel. Fora da perspectiva totalizante da visibilidade,
encontram-se
[...] os praticantes ordinrios da cidade. Forma elementar dessa experincia, eles so
caminhantes, pedestres, Wandersmnner, cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um
texto urbano que escrevem sem poder l-lo. Esses praticantes jogam com espaos que
no se vem; tm dele um conhecimento to cego como no corpo-a-corpo amoroso. Os
caminhos que se respondem nesse entrelaamento, poesias ignoradas de que cada corpo
um elemento assinado por muitos outros, escapam legibilidade. [...] As redes dessas
escrituras avanando e entrecruzando-se compem uma histria mltipla, sem autor nem
espectador, formada em fragmentos de trajetrias e em alteraes de espaos: com
relao s representaes, ela permanece cotidianamente, indefinidamente, outra.
(CERTEAU, 2002, p.171) .
Se, para Certeau, o corpo escapa s determinaes centralizadoras do olhar, McLuhan
(1977), por seu turno, associa a viso a um modo sedentrio de orientar-se no espao,
transformando-o em esttico e mensurvel, enquanto a orientao em um espao multidirecional
e aberto estaria ligada ao tctil e acstico
124
. Constatamos, portanto, que a modernidade que
inaugura o sujeito, funda tambm a primazia do olho sobre o corpo: ao lugar do sujeito nico
corresponde, efetivamente, o lugar do olho ou do esprito, em detrimento de uma pluralidade de
corpos que passam a ser observados como parte de uma engrenagem cognitiva que os reduz, ao
mesmo tempo, a sujeitos e objetos. Mas a sujeitos que s realizam-se enquanto tal mediante a
viso unvoca da centralidade de uma perspectiva nica, submetendo a alteridade de mltiplos
objetos (e sujeitos) a uma multiplicidade de idnticos: de homens mdios
125
.
124
McLuhan (1979, p.180), em Os meios de comunicao como extenses do homem, coloca que o relgio e o
alfabeto, fracionando o universo em segmentos visuais, deram fim msica da inter-relao. O visual dessacraliza o
universo e produz o homem no religioso das sociedades modernas. E, em A galxia de Gutenberg (1977,
p.337), diz que a tipografia quebrou as vozes do silncio, pois medida que a prensa tipogrfica de Guttenberg
foi enchendo o mundo, apagava-se a voz humana.
125
A concepo do homem mdio remete idia de totalidade do fato social, da qual tanto Marcel Mauss, como
Lvi-Strauss, so partidrios. O fato social total pode ser entendido segundo Lvi-Strauss, como fato social
totalmente percebido, isto , o fato social em cuja interpretao est integrada a viso que pode ter dele qualquer
indgena que o vive. Isto remete concepo do homem mdio, definido como um total, porque esse homem
mdio tem uma permeabilidade ao tecido social que lhe confere uma identidade com os pares de seu grupo.
Qualquer homem mdio representativo de seu grupo, garantindo assim uma homogeneidade, uma totalidade. E
nas sociedades arcaicas ou atrasadas, praticamente todo homem um homem mdio, enquanto na sociedade
103
Em suas operaes classificatrias, a viso totalizante reduz a estrutura rizomtica
de uma cidade a uma estrutura arbrea em que seus fluxos so convertidos em fixos, seus
mltiplos trajetos e itinerrios direcionais em pontos e linhas dimensionveis e mapeveis. Tudo
o que considerado desviante colocado para fora, tal como Foucault delineou em suas anlises
sobre as estruturas de poder, com a ressalva de que, hoje, esse fora no mais coincide
necessariamente com a periferia dos espaos fsicos da cidade, mas para um fora dos espaos
iluminados pela visibilidade do discurso miditico. Dessa forma, a proposio de Certeau (2002),
de que os espaos podem ser libertados mais facilmente do que Foucault imagina,
precisamente porque as prticas sociais espacializam em vez de se localizarem no mbito de
alguma malha repressiva de controle social, no nos parece plenamente sustentvel j que a
suposio de que h entre o olho e o corpo um abismo cognitivo que faz com que a perspectiva
convergente da viso torne-se uma metfora para os dispositivos de controle tecno-racionais do
poder do Estado, cabendo ao corpo a possibilidade de solapar essa ordem unvoca e repressora
atravs de prticas sociais dissonantes, parece reincidir em um procedimento metodolgico
dicotmico que fratura a experincia do corpo em um eixo binrio que contrape uma
racionalidade castradora do pensamento a um nomadismo libertrio de um corpo social acfalo
ou, pelo menos, cego. Afinal se ao corpo cabe essa possibilidade de realizar a arte de espacializar
as aes cotidianas, criando uma escritura annima das prticas sociais, tambm sobre o corpo
que incidem as prticas abusivas do poder, de modo que no se possa pensar o olho destacado de
um corpo que tanto observa quanto vigiado de um corpo, em suma, adestrado.
moderna, segundo Mauss, o homem mdio aquele que no pertence elite. O homem mdio semelhante a
quase todos os homens das sociedades arcaicas ou atrasadas uma vez que ele apresenta, como eles, uma
vulnerabilidade e uma permeabilidade a seu crculo imediato que permitem precisamente defini-lo como total. [...]
No campo ideal do etnlogo (o das sociedades arcaicas ou atrasadas) todos os homens so mdios (poderamos
dizer representativos); a localizao no tempo e no espao a, portanto, fcil de efetuar: ela vale para todos, e a
diviso em classes, as migraes, a urbanizao, a industrializao no vm reduzir suas dimenses e confundir sua
leitura. Por trs das idias de totalidade e de sociedade localizada, h aquela de uma transparncia entre cultura,
sociedade e indivduo. (AUG, 1994, p.48-49).
104
Certeau (2002, p. 176-180), por exemplo, afirma que
o ato de caminhar est para o sistema urbano como a enunciao (o speech act) est para
a lngua ou para os enunciados proferidos. [...] Os jogos dos passos moldam espaos.
Tecem os lugares. [...] Os processos do caminhar podem reportar-se em mapas urbanos
de maneira a transcrever-lhes os traos (aqui densos, ali mais leves) e trajetrias
(passando por aqui e no l). Mas essas curvas em cheios ou em vazios remetem
somente, como palavras, ausncia daquilo que passou. Os destaques de percursos
perdem o que foi [...].
E essa visibilidade tem como efeito tornar invisvel a operao que a tornou possvel, ou seja,
essas fixaes, constituem procedimentos de esquecimento em que o trao vem substituir a
prtica, manifestando a propriedade (voraz) que o sistema geogrfico tem de poder
metamorfosear o agir em legibilidade, mas, com isso, levando ao esquecimento uma maneira
de estar no mundo. Por outro lado, se verdade que existe uma ordem espacial que organiza
um conjunto de possibilidades [...] e proibies [...], o caminhante atualiza algumas delas ao
ultrapassar os limites que as determinaes do objeto fixavam para seu uso, criando assim
[...] algo de descontnuo, seja efetuando triagens nos significantes da lngua espacial,
seja deslocando-os pelo uso que faz deles. Vota certos lugares inrcia ou ao
desaparecimento e, com outros, compe torneios espaciais raros, acidentais ou
ilegtimos. (CERTEAU, 2002, p.178) .
Sem dvida, podemos notar que muitos espaos interditados circulao de pedestres
so constantemente refeitos pela prtica do pedestre. Seria o caso da imposio de uma trajetria
ao pedestre (p.ex, faixas de segurana, passarelas, etc.) que constantemente a dribla para facilitar
seu percurso. Essa uma questo interessante, pois, regularmente, o que observamos que a
racionalidade do espao que se constri a racionalidade de um espao desenhado para o veculo
e no para o pedestre. No se trata, portanto, de opor um espao vivido a um espao racional,
porque o espao que o pedestre redesenha usualmente um espao tambm racional enquanto
menor distncia a ser percorrida, de modo que no se possa afirmar que o pedestre, ao burlar o
espao que lhe imposto, crie um trajeto ldico, enquanto alternativo, mas apenas mais racional
para ele. Tambm, no se pode afirmar que a experincia do espao atravs de um veculo seja
105
necessariamente mecnica tanto quanto a de um pedestre seja espontnea. Isto recoloca a questo
do poder e do hbito, ou de como o poder estimula e refora hbitos e no, como insistem muitos
tericos, na mera racionalizao de um espao como esboo de um projeto totalitrio. Alm do
mais, Certeau parece minimizar o papel que os meios de transporte e de comunicao
desempenham na promoo de uma inrcia aos deslocamentos espaciais do pedestre. Os meios
transportes desenhando um itinerrio estvel e permanente e os meios de comunicao
promovendo uma compresso espao-temporal se, por um lado, facilitam uma mobilidade
espacial generalizada pela abundante disponibilizao de percursos em redes (fsicas e virtuais),
impem tambm uma imobilidade aos indivduos que no vivenciam qualquer espacialidade que
no seja aquela fixada por esses meios, inibindo as chances de se conceber toda sorte de
caminhadas. Nas redes virtuais, no h qualquer chance de um corpo circular, porque
simplesmente o que antes circula so textos e imagens, de modo que os mapas que se constituem
a partir desses novos meios tecnolgicos de comunicaes exigem uma nova cartografia. Os
pontos seminais dessa discusso apontam para uma interrogao quanto ao potencial cognitivo do
olho e do corpo e suas relaes com um espao material e virtual. Poderamos efetivamente opor
o olho ao corpo, associando-os respectivamente virtualidade e materialidade?
Suponhamos que haja entre o olho e o corpo uma fratura epistemolgica. Ento, as
coisas, ao tornarem-se mensurveis, separaram-se de ns, objetificando o mundo. Esquecemo-nos
das coisas e contentamo-nos com suas representaes. A passagem do tempo
126
, por exemplo,
pouco significa para muitos como efetiva experincia do corpo. Podemos prever o tempo, mas
esquecemo-nos de notar sua lenta ou abrupta mudana, seu eterno movimentar-se. A
aproximao de uma tempestade, para o chamado homem mdio hoje, urbano e midiatizado ,
126
Aqui, entendido como conjunto de condies meteorolgicas.
106
pode ser pressentida como um fenmeno meteorolgico. Assistimos a previso do tempo e,
quando muito, preparamo-nos para um fim de semana de sol, ou precavemo-nos diante de uma
chuva anunciada, mas o fazemos, ainda que sob diversas formas, de uma maneira distanciada. A
promessa de um fim de semana com sol como um passaporte para uma viagem bem sucedida
praia, assim como a chuva lembra- nos o caos do trnsito, o atraso em nossos compromissos, ou o
temor de uma enchente. So como sinais contemporneos de uma boa ou m colheita. Encaramos
o tempo de forma utilitria. Desejamos o sol por crermos que ele seja um signo de sade ou, pelo
contrrio, por temermos seu efeito cancergeno. Evitamos a chuva para no nos molharmos, no
contrairmos uma gripe ou, pelo contrrio, bendizemo-na na expectativa de uma farta safra. Para o
homem mdio, o tempo bvio demais para significar qualquer coisa para alm de suas
conseqncias prticas em nosso cotidiano. bvias, as coisas perdem seu encanto, sua magia.
Nuvens tomando forma, a presena ou ausncia dos ventos, o ar seco ou mido, a inclinao dos
raios do sol. Tudo isso s conhecido diante de uma cadeia de significantes mais ou menos
utilitria que sempre nos remete a uma srie infindvel de fatos e coisas mais ou menos
importantes que nos levam a uma percepo do mundo atravs de nexos causais que, por sua vez,
amarram o significado de uma coisa outra, mas nunca nos revelam o sentido de nada, de
nenhum evento. A chuva, as nuvens, o vento, o sol, os outros, tornam-se ento invisveis para
ns. Mas, curiosamente, por vezes, sonhamos com uma noite com neve e pensamos que seja bela
por si s, esquecendo- nos que a chuva, igualmente, por ser to bvia, no merece nenhuma
reverncia. O excesso de visibilidade nos conduzindo invisibilidade dos fenmenos.
Caminhamos sempre pelas mesmas ruas e no vemos nada: prdios, pessoas, postes e fios
compem uma paisagem invisvel. Estamos entrevados sob um severo regime de signos para ver
qualquer coisa. O olho, aqui, certamente, no mais o olho que se abre diante do mundo como
sentido do corpo, mas apenas como hbito, no sendo mais que uma ferramenta a observar o
107
mundo por janelas que so abertas pela subjetividade dominante. Estamos ao mesmo tempo
encouraados e conectados com o mundo atravs de uma rede de subjetividade que acreditamos
ser nossa, quando coletiva, resultado de uma espao-temporalidade nica e hegemnica.
Tales teria dito que tudo est cheio de deuses. Sol, vento, pessoas, esto repleto de
deuses, assim como a neve ou a chuva que cai. Mas ao estarmos cegos de tanto v- los, esses se
tornaram invisveis para ns. Os sentidos tornaram-se um instrumento de inteleco do mundo; o
olho, principalmente, o modo de represent-lo. A representao tornou-se o mundo, uma segunda
e nica natureza que as mdias no cessam de tornar visveis. Nada mais se esconde por trs das
coisas. Os deuses no se escondem mais porque esto mortos. No se trata aqui, evidentemente,
de reabilitar os deuses mitolgicos ou, muito menos, o deus judaico-cristo. Este, Nietzsche
definitivamente o sepultou. Trata-se de considerar que entre o mundo religioso antigo e o
surgimento da filosofia clssica, racionalista, ocorreu talvez um instante fugaz de conhecimento
que conciliava a experincia do mundo com o logos, com uma razo ainda no suficientemente
dominadora a ponto de cindir o mundo. Um campo de saber cujo espao de conhecimento era o
prprio mundo e no seus objetos cognoscveis. Esse momento entre a viso mtica de deuses que
governavam o mundo e o advento de uma episteme lgica, como uma dobra entre duas vises
distintas do mundo: mythos e logos. Momento, talvez nico do pensamento, em que a fsica no
se separara de uma viso metafsica do mundo, em que entre os deuses e as coisas no havia
ainda um abismo. Mais tarde, o conceito, pelo estranho paradoxo de dar s palavras o poder de
tornar invisvel a visibilidade das coisas no mundo, ocupando-lhes seu lugar, tornar os objetos
possveis, visveis; mas a intensa visibilidade do objeto que a cincia contempornea nos faz
acreditar finda por torn- lo novamente obscuro.
108
Todavia, o corte epistmico entre o olho e o corpo no implica na autonomia daquele
rgo sensrio sobre todo organismo. Isso fica evidente nos experimentos que Wittgenstein
127
prope ao imaginar que um olho fixo no garante a este a possibilidade de situar-se enquanto
observador se seu corpo estiver disperso em partes. Ou, ento, ao imaginar que diversos olhos
descolados de seus respectivos corpos tampouco so garantia de uma observao. Neste caso, os
olhos vem, mas os corpos no sabem a partir de quais olhos compem a viso, tornando a
imagem vista sem significao. Diante desses experimentos, podemos supor as conseqncias
que a soberania do olho sobre o corpo tm causado sobre nossa episteme desde o advento da
perspectiva. Vemos, mas com quais olhos? Vemos, mas com qual corpo? E essas perguntas no
cessam seno ampliam-se na contemporaneidade diante das mediaes que os meios tcnicos de
comunicao nos interpem.
O privilgio do olho no reside somente sobre a perspectiva e a ordenao racional do
espao, mas tambm sobre o prprio corpo e o mundo. o olho que suplanta e at mesmo nega o
corpo ao afirmar sua soberania sobre os demais sentidos; o olho que identifica no mundo os
objetos, ou ainda, que faz do mundo um amontoado de objetos. tambm a luz a grande
metfora que inaugura a criao do mundo dando- lhe forma e contedo
128
, que libera os homens
de seus mitos e da aparncia enganosa dos sentidos, que guia a humanidade em sua marcha
emancipatria libertando-a das trevas da ignorncia, e que finalmente conquista a dimenso de
uma nova realidade enquanto vetor absoluto da velocidade
129
. H, entre o olho e a luz, uma
127
Cf. DUARTE, 2002, p.33-34.
128
No princpio Deus criou o cu e a terra. A terra, porm, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do
abismo, e o Esprito de Deus movia -se sobre as guas. E Deus disse: Exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a
luz era boa; e separou a luz das trevas. E chamou luz de dia, e s trevas de noite. E fez-se tarde e manh: primeiro
dia. (Bblia Sagrada, 1979, Gnesis : 1, v 1-5, p.25).
129
Referimo-nos respectivamente aqui Teoria das Idias de Plato, aos ideais do Iluminismo e s observaes de
Paul Virilio sobre as novas tecnologias da comunicao.
109
relao de cumplicidade implcita e explcita. O olho que enxerga o mesmo olho que ilumina,
que distingue o certo do errado, que alcana a inteligibilidade das coisas, aproximando-se dos
atributos divinos
130
. O olho que experimenta o olho que representa. a viso, dentre todos os
demais os sentidos, o nico que alcana o conhecimento, a verdade secreta e absoluta que se
esconde por trs dos mistrios do mundo, e, como tal, aproxima-se do esprito, essa interioridade
encarnada no mundo, nas substncias e nos corpos. O olho guarda essa estranha condio de
tornar invisvel o visvel ao cindir a materialidade em imaterialidade, o corpo em esprito, a
experincia em idia. No h mesmo qualquer chance de uma epistemologia, tal como ns a
concebemos desde a filosofia clssica, sem que a fora do olhar no se faa presente. a viso
que garante tanto a interioridade de um observador como sujeito, como a exterioridade das coisas
enquanto objetos. a viso que permite o distanciamento do outro e a condio de uma
espacialidade absoluta porque mensurvel. No limite, poderamos dizer que no haveria sequer
objetos se no fosse dada a viso, na medida em que as coisas somente sejam identificveis por
aquilo que nelas seja passvel de visibilidade. As experincias tteis, auditivas, olfativas e
gustativas, ainda que juntas, no seriam capazes de produzir a mesma ordem de objetos com a
qual configuramos o mundo, mas fundariam uma outra lgica de representao a qual no
podemos imaginar. Mas o olho vai mais alm, ao conceder a si mesmo a capacidade de negar seu
prprio corpo refugiando-se no esprito, ao mesmo tempo em que atribui visibilidade aos corpos
garantindo- lhe sua espacialidade. Enquanto esprito, o olho torna-se interioridade, chamando a si
a responsabilidade por espacializar o mundo, por tornar possveis os objetos inclusive o prprio
130
Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus fizera. E ela disse mulher: Por
que vos mandou Deus que no comsseis de toda a rvore do paraso? Respondeu-lhe a mulher: Ns comemos do
fruto das rvores, que esto no paraso. Mas do fruto da rvore, que est no meio do paraso, Deus nos mandou que
no comssemos, e nem a tocssemos, no suceda que morramos. Porm a serpente disse mulher: Vs de nenhum
modo morrereis. Mas Deus sabe que, em qualquer dia que comerdes dele, se abriro vossos olhos, e sereis como
deuses, conhecendo o bem e o mal. (Bblia Sagrada, 1979, Gnesis: 3, v 1-5, p. 27-28, grifo nosso).
110
corpo que o hospeda, a quem o toma curiosa e cinicamente como objeto. Desfaz-se da carne do
mundo, no s objetificando-o, mas tornando-o imagem. Se h uma tenso entre a figura e o
conceito, entre a escrita e a imagem, talvez seja porque o olho adquira tal soberania diante dos
demais rgos sensrios que frature o espao entre o visvel e o invisvel.
Ao relatar a experincia de andar de trem, Certeau (2002, p.193-195) fala da
imobilidade de uma ordem interna (em que nada se move dentro do vago) e externa (em que a
paisagem, l fora, tampouco se move). As coisas (dentro e fora) no tm movimento a no ser
aquele provocado entre suas massas pelas modificaes de perspectiva, momento aps momento;
mutaes que do a impresso de realidade. Nada muda ou move-se, mas apenas a vista desfaz
e refaz continuamente as relaes que entre si mantm estes dois fixos.
Entre a imobilidade de dentro e fora, introduz-se um qiproqu, fina lmina que inverte
suas estabilidades. O quiasma efetuado graas vidraa e aos trilhos [...]. A vidraa
permite ver, e os trilhos permitem atravessar (o terreno). So dois modos
complementares de separao. Um modo cria a distncia do espectador: no tocars.
Quanto mais vs, menos agarras despojamento da mo para ampliar o percurso da
vista. O outro traa, indefinidamente, a injuno de passar: como na ordem escrita, de
uma s linha, mas sem fim [...]. (CERTEAU, 2002, p.194-195).
Mantidas as diferenas, tal experincia poderia ser estendida s interfaces miditicas que
proliferam entre o homem e o mundo, j que, em ambos os casos, o que est em jogo a
crescente valorizao da vista em detrimento do corpo.
Heidegger (2001), por exemplo, pergunta-se onde est a diferena entre o olho e a
mo enquanto ambos so rgos do corpo?
[...] o que o ver com relao ao pegar? Por um lado, no ver, o prprio olho no visto,
mas a mo no s vista ao pegar, como eu posso at peg-la com a outra mo. [...] O
olho no toca. [...] Ao segurar, a mo est em contato direto com o segurado. Meu olho
no est nesse contato direto com o que visto. (HEIDEGGER, 2001, p.110-111).
111
Embora no seja o corpo que veja, vemos atravs de nossos olhos, que fazem parte de nosso
corpo
131
. Heidegger (2001, p.108-119) tambm lembra que os gregos determinam o homem
como zoon logon exon, isto , como ente vivo que possui linguagem enquanto Wiener diz:
homem aquele animal que fala. Entre a ciberntica e a tradio grega, a definio de homem
reside no s no uso de uma linguagem, mas implica, em nosso entendimento no uso de uma
linguagem corporal, espacial. Esse homem que fala aquele que est no mundo determinado
pelo corporar do corpo. Se em Kant, o humano reside na possibilidade de dizer eu, para
Heidegger, o que diferencia o homem do animal a possibilidade de dizer, isto , de ter uma
linguagem. Mas dizer est alm de falar, porque podemos dizer algo silenciosamente. O
dizer torna visvel algo em sua circunstncia
132
. Uma circunstncia que envolve a presena do
corpo como portador do ver e do ouvir s coisas. O problema do corpo tornar visvel o invisvel
a partir da construo de um espao que no se limite ao corpo material. O corpo s corpo uma
vez que ele corpora e seus limites se estendem no horizonte-do-ser no qual ele permanece
133
.
O Dasein do homem espacial em si, no sentido de ordenar o espao e a espacializao do
Dasein em sua corporeidade. O Dasein no espacial por ser corporal, mas sim a corporeidade
s possvel porque o Dasein espacial no sentido de ordenar. Aqui, o que Heidegger parece
atribuir ao corpo uma condio no propriamente espacial por ocupar um lugar no espao
mas espacializante por instaurar a possibilidade da cognio, deslocando o a priori kantiano da
razo para a qualidade de estar-no-mundo que o corpo realiza. O corpo define o espao porque
131
Mas o corpo v? No. Eu vejo. Mas para este ver so necessrios meus olhos e, pois, o meu corpo. Entretanto,
no o olho que v, mas sim meu olho eu vejo atravs de meus olhos. (HEIDEGGER, 2001, p. 115).
132
Dizer [sagen], de acordo com seu significado arcaico, significa mostrar [zeigen], deixar ver. (HEIDEGGER,
2001, p.115).
133
O corporar do corpo [Leiben des Leibes] determina-se a partir do modo do meu ser. O corporar do corpo assim
um modo do Da -sein. (HEIDEGGER, 2001, p.114).
112
nele inscreve-se uma nova fronteira que no simplesmente da ordem cognitiva do ver ou do
sentir, mas antes de existir.
Para Bachelard (1974, p.360-361),
s vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo que se conhece apenas uma
seqncia de fixaes nos espaos da estabilidade do ser, de um ser que no quer passar
no tempo, que no prprio passado, quando vai em busca do tempo perdido, quer
suspender o vo do tempo. [...] As lembranas so imveis e tanto mais slidas quanto
mais bem espacializadas.
Em uma acepo prxima a Heidegger, Bachelard cr que o espao contm tempo comprimido,
e para isso que serve o espao. Insinuamos isso, quando, ao criticarmos a concepo
empobrecida de espao em Bergson, dissemos que o espao deve conter uma temporalidade, no
podendo ser desprovido de elementos qualitativos, vividos espacialmente enquanto uma
espacializao do corpo.
Tal como vimos no processo de criao dos conceitos, a espacializao depende de
uma compresso temporal, de um congelamento dos fluxos e da estabilizao do movimento.
na domesticao do espao e do tempo que a linguagem torna-se discurso, que o conceito torna-
se absoluto e os objetos tornam-se visveis e mensurveis. Mas, antes que o espao possa ser
representado, antes que possa ser fotografado e que as imagens possam tornar-se, enquanto
objetos tcnicos, esse novo espetculo da comunicao, a experincia do corpo funda uma
natureza primeira da qual o olho do corpo no se subtrai de uma mesma ordem cognitiva. Se os
mapas objetificaram a natureza na modernidade e as imagens tcnicas objetificam o mundo na
contemporaneidade, porque o olho, h muito tempo, descolou-se de seu corpo criando um
espao cognitivo para si, destacando-se da experincia de estar no mundo. No entanto, ainda que
a partir da reprodutibilidade das imagens tcnicas o olho venha a irremediavelmente descolar-se
de seu corpo, inaugurando uma nova ordem cognitiva e espao-temporal, dele ainda prescinde
para traar uma nova espacialidade na era comunicacional.
PARTE III
COMUNICAO: ENTRE O ESPAO
VISVEL DO MEIO TCNICO E O
INVISVEL DO ACONTECIMENTO
113
III. 1 A TCNICA.
Temos afirmado que antes o conceito, depois a palavra e a escrita, espacializam o
mundo, cercam um territrio abrigando a perman ncia de um sentido que no cabe por direito a
nenhum objeto na medida em que este no existe por si, seno enquanto construo de um
modelo epistemolgico que tende a associar s coisas uma verdade, retirando-lhes seu
movimento constante e tomando-as unicamente em seu estado atual. Consideramos tambm essa
estratgia como inevitvel, j que o territrio sempre retorna, conquanto no possamos suportar
as velocidades infinitas que um modo nmade de pensar impe ao nosso corpo que, por sua vez,
reivindica um centro, uma certa estabilidade e permanncia para situar-se no mundo. No entanto,
esse procedimento provoca uma eroso na natureza, fazendo com que, por um lado, aumente a
distncia entre o pensamento e as coisas, e, por outro, esta se reduza ao depositar na tcnica um
modo de recuperar esse espao aberto. Logo, h um estranho paradoxo nesse movimento, j que a
tcnica aprofunda um processo de objetificao do mundo ampliando a distncia que pretendia
suprimir, assim como o objeto tcnico, ao adquirir tamanha autonomia, ocupa o lugar da natureza
que ambicionava representar. Conseqentemente, podemos supor que a ambio da tcnica a
mesma que a do procedimento epistemolgico: juntar aquilo que separou.
Sujeita condio de uma matriz espacial quando propagada por meios tcnicos, a
comunicao compartilha igualmente desse paradoxo de tentar reunir aquilo que dispersa.
Esfora-se por juntar, mas tropea em si mesma quando perde a referncia das distncias, das
relaes de vizinhana, estendendo-se por um espao contnuo sem limites que a tudo povoa, no
deixando ao vazio, ao silncio, nenhuma margem para se diferenciar. Descola-se da palavra,
descola-se ainda da representao e dos severos regimes de autenticidade, fazendo da imagem
114
tcnica seu objeto frudo de presentificao e de ubiqidade. Ainda assim, duvidoso crer que os
meios tcnicos faam a comunicao perder sua capacidade de engendrar novos acontecimentos,
j que nada nos garante que esses eram antes mais evidentes, mas que apenas agora se realizam
mediante uma nova matriz espacial.
III. 1.1 OBJETIFICAO DO MUNDO.
Seguindo os rastros de Heidegger, observamos que nosso conceito atual de tcnica
est profundamente comprometido com uma herana platnica que procurou associ- lo prpria
noo de episteme, de um conhecimento do universal, de uma cincia que pretendia absorver das
coisas sua realidade, confundindo-se, aqui, com a noo de verdade, outro conceito vizinho
tcnica. Quando remetemo- nos Grcia Pr-Socrtica, notamos que o conceito de techn pode
ser entendido como elemento diferencial entre os homens e a natureza, como aquilo que pode
suprir os homens de suas deficincias para sobreviver, tal qual como assistimos no Mito de
Prometeu. Para que a noo de techn seja mais bem compreendida, precisamos, portanto,
recorrer ao seu conceito vizinho de physis (natureza). A essa total exterioridade marcada pelo
conceito de natureza, no se contrapunha nem o homem, nem o logos (discurso). Todavia, esse
ambiente de absoluta imanncia, de total exterioridade, em que o esprito de uma certa filosofia
pr-socrtica residia, gradualmente fraturado a partir da distino entre physis (natureza) e
nomos (lei), possibilitando a Plato atribuir razo a faculdade do discurso normativo
134
.
134
Segundo Clicles (personagem do dilogo Grgias de Plato), o nomos (lei) teria sido criado pelos fracos para
combater e superar as injustias da natureza. A esta verso mais cnica do conceito de nomos, expressa pelos sofistas,
que defendiam o uso relativo da retrica como forma de discurso, contrape-se o carter normativo do discurso
desejado pelos filsofos (fundamentalmente a partir do platonismo).
115
Como vimos anteriormente, essa ciso entre uma interioridade do discurso e uma
exterioridade da natureza possui no s implicaes epistemolgicas, como histricas e polticas.
O que est em jogo no s uma nova forma de conceber o conhecimento e suas relaes com o
mundo, como uma forma de afirmao de um projeto filosfico para governar a cidade e gerir a
coisa pblica. Se o conceito de natureza j inaugurara uma nova concepo de mundo, rompendo
historicamente com a tradio religiosa ao transform- la em passado, a filosofia platnica, ao
promover um carter normativo ao discurso, possibilita que o conhecimento confunda-se com
uma tcnica de desvelamento que explique a natureza a partir de seus universais.
O mundo grego realiza, em cerca de dois sculos, uma srie de viradas
135
na sua
concepo de mundo: primeiro desloca o mito da organizao do mundo dos deuses para o
cosmos, para o plano do discurso filosfico, fundando seu plano de imanncia em consonncia
com uma natureza que se descobre como universal e com um logos que lhe comum, para, mais
tarde, sobretudo atravs de Plato, cindir essa natureza atravs de uma interioridade que no
seno representada por uma comunidade dos amigos do saber (os filsofos) que refunda o mito
ao situar o mundo das idias das coisas como elas realmente so novamente em um eixo
transcendental, porm, dessa vez, permitindo o acesso a essas verdades atravs de um modo de
investigao (skpsis) crtico e ctico quanto s possibilidades de conhecimento pelos sentidos.
Torna-se necessrio, portanto, disponibilizar um mtodo de ascese a essas idias verdadeiras
atravs de uma arte (techn) do discurso fundamentada no dilogo e na definio. Todavia, a
135
Tais viradas na concepo do mundo implicam em mudanas epistemolgicas, ou seja, em diferentes modos de
encarar a produo de conhecimento sobre o mundo que poderamos pontuar sucintamente da seguinte maneira: da
ordem divina (teogonia) presente nos poemas homricos que j concebiam uma noo de realidade e medida
compondo um todo harmnico e inspirado pela arte das motivaes ou das razes , descoberta do logos enquanto
razo demonstrativa em que o discurso sobre o mundo (cosmogonia) j podia pretender dar s coisas suas prprias
razes atravs de uma verdade ( alethia) que lhes fosse imanente , at a transformao do logos em razo
normativa que assegurava atravs de um mundo inteligvel o acesso s verdades imutveis organizadas pelo eixo
transcendente e que tinha no Bem a idia reguladora da totalidade.
116
prpria prtica do dilogo pressupe no s a interioridade de um mentor como a alteridade de
um interlocutor, que passa igualmente a ter sua interioridade reconhecida. O conhece-te a ti
mesmo de Scrates a afirmao de uma interioridade do ser que pode vir a se conhecer atravs
de sua mais profunda psique
136
. De um ser que, de alguma maneira, afasta-se do mundo no
confiando mais em seus sentidos e que atribui a si mesmo a capacidade de conhecer das coisas
(inclusive de si mesmo) a verdade.
Ainda que se possa argumentar que somente a filosofia moderna tomou efetivamente
posse do saber, aos antigos possvel arrogar a idia mais modesta de busca do saber, de modo
que embora seja incorreto atribuir a Plato a ciso do mundo nas categorias sujeito-objeto plano
epistemolgico consagrado sculos adiante por Descartes , no seria imprprio cons iderar que o
platonismo preparou um slido terreno para uma objetificao do mundo:
O homem grego , enquanto o que sente o ente (Vernehmer des Seienden), o motivo
pelo qual no Helenismo o mundo no poderia tornar-se imagem. Em oposio est isto
que determina, para Plato, a entidade do ente enquanto eidos (aparncia, aspecto), que
v muito adiante, amplamente, no ocultamento, o pressuposto indiretamente dominante
para que o mundo deva se tornar imagem. (HEIDEGGER, 1950, apud MARCONDES
FILHO, 2004, p. 365)
137
.
E, conforme atestam Horkheimer e Adorno,
As conseqncias da objetificao do mundo em imagem de mundo equiparam-se
quelas que resultam da objetificao de todo o ente. Assim como o objeto isolado e
toda a natureza, transforma-se tambm o mundo em produto colocado pelo homem. [...]
Nem o mundo, nem o objeto ou a natureza so tomados como si mesmos, mas entram
numa objetividade de igual forma, colocada pela subjetividade dominante.
(HORKHEIMER; ADORNO, 1969, apud MARCONDES FILHO, 2004, p. 365)
138
.
136
A noo de psique no original em Scrates, podendo ser encontrada em autores que lhe so anteriores, como
em Herclito, o que denotaria de algum modo o indcio de uma noo de interioridade latente no pensamento pr-
socrtico; todavia, a partir de Scrates e de uma constituio de uma filosofia poltica, voltada aos interesses da
polis, que tal noo ganha uma dimenso coerente com um modo de se fazer filosofia que separa o ser no mundo
para um ser que conhece o mundo.
137
HEIDEGGER, M. Holzwege. Frankfurt/M., {1950}1980.
138
HORKHEIMER, M; ADORNO, T.W.. Dialektik der Aufklrung, Frankfurt/M., 1969, p.27.
117
A natureza, as coisas e mesmo o homem passam ento a ser objetos de uma representao sempre
enganosa que precisa ser constantemente vigiada e corrigida para que no confunda a coisa com a
coisa em si, assim como o mundo passa a ser povoado por idias que so representadas como um
poder separado que comanda de fora as aes humanas e no como resultado da relao dos
homens com o seu meio social.
O temor de Heidegger diante da tcnica parece ser, portanto, o resultado de uma
configurao epistemolgica que vincula a tcnica com a noo de episteme, de um
conhecimento que forja uma ciso entre teoria e prtica para perseguir uma verdade que, no
limite, aloja-se em um plano imaterial, restando ao mundo uma sucesso de imagens que, como
aparncias, no passam de construes subjetivas. O mundo passa, assim, a equivaler ao mundo
dos homens, decorrendo da a perda de experincia do homem moderno, conseqncia direta do
posicionamento metafsico contemporneo, que faz do mundo um objeto criado. Por isso, para
Heidegger,
[...] a tcnica metafsica, porque na sua atual extenso planetria ela constitui uma
imagem de mundo e define, antecipadamente, como as coisas devem aparecer. [...] A
organizao do mundo a expanso por todo lugar da concepo de que tudo produt o
do homem e pode estar a seu dispor. Mais ainda, a onipresena da tcnica inviabiliza
qualquer outra forma de pensar, impede que se pense diferentemente da forma
exclusivamente tcnica. (MARCONDES FILHO, 2004, p. 358).
A partir das consideraes de Heidegger, o que se coloca em jogo o deslocamento do ser no
mundo para um ser que conhece o mundo a partir de um plano inexoravelmente humano que, ao
invs de afirm-lo, o desabriga da realidade.
A tcnica como mais plena realizao da metafsica , para Heidegger, uma
conseqncia da inverso da antiga relao entre o ser e o pensar, que passa de um ser do
pensamento para um pensamento do ser, como ente, procurando encontrar neste o que h de
eterno e imutvel. Epistemologicamente, podemos conjeturar que a tcnica como conhecimento
118
do verdadeiro a prpria transformao das coisas em objetos a partir da apropriao do mundo
em imagens. Quanto mais a tcnica confunde-se com a cincia, seja enquanto representao
verdadeira das imagens, seja como conhecimento das causas, mais o objeto torna-se possvel. Por
outro lado, se invertemos a lgica usual do procedimento cientfico, temos que no a tcnica
que permite conhecer as propriedades do objeto, mas o prprio objeto que se funda na crena
tecno-cientfica. Acreditando ser possvel atingir a essncia do objeto, a cincia depositou todas
suas armas de investigao no progresso da tcnica sem ao menos supor que ela prpria inventa o
objeto atravs de seu discurso. aqui que o discurso, legitimado enquanto cientfico, confunde-se
com uma forma hegemnica de pensar o mundo que no comporta dissonncias j que ele
autoriza a sua prpria verdade ao adequar seu enunciado com os objetos aos quais se refere.
esse discurso, que amparado pela eficincia tcnica, cerca o objeto, esboa um territrio onde
possa acomodar-se, dando- lhe um invlucro, definindo-o e conceituando-o.
A tcnica como forma de dominao atravs do discurso cientfico remete- nos a uma
conseqente implicao poltica que j se coloca desde sua origem na Grcia e adquire contornos
mais precisos, primeiro, com o racionalismo moderno e, depois, com a revoluo industrial. As
implicaes epistemolgicas e, conseqentemente, espao-temporais j esboadas pelo
platonismo tornam-se mais evidentes com o cartesianismo e a mecnica clssica. A modernidade
estabelece uma nova concepo de racionalidade cientfica que no separa mais a cincia da
tcnica e busca uma representao do mundo atravs de enunciados precisos expressos em
linguagem matemtica. O que h de notvel nos primrdios dessa racionalidade moderna que,
em termos epistmicos, ela no parece de todo distante da concepo platnica de unir tcnica,
cincia e metafsica em um nico sistema explicativo do mundo. Esse grande racionalismo do
119
sculo XVII que ainda no tinha sido submetido crtica kantiana
139
e ao qual Merleau-Ponty
ir opor ao pequeno racionalismo
140
do incio do sculo XX no teria reservado cincia e
tcnica um campo exclusivo do saber, livre dos incmodos de uma metafsica que
irremediavelmente recoloca a questo do sujeito, da poltica e da tica, pois ser a cincia
positiva do sculo XIX e XX que, emancip ando-se de toda subjetividade e devotando-se
exclusivamente ao seu objeto, fundar um novo paradigma epistemolgico para a cincia.
O que nos traz essa nova configurao epistemolgica que julga prescindir do
metarrelato e que pretende, em seu carter meramente pragmtico, atingir a eficcia dos
resultados atravs da experimentao? Que implicaes epistemolgicas trazem e de que maneira
envolvem nossa discusso com a tcnica? Uma vez separados, ou desabrigados, do mundo; uma
vez cindidos em um sujeito pensante diante de um mundo de imagens a serem representadas; uma
vez que a clivagem entre corpo e esprito, matria e imaterialidade, ganha a legitimidade de um
139
Kant ir formular sua crtica razo nas bases de que embora esta no possa esquivar-se da metafsica, contudo
no consegue consolidar-se tal como as cincias emprico-formais (matemtica-fsica). Kant aponta insuficincias
tanto no idealismo como no empirismo: o primeiro por confiar demasiadamente nas estruturas mentais e ideais da
realidade e a segunda por confiar cegamente na percepo e nos contedos da realidade. Prope ento uma separao
entre a razo crtica e prtica, assim como uma diviso dos campos de conhecimento, cabendo os objetos inteligveis
metafsica e os objetos empricos cincia.
140
Esta crtica exemplarmente feita por Merleau-Ponty em Por toda parte e em parte alguma, quando trata do
que chama de pequeno racionalismo que se professava e se discutia em 1900, e que era a explicao do Ser pela
cincia. Esse racionalismo supunha uma imensa Cincia j feita nas coisas, a qual a cincia efetiva alcanaria no
dia de sua perfeio, e que nada mais nos deixaria para perguntar, pois toda pergunta judiciosa j recebera a sua
resposta. Para o filsofo, pode-se dizer desse racionalismo que foi um fato que se sonhou com um momento em
que o esprito, tendo encerrado numa rede de relaes a totalidade do real, e como que em estado de repleo,
ficaria da em diante em repouso, ou j no teria seno tirado as conseqncias de um saber definitivo, e de enfrentar,
mediante alguma aplicao dos mesmos princpios, os derradeiros sobressaltos do imprevisvel. Sobre esse
racionalismo, Merleau-Ponty afirma parecer estar repleto de mitos como os das leis da natureza e da explicao
cientfica que, contudo e obviamente, no se pensava como mitologia, mas acreditava-se falar em nome da razo.
A razo se confundia com o conhecimento das condies ou das causas: em toda parte em que um condicionamento
era desvelado, pensava-se ter feito toda questo calar-se, resolvido o problema da essncia com o da origem,
reconduzido o fato obedincia de sua causa. Ainda segundo Merleau-Ponty, esse pequeno racionalismo no passa
de um fssil do grande racionalismo do sculo XVII, em que o conhecimento da natureza e a metafsica julgaram
encontrar um fundamento comum e, neste sentido, a filosofia e a cincia no se opunham, assim como o
procedimento cientfico no pretendia esgotar ou ultrapassar os limites da razo, como posteriormente viria a
pretender. (MERLEAU-PONTY, 1991, p.161).
120
discurso cientfico e que no podemos mais recorrer a um deus para justificar nossa misria; s
nos resta recolocar a autoridade da verdade nas evidncias desse novo discurso tecno-cientfico.
Embora, em sua origem, tanto platnica quanto racionalista, a tcnica possa ter sido
vinculada cincia (episteme) e, esta, a uma metafsica, tal procedimento, ao nosso ver, s
justificou-se enquanto a tcnica ainda precisava de um discurso legitimador que a ancorasse em
um eixo transcendente, fosse este a Idia de Bem, ou a existncia de um deus. No entanto, o
percurso da tcnica, aliada cincia, durante todo o racionalismo clssico, pode ser interpretado
como uma busca contnua de autonomia diante da legitimao divina ou transcendente
141
.
Significa dizer que se ainda notamos a presena de um fundo divino e uma inteno metafsica
que perpassa a questo epistemolgica na filosofia moderna, provvel que isso tenha ocorrido,
em boa medida, para no transgredir a ordem moral e poltica vigente, ao menos naquilo que diz
respeito ao progresso das cincias que sempre encontraram mais um incmodo do que um apoio
na tica crist. Nesse sentido, no seno atravs das revolues industriais, que se
desenvolveram a partir do sculo XVIII, que a cincia ter um apoio crescente na esfera poltica,
cujos interesses no aprimoramento e desenvolvimento da tcnica propiciaram o fortalecimento de
uma classe burguesa e industrial ento emergente. A partir de ento, podemos conjeturar que a
cincia e a tcnica passam a emancipar-se cada vez mais da filosofia e de seu vis metafsico
142
.
141
Autonomia que provavelmente s no se efetivara integralmente devido s perseguies religiosas, como as da
Inquisio. Lembremos que ainda que a fsica cartesiana represent e uma aplicao de sua metafsica que tem Deus
por garantia do conhecimento cientfico e em que o mundo fsico concebido a partir de um mundo ideal, mantendo-
se aqui dentro da tradio platnica, e ainda que tenha proposto uma moral provisria que se concilia com as
exigncias de uma razo absoluta , no seria equivocado supor que ele assim o fizesse por fora dos motivos que
levaram, por exemplo, Galileu e Giordano Bruno, morte. ( Cf. DESCARTES, 1987, p. XVIII- XIX).
142
Poderamos afirmar que, desta emancipao, se justificaria inclusive a contraposio dos temos science e
Wissenschaft. Segundo Marcondes Filho, a noo de science definiria um campo mais restrito de atuao,
valorizando os aspectos mensurveis dos fenmenos e a experincia, enquanto Wissenchaft traria uma noo de
cincia mais abrangente que incluiria outras formas de conhecimento como, por exemplo, a especulao.
121
Epistemologicamente, essa revoluo representa a quebra de um paradigma que implicaria em
um distanciamento progressivo do ser e das especulaes sobre as realidades supra-sensveis,
valorizando, em contrapartida, a experincia sensvel e a operacionalidade pragmtica. H,
portanto, nas prticas tcnicas e cientficas, um movimento contnuo de expurgo da subjetividade
e um fascnio crescente pelos objetos que, descolados de um fundo natural, reluzem como
criaes autnticas de uma nova era.
O obsessivo debruar-se sobre o objeto , portanto, uma conseqncia da prpria
objetificao do mundo, levando Heidegger a sua concepo de um ser que, desabrigado do
mundo pela armao tcnica, no se reconhece mais em um mundo de objetos, longe da natureza.
Hoje, podemos conceber que to maior esse desabrigo j que tcnica sobre tcnica. Fora dessa
super e sobre-exposio da tcnica s h espao para a memria. Ou ento, ressentimentos que
reincidem sobre juzos de valor que no se sustentam seno recuperando um fundo de natureza
perdido ou uma metafsica adormecida. Da repetio de um modo de fazer, da sistematizao
absoluta, a tcnica criou um corpo prprio que, a partir de agora, se expressa com o objetivo de
tornar-se sempre presente, sempre visvel, de atualizar-se, de tornar a vir a ser sempre objeto e,
nisto, ela ope-se ao acontecimento.
III. 1.2 A REPRODUTIBILIDADE DA IMAGEM.
Entendida assim, a tcnica desfaz qualquer possibilidade de pensarmos a noo de
espacialidade segundo os mesmos paradigmas da modernidade fundados na noo de natureza.
Ela elimina o corpo humano como grau zero da orientao e fecha o mundo sobre si mesmo ,
122
tornando-nos apenas parte ou momento do Grande Objeto
143
. Busquemos os antecedentes:
sabemos que a tcnica estabeleceu uma aliana estratgica com a cincia e a poltica desde que
Plato procurou conciliar o discurso racional com os interesses da polis grega:
O que implica o sistema da polis primeiramente uma extraordinria preeminncia da
palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Torna-se instrumento poltico por
excelncia, a chave de toda a autoridade no Estado, o meio de comando e de domnio
sobre outrem. [...] A palavra no mais o termo ritual, a frmula justa, mas o debate
contraditrio, a discusso, a argumentao. [...] Entre a poltica e o logos, h assim
relao estreita, vnculo recproco. A arte poltica essencialmente exerccio da
linguagem; e o logos, na origem, toma conscincia de si mesmo, de suas regras, de sua
eficcia, atravs de sua funo poltica. (VERNANT, 1984, p.34-35).
Mas, no s a palavra tornada discurso que funda o espao poltico e social sobre o qual a polis
assenta-se,
[...] a escrita que vai fornecer, no plano propriamente intelectual, o meio de uma
cultura comum e permitir uma completa divulgao de conhecimentos previamente
reservados ou interditos. [...] a escrita poder satisfazer a essa funo de publicidade
porque ela prpria se tornou, quase com o mesmo direito da lngua falada, o bem comum
de todos os cidados gregos. (VERNANT, 1984, p.36).
Para alm das especulaes quanto ao fato de a linguagem j se constituir em uma
tcnica ou mesmo da noo esquecida de techn enquanto mera prtica, a escrita funde o domnio
do conhecimento, do discurso racional, em um meio de difuso desse saber, criando para si um
corpo prprio descolado do fundo comum da natureza. Possibilita que o discurso do que fala
torne-se um outro annimo, uma entidade abstrata investida da autoridade de um texto que se
autoproclama e assume verdades no ditas que ganham a fora oculta do sagrado. Ela
territorializa a linguagem, forja um espao prprio de influncia na medida em que comunica seu
texto e divulga seu saber. Se, na Grcia Antiga, a escrita surge como uma tcnica a servio da
comunicao que funda um espao poltico por excelncia ao tornar pblico o discurso racional,
143
[...] quando aprender a investi-lo, a cincia reintroduzir a pouco e pouco o que de incio afastou como subjetivo;
mas integra-lo- como caso particular das relaes e dos objetos que definem o mundo para ela. Ento o mundo se
fechar sobre si mesmo e, salvo por aquilo que ns pensa e faz a cincia, salvo por esse espectador imparcial que nos
habita, viremos a ser partes ou momentos do Grande Objeto. (MERLEAU-PONTY, 1984, p.25-26, grifo nosso).
123
ento o grande fato novo que justifica o surgimento de uma teoria da comunicao no sculo XX
o alcance que os meios de comunicao passam a exercer. Ainda que no se possa negar o
impacto que o advento da imprensa trouxe ao pensamento e s prticas econmicas e sociais,
tudo o mais j estava l, como atesta a sagaz observao de Virilio (1996, p.34) sobre as relaes
entre poltica, filosofia e comunicao na Grcia Antiga:
Sempre quando na Antiguidade grega ope-se a democracia tirania de uma nica
pessoa ou de um grupo, se quer substituir a violncia fsica brutal por uma violncia
moral possibilitada pela midiatizao de massa ligada ao prprio conceito de realidade.
portanto natural que nas Cidades-Estado, entregues a tal cinedramaturgia, certos falsos
filsofos e sofistas a partir do sculo IV antes de nossa era, dedicam-se a desenvolver
tcnicas de persuaso cada vez mais perversas.
Assim, se h um marco significativo nas relaes entre comunicao e poltica, este se d atravs
da compresso espao-temporal que os meios tcnicos passam a imprimir nos processos de
difuso das mensagens.
O domnio que a tcnica exerce sobre os homens, quando atrelada aos meios de
produo e ao trabalho, provoca no s um esfacelamento, uma alienao do sujeito, como afeta
sua relao cognitiva com o mundo, que passa a se objetificar na mquina e que o transforma em
parte de um sistema maquinal.
Todos os meios de desenvolvimento da produo se transformam em meios de domnio
sobre os produtores e de explorao deles; eles mutilam o trabalhador, tornando-o um
fragmento de homem, degradam-no ao nvel de um apndice da mquina, destroem
todos os resqucios de encanto do seu trabalho, que passa a ser uma labuta odiosa; eles o
alienam das potencialidades intelectuais do processo de trabalho na mesma proporo
em que a cincia incorporada neste como fora independente; eles distorcem as
condies nas quais ele trabalha, sujeitando-o, durante o processo de trabalho, a um
despotismo tanto mais odioso quanto mais humilhante; eles transformam seu tempo de
vida em tempo de trabalho, esmagando sua esposa e filhos sob as engrenagens do
capital. (HARVEY, 2004, p.102-103).
Assim como Foucault nos mostrou claramente que h uma positividade no conceito de poder, na
medida em que este se manifesta como produo de realidade e de verdade, poderamos tambm
inferir que a tcnica pressupe um domnio de poder enquanto se constri como discurso
cientfico e racional. H uma zona de vizinhana muito ntima entre tais conceitos que faz com
124
que uma crtica coerente a um perpasse os demais. Seguindo esse raciocnio, seria minimamente
ingnuo conjeturar que uma crtica tcnica possa ser desvinculada de uma crtica aos
movimentos de prtica social que a conduzem a um patamar mtico que tanto a cincia como a
razo ocupa em nossa sociedade. Portanto se, desde Marx, sabemos que os modos de produo
social traduzem-se em formas de dominao, e com Adorno e Horkheimer tambm passamos a
entender que a prpria racionalidade tcnica a racionalidade da dominao, , contudo, com
Benjamin que essa questo torna-se mais controversa e complexa.
Primeiramente, trata-se de deslocar a questo tcnica da escrita para a imagem
144
. Ao
falar dessa ruptura, Benjamin (1994, p.165-196) introduz seu complexo conceito de aura,
referindo-se ao fato de que esta se atrofia na era da reprodutibilidade tcnica. Porm, a perda da
aura no se deve exclusivamente ao fato de um objeto ser passvel de reproduo, no se
desfazendo incondicionalmente a partir da mera reprodutibilidade, pois como o autor afirma: o
autntico preserva toda a sua autoridade com relao reproduo manual, em geral considerada
uma falsificao, j o mesmo no ocorre no que diz respeito reproduo tcnica. Se a
possibilidade de reproduo e, por conseguinte, a cpia, no implicam necessariamente na perda
da aura do original, o mesmo no ocorre quando estamos diante de um objeto tcnico que possui
especificidades prprias que o distanciam do original. Isso se deve, segundo Benjamin, por dois
motivos: porque a reproduo tcnica tem mais autonomia que a reproduo manual e porque
144
A mudana no paradigma de uma sociedade marcada pela escrita para outra que vai sendo progres sivamente
dominada pela imagem abordado por Benjamin (1994, p.165-196) em seu famoso texto A obra de arte na era
de sua reprodutibilidade tcnica quando trata da reprodutibilidade tcnica. Segundo o autor, o que est em foco
fundamentalmente a reprodutibilidade da imagem e no da escrita, pois a reproduo tcnica da escrita j estaria
contida na imprensa. E quando afirma que o processo de reproduo das imagens experimentou tal acelerao que
comeou a situar-se no mesmo nvel que a palavra oral, o que est em jogo justamente um deslocamento dos
elementos representativos da escrita para a imagem, o que indica tambm uma mudana na prioridade que o olho
que apreende mais depressa do que a mo desenha passa a ter sobre a mo. Uma mudana no s de velocidade de
produo, mas tambm de apreenso e percepo que possui importantes implicaes cognitivas.
125
a reproduo tcnica pode colocar a cpia do original em situaes impossveis para o prprio
original. Estamos diante de uma situao em que o objeto tcnico cria uma tal independncia
com relao ao seu original que finda por se tornar em uma espcie de segunda natureza, que
se reproduz infinitamente e atualiza o objeto reproduzido a cada apario. Tal constatao
permite-nos conjeturar que a emancipao da tcnica introduz uma nova ordem epistemolgica
na configurao dos objetos. A partir da possibilidade da reprodutibilidade tcnica, os objetos no
seriam mais resultados de um processo de representao, mas adquiririam uma autonomia com
relao a um fundo natural e autntico, criando a condio de uma autenticidade prpria. como
se Benjamin considerasse a mediao do aparelho tcnico como um fator inibidor da capacidade
de captura do objeto natural, este sim autntico e capaz de engendrar acontecimentos
significativos, capaz de expressar o aqui e agora. Ora, no seno essa a condio da imagem
como objeto tcnico: algo que no expressa necessariamente aquilo que ela representa.
Semelhante a concepo de Virilio que, partindo da reflexo de Marcel Pagnol
acerca das relaes pticas do espectador na sala do teatro e do cinema, expressa o seguinte:
O aparelho de projeo que pretende substituir opticamente o alter ego (o outro eu)
dando a ver como presente ao espectador preso em sua cadeira o que se acha
naturalmente ausente e fora do crculo restrito de seu alcance visual elimina, de fato, a
dupla estereoscpica que at ento compunha e dava vida ao relevo social do real.
(VIRILIO, 1996, p.17).
O aparelho tcnico d ao seu objeto uma dimenso da realidade que no seno aquela que
captada objetivamente transformando-a em um simulacro, em um duplo, ou em uma
segunda natureza. Diversamente como fora com a inveno da imprensa, ou ainda com a
territorializao da linguagem pela escrita, uma segunda natureza s torna-se efetivamente
possvel na medida em que acionamos simultaneamente todas facetas envolvidas na apresentao
do objeto tcnico. Para tanto a tcnica disponibiliza trs aspectos ou momentos que aqui nos
interessam diretamente na relao entre espao e comunicao: a reprodutibilidade do chamado
126
objeto tcnico e a progressiva aniquilao que ele realiza entre o prximo e o distante atravs de
uma segunda natureza. Ora, por que a escrita no realiza essa faanha? Porque aqui o meio
tcnico no mais representa uma realidade (natureza), mas apresenta-se como a prpria
realidade.
Meios como a fotografia, o telefone, o cinema, a televiso e, ainda que com ressalvas,
a prpria Internet no representam mais a voz ou a imagem, mas tornam-nas presentes. Como
lembra Marcondes Filho (2002, p.174), Gnther Anders j colocava que o nico no existe;
qualquer coisa s existe se for continuadamente reproduzida, duplicada, seja pela comunicao,
seja pela gravao, seja pela fotografia. Esta ltima efetivamente dispara contra o nico. Ela
mata-o para corrigir sua natureza.
Em 1956, o filsofo Gnther Anders j falava, sobre a televiso, que o que nos marca e
desmarca, o que nos forma e deforma no so apenas os objetos transmitidos pelos
meios, mas os prprios meios, os prprios aparelhos: que no so apenas objetos de
possveis usos, mas eles j fixam, por sua estrutura e funo firmemente determinadas,
seu uso e com isso o estilo de nossa ocupao e nossas vidas, em resumo, de ns.
(ANDERS, 1956 apud MARCONDES FILHO, 2002, p.169).
145
Mais tarde, McLuhan (1979) sintetiza esse pensamento atravs do slogan: o meio a mensagem.
O meio a mensagem, porque o meio que configura e controla a proporo e a
forma das aes e associaes humanas. O contedo ou usos desses meios so to
diversos quo ineficazes na estruturao da forma das associaes humanas. Na verdade,
no deixa de ser bastante tpico que o contedo de qualquer meio nos cegue para a
natureza desse meio. (MCLUHAN, 1979, p.23).
Ora, tais assertivas levam-nos concluso de que a mediao no nos d o objeto,
mas o seu duplo ou simulacro, ou ainda, como preferimos utilizar aqui, uma segunda natureza.
Benjamin (1994, p. 104,173) fala que se as obras de arte inspiram um valor de culto , os objetos
tcnicos promovem um valor de exposio. Sobre este, diz: cada um de ns pode observar que
uma imagem, uma escultura e principalmente um edifcio so mais facilmente visveis na
145
ANDERS, G. (1956). Die Antiquiertheit des Menschen, I. ber die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen
Revolution. 7 ed. Munique: Beck, 1994.
127
fotografia que na realidade. Quanto ao valor de culto, afirma: A produo artstica comea com
imagens a servio da magia. O que importa, nessas imagens, que elas existem, e no que sejam
vistas. E medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasies
para que elas sejam expostas. Trata-se do que Benjamin chama de refuncionalizao da arte,
contra a qual no se deve mais imputar os mesmos valores atravs dos quais antes era avaliada.
No se trata mais de saber se a fotografia ou o cinema ou no uma arte, na medida em que a
reprodutibilidade tcnica desfaz a autenticidade da obra nica. Contra aqueles que pretendem ver
qualquer forma de culto ou manifestao do sagrado na obra tcnica, Benjamin (1994, p.178)
manifesta seu desagravo afirmando que a reproduo fotogrfica no uma obra de arte; e,
quando se refere ao cinema, ele deixa claro que na melhor das hipteses, a obra de arte surge
atravs da montagem, na qual cada fragmento a reproduo de um acontecimento que nem
constitui em si uma obra de arte, nem engendra uma obra de arte, ao ser filmado. Tal insinuao
leva-nos a conjeturar que a aura e a questo da reprodutibilidade tcnica possuam efetivamente
implicaes epistemolgicas, pois se acredita que quanto mais nos distanciamos de uma realidade
atravs do filtro de um aparelho tcnico, mais perdemos em autenticidade. O fato de uma cena ser
o resultado da edio de vrias tomadas demonstraria, segundo Benjamin, o expurgo que a
mediao do aparelho tcnico realiza da realidade. Todavia, a mediao no um bom conceito
para lidarmos com a questo da autenticidade de uma obra, quando pensamos que aura no
apenas conseqncia de esforo cognitivo na captura da essncia dos objetos, mas tambm e,
fundamentalmente, uma atribuio de um valor aos objetos .
Quando Benjamin (1994) afirma que a aura torna-se possvel atravs do valor de
culto, opondo-se ao valor de exposio dos objetos tcnicos, podemos entender que estes dois
valores que, aparentemente, contrapem-se estariam respectivamente relacionados unicidade e
128
visibilidade das obras. Ao discorrer sobre os efeitos mgicos que a fotografia pode revelar para
alm da suposta objetividade das lentes de uma cmara Benjamin (1994, p.94-95) diz que a
diferena entre a tcnica e a magia uma varivel totalmente histrica. S a fotografia revela
esse inconsciente tico, como s a psicanlise revela o inconsciente pulsional, de modo que no
se possa afirmar que a cmera, como aparelho tcnico, reduza-se reproduo fiel dos objetos
retratados. Para alm da suposta e exaustiva objetividade que a lente capta dos objetos, a
fotografia nos revela um mundo de imagens invisveis, um mundo inconsciente que o olhar do
observador atento transfigura em acontecimento. Logo, os extremos se tocam e se, de fato, h
uma ciso histrica entre a representao pictrica e a fotogrfica, h tambm um fundo comum
de subjetividade que transporta a magia transcendente s obras artsticas do passado para as
novas tcnicas que se oferecem no presente.
A tcnica mais exata pode dar s suas criaes um valor mgico que um quadro nunca
mais ter para ns. Apesar de toda a percia do fotgrafo e de tudo o que existe de
planejado em seu comportamento, o observador sente a necessidade irresistvel de
procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a
realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptvel em que o futuro se
aninha ainda hoje em minutos nicos, h muito extintos, e com tanta eloqncia que
podemos descobri-lo, olhando para trs. (BENJAMIN, 1994, p.94).
Ora, dessa passagem poderamos entender que o olhar humano promove um resgate da
subjetividade perdida na suposta objetividade do aparelho fotogrfico; no entanto, logo em
seguida, Benjamin (1994, p.94) afirma que: a natureza que fala cmara no a mesma que fala
ao olhar; outra, especialmente porque substitui a um espao trabalhado conscientemente pelo
homem, um espao que ele percorre inconscientemente. , portanto curioso, seno mesmo
paradoxal, pensarmos que a tcnica mergulha o homem em um plano de inconscincia quando
justamente Benjamin parece sempre insinuar que o aparelho tcnico busca uma objetividade que
desfaz todo e qualquer valor de culto que s reposto atravs do olhar pessoal. Afinal, a tcnica
um elemento territorializante ou desterritorializante?
129
III. 1.3 A CONDIO ESPACIAL.
Em uma de suas mais recorrentes definies da aura, Benjamin (1994, p.170) afirma
que esta uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a apario nica
de uma coisa distante por mais perto que ela esteja. A aura estaria presente na natureza como
nos objetos de arte. E o que lhe garante sua presena nos objetos menos a permanncia de uma
identidade do que seu carter de autenticidade. Ou melhor, sua identidade, se possvel,
garantida pela sua unicidade. Mas o que assegura a um objeto sua unicidade seno um valor de
culto que se revela como sendo um valor teolgico? Se o significado de uma obra de arte muda
conforme a poca e, no entanto, sua unicidade perpetua-se enquanto valor de culto, o que est em
jogo a tradio que faz com que esse objeto seja cultuado. Novamente, podemos conjeturar que
a unicidade dos objetos garantida por um eixo transcendental, uma idealizao de um objeto
que tem sua identidade garantida por um valor abstrato como o Belo e o Sagrado. Ou se
preferirmos, o valor de culto acentua-se na medida em que estriamos o espao que o define
enquanto objeto, dando- lhe o seu invlucro
146
, estabelecendo seu contorno. Inicialmente,
acionamos o eixo transcendente que lhe confere a dignidade abstrata do sagrado para, depois,
refund- lo na iman ncia dos objetos visveis e histricos. Segundo essa ordem, o valor de culto
que dedicamos a um objeto assemelha-se a um processo de territorializao que busca dar uma
expresso, uma marca, que estabelea um limite com a terra, distanciando-se de um plano de
imanncia em que o indiferenciado confunde-se com o caos e uma aparente desordem.
Procuramos nos refugiar, tornando algo querido, cercando-o de um mundo hostil. Para tanto, esse
146
Retirar o objeto do seu invlucro, destruir sua aura, a caracterstica de uma forma de percepo cuja
capacidade de captar o semelhante no mundo to aguda, que graas reproduo ela consegue capt-lo at no
fenmeno nico. (BENJAMIN, 1994, p.1 70, grifo nosso).
130
objeto deve ser nico, possuir uma autenticidade que no o dilua na transitoriedade e, no entanto,
jamais o possumos inteiramente, porque ele no se mostra em sua concretude seno atravs
daquilo que significa. Ao contrrio, a observao imediata e o excesso de visibilidade so
caractersticas do modo de reprodutibilidade tcnica em que as imagens perdem sua unidade e
durabilidade para se refugiarem na transitoriedade e repetibilidade das reprodues.
Novamente retornamos questo epistemolgica, pois se a aura est relacionada ao
valor de culto que dedicamos aos objetos, poderamos supor que essa seja resultado de uma
intencionalidade sem a qual no haveria sequer objeto a ser constitudo. Ao contrrio, quando
pretendemos, como na fotografia, absorver dos objetos sua instantaneidade, acabaramos por
destruir sua aura ao perdermos aquilo que h de acontecimento na imagem: sua capacidade de
transcender objetividade do fato. Segundo essa lgica, a tcnica fotogrfica, no caso tende a
desterritorializar nossa apreenso do mundo quando inibe o valor de culto a partir do qual um
objeto possa ter sua unicidade garantida, ou, se preferirmos, quando nega a autenticidade do
objeto ao transform- lo em cpia ou simulacro de uma realidade supostamente nica. Por outro
lado, quando entendemos que a partir dessa mesma tcnica gera-se um objeto tcnico que,
enquanto mercadoria, enfeitia e seduz, este se torna de alguma forma to cultuado quanto uma
obra de arte que finda por desqualificar os conceitos de nico e transitrio, de original e cpia.
Seria o caso, ento, de supormos que essa perda de autenticidade ocasionada pela
reprodutibilidade tcnica provisria, na medida em que um novo plano de valores estabelece-se
para diferenciar o que perene daquilo que transitrio.
Pensando-se hoje na relao da foto mecnica com a digital, no seria incabvel
admitirmos que as tcnicas de produo de imagem da primeira tornaram-se to artesanais e
rudimentares diante da segunda que nos levariam a aventar a hiptese de que a autenticidade no
131
possa mais ser pensada a partir de sua unicidade, mas relativizada por meio de ndices a partir de
sua reprodutibilidade
147
. Os elementos espao-temporais contidos na tcnica digital imprimem
uma tal velocidade no ato de fotografar que o vulgarizam ao limite da negao do prprio ato de
olhar. A facilidade em fotografar, disposta atravs de mltiplos meios, e de ver, atravs de
diversos suportes, aniquilou a delicada arte de enquadrar, espreitar, de aguardar em viglia pelo
melhor momento de captura do objeto, e promoveu a cultura do cut and paste ou a dinmica
tcnica da montagem-edio. Da foto ao videoclipe, do telefone Internet, as tcnicas de
comunicao tm no s possibilitado uma progressiva compresso espao-temporal como
disponibilizado a imagem como o elemento basal na interface entre o ser e o mundo, desalojando
a funo que outrora o texto ocupara nessa relao. E se a escrita Grcia j criara um corpo para
si descolado da natureza, a imagem torna esse fundo natural ainda mais distante, cada vez mais
opaco. Isso leva-nos a repensar sobre o regime de autenticidade que a natureza sempre imps a
nossa percepo e cognio do mundo. Isso leva-nos a questionar se uma segunda natureza seria
inevitavelmente inautntica.
O fato de Benjamin aludir tcnica a possibilidade de nos abrir a exper incia de um
inconsciente tico resulta em no circunscrev-la ao domnio poltico pertinente, porm redutor,
da alienao. Como afirma Benjamin (1994, p.190) acerca do cinema:
[...] se levarmos em conta as perigosas tenses que a tecnizao, com todas as suas
conseqncias, engendrou nas massas tenses que em estgios crticos assumem um
carter psictico , perceberemos que essa mesma tecnizao abriu a possibilidade de
uma imunizao contra tais psicoses de massa atravs de certos filmes, capazes de
impedir, pelo desenvolvimento artificial de fantasias sadomasoquistas, seu
amadurecimento natural e perigoso.
147
Tais ndices poderiam, por exemplo, ser tambm aplicados na relao entre o cinema e o vdeo ou dvd.
Mergulhado nas atuais circunstncias histricas, o cinema, diante do vdeo ou dvd, adquire um ndice de
autenticidade maior, conferindo-lhe um valor de culto igualmente maior que os dema is meios.
132
A partir dessas consideraes, preciso ter em mente que uma possvel linha de fuga que a
tcnica permite comunicao no ocorre atravs de uma conscincia crtica que se lana
intencionalmente sobre seus objetos, mas atravs de um inconsciente, uma percepo onrica,
ou ainda, uma qualidade ttil. Trata-se fundamentalmente de uma ruptura com a aura, com o
valor de culto e a utilizao contemplativa dos objetos, o que implicaria em atribuir tcnica um
vetor eminentemente desterritorializante provocado pela vertigem das imagens. O que Benjamin
antecipa o valor de distrao das imagens dispostas em movimento como um mecanismo
desterritorializador que no nos permite fixar nosso olhar. Ao contrrio de um apurado trabalho
de escavao em profundidade que a escrita inspirava, a imagem desliza e escoa ligeiramente em
uma superfcie fragmentada em mosaicos. No h tempo nem espao para contemplaes em
uma era de imagens dispostas em velocidade: a escala simultaneamente coletiva e fragmentria.
Coletiva porque rompe com a relao solitria da contemplao da obra de arte aurtica e
fragmentria porque fratura a unicidade da obra de arte autntica.
A frtil ambigidade de Benjamin demonstra-nos que a tcnica no se reduz
necessariamente a um processo de territorializao que nos mergulha no mesmo, mas tambm
possibilita uma fuga do passado sedimentado, assim como nosso passado se territorializa e
atualiza a cada lembrana presente. Trata-se de saber em que territrio refunda-se a tcnica que,
como elemento epistemolgico, antes nos descentraliza do que nos fixa no registro da tradio e
da memria. Sem dvida, a crtica de Horkheimer e Adorno (1985) aos processos de dominao e
alienao da indstria cultural no s pertinente como ainda atual, todavia tal anlise no se
sustenta seno ao custo de submeter a forma ao contedo. Ainda que eles argumentem que a
racionalidade tcnica hoje a racionalidade da prpria dominao, sendo o carter repressivo
da sociedade que se auto-aliena, ao encarnar o prprio poder dos economicamente mais fortes
133
sobre a mesma sociedade, o que talvez eles se esqueam que a recepo aos contedos por
parte da audincia no se d da forma mecnica a qual pressupem. Mesmo que a comunicao
seja reduzida ao esquema emissor-receptor, duvidoso supor que os receptores sejam capazes de
entend- la ou perceb- la conforme pressupe o emissor. Em ltima instncia, no temos como
auferir o impacto e os resultados que a indstria cultural causa sobre a audincia unicamente
atravs dos seus contedos porque desconhecemos os mecanismos inconscientes da audincia
envolvidos em sua recepo. Conseqentemente, temos que questionar a nfase nos contedos
que tanto Adorno como Horkheimer dedicam aos meios como elemento primordial no processo
comunicacional. Nesse sentido, a ambivalncia de Benjamin diante do mesmo fenmeno
comunicacional, ao conjeturar sobre as possveis linhas de fuga que se estruturam a partir da
leitura de um produto cultural como o cinema, parece- nos mais adequada para a compreenso da
complexidade da comunicao na era tecnolgica, porque problematiza o potencial da imagem
tcnica como elemento epistemolgico. Sua preocupao com a tcnica, como elemento
epistemolgico capaz de transfigurar a relao tradicional de captura dos objetos, traz- nos
discusso uma hermenutica da imagem tcnica que exige novos instrumentos de anlise para sua
compreenso. Instrumentos que a racionalidade do discurso estritamente cientfico no alcana
sem uma considervel perda dos aspectos inconscientes relevantes para a construo e a
desconstruo do objeto tcnico.
Vemo-nos evidentemente tanto diante das imbricaes entre a tcnica e a poltica na
cultura de massas, como tambm entre a epistemologia e a comunicao. A comunicao sendo
absorvida pelos meios tcnicos transforma-se em instrumento racional de dominao ao nivelar a
profundidade do real superfcie das interfaces desses meios. Conseqentemente, no s os
meios devoram a mensagem como devoram o real. E a informao, ao invs de emancipar as
134
massas, finda por atomiz- la, implodindo o social das massas, o poltico. Virilio (1996, p.14-16),
por exemplo, lembra que, na origem, mediatizao era o oposto da comunicao e que, at o
sculo XX, estar mediatizado significava estar privado de seus direitos imediatos, para ironizar,
parafraseando Saint-Just que dissera: a partir do momento em que um povo pode ser oprimido,
ele o , que, hoje, no seria exagero afirmar que quando um povo pode ser midiatizado, ele o
. Tal assertiva supe que a capacidade de comunicar seja, para o homem, como para toda
espcie viva, a condio indispensvel de seu estar no mundo, ou seja, de sua sobrevivncia.
Capacidade inata que normalmente nos torna aptos a fazer a distino entre nosso ambiente
imediato e as representaes que construmos para ns mesmos, nossa imagtica mental
148
.
Para McLuhan (1977, p.339) no foi seno o alfabeto fontico que envolveu os gregos num
Espao euclidiano de fico, ao trasladar o mundo audiotctil para o mundo visual, criando
o sofisma do contedo, tanto na fsica como na literatura. Com efeito, os meios de
comunicao podem, portanto, agenciar dispositivos de controle e dominao, mas seria um
engano supor que esses seriam decorrentes do prprio contedo que enunciam, na medida que a
fora e o poder de penetrao das tecnologias reside sobretudo no isolamento dos sentidos que,
separados, conduziriam a uma hipnose da sociedade
149
.
Sem dvida, no se pode recusar o papel decisivo das tecnologias sobre nossa
percepo do espao e da realidade, contudo a suposio de McLuhan (1979) de que na era
148
A essa primeira capacidade de adaptao ao mundo em movimento que nos cerca, vem juntar-se uma outra,
muito mais complexa, a de distinguir entre o que cremos real, e portanto verdadeiro, e o que um outro indivduo pode
tomar como real e verdadeiro. Essa segunda aptido nos permite, graas linguagem (gestual, vocal, grfica, etc.),
que nos coloquemos no lugar dessa outra pessoa, que vejamos com seus olhos, que desfrutemos de seu sistema
ptico para nos prevenir de um acontecimento, nos representar os seres, os objetos que ainda no vimos e finalmente
para decidir como agir. A comunicao natural exige portanto uma proximidade audiovisual, intervalos ou um
territrio suficientemente restritos, mas tambm um nmero reduzido de comunicantes, possuindo em comum as
vocalizaes ou outros sinais semnticos. (VIRILIO, 1996, p.16).
149
A frmula para a hipnose um sentido de cada vez. (MCLUHAN, 1977, p.362).
135
eletrnica, por recuperar os sentidos audiotcteis esquecidos desde a Antiga Grcia, possa-se
restabelecer, atravs da simultaneidade sensria, nosso ser no mundo, parece colidir com as teses
de Virilio (1996) que justamente vem na era da informao a marca paradoxal de uma
industrializao do esquecimento
150
. muito provvel, portanto, que a disponibilizao de
todos os nossos sentidos no recupere a dimenso ontolgica que Heidegger pressuponha de um
ser no mundo, instaurando uma espcie de subjetividade autctone, imune s mediaes que o
aparelho tcnico nos introduz. A viso antropocntrica de Heidegger parece irrevogavelmente
perdida diante da presena desterritorializadora das tecnologias como mediadoras de nossa
relao com o mundo. Ainda, ao findarmos por realizar sempre as mesmas escolhas, os meios de
comunicao parecem efetivamente operar num crculo tautstico
151
, alojando-nos seno no
mesmo solo de onde partimos, em um territrio que poucas frestas abre para a invisibilidade de
certos acontecimentos. Talvez, no se trate de crer que a realidade seja mais precisa sem a
presena opaca e ostensiva da tcnica que de todo modo talvez nunca tivesse sido to
transparente como supunham os gregos , mas de perceber que os aparelhos tcnicos nos so
dados por uma tecnologia do prprio corpo que no se cansa de antecip- los.
150
Da iluso de ptica do motor cinemtico (a verdade vinte e quatro vezes por segundo!) resoluo final da
clarividncia humana pela velocidade absoluta das ondas eletromagnticas, a midiatizao tcnica renovou
progressivamente as tcnicas da mediatizao primitiva, tentando confiscar sem violncia direta nossos direitos
imediatos, agravando incessantemente a excluso da velha ex-comunicao, mergulhando um nmero enorme de
pessoas num efeito do real que se tornou socialmente insustentvel, e no caos geopoltico que agora resulta desse
processo. (VIRILIO, 1996, p.25).
151
Cf. MARCONDES FILHO, 2002, p.174: ao referir-se tese de Gnther Anders, mais tarde absorvida por
Umberto Eco e Lucien Sfez. Num universo em que tudo se comunica, sem que se saiba a origem da emisso, sem
que se possa determinar quem fala, o mundo tcnico ou ns mesmos, nesse universo sem hierarquias, [...] a
comunicao morre por excesso de comunicao e se acaba numa interminvel agonia de espirais. a isso que dou o
nome de tautismo, neologismo que une autismo e tautologia, embora evocando a totalidade, o totalitarismo .
(SFEZ, 1994, p.33).
136
III.2 COMUNICAO E PODER.
Vimos, com a questo da tcnica, como a natureza tornou-se objetificada como parte
de um ideal poltico que visava no s garantir ao discurso racional o poder de normatizar o
mundo, como tambm a legitimidade necessria para imprimir uma nova ordem social. No
entanto, ao admitirmos que o paradigma de uma racionalidade tcnica j estava esboado desde
Scrates ou Plato como parte de um projeto poltico que visava dar palavra o poder de
persuaso necessrio para corromper as massas, e que somente ganhou fora com a
modernidade, ento o fato novo que os meios tcnicos de comunicao trazem
contemporaneidade no est especificamente na dominao que as mdias exercem sobre essas
mesmas massas por terem se tornado agora o lugar privilegiado de onde partem e se afirmam os
discursos, mas reside na prpria possibilidade de terem transformado os seus meios tcnicos em
discurso. Sendo assim, cabe analisar quais elementos epistemolgicos que se colocam em jogo a
partir dessa constatao, j que os pressupostos polticos de que todo discurso uma
manifestao de poder sempre estiveram dados. As formas de poder da comunicao esto,
portanto, mais alojadas em seus meios tcnicos do que em seus enunciados. Evidente que, com
isso, no queremos afirmar que todos os enunciados se equivalem, mas que a questo tica no
mais necessria s teorias da comunicao do que a qualquer outra teoria social.
Territorializamo-nos sobre a tcnica como sobre o conceito. Todavia, o conceito
tambm um acontecimento. Podemos criar novos e mesmo os que j existem no tm seus
limites to fechados quanto parecem
152
. Os conceitos, ao contrrio, tm zonas de vizinhana que
152
Alis, quanto mais os fechamos (os conceitos), mais facilmente revelam-se enquanto preconceitos.
137
lhes garantem uma tenso interna que tanto lhes do consistncia como ambivalncia. Tanto
podem ser instituintes como institudos. Tudo depende de como (n)os movimentamos e (n)os
organizamos. Da mesma forma, a tcnica e os meios tcnicos de comunicao pode tanto nos
territorializar como nos desterritorializar. Caminhamos sempre no limite de uma condio
espacial, j que, como dissemos, a ambio da tcnica a mesma que a do procedimento
epistemolgico: juntar aquilo que separou. Se os meios tcnicos criam e operam essas distncias,
preciso admitir que a subjetividade que reinstitui o espao necessrio para percorr- las
tornando possvel a ocorrncia da comunicao
153
.
O espao como matriz epistemolgica aplicada aos meios tcnicos de comunicao
lida fundamentalmente com o controle das distncias, mas o conceito de distante no pode ser
reduzido a uma nica mtrica, j que a velocidade de nossos sentidos difere para cada sentido e
da velocidade infinita do pensamento, ainda que todas estejam submetidas a um grau zero de
orientao que se encontra no corpo. Portanto, o que os meios tcnicos de comunicao
excluem da relao cognitiva entre ns e o mundo o corpo como esse centro organizador das
diversas velocidades com que fluem nossos sentidos e o pensamento na percepo da realidade.
A seguir, organizamos essas velocidades em trs pares conceituais para discutir o
espao como matriz epistemolgica na comunicao: o prximo e o distante, para insinuar o
corpo; a visibilidade e a invisibilidade, para comentar o olho esse rgo privilegiado de nossos
sentidos; e o contnuo e o contguo para aludir ao pensamento. Essas divises no traduzem
153
Ao longo deste estudo, insistimos, por diversas vezes e de diversas maneiras, que no h objetividade possvel
fora de um modelo de conhecimento que disponibilize igualmente a posio de um sujeito ou de um observador. Da
mesma forma, afirmamos que o aparelho tcnico no elimina essa dicotomia, mas apenas a aprofunda, j que o
modelo permanece o mesmo. Logo, no podemos sustentar outra hiptese que no aquela que supe a presena da
subjetividade em todos os processos de conhecimento. Se esse modelo de conhecimento atende a uma matriz
espacial, como supusemos, ento no h como acreditar que a verdade possa estar alojada em algum lugar absoluto,
mas que apenas uma questo de demarcao de limites.
138
nenhum mapa rigoroso do que venham a ser os meios de comunicao, mas servem-nos apenas
para percorrer um caminho que a comunicao desenha quando submetida a uma matriz espacial.
III.2.1 O PRXIMO E O DISTANTE.
Heidegger afirma que: habitar uma casa significa habitar o mundo. Define o modo
de estar no mundo, no apenas no sentido de dar uma localizao, um endereo, mas dar um
assentamento, um acolhimento. Em O fenmeno do lugar, Norberg-Schulz (1976)
154
, retomando
o conceito de genius loci, lembra que: na Roma antiga, acreditava-se que todo ser
independente possua um genius, um esprito guardio. Esse esprito d vida s pessoas e aos
lugares, acompanha-os do nascimento morte, e determina seu carter ou essncia. O arquiteto
noruegus prope que a estrutura do lugar deva ser analisada por categorias como espao e
carter: Enquanto espao indica a organizao tridimensional dos elementos que formam um
lugar, o carter denota a atmosfera geral que a propriedade mais abrangente de um lugar.
No entanto, as aes concretas das pessoas no tm lugar num espao isotrpico homogneo,
mas ocorrem em um espao que se caracteriza por diferenas qualitativas. O carter indica uma
atmosfera geral e abrangente e, em certa medida, uma funo do tempo; ele muda com as
estaes, com o correr do dia, e com as situaes meteorolgicas. Podemos ento dizer que o
carter adjetiva o lugar imputando- lhe qualidades que observamos concretamente no cotidiano,
de modo que, como sugere Heidegger, os espaos recebam sua essncia dos lugares e no do
espao.
154
Terico noruegus ligado fenomenologia e interpretao do pensamento de Heidegger na arquitetura.
139
A relao interior-exterior, que um aspecto principal do espao concreto, sugere que os
espaos possuem graus variados de extenso e cercamento. Enquanto as paisagens se
diferenciam por terem extenses variveis, mas basicamente contnuas, os assentamentos
so entidades muradas entre fronteiras. Portanto, assentamento e paisagem mantm entre
si uma relao de figura-fundo. De modo geral, tudo o que fica encerrado se manifesta
como figura contra o vasto fundo da paisagem. (NORBERG-SCHULZ, 1976.
NESBITT [org.], 2006, p.450).
Ainda que a relao figura- fundo possa, aqui, sugerir uma relao dialtica entre interior-exterior,
devemos pensar que o assentamento, embora construa uma fronteira com seu entorno para
realizar seu fechamento, disponibiliza linhas de fuga que o remetem constantemente para um
fora.
Heidegger afirma que: as casas particulares, as aldeias, as cidades so construes que
renem dentro delas e em torno delas esse entre multiforme. As construes trazem a
terra, como a paisagem habitada, para perto do homem e, ao mesmo, tempo, situam a
intimidade da vizinhana sob a vastido do cu. Logo, a propriedade bsica dos lugares
criados pelo homem a concentrao e o cercamento. Os lugares so literalmente
interiores, o que significa dizer que renem o que conhecido. Para cumprir essa
funo, os lugares tm aberturas atravs das quais se ligam com o exterior. (NORBERG-
SCHULZ, 1976. NESBITT [org.], 2006, p.448).
O lugar define uma interioridade tal qual como o conceito ou o pensamento quando realiza seu
processo de territorializao, mas essa interioridade no o cogito a partir do qual tudo se
justifica, mas apenas um abrigo a partir do qual buscamos a segurana. A cabana antes uma
tenda, aberta para o mundo, do que uma torre por cujas janelas observamos o mundo de forma
privilegiada.
A arquitetura ocorre na fronteira, como uma encarnao do mundo. Heidegger diz:
Uma fronteira no aquilo em que termina a coisa, mas, como j sabiam os gregos, a
fronteira aquilo de onde ela comea a se fazer presente. Pode-se entender uma
fronteira como uma soleira, isto , a corporificao de uma diferena. [...] Numa
construo, a soleira a um s tempo separa e une o exterior e o interior, isto o que
estranho e o que habitual. um ponto intermedirio de reunio onde a viso do mundo
simultaneamente se abre e volta terra. (NORBERG-SCHULZ, 1983. NESBITT [org.],
2006, p.469).
Heidegger ainda assevera que habitar significa estar em paz em um lugar protegido. A cabana
um lugar habitvel que nos faz pertencer ao entorno, que nos possibilita estar no mundo como
condio da prpria existncia, como a marca expressiva de uma primeira pedra, de um primeiro
140
assentamento, mas tambm como passagem de um caminho no qual nos instalamos e por onde o
mundo passa. Segundo Heidegger, uma construo no se soma a uma paisagem, tornando-se
mais um elemento da paisagem, mas o ato de construir faz as coisas surgirem como so. A
construo torna presente uma paisagem que, at ento, no passava de um fundo, de um espao
ilimitado. No s porque ela centraliza nosso foco na construo, mas, acima de tudo, porque ela
deixa-se ver enquanto presentificao de uma imagem. Ela torna visvel todo seu entorno tal qual
uma pintura torna presente uma imagemde uma paisagem.
A ponte pende com leveza e fora sobre o rio. A ponte no apenas liga margens
previamente existentes. some nte na travessia da ponte que as margens surgem como
margens. A ponte as deixa repousar de maneira prpria uma frente outra. Pela ponte,
um lado se separa do outro. As margens tambm no se estendem ao longo do rio como
tranados indiferentes da terra firme. Com as margens, a ponte traz para o rio as
dimenses do terreno retrada em cada margem. A ponte coloca numa vizinhana
recproca a margem e o terreno. A ponte rene integrando a terra como paisagem em
torno do rio. (HEIDEGGER, 2002, p.131-132).
Devemos ento entender o lugar no s como um abrigo, mas tambm como aquilo
que nos permite entrar em contato com o mundo atravs de relaes de vizinhana que lhe do
sentido. A construo de um lugar sendo a prpria construo de um sentido que se tece entre as
coisas, j que estas s vm a ser por meio dessas tcnicas que a linguagem disponibiliza como
modo de estar no mundo.
O estabelecimento de um lugar habitvel um acontecimento e, evidentemente, esse
estabelecimento sempre supe algo de tcnico. Inventa-se algo que no existia at ento,
mas, ao mesmo tempo, h o habitante, homem ou Deus, que requer esse lugar antes
mesmo que ele tenha sido inventado ou produzido. Por isso, no se sabe muito bem onde
situar a origem do lugar. Talvez habitemos um labirinto, que no natural nem artificial,
e que est no cerne da histria da filosofia greco-ocidental, de onde se originou o
antagonismo entre natureza e tecnologia. Dessa oposio nasce a distino entre os dois
labirintos. (DERRIDA, 1986. NESBITT [org.], 2006, p.168).
Habitamos um lugar como habitamos no conceito. E essa territorializao que o conceito
imprime ao pensamento atualiza-se na palavra, na linguagem, que ganha sentido na medida em
que se constri.
141
Se toda linguagem sugere uma espacializao, uma certa disposio no espao que, sem
domin-la, permite que dela nos aproximemos, ento devemos compar-la a uma espcie
de desbravamento, de abertura de um caminho. Um caminho que no tem de ser
descoberto, mas inventado. E essa inveno de um caminho no de modo algum alheia
arquitetura. Todo lugar na arquitetura, todo espao habitado, tem uma precondio:
que o edifcio se localize em um caminho, em um cruzamento de ruas ou estradas pelos
quais tanto se possa entrar como sair. No h edifcios sem ruas que conduzam a ele ou
que partam dele; tampouco existem edifcios sem percursos interiores, corredores,
escadas, passagens, portas. Mas, se a linguagem no pode controlar o acesso a esses
trajetos que levam ao edifcio e que dele partem, isso apenas significa que a linguagem
est implicada nessas estruturas, que ela est a caminho, movendo-se em direo
linguagem dizia [Martin] Heidegger, a caminho de alcanar a si mesma. O caminho no
um mtodo; isso deve ficar bem claro. O mtodo uma tcnica, um procedimento para
obter o controle do caminho e torn-lo vivel. (DERRIDA, 1986. NESBITT [org.],
2006, p.167).
Habitamos na linguagem, mas o pensamento insiste em se territorializar e crer que, tal
como no mito do Minotauro, o fio de Ariadne possa nos libertar da inexorabilidade da espao-
temporabilidade e permitir uma narrativa redentora que nos traga um final feliz, desprezando o
eterno devir de uma linguagem que se faz enquanto percurso. Posto isso, perguntamo- nos: a
comunicao pode ser entendida como habitabilidade? Como domnio de uma morada virtual? Se
a escritura
155
, como afirma Derrida, como um labirinto
156
, sem comeo nem fim, a
comunicao, enquanto linguagem ou acontecimento, representaria alguma forma de abrigo? Se
realmente habitamos na linguagem e esta se faz como um caminho, sua territorializao no
155
Dito isso, podemos voltar ao que relaciona a desconstruo com a escritura: a sua espacialidade, o pensamento
concebido como um caminho, como abertura de uma trilha que inscreve seus rastros sem saber exatamente aonde
eles vo levar. Assim pensando, possvel dizer que abrir um caminho uma escritura que no pode ser atribuda
nem a Deus nem ao homem nem ao animal, uma vez que ela designa, em um sentido muito amplo, o lugar a partir do
qual esta classificao homem/Deus/animal se constitui. Essa escritura , na verdade, como um labirinto, pois
no tem comeo nem fim. Nela, estamos sempre em movimento. A oposio entre tempo e espao, entre tempo do
discurso e espao do templo ou da casa no tem mais nenhum sentido. Vive-se na escritura e escrever um modo de
vida. (DERRIDA, 1986. NESBITT [org.], 2006, p.169).
156
[...] o pensamento sempre um caminho. Se o pensamento no se eleva acima do caminho, se a linguagem do
pensamento ou o sistema de pensamento da linguagem no so entendidos como uma metalinguagem sobre o
caminho, isso significa que a linguagem um caminho e que, portanto, sempre teve uma certa relao com a
habitabilidade e com a arquitetura. Esse constante estar em movimento, a habitabilidade do caminho que no nos
oferece qualquer sada, enreda-nos em um labirinto sem nenhuma escapatria; mais precisamente, em uma
armadilha, um dispositivo planejado como o labirinto de Ddalo de que fala James Joyce. (DERRIDA, 1986.
NESBITT [org.], 2006, p.167-168).
142
poderia ser mais evidente seno diante da metfora da Torre de Babel
157
. A pretenso em
alcanar os cus, de ascender ao eixo transcendental fixando a linguagem em um lugar acima
do mundo, em um supramundo, no poderia ser mais destoante da metfora heideggeriana de
buscar na casa, a simultaneidade entre o acolhimento e a afirmao do mundo. Aqui a arquitetura
da Torre de Babel encontra o projeto da cidade cartesiana. O que era o controle do espao como
metfora de um mtodo para controlar toda sorte de opinies, e, assim, atingir verdade, torna-
se, aqui, metfora de uma obra que visa garantir o controle da linguagem.
O fato de que esta interveno na arquitetura, com uma construo que tambm uma
des-construo, represente o fracasso ou a limitao imposta sobre uma linguagem
universal para impedir um plano de dominao poltica e lingstica do mundo nos
informa sobre a impossibilidade de controlar a multiplicidade das lnguas, sobre a
impossibilidade de existncia de uma traduo universal. Significa tambm que a
construo da arquitetura sempre permanecer labirntica. No se trata de renunciar um
ponto de vista em favor de outro, que seria nico e absoluto, mas de encarar a
diversidade de possveis pontos de vista. (DERRIDA, 1986. NESBITT [org.] p.170).
Todavia, no apenas na metfora de Babel ou nos projetos utpicos de construo
de cidades e repblicas que encontramos uma estreita relao entre pensamento, linguagem e
poder. Vimos que a prpria polis grega j trazia em sua construo um projeto que no era s
filosfico, mas poltico. Nesse sentido, a cidade no apenas uma metfora, mas o lugar
privilegiado do controle das distncias. Poltica, economia, transporte, comunicaes, encontram
na cidade seus ns, seus pontos de acmulo e tenso. Enfim, toda sorte de fluxos de bens
materiais e imateriais condensam-se e ganham consistncia na cidade, de modo que no se possa
reduzir a compresso espao-temporal ao ciberespao sem antes admitir que a cidade tenha
disponibilizado uma dimenso virtual que antes estava dispersa na velocidade do pensamento.
157
Uma tribo, os semitas, cujo nome significa nome, uma tribo, portanto que se chama nome, pretende construir
uma torre que supostamente atingir o cu, como dizem as Escrituras, com o propsito de fazer ser prprio nome.
Essa conquista do cu, esta ocupao de um lugar no cu, significa dar a si mesmo um nome e, com esse poder, com
o poder do nome, da altura da metalinguagem, conseguir dominar as outras tribos, as outras lnguas, isto coloniz-
las. Mas Deus desce do cu e estraga todo o empreendimento ao pronunciar uma palavra: Babel. (DERRIDA, 1986.
NESBITT [org.], 2006, p.170).
143
A virtualidade da cidade apresenta-se no s na eletricidade que desde o incio do
sculo XX flui pelas linhas de energia que lhe atravessam por toda parte, mas tambm, e
principalmente, pelo que a cidade se insinua com suas vitrines, seus anncios, seus itinerrios
estriados nas linhas traadas pelas ruas, e com sua arquitetura, que acumula nas fachadas o tempo
em diversas escrituras. A cidade no mais esse abrigo interior e artificial da natureza que, como
extenso da casa, protege-nos do caos de um mundo exterior, j que, h muito tempo, esse limite
diluiu-se. Ao contrrio, a virtualidade da cidade est em sua polissemia, em seus devires; nos
sentidos que se abrem multiplicidade de fluxos que se processam em seu meio. Meio ambiente
que meio tcnico. A cidade deixa de ser apenas espao ou lugar para ser linguagem com todas
as implicaes polticas que isso acarreta.
Aprendendo com Las Vegas, de Venturi e Brown
158
, ilustra essa transformao do
espao urbano em uma espcie de simulacro do mundo mercadolgico e publicitrio, ao discutir
em que medida a arquitetura (e o urbanismo), apropriada pelo modo de produo capitalista, teria
descaracterizado uma certa aura do espao que sempre prescindiu de um ideal esttico como
ndice de autenticidade e valor do espao construdo.
O corredor comercial, especialmente a Las Vegas Strip
159
seu exemplo por excelncia
, desafia o arquiteto a assumir um ponto de vista positivo e no arrogante ou
depreciativo. Os arquitetos perderam o hbito de olhar para o ambiente sem fazer
julgamentos porque a arquitetura moderna ortodoxa progressista, quando no
revolucionria, utpica e purista; ela est insatisfeita com as condies existentes. A
arquitetura moderna pode ter ser sido tudo, menos permissiva: os arquitetos preferiram
mudar o entorno exis tente a realar o que j existe. (VENTURI; BROWN, 1968.
NESBITT [org.], 2006, p.340).
158
Robert Venturi mestre em Belas Artes pela Universidade de Princeton e foi conferencista em Harvard, Rice e na
Universidade da Pensilvnia. Denise Scott Brown mestre em Arquitetura pela Universidade da Pensilvnia e
igualmente conferencista em Harvard, Rice, Yale e na Universidade da Pensilvnia.
159
Strip o nome popular da maior avenida da cidade de Las Vegas (Boulevard Las Vegas), conhecida pela
localizao dos grandes cassinos, hotis, motis, restaurantes, clubes noturnos, com seus anncios e letreiros
luminosos. Por extenso, o termo Strip aplica-se a todo corredor comercial situado margem de estradas de rodagem
na paisagem americana. (VENTURI; BROWN, 1968. NESBITT [org.], 2006, p.339).
144
Todavia, Kenneth Frampton
160
contra-argumenta da seguinte forma:
Absolvemos a Strip, por medo de admitir que talvez tenhamos eliminado para sempre
toda possibilidade de estar em algum lugar. Ns nos gabamos de nossa to valorizada
mobilidade, de nossa rush city [cidade da pressa] [...] s para descobrir que, se
parssemos, haveria poucos lugares nos quais qualquer um de ns escolheria estar.
Trocamos, com alegre inconseqncia, nossa j dbil influncia na esfera pblica pelo
aturdimento eletrnico da esfera privada do futuro. (FRAMPTON, 1974. NESBITT
[org.], 2006, p.477-478).
Evidentemente, o que aqui se discute a legitimidade da arquitetura como linguagem impondo-se
arquitetura como espao em uma sociedade imagtica de ubiqidade da comunicao visual:
O trevo rodovirio e o aeroporto se comunicam com multides em movimento, de carro
ou a p, por razes de eficincia e segurana. Mas as palavras e os smbolos tambm
podem ser usados no espao para a persuaso comercial. Se nas feiras do Oriente Mdio
no h placas ou letreiros, a Strip praticamente toda sinais. Nas feiras, a comunicao
se faz pela proximidade. Caminhando por suas estreitas alias, os compradores sentem e
cheiram as mercadorias, e o comerciante se encarrega da persuaso explcita. Nas ruas
estreitas da cidade medieval, embora houvesse sinais, a persuaso se fazia
principalmente pela viso e pelo cheiro de bolos e pes concretos, atravs das portas e
janelas da padaria. Na Main Street, as vitrines das lojas, altura dos pedestres, e os
anncios luminosos externos, perpendicularmente rua, para os motoristas, dominam a
cena de modo quase igual. (VENTURI; BROWN, 1968. NESBITT [org.] , 2006, p.344).
Ora, essa questo de contrapor a cidade como linguagem cidade como lugar,
remete-nos tambm produo dos no-lugares de Marc Aug (1994, p.73) que, na chamada
supermodernidade, apresentam-se como espaos que no so em si antropolgicos,
contrapondo-se aos lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a lugares
de memria. Significa dizer que os no-lugares, por desconhecerem a identidade, a
singularidade e a permanncia do lugar antropolgico, assumem a repetibilidade e a
transitoriedade das imagens seriais da contemporaneidade. Essa proliferao de imagens da
supermodernidade forma ento um mundo de consumo, um sistema autopoitico rdios fazem
propaganda de lojas que fazem propaganda da rdio em que a busca pelo anonimato melhor
forma de compartilhar uma identidade.
160
Kenneth Frampton, britnico, professor-titular da ctedra Ware de Arquitetura da Universidade de Columbia, em
cujo texto citado procura defender a idia da arquitetura como lugar a partir de uma leitura de Heidegger.
145
Todavia, cremos que no seria o caso de opormos o lugar ao no-lugar, imputando a
este uma negatividade, pois no se trata de impugnar o espao repertoriado do lugar ao no-
repertoriado do no- lugar, j que o repertrio depende do modo como lemos os espaos pelos
quais caminhamos. Como falamos anteriormente, tanto um espao liso pode ser estriado, como
um espao estriado pode tornar-se liso, uma vez que tudo depende do modo pelo qual circulamos
nesses espaos
161
.
Ora, a questo que Venturi e Brown (1968. NESBITT [org.], 2006, p.344-346) nos
colocam caminha em uma direo paralela quela abordada por Aug. Trata-se do domnio de
uma semitica da cidade sobre o puro espao da arquitetura. O letreiro torna-se mais
importante que a arquitetura, a comunicao torna-se mais importante que o espao. A
contradio entre o exter ior e o interior desfaz-se com uma arquitetura de falsas fachadas em
escalas apropriadas aos usurios agora invariavelmente motorizados. Se tirarmos os letreiros,
no existe o lugar. claro que sempre podemos argumentar que uma cidade qualquer uma,
mesmo as mais antigas pode ser lida de uma forma semitica. A diferena, contudo, que
agora a arquitetura no mais um modo de expressar a forma ou a funo de um ambiente ou o
sublime, como afirma Derrida
162
, mas um mero suporte de sinais, smbolos e peas
publicitrias. A cidade j no comunica mais uma inteno, j no tem mais um carter ou
identidade seno aquele que os meios de comunicao ocupam por toda paisagem. A cidade
futurista de Los Angeles, no filme Blade Runner, no fico. Os edifcios tornaram-se suportes
de peas publicitrias e os outdoors proliferam pelas avenidas reproduzindo uma seqncia de
161
Vide nota 84 pgina 69.
162
Talvez no exista um pensamento arquitetnico, mas, se ele existisse, s poderia se expressar na dimenso do
Elevado, do Supremo, do Sublime. Vista dessa forma, a arquitetura no uma questo de espao, mas uma
experincia do Supremo, que no superior, mas, de certo modo, seria mais antiga que o espao e, como tal, uma
espacializao do tempo. (DERRIDA, 1986. NESBITT [org.], 2006, p.171).
146
instantneos como em um filme, obliterando a paisagem de um fundo natural. Cria-se assim uma
arquitetura de superfcies, uma arquitetura sem profundidade, em que a experincia do espao
ocorre como no dispositivo do mecanismo cinematogrfico: como uma sucesso de quadros
postos em movimento, s que agora pela velocidade do carro.
A arquitetura ento se equipara a um jogo de interfaces tal qual como Paul Virilio
(1993) refere-se acerca dos meios imagticos da comunicao: Toda superfcie uma interface
entre dois meios onde ocorre uma atividade constante sob a forma de troca entre as duas
substncias postas em contato. A partir dessa nova definio cientfica da noo de superfcie,
Virilio deduz que ento a limitao do espao torna-se comutao, a separao radical
transforma-se em passagem obrigatria, trnsito de uma atividade constante, atividade de trocas
incessantes, transferncia entre dois meios, duas substncias. A superfcie aqui evocada a da
aniquilao do espao e, por conseqncia, do prprio tempo como cronologia. A interface da
tela seria a superfcie onde o esgotamento do relevo natural e das distncias de tempo achata
toda localizao e posio e em que a instantaneidade da ubiqidade resulta em uma atopia.
Estamos diante de uma nova representao, diante de uma nova ordem cognitiva, em que a luz
no mais a metfora de um mundo inteligvel, mas em que a essncia e a aparncia diluem-se,
ou concentram-se, na prpria luz como dimenso de uma nova realidade. Se a medida, atravs de
seus diversos instrumentos, contribuiu para a constante redefinio do espao percebido, do
espao vivido e, portanto, indiretamente, para a determinao cada vez mais rigorosa da imagem
do mundo sensvel, hoje, presenciamos uma transferncia dessa matria mensurada e
agrimensada para a luz mensuradora, inaugurando efetivamente uma mutao na avaliao
cientfica do tempo e do espao.
147
Ocorre que se a luz tem sua grandeza no mais medida por sua espacialidade como
o so as figuras , mas por sua velocidade, seu movimento sem repouso , torna-se ento no
mais um atributo de sua matria, mas sua prpria condio. A forma- imagem luz apresenta-se ao
pensamento no mais como passvel de representao, mas como prpria representao de si
mesma, como presena absoluta que desfaz o esforo tcnico de intervir sobre a natureza atravs
de instrumentos de medio, pois ela prpria medio. Assim todo o esforo da cincia
moderna em afastar a metafsica dos fenmenos naturais atravs do aprimoramento de
instrumentos tcnicos de medio dos objetos que resultariam em leis universais de causalidade
do movimento dos corpos , parece desabar quando a velocidade da luz em sua forma- imagem
sempre atual cria uma superfcie nova ocultando de nossas representaes o fundo natural.
Atravs dessa nova imagem sinttica, desfaz-se o mundo fsico dos objetos extensos e
mergulhamos em um mundo da representao eletrnica em que a luz no mais d forma aos
objetos, mas transfigura-se no prprio objeto. Inversamente dos velhos pressupostos da
metafsica que procuravam preencher os contedos das formas-objetos atribuindo-lhes as causas
primeiras ou finais, sempre transcendentes, agora essa forma- imagem que parece transcender
aos prprios objetos naturais aguardando um vnculo causal com o mundo natural como o qual
no guarda qualquer representao. Evidentemente, a luz que protagoniza a forma- imagem que se
apresenta nos monitores ou suportes eletrnicos pelas tecnologias da comunicao no est
presente seno, de certa forma, nos letreiros luminosos que proliferam em algumas cidades, mas
podemos aproximar essa ubiqidade da imagem e a sua conseqente eliminao das distncias
com uma leitura da transformao do espao urbano em suporte de uma comunicao visual.
Como afirma Virilio (1993, p.22-23):
A partir de agora assistimos (ao vivo ou no) a uma co-produo da realidade sensvel na
qual as percepes diretas e mediatizadas se confundem para construir uma
148
representao instantnea do espao, do meio ambiente. Termina a separao entre a
realidade das distncias (de tempo, de espao) e a distanciao das diversas
representaes (videogrficas, iconogrficas). A observao direta dos fenmenos
visveis substituda por uma teleobservao na qual o observador no tem mais contato
imediato com a realidade observada.
Isso implica no s em uma alterao considervel de nossa percepo da realidade, como
engendra um perigoso desequilbrio entre o sensvel e o inteligvel, j que no temos mais
como discernir a realidade miditica de um fundo natural que sempre se constituiu enquanto
verdadeiro. O que emerge e se sobrepe desse fundo natural a imagem sinttica que surge nas
interfaces dos aparelhos tecnolgicos de comunicao. As telas de televiso, os monitores dos
microcomputadores, os visores dos celulares: so atravs dessas zonas de interface que nos
deparamos com a supremacia da imagem na era da comunicao. com a imagem que cada vez
mais interagimos no nosso cotidiano, essa imagem sem profundidade, sem textura, sem gosto ou
odor, cuja fala pode ser desconectada da viso; uma imagem da qual podemos exercer o controle
imediato tele-transportando-nos para qualquer lugar longe de onde se esteja. Todo o fundo
natural tornou-se desinteressante: violento, perigoso, poludo, estressante. As filas dos bancos, do
cinema, o contato face a face da conversa nos bares, o passeio sob o sol; tudo isso implica em
grandes riscos, em situaes da qual no podemos exercer controle. Nas salas de conversao,
assumimos novas identidades que nos afastam do risco desnecessrio de nos expor diante de
estranhos; se a conversa est chata, podemos encerr- la sem constrangimentos; fazemos sexo
atravs da rede atravs das webcams ou visitando um banco de imagens em stios porns;
fazemos transferncias bancrias e adquirimos produtos e servios pela interface da rede;
comunicamo-nos por e-mail e acreditamos nisso! Afinal sempre algum pode atender do outro
lado da linha ou se estender demais em uma ligao telefnica. Enfim, os meios tcnicos de
comunicao efetivamente controlam essas distncias: tanto nos aproxima como nos afasta
daquilo que buscamos ver, ainda que ou sobretudo! de forma inconsciente.
149
Definitivamente, os meios tcnicos de comunicao parecem ser meios tcnicos de
operar as distncias. Mas, afinal, eles as eliminam ou as ampliam? Sobre essa eliminao das
distncias, Karsten Harries
163
diz:
As conseqncias definitivas dessa investida contra as distncias ainda so incertas:
embora prometam ao homem um poder quase divino, tambm o ameaam com uma
situao de desamparo que ele jamais conheceu. Existem, sem dvida, os que esperam
uma nova situao de intimidade a partir da revoluo dos meios de transporte e da
comunicao: o homem passar a sentir-se como em sua casa no mundo e junto dos
outros como jamais pde sentir-se antes. Mas a metfora de Marshall McLuhan sobre a
aldeia global enganosa. [...] A eliminao das distncias e os artifcios de
distanciamento s podem voltar-se contra a intimidade, pois a intimidade requer
distncia; abolir uma abolir ao mesmo tempo a outra. Em vez de uma genuna
proximidade, o que nos oferecem um anlogo perverso: a eqidistncia e, portanto, a
homogeneidade e a indiferena do lugar. Quando todos os lugares tm o mesmo valor,
no nos podemos situar e nos tornamos deslocados. (HARRIES, 1975. NESBITT [org.],
2006, p.425).
A velocidade disponibilizando as imagens instantaneamente atravs da superfcie luminosa da
interface cria um campo de eventos que se equiparam em valor de grandeza. Tudo se torna
compactvel na dimenso da tela do visor, tornando o passado presente e o distante prximo.
Os eventos apresentam-se como uma colagem disposta em um fluxo de imagens em que a
histria e a geografia so negadas, anulando qualquer sensao de volume ou profundidade.
Diante desta sbita facilidade de passar sem transio ou espera da percepo do
infinitamente pequeno para a percepo do infinitamente grande, da imediata
proximidade do visvel para a visibilidade do que est para alm do campo visual, a
antiga distino entre as dimenses desaparece. [...] A transparncia torna-se evidente,
uma evidncia que reorganiza a aparncia e a medida do mundo sensvel e, portanto,
muito em breve, sua figura, sua forma imagem. (VIRILIO, 1993, p.24).
Uma percepo no mais restrita s dimenses, mas da representao instantnea de dados.
Diante desse desequilbrio entre a informao direta de nossos sentidos e a informao
mediatizada das tecnologias avanadas em que nossos julgamentos de valor, nossa medida das
163
Karsten Harries professor de filosofia da Universidade de Yale.
150
coisas transferida do objeto para sua figura, da forma para sua imagem, o risco que corremos
de um delrio generalizado de interpretao
164
.
As novas tecnologias da comunicao processam uma ruptura epistemolgica em que
a imagem ocupa o lugar da natureza no enquanto representao, mas como o prprio real. No
se trata aqui de considerar os contedos que operam atravs dessas imagens, mas de perceber que
a tcnica no mais um instrumento de inteleco da realidade, mas torna-se o padro de medida
atravs do qual toda realidade posta prova
165
. Significa dizer que a tcnica descola-se da
cincia, ganha autonomia diante dos fenmenos fsicos observveis na medida em que atua como
prova cientfica. Se a cincia surge como forma de conhecer a verdade dos fenmenos fsicos e a
comprovao dos mesmos depende da eficincia dos instrumentos tcnicos para medir suas
formas e os movimentos, e se essa mesma cincia constata que a verdade dos fenmenos refm
de suas tcnicas de manipulao, ento a tcnica torna-se o novo mito de uma era em que a
velocidade aproxima a fsica e a metafsica.
Ocorre que a eliminao das distncias no apenas um fenmeno das tecnologias da
comunicao que possibilitam uma desconstruo da materialidade do espao geogrfico, mas
tambm da ubiqidade da imagem em todos os espaos fsicos da cidade, transformando-a em um
enorme hipertexto, e eliminando todos os volumes das formas arquitetnicas. A cidade passa a
no ser mais percebida pelo corpo, mas pelo olhar. O efeito da apreciao dos signos de uma
cidade vista sempre a partir de um dentro de um veculo em movimento, achata seu relevo e
textura tal qual observamos nas interfaces dos suportes eletrnicos.
164
Cf. VIRILIO, 1993, p.40.
165
Ao abordamos a questo da geometrizao do espao (Parte II) tivemos a chance de perceber como tambm, na
modernidade, a medida, principalmente por meio dos mapas, tornou-se um modo objetivo de ordenar e classificar o
espao em substituio experincia pessoal do corpo como parmetro regulador entre o prximo e o distante. (vide
notas 101 e 102 pgina 82).
151
um erro ver nesse deslocamento apenas um efeito do progresso tecnolgico, porque
este realiza um deslocamento implcito no compromisso com a objetividade em que se
baseiam a cincia e a tecnologia . (HARRIES, 1975. NESBITT [org.], 2006, p.425).
Logo, h uma questo epistemolgica oculta nessa questo, pois
A objetividade requer a homogeneidade do lugar e ambas se fundam no
autodeslocamento que transforma o homem de um ser corporificado em puro sujeit o
pensante. A recompensa por esse deslocamento uma nova liberdade, seu preo, uma
condio sem precedentes de desabrigo. (HARRIES, 1975. NESBITT [org.], 2006,
p.425).
De um plano de total imanncia, em que o logos absorvia a tudo em uma unicidade
incorruptvel, fratura do mundo em uma razo interior e uma natureza exterior, de um mundo
vivido ao mundo tornado imagem, onde nos encontramos agora? Certamente aqui no mais
possvel qualquer objetificao do mundo, ou ainda, a objetificao tamanha que desintegra o
mundo. Toda representao do mundo como imagem concentra-se em uma imagem nica diante
de uma aniquilao espao-temporal que s encontra referncia na prpria velocidade. Segundo
Virilio (1993, p.13), diante da instantaneidade da ubiqidade, em que a distncia-velocidade
abole a noo de dimenso fsica, a velocidade torna-se subitamente uma grandeza primitiva
aqum de toda medida, tanto de tempo como de lugar. Diante dessa imagem- luz no h mais
natureza a ser representada, esta se esva iu de qualquer corpo tangvel, gerando uma angstia pela
ausncia de um objeto claro que, conforme Virilio (1993, p.19), traduz-se pela crise da noo de
dimenso ou a crise do inteiro, ou seja, a crise
de um espao substancial, homogneo, herdado da geometria grega arcaica, em
benefcio de um espao acidental, heterogneo, em que as partes, as fraes, novamente
tornam-se essenciais, atomizao, desintegrao das figuras, dos referenciais visveis
que favorecem todas as transmigraes, todas as transfi guraes.
Mas tambm a crise de um sujeito vencido pela tcnica, que assiste desde o incio do sculo
XX, a profundidade de campo das perspectivas clssicas ser renovada pela profundidade de
tempo das tcnicas avanadas. Essa crise da noo de dimenso e do inteiro tambm
enunciada por Harvey (2004) que a converte em sintoma de um discurso tecno-cientfico que
152
encontraria suas razes em uma nova ordem scio-econmica que se impe como hegemnica a
partir do crescimento das foras capitalistas de produo. Entretanto, a sujeio dessa crise da
dimenso a uma ordem poltico-econmica permanece aqum do entendimento dos processos de
operacionalizao que levam ao desabrigo do ser diante dessa nova espao-temporalidade. Para
tanto, ser preciso antes entender de que maneira essas imagens miditicas preenchem o
imaginrio social, encontrando uma correspondncia no sistema scio-psquico equivalente
quela que o fetiche desempenha nas relaes com as mercadorias.
Se a relao entre o prximo e o distante estrutura-se como condio do estar no
mundo, muito porque se entende este mundo por mundo natural que, para vivenci- lo,
preciso percorr- lo observando as determinaes de uma espacialidade mensurvel. Nesse
sentido, a vista de uma cidade atravs de seus mirantes funciona como um olho tcnico, tal qual
uma lente fotogrfica que capta o mundo em sua instantaneidade, possibilitando ver o mundo
atravs de uma ptica, de uma perspectiva totalizante (sujeito-objeto). O visto surge ento como
uma imagem tcnica, como um objeto tcnico, ainda que nenhum meio tcnico se interponha, j
que funciona como um princpio do olhar tcnico em que as distncias so apenas variveis de
uma escala (mais perto, mais longe) e no de uma espao-temporalidade vivida. Nesse caso, a
mediao tende a esvaziar o conflito entre as partes de um todo. Entre eu e o outro surge a
entidade annima de um terceiro que me faz a ponte necessria entre os dois mundos atenuando o
conflito. Politicamente, a mediao resulta ento em uma estratgia eficaz de diluir o conflito
atravs de um meio annimo, supostamente neutro, mas que sempre atende aos interesses de uma
centralidade que no quer se fazer visvel. No entanto, o valor do espao no pode ser medido
pela sua materialidade, pela sua possibilidade de mensurao, mas pela sua territorialidade, pela
rigidez dos limites que contrai ao se diferenciar dos demais espaos. A incluso ou excluso
153
social no estando mais necessariamente circunscrita aos limites materiais da cidade, mas aos
espaos imateriais das subjetividades, passa a se tornar objeto do discurso miditico ao exercer o
controle do que deve ou no se tornar visvel, fazendo da relao espacial interior-exterior um
dispositivo ainda extremamente eficaz de controle social. O legtimo passa ento a habitar o que
est dentro do espao visvel das mdias, enquanto as subjetividades ou prticas dissonantes
mantm-se fora desse olhar miditico, tornando-se unicamente visveis enquanto algo antagnico
ou ameaador ordem estabelecida, enquanto negatividade. E aqui, esse movimento de tornar
visvel pode ser tanto um movimento de territorializao, que finda no territrio, como de
desterritorializao, que se lana no devir por novos sentidos do espao.
O espao no est nas coisas, mas na relao que estabelecemos com as coisas. Os
mapas geogrficos no definem uma espacialidade seno aquela que imputamos atravs de uma
ordem seja esta poltica, etnogrfica ou topogrfica. Da mesma forma, a comunicao no pode
ser circunscrita a um nico mapa, porque no est sujeita a uma nica gramtica que lhe designe
o que . J que h vrias ordens, falemos, portanto, em vrios mapas.
III.2.2 A VISIBILIDADE E A INVISIBILIDADE.
A cincia manipula as coisas e renuncia a habit- las
166
. A cincia nos fala das
coisas pelo olho, pela perspectiva daquele que v sem precisar toc-las: o olhar do esprito.
Transforma o mundo em um amontoado de objetos passveis de cognio.
166
A cincia manipula as coisas e renuncia a habit-las. Estabelece modelos internos delas e, operando sobre esses
ndices ou variveis as transformaes permitidas por sua definio, s de longe em longe se confronta com o mundo
real. Ela , sempre foi, esse pensamento admiravelmente engenhoso, desenvolto, esse parti pris de tratar todo ser
154
O pensamento operatrio torna-se uma espcie de artificialismo absolut o, como vemos
na ideologia ciberntica, na qual as criaes humanas so derivadas de um processo
natural de informao, mas ele prprio concebido sobre o modelo das mquinas
humanas. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.14).
Do mesmo modo que os mitos criaram seus deuses, a cincia deve cultuar sua prpria fico.
Pensemos no computador Hal, de 2001: Uma Odissia no Espao de Stanley Kubrick, em que a
criatura sobrepe-se ao seu criador. A metfora da supremacia da mquina sobre o homem
tambm a da racionalidade sobre a emoo, da preciso da tcnica sobre a ambigidade humana.
Mas, o momento mgico dessa ruptura em que a criatura (o computador Hal) reivindica para si o
controle da situao (da nave) guarda um estranho paradoxo: tambm o momento em que o
computador humaniza-se. A definio de uma esfera de total autonomia do objeto tcnico
implicando no afastamento da condio de protagonista para a de autor, e sua insero definitiva
no mundo no mais como objeto, mas como sujeito. Momento em que a racionalidade tcnica s
pode obter o controle e garantir a tomada de deciso assumindo tambm suas implicaes
polticas e ticas, e lanando a sorte sobre as foras do acaso. O momento da aproximao do
conhecimento com o poder a prova de que tais conceitos guardam uma relao de vizinhana
muito prxima cuja garantia do encontro assegurada a cada movimento de objetificao do
mundo, de modo que uma crtica social no possa ser dissociada de uma crtica
epistemolgica
167
. Por outro lado, toda vez que forjamos um objeto, assegurando-lhe uma
existncia prpria e invertendo os pressupostos da metafsica, corremos o risco de imaginar a
criatura devorando seu criador.
como objeto em geral, isto , ao mesmo tempo como se ele nada fosse para ns e estivesse no entanto predestinado
aos nossos artifcios. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.13).
167
Cf. SFEZ, 1994, p.18.
155
Pensando ainda no filme de Kubrick, quando nossos ancestrais transformam um osso
em um instrumento de guerra e dominao, encontramo- nos novamente diante do momento em
que a posse de um conhecimento coincide com a posse de uma tcnica cujas implicaes polticas
no podem ser minimizadas. No h um antes nem um depois, mas a singularidade do
acontecimento. O paradoxal nesses acontecimentos que se a racionalidade tcnica devora o
mito da natureza, o mito da natureza que devora a racionalidade tcnica. As metforas que
encontramos nos filmes de fico cientfica, cujo paradigma o 2001 de Kubrick, ou o
Frankenstein de Mary Shelley, sempre acusam esse estranho paradoxo: a autonomia da mquina,
do objeto tcnico, depende largamente de sua insero no mundo vivido dos homens, do gradual
abandono de sua condio estritamente mecnica e funcional para integrar o mundo orgnico e
dos sentimentos humanos. O instante de ruptura, a possibilidade do acontecimento, concretiza-se
quando a racionalidade da mquina encontra-se com a irracionalidade dos traos humanos. O
fetiche s pode ocorrer quando separamos esses domnios, quando sobrepomos o campo
transcendental ao da imanncia, adotando, aparentemente, uma atitude irracional. Da a
incontornvel dificuldade de eliminar o fetiche e superar o mito, pois ambos esto encarnados na
inseparabilidade entre o racional e o irracional. da separao entre o olho e o corpo, entre o
vidente e o visvel, que as foras mticas libertam- se. Por isso, preciso reencontrar o corpo
operante e atual, aquele que no uma poro do espao, um feixe de funes, que um tranado
de viso e de movimento.
O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e visvel. Ele, que olha
todas as coisas, pode tambm se olhar, e reconhecer no que v ento o outro lado de
seu poder vidente. Ele se v vidente, ele se toca tocante, visvel e sensvel para si
mesmo. [...] Visvel e mvel, meu corpo conta-se entre as coisas, uma delas, est preso
no tecido do mundo, e sua coeso a de uma coisa. Mas, dado que v e se move, ele
mantm as coisas em crculo ao seu redor, elas so um anexo ou um prolongamento dele
mesmo, esto incrustradas em sua carne, fazem parte de sua definio plena, e o mundo
feito do estofo mesmo do corpo. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.17).
156
Ocorre que esse corpo, a que se refere o filsofo, justamente aquele que foi excludo da
percepo e cognio do mundo. Primeiro por um modelo epistemolgico que cinde o mundo em
conscincia e natureza, depois pelas mltiplas interfaces que os meios tcnicos interpem nos
processos de subjetivao que tornam o mundo acessvel ao conhecimento. Em ambos os casos,
a visibilidade de um mundo fraturado por uma matriz espacial aquilo que vai determinar as
condies do conhecimento. Como grau zero da orientao, o corpo irredutvel a um nico
sentido ou mesmo a uma somatria de sentidos. E o olho, desacoplado de um corpo vidente,
refora a metfora daquele esprito que se desencarna desse corpo uno e indivisvel promovendo-
lhe uma fratura epistemolgica.
A viso adquire esse poder misterioso de sobrepor-se aos demais sentidos e ao
prprio corpo no s pelo controle que faz das distncias que, de fato, todos os sentidos
exercem , mas pela velocidade que imprime nesse percurso equalizando o mais o prximo e o
mais distante em uma profundidade que, de fato, no visvel. O mistrio da viso que ela no
se esgota no visvel que nos fornece, mas, sobretudo, na invisibilidade que sugere
168
.
preciso tomar ao p da letra o que nos ensina a viso: que por ela tocamos o sol, as
estrelas, estamos ao mesmo tempo em toda parte, to perto dos lugares distantes quanto
das coisas prximas, e que mesmo nosso poder de imaginarmo-nos alhures [...], de
visarmos livremente, onde quer que estejam, seres reais, esse poder recorre ainda
viso, reemprega meios que obtemos dela. Somente ela nos ensina que seres diferentes,
exteriores, alheios um a outro, existem no entanto absolutamente juntos, em
simultaneidade[...]. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.43).
O quale visual me d e o nico a me dar a presena daquilo que no sou eu, daquilo
que simples e plenamente . Ele o faz porque, como textura, a concreo de uma
universal visibilidade, de um nico Espao que separa e rene, que sustenta toda coeso
(inclusive a do passado e do futuro, j que ela no existiria se eles no fizessem parte do
mesmo Espao). [...] Isso quer dizer, finalmente, que o prprio do visvel ter um forro
168
O filme Blow-Up (1966), de Michelangelo Antonioni, expe esse invisvel que se revela nas ampliaes das
fotografias no s por sugerir um assassinato, mas por liberar foras inconscientes neste processo. Essas foras
tambm esto presente no filme Cach (2005) de Michael Haneke, quando o protagonista passa a receber fitas de
vdeo que registram que sua vida est sendo observada. Em ambos casos, o controle das distncias que os meios
tcnicos exercem parece resgatar a profundidade perdida na suposta objetividade do aparelho tcnico.
157
de invisvel em sentido estrito, que ele torna presente como uma certa ausncia.
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 43).
Aqui, a visibilidade define uma posio em um campo de possveis e o invisvel, no se situando
em nenhum campo transcendente que legitimaria a existncia das coisas visveis, seria apenas
aquilo que, incrustado no mundo, ainda no veio a ser porque dele ainda no foi feito presente
169
.
Por isso, o visvel est sempre a sugerir o invisvel. Da o seu fascnio!
Ver ter distncia. O que Merleau-Ponty (2004, p.20) alude viso ao falar da
pintura que, como acontecimento, torna visvel um mundo at ento invisvel, aventuramo-nos,
aqui, estender aos meios de comunicao que permitem-nos, rompendo a materialidade do
espao, trazer um mundo distncia. O mundo torna-se ento possvel apesar da distncia,
removendo todo o espao mensurvel entre ns e as coisas, quando, de fato, aprofunda o abismo
entre ns e o mundo ao colocar em seu lugar uma sucesso de imagens que, como duplos,
participam a sua presena. Mas por que tais meios escavam o fosso entre ns e o mundo
justamente ao torn- lo to visvel diante de ns? Porque no vemos com nossos olhos, mas a
partir dos olhos de um outro que v por ns. Porque nossos olhos esto descolados de nosso
corpo. Mais que isso, vemos um mundo que s se faz presente enquanto duplo encarnado em um
suporte tcnico cuja interface to assptica quanto o vidro: que tanto nos separa quanto nos
permite ver aquilo que est diante de ns. No podemos toc- lo apesar de sua constante presena.
Como conseqncia, temos que os meios de comunicao retalham o corpo. Acentuam a
dicotomia entre o vidente e o visvel, agora definitivamente separados por mltiplas interfaces.
169
Ver se torna, ento, um jogo de posies, oposies e equivalncias entre as figuras do ser e seu fundo invisvel.
Invisvel que no o oposto do visvel, mas seu encolhimento, seu estar em visveis outros que no se domina de
uma s vez. [...] Um invisvel, assim, que no nada que no esteja ao nosso alcance. , antes, a delimitao, j
presente em Fenomenologia da percepo, de que quase nada est inteiramente ao nosso alcance. Estamos sempre
situados, sempre em posio, nosso corpo, nossa carne, no pode abarcar mais do que seu campo de presena, no
pode ir muito alm nem muito aqum de seu presente. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.154).
158
Assepsia e mutilao do corpo que agora participa do mundo unicamente atravs do olho que
assiste ao controle das distncias promovido pelos meios tcnicos de comunicao.
Os meios de comunicao certamente trabalham com nossos sentidos, mas a
decupagem que fazem do mundo: em imagens e palavras, parece-nos relativamente arbitrria
quando retiradas da complexidade perceptiva que o corpo sintetiza porque tendem a concentrar
palavras e imagens de um mesmo continuum sensrio a que pertencem por direito em objetos
tcnicos de fato. Palavras e imagens tornam-se efetivamente um meio de comunicao quando,
aprisionadas na estabilidade de uma matriz epistemolgica, transformam um estmulo sensrio
em objeto tcnico passvel de cognio. Como objeto tcnico, a palavra torna-se escrita ou udio,
a imagem torna-se fotografia, fotograma ou pixel. A legenda pode ou no acompanh- las porque,
agora, esto desprendidas daquele continuum sensrio, corpreo, que as atualizava sem
necessariamente particularizar em cada gesto ou movimento a totalidade da durao que antes as
compreendia. Palavra e imagem tornam-se ento espacializadas no sentido de que passam a
adquirir uma inteligibilidade que as desfaz de um espao contnuo de intersubjetividade
(corprea) para ocupar um lugar (um espao) especfico em um sistema cognitivo que espacializa
estmulos sensrios em objetos tcnicos. Palavra e imagem tornam-se ento passveis de
reproduo e transmisso. So captadas distncia; codificadas, decodificadas, sobrecodificadas.
Como todos os outros objetos tcnicos, como as ferramentas, como os signos, o espelho
surgiu no circuito aberto do corpo vidente ao corpo visvel. Toda tcnica tcnica do
corpo. Ela figura e amplifica a estrutura metafsica de nossa carne. O espelho aparece
porque sou vidente-visvel, porque h uma reflexividade do sensvel, que ele traduz e
duplica. Por ele, meu exterior se completa, tudo o que tenho de mais secreto passa por
esse rosto, por esse ser plano e fechado que meu reflexo na gua j me fazia suspeitar.
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 22).
A comunicao entendida como meio tcnico um tornar visvel uma segunda
natureza, um tornar visvel aquilo que na natureza aparece como dado e que agora apresenta-se
como espelho. Nesse esforo por tornar visvel aquilo que de alguma forma j era visvel na
159
natureza, os meios tcnicos de comunicao agenciam novos espaos de subjetividade que
tendem a ser observados pela audincia como um fundo natural. Trata-se de uma observao de
segunda ordem, j que vemos aquilo pelos olhos de quem j observou. Contudo, no se trata de
afirmar que os meios tcnicos de comunicao promovam simulacros, j que a natureza a que
esses observadores de primeira ordem se referem tampouco aparece como algo de objetivo, mas
, ela mesma (a natureza), permeada de subjetividade. Assim, se os meios tcnicos promovem um
espao de subjetividade a partir de uma observao de segunda ordem, isso no significa que uma
observao de primeira ordem no seja, ela mesma, uma observao neutra ou absoluta, mas
tambm uma observao subjetiva. Desse modo, os meios tcnicos atuam como promotores de
espaos de subjetividade, como agenciadores ou mquinas de subjetividade, apesar de inmeras
vezes aparecerem como mquinas de objetividade. Por esse motivo, a questo epistemolgica
retorna e torna-se mais complexa ao percebermos que a visibilidade que os meios tcnicos de
comunicao nos oferecem no pode ser necessariamente tomada como enganosa ou alienante
nem sequer reduzi-las a um simulacro. Sempre podemos extrair de um meio tcnico como o da
comunicao uma potencial capacidade de redimensionar nossas subjetividades sem contudo
tornarmo-nos vtimas de seu poder de dominao, at porque jamais podemos estar
absolutamente seguros em qualquer tipo de cogito que nos livre da maldio de um gnio
maligno
170
.
McLuhan (1977, p.100) afirma que uma sociedade nmade no pode ter a
experincia do espao fechado. Para ele, a viso expressa uma certa racionalidade do homem
170
Hiptese que Descartes levanta para colocar em xeque a objetividade do conhecimento cientfico, epistmico.
Somente aps a prova da existncia de um Deus perfeito (logo, imutvel e no enganador...) que a regra da
evidncia e as outras verdades anteriormente descobertas podem ser colocadas como verdadeiras. Antes disso,
gozam apenas de uma certeza subjetiva, verdadeiras s quando penso nelas efetivamente. (DESCARTES, 1987,
p.50, nota 67).
160
moderno, j que um sentido que aproxima o homem da decodificao da escrita, enquanto as
percepes auditivas e tcteis estariam atreladas tanto ao homem nmade (analfabetizado e
sacro) quanto ao homem contemporneo da idade eletrnica, que vive o campo unificado da
simultaneidade eltrica
171
. Esse pensamento apropriado por Vilm Flusser
172
para quem uma
civilizao programada por imagens no lhe parece novidade; ao contrrio, diz ele, sempre foi
assim. Se o homem pr- moderno vivia num mundo de imagens que significavam o mundo,
hoje vivemos num mundo de imagens que tenta pressagiar as teorias em relao ao mundo. A
leitura geomtrica e processual do mundo teria sido substituda por uma viso imagtica, tcnico-
imaginria, inscrita em novos cdigos (ideogrficos) no mais discursivos, e que, portanto,
exigem uma nova abordagem epistemolgica para serem interpretados. Entretanto, para Merleau-
Ponty, a viso no pode ser confundida com o olho do esprito (aquele do pensamento operatrio
que a cincia promove), subordinada a uma leitura linear da escrita, porque ela tambm imprime
uma profundidade
173
ao espao que se alastra em uma durao que, por sua vez, comprime o
tempo, tornando possvel um mundo invisvel.
[...] a viso percorre uma multiplicidade, embora espacial e no linear como a da escrita.
Sem o tempo, porm, a simultaneidade do espao perceptivo se congelaria em um ponto.
Para que se olhe de um lado a outro numa s percepo preciso que o presente, antes
de ser um instante, seja uma espcie de regio com contornos vagos onde o futuro se
escoa em passado como que por todos os seus lados. (MERLEAU-PONTY, 2004,
p.158).
171
Baseando-se em estudos antropolgicos e a partir da leitura de mile Durkheim, McLuhan sugere que o espao
fechado est diretamente ligado viso e escrita, pois enquanto a vida sedentria no permitisse certa
especializao relativamente s tarefas humanas, no houve nenhuma especializao da vida sensria suscetvel de
provocar o aumento da intensidade visual. (MCLUHAN, 1977, p. 102).
172
Cf. MARCONDES FILHO, 2002, p.178.
173
[...] pois a profundidade a figura que vai mais longe em direo ao fundo do ser. Ela pulsa entre a visibilidade e
a invisibilidade, entre o lago que parece plano, vertical, que escorreria pela tela, e a sua margem oposta, longnqua,
que tambm se avista atravs dele. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.156).
161
Ora, o que os meios de comunicao nos do o agenciamento dessa visibilidade
pelo controle que exercem das distncias: aqui e l, perto e longe. Seu esforo sempre o de
antecipar a espacialidade de um mundo que s seria presente mediante sua proximidade,
garantindo- nos a ubiqidade do atual pelo virtual. Todavia, esse excesso de presena do visvel
retira a profundidade do espao que s pode ser restituda novamente pelo empenho permanente
de descobrir o que h de invisvel nos espaos lisos que as mdias constituem, realizando-lhes um
estriamento, imprimindo- lhes uma textura ou ainda, se for o caso, seguindo o caminho inverso.
A profundidade do espao sendo o prprio sentido que se esconde em sua durao; a tenso entre
o que visto e o que h por vir a ser.
Afinal, a profundidade aquilo que torna possvel o espao, embora no a vejamos
no espao. a profundidade que torna possvel os acontecimentos, situando nossa viso aqum e
alm dos objetos. Como dissemos anteriormente, os acontecimentos so talvez invisveis porque
habituamo-nos presena ostensiva de objetos visveis, mas tambm esses prprios objetos
tornam-se invisveis em sua ubiqidade j que perdemos sua noo de profundidade. Estranho
paradoxo que tambm o conceito confere palavra ao tornar invisvel a experincia do mundo,
ocupando- lhe de tal forma seu lugar que retira toda visibilidade do mundo deixando-o na
escurido. Paradoxos entre o instituinte e o institudo, os acontecimentos e o estado de coisas, a
diferena e a repetio. Pois o visvel no exclui o invisvel, assim como o territrio no esconde
um movimento de desterritorializao que est sempre por vir desde que se possa tom- lo em sua
profundidade, com suas linhas de fora que lhe imprimam um novo sentido. Assim, se a
televiso, por exemplo, cega-nos de tanto ver ao colocar ao nosso alcance um mundo sempre
visto, deixando-nos incapazes de efetivamente ver, preciso ento restitu- la em sua
162
profundidade, rasgando- lhe sua superfcie opaca, para que se faa do meio tcnico surgir a
possibilidade do acontecimento.
O espao no pode apenas ser determinado pelos seus limites, mas pela sua textura,
pela sua profundidade, pela sua cor
174
. O espao no apenas matriz epistemolgica porque cria
o conceito: rgido, duro, institudo, legitimado pelo transcendente e materializado em territrio;
mas tambm porque um conceito plstico, mvel, dado por um plano pr-lingstico. No
linha apenas, mas o espao cor. No a linha, com sua capacidade de medir, estabelecer planos
e volumes, dando forma a figuras, quem determina o espao, mas a cor: no aquela que preenche
os vazios da forma delineada pela linha, mas aquela que se constri no ato de criar, dando textura
ao real, habitando-o. Se os meios de comunicao podem nos fornecer um mundo de formas e
contedo, povoado por palavras e imagens desprovidas de colorao, tambm a cidade ou a
natureza pode surgir diante de ns em preto e branco. No h nada de essencial na cidade ou na
natureza capaz de nos despertar de nosso sono letrgico se no as habitarmos, se no as
tornarmos visveis em sua profundidade. A representao veloz e imagtica da realidade, com as
suas edies vertiginosas acentuadas pelas mltiplas temporalidades do zapping, mergulha-nos
em um abismo cognitivo tanto quanto o caos da vida urbana ou mesmo a tranqilidade de uma
praia deserta, se lhes retirarmos as subjetividades que lhes atravessam. Tanto a cidade e a
natureza podem ser um hipertexto desde que o espao seja hiperespao.
174
A respeito da busca de uma profundidade na pintura que no seja aquela proposta pela noo de perspectiva na
Renascena, aquela que no pode ser o intervalo sem mistrio que eu veria de um avio entre as rvores prximas e
as distantes, nem tampouco a escamoteao das coisas umas pelas outras que um desenho em perspectiva me
representa vivamente, Merleau-Ponty (2004, p.35-36) fala que o que constitui o enigma a ligao delas, o que
est entre elas. sua exterioridade conhecida em seu envoltrio, e sua dependncia mtua em sua autonomia. [...]
A profundidade assim compreendida antes a experincia da reversibilidade das dimenses, de uma localidade
global onde tudo ao mesmo tempo, cuja altura, largura e distncia so abstratas, de uma voluminosidade que
exprimimos numa palavra ao dizer que uma coisa est a. Quando Czanne busca a profundidade, essa deflagrao
do Ser que ele busca, e ela est em todos os modos do espao, assim como na forma. [..]. O problema se generaliza,
no mais apenas o da distncia e da linha e da forma, tambm o da cor.
163
Se Lewis Mumford qualificou as cidades de megamquinas, Guattari (1992) amplia
esse conceito estritamente tcnico incluindo tambm dimenses econmicas, ecolgicas e
abstratas e at as mquinas desejantes que povoam nossas pulses inconscientes. Assim,
[...] a consistncia de um edifcio no unicamente de ordem material, ela envolve
dimenses maqunicas e universos incorporais que lhe conferem sua autoconsitncia
subjetiva [...] a cidade, a rua, o prdio, a porta, o corredor [...] modelizam, cada um por
sua parte e em composies globais, focos de subjetivao. (GUATTARI, 1992, p.160-
161).
Guattari (1992, p.153-159) tambm lembra que no cinema, o corpo se encontra radicalmente
absor vido pelo espao flmico, no seio de uma relao quase hipntica, assim como,
quer tenhamos conscincia ou no, o espao construdo nos interpela de diferentes
pontos de vista: estilstico, histrico, funcional, afetivo. [...] Os edifcios e construes
de todos os tipos so mquinas enunciadoras. Elas produzem uma subjetivao parcial
que se aglomera com outros agenciamentos de subjetivao. [...] O alcance dos espaos
construdos vai ento bem alm de suas estruturas visveis e funcionais. So
essencialmente mquinas, mquinas de sentido, de sensao, mquinas abstratas
funcionando [...] mquinas portadoras de universos incorporais que no so, todavia,
Universais, mas que podem trabalhar tanto no sentido de um esmagamento
uniformizador quanto no de uma re-singularizao libertadora da subjetividade
individual e coletiva, [...],
por isso que se pode afirmar que h tantos espaos, ento, quantos forem os modos de
semiotizao e de subjetivao. Todavia, esse folheado sincrnico de espao heterogneos
que nos transpassam mais nos confunde que nos liberta quando vemos nossa subjetividade sendo
constantemente achatada por dispositivos de controle que se exercem sobre o corpo e, portanto
sobre nossa viso, nossas capacidades cognitivas , forando-nos a ver e a mover-se segundo
uma determinada ordem. Com efeito, nossa possibilidade de vir a ser, de transmutar e recuperar
as diferenas passa por um reeducar da viso, do andar, e do corpo, libertando-se do espectro de
um homem mdio que nos rodeia. No h sadas fceis; e as aberturas possveis, ainda que
provisrias, sempre tero que passar pelo resgate da profundidade perdida no excesso de
visibilidade que os meios tcnicos de comunicao promovem.
164
III.2.3 O CONTNUO E O CONTGO.
Quando Pierre Levy (1993, p.7-11) diz que no se pode conceber mais a pesquisa
cientfica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as antigas divises entre experincia e
teoria e que emerge, neste final do XX, um conhecimento por simulao que os
epistemologistas ainda no inventariaram, fica evidente que o espao virtual, simulado pelas
tecnologias da comunicao, no pode ser apenas tomado como objeto tcnico, mas como uma
tecnologia do conhecimento. Tecnologia que afeta relaes no s sociais, mas tambm com o
pensamento cujas fronteiras entre sujeito-objeto do conhecimento no podem ser mais
demarcadas nitidamente
175
. Seguindo seu raciocnio
176
, tanto o espao como o tempo no pode
ser considerado apenas como idia ou discurso, mas como decorrncia de agenciamentos tcnicos
que compreendem relgios, transportes, cartografia, etc., de modo que, hoje, j se possa conceber
o social, os seres vivos ou os processos cognitivos atravs de uma matriz de leitura informtica
e que a experincia possa ser estruturada pelo computador.
A espao-temporalidade como construo social, embora admitida por diversos
autores, no parece efetivamente assimilada ou entendida. Fala-se muitas vezes em ciberespao
sem uma devida discusso preliminar do que seja o espao, como se seu sentido fosse consensual.
O expediente mais utilizado nesses casos o de apenas contrapor dois significados de espao: o
175
Longe da concepo clssica de um sujeito da epistemologia, Levy desenvolve o conceito de ecologia cognitiva
como coletivo pensante homem-coisas, coletivo dinmico e povoado por singularidades atuantes e subjetividades
mutantes, pois acredita que coisas e tcnicas invadiram o inconsciente intelectual a tal ponto que no se distinguem
mais de um coletivo cosmopolita, misturando subjetividade e objetividade, de modo que no se possa mais pensar
sobre o objeto, mas abrir-se a possveis metamorfoses sob o efeito do objeto. No seno por este motivo que
Pierre Levy (1993, p.12-15) ir criticar Heidegger e Husserl, que ainda pensariam cincia e tcnica como objetos
separados da poltica e cultura.
176
Raciocnio que, aqui, acreditamos muito prximo das idias de McLuhan.
165
da modernidade, em que o tempo, entendido como processo histrico, trabalha o espao; e o da
contemporaneidade, em que o tempo aniquila o espao. Essa lgica pressupe que tempo e
espao relacionem-se como dimenses unvocas da realidade, em que o espao transforma-se a
partir de uma acelerao temporal. Todavia, tal lgica no se sustenta quando se parte do
pressuposto de que o espao j contenha uma dimenso virtual que lhe atribuda
permanentemente pela subjetividade. A subjetividade, nesses termos, , e sempre foi, um espao
virtual de trnsito do pensamento. A subjetividade , por direito, essa prpria continuidade do
pensamento que no carece de uma contigidade fsica para propagar-se. E o espao esse meio
fluido em que as dimenses virtuais e atuais operam.
Podemos pressupor que nosso discurso apenas encarna uma subjetividade que no
nos pertence por direito, mas de fato; e, portanto, nessas condies que atualizamos aquilo era
ento apenas pressgio, virtualidade: quando assumimos um personagem conceitual e damos voz
quilo que, de outro modo, permaneceria oculto
177
. O conceito d consistncia ao pensamento, a
palavra d voz a uma expresso, procur ando fixar um territrio que, contudo, sempre se localiza
aqum ou alm daquilo que me dado por outrem. Espacializamos o pensamento e
espacializamos o prprio espao ao transformarmos uma expresso territorializante em uma
funo territorrializada
178
. As tecnologias da comunicao mostram-nos isso quando, agora,
177
Freqentemente falamos desses pensamentos cartesianos que vagavam em Santo Agostinho, em Aristteles
mesmo, mas que ali s levavam uma vida morna e sem futuro, como se toda a significao de um pensamento, todo
esprito de uma verdade viesse de seu relevo, de seus contornos, de sua iluminao. Santo Agostinho caiu sobre o
Cogito, Descart es da Dioptrique sobre o ocasionalismo, Balzac encontrou uma vez o tom de Giraudoux mas no o
viram e Descartes resta a ser feito aps Santo Agostinho, Malebranche aps Descartes, Giraudoux aps Balzac. O
mais alto ponto de verdade no passa ento ainda de perspectiva e constatamos, ao lado da verdade de adequao que
seria a do algoritmo, se jamais o algoritmo pudesse se destacar da vida pensante que o contm, uma verdade por
transparncia, confronto e retomada, qual participamos no porque pensamos a mesma coisa, mas porque, cada um
nossa maneira, somos por ela concernidos e atingidos. (MERLEAU-PONTY, 1974, p.140).
178
Vide p.73.
166
fazem vir cena esse espao virtual que sempre esteve oculto. Evidente que, espacializado, o
espao virtual do ciberespao no mais o mesmo daquele que estava oculto, nem poderia s-lo.
O ciberespao j no flui livremente como o espao virtual de subjetividade porque apenas um
meio tcnico que possibilita a fruio de dados: palavras, sons, imagens, mensagens, igualmente
tcnicas. um espao vigiado e controlado que no mais balizado pela presena de outrem,
mas por um corpo agora tcnico que exige um novo olhar, uma outra epistemologia para
compreend- lo.
Certamente, muito se falou e ainda se fala sobre a suposta utopia libertria da
democratizao do acesso ao conhecimento via Internet fazendo ressonar os ecos de uma aldeia
global. Novamente, vemos ressurgir a antiga crena na razo transmutada na j no menos antiga
crena na tecnologia. Ambas partem do mesmo esfacelamento do mundo na dicotomia sujeito-
objeto. Ambas pensam que, aqui ou acol, o mundo possa ser dirigido por uma nica ordem
(mecnica ou funcional) que preencha todas as lacunas do possvel, contendo ou absorvendo
todas as formas dissonantes num sistema universal. No entanto, no h nada de
desterritorializante no ciberespao que no seja absorvido pelos instrumentos de controle como,
por exemplo, o rastreamento das informaes trocadas via Internet, seja para fins de policiamento
ou mercadolgicos, como a segmentao de mercado dada pelo perfil dos usurios ou pelo
comrcio de idias, produtos e servios sob a retrica da livre expresso e troca de informaes.
Fala-se mesmo em uma cultura livre que se prolifera atravs dos blogs, dos stios de
relacionamento (Orkut, MSN), de softwares livres (Linux), de enciclopdias on-line (Wikipdia),
de formas flexveis de licenciamento de artistas (Creative Commons), em que o conhecimento
seria digerido, assimilado e distribudo de forma antropofgica. Aberta (web 2.0) ou no, a
Internet funciona como uma vitrine virtual onde tudo exposto, tornado visvel. Mas o que fazer
167
com tanta visibilidade? Empresrios, jornalistas, cientistas, acadmicos : todos vivem sob o
regime da urgncia. Urgncia da produo e do consumo de informao. A informao tornou-se
uma mercadoria voltil e a necessidade de comunicao um imperativo categrico. Entretanto,
sabemos que o suposto territrio livre e desterritorializado do ciberespao encontra uma de
suas mais pesadas ncoras na necessidade do usurio depender sempre de uma maior capacidade
de processamento e de armazenagem de dados e, neste caso, no parece gratuito que a troca de
informaes e o desejo de se comunicar seja permanentemente estimulado sob a retrica
pragmtica de melhorar a qualidade de vida de todos mediante a acelerao/ reduo do tempo.
Mas, curiosamente, nunca sentimos tanta falta dele. H, obviamente, algo de muito sinistro neste
discurso.
Quando Felix Guattari (1992) diz que, hoje, os jovens com seus walkman so
desterritorializados
179
, talvez realmente o sejam, mas lembremo- nos: quando muito, de suas terras
natais, de sua base territorial poltico-administrativa, j que se reterritorializam em um novo
espao compartilhado com outros pares que se fundam no pertencimento a um novo grupo, a uma
nova identidade transnacional que, usualmente, no outra seno aquela que a incluso miditica
permite. Desterritorializados talvez provisria ou aparentemente das relaes de vizinhana
fsica, eles agora, com seus i-Pods, seus iPhones, mergulham em um novo capital simblico
que j foi chamado de alienao e que, agora, ganha um vetor desterritorializante, j que sabemos
179
O ser humano contemporneo fundamentalmente desterritorializado. [...] A subjetividade entrou no reino de
um nomadis mo generalizado, no entanto essa desterritorializao contempornea se revela como um falso
nomadismo, na medida que em nos deixa no mesmo lugar, no vazio de uma modernidade enxangue, para aceder s
verdadeiras errncias do desejo, s quais as desterritorializaes tcnico-cientficas, urbanas, estticas, maqunicas de
todas as formas nos incitam. De onde se conclui, que nem todo nomadismo se abre necessariamente diferena,
mas sempre possvel recorrer s linhas de fuga como forma de escape ao identitrio. (GUATTARI, 1992, p.169-
170).
168
que a conscientizao no passa de uma noo frgil e ingnua diante das incontrolveis pulses
que o desejo pode nos suscitar levando-nos quem sabe? a afirmao de alguma diferena.
A fragmentao e conseqente multiplicao dos espaos de subjetividade suscita a
constante dvida em saber no s at que ponto essa estrutura rizomtica de redes
comunicacionais est efetivamente liberta das amarras de uma centralidade ancorada em
aparelhos institucionais com seus dispositivos disciplinares, mas tambm, se essa invisibilidade
de um poder central mais nefasta do que aquela em sua tentativa de coibir as linhas de fuga e a
afirmao da diferena. A questo agora parece deslocar-se: no se trata mais de organizar as
foras na recusa pela hegemonia de um discurso central e manipulador, mas antes saber como
esse discurso compartilhado por um sistema de foras que tende a hegemonia.
O que propomos ento que no haja um espao mensurvel e outro passvel de
subjetivao. No h dois espaos, mas a objetividade e a subjetividade so formas de criar
espaos, de dar sentido ao espao. Se a objetividade da medida (contigidade) d dimenso aos
espaos atendo-se exclusivamente a sua materialidade, a subjetividade (continuidade) d sentido
aos espaos esboando um contorno, um limite que lhes assegure uma identidade possvel ainda
que transitria que no aquela de sua dimenso fsica. Mais do que isso, a subjetividade permite
criar um campo de pertencimento, dotado de textura e relevo, que no possibilita dele ter-se uma
melhor apreenso simplesmente situando-se em um ponto de perspectiva qualquer, j que, como
uma cor, sua forma no se dispe a uma leitura a partir de eixos cartesianos
180
, mas clama pela
profundidade. Conseqentemente, a objetividade e a subjetividade no so propriamente
180
[...] a projeo plana nem sempre excita nosso pensamento a reencontrar a forma verdadeira das coisas como
supunha Descartes; ao contrrio, passado um certo grau de deformao, a nosso ponto de vista que ela remete:
quanto s coisas, elas se evadem numa distncia que nenhum pensamento transpe. Algo no espao escapa a nossas
tentativas de sobrevo. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.29).
169
qualidades ou atributos do espao, mas a sua condio, j que o espao torna-se possvel
mediante a configurao atual de um quadro de foras virtuais que afirma uma ordem interna e
externa, ou seja: uma ordem interna que se consubstancia na consistncia dos objetos e uma
ordem externa que sua coexistncia com outros objetos. Significa dizer que o espao no possui
uma caracterstica que lhe seja intrnseca, essencial, mas processual. O espao resultando do
movimento do pensamento que vai do incerto ao certo, do ilimitado ao limitado, do nomadismo
ao territrio, do indiferenciado identidade, do invisvel ao visvel: o espao como imerso no
mistrio da visibilidade.
H entre pensamento e subjetividade uma relao processual na medida em que esta
atualiza aquele ao permanentemente referir-se a um estado de coisas em vias de consolidao.
Em vias de consolidao porque, uma vez consolidados, os objetos tornam-se objetivos,
desprendidos dos fluxos que, uma vez fixados, do-lhe existncia. Seguindo esse raciocnio
como, de resto, expressamos ao longo deste estudo , subjetividade e objetividade rigorosamente
no so opem, ma s so momentos de um mesmo movimento que vai do virtual ao atual, do
exterior ao interior, do sentido ao significado, do caos ao territrio. Movimento do qual tambm
no se pode excluir a comunicao como condio para que haja tanto subjetividade quanto
objetividade. Afinal se, como dissemos
181
, no territrio que os conceitos se fundam, as
proposies so formuladas, e a cincia opera suas funes lgicas, ento no se pode conceber
subjetividade sem pensamento. Do mesmo modo, no pode haver subjetividade sem
comunicao, j que aquela pressupe um ndice de indeterminao que s pode ser obtido
atravs da linguagem, de uma prtica social mediada pela palavra, pela escrita. Se, como afirmam
181
A partir da leitura de Mil Plats (DELEUZE; GUATTARI). Vide p.72.
170
Deleuze e Guattari
182
, um sujeito no passa de um tipo psicossocial que pertence histria,
enquanto os personagens conceituais so do devir, ento a subjetividade pressupe um devir
coletivo, um espao comum de acolhimento do pensamento que, embora virtual, sempre se refere
a um contexto social e histrico, a um estado de coisas atual.
Entendida como o prprio movimento de constituio de espaos de subjetividade e
objetividade, a comunicao manteve-se historicamente restrita aos domnios espaciais da
oralidade enquanto recurso de fruio dos mesmos, fazendo quase sempre corresponder um
determinado domnio fsico e material com a extenso da prpria virtualidade da oralidade. O
alcance do espao da oralidade coincidindo com a dimenso fsica do territrio. A visibilidade da
palavra falada definindo o espao comunicacional dos agentes que a enunciam e que a ouvem, e a
acatam. Um mundo definido espacialmente pela extenso e velocidade da oralidade um mundo
que se apresenta de forma no s contnua, mas, em boa medida, contgua. Pouco, ou mesmo
nada, interfere nesse espao comunicacional cuja continuidade corresponde uma contigidade
espacial em um movimento expansionista e homogneo de territorializao da palavra. Embora
no destitudo de rudos, este mundo no torna visvel aquilo que dito fora de seus domnios
fsicos e materiais, relegando s suas bordas a tenso entre espaos de subjetividade estrangeiros
a sua tradio.
Todavia, os meios de comunicao alteram significativamente esse quadro, tornando
visveis espaos de subjetividade deslocados agora de seu meio fsico, material. Criam-se ento
zonas de interface entre espaos de subjetividade distantes de seus espaos fsicos e materiais
desfazendo a antiga correspondncia entre continuidade e contigidade espacial. O surgimento da
182
Vide pginas 53-54.
171
imprensa, possibilitando a reprodutibilidade do texto, mais que espacializar a palavra,
territorializa-a em um meio tcnico que dispensa a presena de seu agente enunciador. A palavra
ganha ento um meio tcnico que a corporifica, retirando-lhe o rosto daquele que a diz e, assim,
provendo-a de uma autoridade por vezes quase annima, potencializa a noo de objetividade ao
transferir o agente enunciador da primeira para a terceira pessoa: abandona-se o eu em direo a
um ele(s) ou mesmo a um se que transfere a autoridade do discurso da visibilidade de um rosto
para a invisibilidade de um certo algum o qual possivelmente no conhecido (visto). Todavia,
a visibilidade aqui no se reduz, ao contrrio, amplifica-se e torna-se ainda mais eficiente na voz
de um dito desprovido de corpo fsico. Desprovida de rosto, a palavra dita territorializa-se na
palavra escrita tal qual como o conceito territorializa-se na palavra. Se o conceito torna possvel o
objeto, antecipando e anunciando o objeto por vir, espacializando o pensamento em um campo
possvel de coisas cognoscveis, a palavra escrita realiza por completo esse movimento que vai do
vago ao certo, do caos ordem, do instituinte ao institudo. A palavra escrita congela esse
instante de espacializao do pensamento que continuamente vaga entre a desterritorializao e a
territorializao, garantindo sua maior legibilidade e legitimidade possvel.
Apesar do projeto de uma lngua nica e universal no ter se concretizado, a
objetividade da palavra escrita o recurso mais visvel que dispomos para viabilizar a
comunicao. A palavra escrita realiza a maior ambio do pensamento que a de ordenar o
caos, dando-lhe forma e consistncia, mas tambm tornando possvel a visibilidade e o
conseqente compartilhamento de um movimento que simultaneamente direcional e
dimensional. Os contornos precisos da palavra escrita garantem- na uma espao-temporalidade
fixa ao remeter o plano ilimitado da imanncia ao absoluto de uma verdade transcendente. A
palavra sempre cumprira esse desgnio de promover no s um meio de comunicao entre os
172
seres como remeter sistematicamente esse campo de imanncia, da experincia do outro e do
diferente, para um eixo vertical, de ascese ao domnio sagrado da transcendncia; todavia, escrita,
a palavra supera as imperfeies de um corpo perecvel que a profere evitando o risco de
sucumbir com a sua morte, dribla os maneirismos dos sotaques que a particularizam e as
variveis das entonaes que a modulam para realizar a utopia de uma gramtica universal que se
pretende eterna mente instituda. No foi seno essa a tentativa bem sucedida, por sinal de
Plato ao dar s coisas uma invisibilidade, assegurando sua eternidade, tornando nico e
verdadeiro um espao que era antes de mltiplas subjetividades: transformando o visvel em
invisvel, os conceitos tornaram-se mais visveis que as prprias coisas.
O considervel aumento de visibilidade que a palavra escrita condensa linguagem
ainda amplificado pela reprodutibilidade do texto que a imprensa permite realizar, possibilitando
que um determinado espao de subjetividade ultrapasse suas determinaes espaciais locais e
alcance espaos de subjetividade distantes e diferentes daquele onde foi produzido, destituindo-os
de seus domnios territoriais que, por sua vez, mantinham-se muito provavelmente fechados a
subjetividades dissonantes. Forma-se ento um continuum espacial que, progressiva e
gradativamente, no mais se confunde com a contigidade espacial antes necessria para que
houvesse o domnio de um nico espao de subjetividade. Com as novas tecnologias da
comunicao e seu conseqente aumento na velocidade com que as informaes circulam,
observamos finalmente uma crise da matriz espacial consagrada na modernidade que estabelecia
uma similaridade entre continuidade e contigidade espacial na formao de um espao
homogneo. Noes como a de globalizao da economia e mundializao da cultura apenas
evidenciam e reforam a tese de que no seja mais possvel confundir continuidade e
contigidade espacial, o que significa dizer que o espao definitivamente no possui uma
173
dimenso nica, marcada pela sua materialidade e sua conseqente mensurabilidade, mas
tambm virtual. Com tantos espaos de subjetividade interpondo-se, interpenetrando e
formando uma emaranhada teia de subjetividade na contemporaneidade, improvvel a admisso
de um espao unidimensional, coerente e no contraditrio. Conseqentemente, mais do que
nunca, pensamos e agimos segundo mltiplos espaos de subjetividade e por isso somos to
incoerentes com nossos propsitos arcaicos e territorializantes de fixarmo-nos em uma s
subjetividade. Somos levados a uma desterritorializao constante que nos deixa angustiados ou
esquizofrnicos ao sermos transpassados por diferentes espaos de subjetividade que no nos
permitem mais permanecer idnticos.
A subjetividade do espao, contudo, no se confunde com um espao imaginado
utpico ou irreal j que pode ser compartilhado por agentes que proferem e vivenciam os
mesmos enunciados. Pensemos nos religiosos que part icipam da mesma experincia mstica, nos
torcedores de futebol que vivem o momento de um gol, nos amantes que dividem a mesma
paixo. Todos eles compartilham de um mesmo espao de subjetividade, podendo at fundar um
novo territrio: seita, torcida, casamento; cuja identidade lhes assegurada por uma organizao
espacial, por uma continuidade espacial. Esses espaos no so i rreais, fruto de um devaneio
pessoal, mas coletivos, permitindo a seus componentes viver a mesma subjetividade e
encontrarem-se na mesma continuidade espacial. O que difere esses espaos dos precisos
limites geogrficos de um territrio poltico-administrativo , quando muito, a contigidade, j
que, em ltima instncia, a nica contigidade absoluta possvel da terra, do solo, a da prpria
natureza ilimitada. Similarmente, o que define o ciberespao tampouco a contigidade espacial,
mas sua continuidade. a continuidade espacial que assegura ao mundo virtual da Internet sua
realidade. As comunidades virtuais tm em comum com as antigas relaes de vizinhana, com
174
as antigas relaes viscerais com o lugar, a noo de pertencimento que os une, todavia, como
no aderem mais ao solo como dantes, sua estabilidade est sempre ameaada pela fragilidade de
identidades virtuais que, incorpreas, podem se desfazer a qualquer instante. Diferenas portanto
que procedem de diferentes configuraes espaciais: da contigidade dos espaos materiais
continuidade dos espaos virtuais.
Ao lermos um livro podemos imaginar um espao, podemos criar um mundo prprio
a partir do qual nos isolamos do mundo real. Mas o que esse mundo do qual nos isolamos seno
o pressuposto da admisso do outro como legitimao de minha prpria existncia? No seno
a partir de um outro, que com a sua distncia assegura-me de minha prpria existncia, que eu
passo a existir e que passamos a considerar as coisas reais ? Afinal mesmo que consideremos o
cogito de Descartes como prova de nossa existncia
183
, preciso sempre afastar a possibilidade
de um gnio maligno para fundar qualquer tipo de solo comum a partir do qual possamos
alcanar a estabilidade do real. Da mesma forma, no quando encontramos algum com que
possamos compartilhar um mesmo sentimento, uma mesma experincia, que o que antes era
imaginado torna-se real? E no seria a partir desse continuum, desse espao de pertencimento
comum ainda que frgil e pleno de incertezas , que podemos conjeturar que a comunicao
torna possvel o acontecimento? Ainda que, evidentemente, nesse continuum que estabelecemos
com outrem jamais possamos assegurar qualquer certeza absoluta, ou mesmo um regime de
autenticidade, seno por uma ascese transcendente, dessa possibilidade de espao comum que
alimentamos nossa crena na comunicao.
183
Todavia, se considerarmos o cogito de Descartes como prova efetiva de nossa existncia, estaremos admitindo
apenas a existncia de um sujeito solipsista e no de uma subjetividade que pressupe uma dimenso coletiva, social.
175
III.3 COMUNICAO COMO ACONTECIMENTO.
Ao considerarmos o espao como matriz epistemolgica na comunicao cujos
meios tcnicos foram o foco de nossa anlise ao longo desta dissertao e o corpo como grau
zero de orientao no espao, uma ltima questo se coloca: pode a comunicao ocorrer sem a
presena dos corpos? E essa questo desdobra-se em outras: A comunicao pode ser entendida
tambm como mediao? Pode um meio tcnico, ao prescindir da presena dos corpos, promover
a comunicao?
Tais questes derradeiras estavam, com efeito, colocadas desde o incio
184
, quando
julgamos necessrio disponibilizar ao menos dois campos de anlise distintos, porm
articulados para entender a comunicao. A saber: a comunicao como acontecimento e como
meio tcnico. No entanto, nossa resposta j havia sido sugerida, tambm logo no princpio
185
,
quando apostamos na hiptese do espao como matriz epistemolgica na comunicao, j que
esta supe um espao comum de acolhimento como condio de sua possibilidade, mas que
todavia, ao forjar um meio tcnico de cognio do mundo, destituindo o corpo de uma certa
primazia que realiza na percepo do mesmo, os meios de comunicao estariam
sistematicamente relegando invisibilidade inmeros acontecimentos. Portanto, podemos
concluir que o que ficaria de fora no processo comunicacional promovido pelos meios tcnicos
seria a possibilidade do acontecimento? Ou ainda, podemos nos perguntar: at que ponto o
controle das distncias que os meios tcnicos realizam pode inibir o acontecimento na
comunicao?
184
Vide pginas 7-8.
185
Vide pginas 7-8.
176
Ora, a invisibilidade j habitava a linguagem muito antes que a comunicao tomasse
corpo como disciplina e, no entanto, as imbricaes da comunicao com a lingstica reduziram
as possibilidades de sentido da palavra e da fala ao instalar-se em um campo povoado de signos
que roubam da realidade as contingncias e a imprevisibilidade. O alojamento da comunicao
nesses espaos duros ocupados pelos signos elimina os hiatos que se formam nas entrelinhas da
fala, levando-a a contentar-se em atuar como meio ou mediao. Mas,
[...] muito mais que um meio, a linguagem algo como um ser, e por isso que
consegue to bem tornar algum presente para ns: a palavra de um amigo ao telefone
nos d ele prprio, como se estivesse inteiro nessa maneira de interpelar e de despedir-
se, de comear e terminar as frases, de caminhar pelas coisas no-ditas. O sentido o
movimento total da palavra, e por isso que nosso pensamento demora-se na linguagem.
Por isso tambm a transpe como o gesto ultrapassa os seus pontos de passagem. No
prprio momento em que a linguagem enche nossa mente at as bordas, sem deixar o
menor espao para um pensamento que no esteja preso em sua vibrao, e exatamente
na medida em que nos abandonamos a ela, a linguagem vai alm dos signos rumo ao
sentido deles. (MERLEAU-PONTY, 1991, p.43, grifo nosso).
A palavra de um amigo ao telefone nos d ele prprio. Isso nos intriga, mas talvez
nos ajude a buscar uma resposta. Ainda que o telefone seja um meio tcnico de comunicao que,
como tal, realiza o controle das distncias, ele possui a especificidade de nos dar a voz de algum
ao fim da linha. E esse algum est efetivamente l. No uma gravao. No uma simulao.
Mergulhamos de novo no regime de autenticidade, ao menos parcialmente, pois apesar de no
estarmos diante de uma imagem ou, no caso, o som que foi capturada por um meio tcnico e
que a torna passvel de reprodutibilidade
186
, tambm no estamos diante da evidncia de sua
presena fsica. Conseqentemente, persiste a pergunta: o espao comum que se cria entre ns e
nossos interlocutores ainda que mediados por um meio tcnico como, no caso, o telefone ,
ou pode vir a ser, um espao de acolhimento que nos devolve a presena dos corpos? Ou ainda:
186
Lembremos que consideramos a possibilidade de reprodutibilidade da imagem (ou do som, assim como da
escrita) como sendo uma das especificidades da questo da tcnica.
177
quando estamos diante de uma tela de televiso ou no cinema, criamos ou podemos vir a criar
um espao de acolhimento, mesmo sabendo que no h ningum por trs daqueles sons e
imagens?
Regime de autenticidade. Ser esse regime necessrio para que haja o acontecimento?
Ou, podemos, conforme conjeturamos anteriormente
187
, falar em ndices de autenticidade, j que
por diversas vezes insinuamos que a autenticidade, assim como a evidncia de um cogito, , no
limite, uma construo desde que no tenhamos nenhum deus transcendente para fiar nossas
certezas, nem a convico de que a natureza no possua um grau de artificialismo a partir de sua
observao?
Se admitirmos ndices de autenticidade, teramos que falar sobre as especificidades de
cada meio tcnico de comunicao: separar o telefone da televiso, o rdio do cinema, discutir
todas as possibilidades de uso da Internet, do celular e dos i-Phones; o que no nossa inteno.
Portanto, quando muito, podemos argumentar que o que parece subtrado da comunicao,
quando sujeita aos seus meios tcnicos, a capacidade de dizer sobre o acontecimento j que esse
no se submete a uma ordem do discurso, mecnica das formas de poder, mas capacidade de
extrair de um evento sua singularidade e, talvez, de atender a um regime de autenticidade.
Todavia, se a singularidade, ou mesmo a autenticidade, a marca do acontecimento,
nada nos garante que este se encontre mais na comunicao interpessoal do que naquela mediada
pelos seus meios tcnicos, j que o poder ou a ordem do discurso no se aloja mais aqui do que
acol, mas ocorre sempre quando queremos fazer da linguagem um meio de expressar uma
certeza, uma vontade de verdade
188
. Se h acontecimento na comunicao, aonde este se d?
187
Tratamos especificamente desse assunto na pgina 131 e na nota 147 na mes ma pgina.
188
Cf. FOUCAULT, 2004b.
178
Onde podemos encontrar um regime ou um ndice de autenticidade que nos garanta a
possibilidade do acontecimento? Em que momentos podemos acreditar que houve efetivamente
comunicao? Talvez, se puxarmos pela memria, conseguiremos lembrar de alguns desses
momentos em que certos acontecimentos ocorreram e, com alguma ou muita certeza, estes nos
remetero a certos lugares: Um passeio no campo, aquela pedra no meio do rio com aquelas
montanhas ao redor, aquele dia chuvoso saindo do trabalho naquele bar no centro da cidade,
aquela festa inesquecvel na casa de um amigo, aquela noite memorvel no balco de um bar aps
assistir ao filme daquele diretor, aquela vertigem da pista ao som alucinante daquele clube,
aquele quarto de hotel, aquele encontro causal com algum annimo, ou conhecido. Cigarros,
caf, bebidas. Paredes, paisagens, barulho de obras, latidos de um co, silncios. Aquele cheiro
que s daquele lugar, aquele vento frio que soprava. Gestos, sorrisos, palavras, discusses, um
certo olhar, um certo silncio, um certo tocar. Se os acontecimentos existem, parece que estes
sempre nos remetem a algum lugar. como uma cena da qual aquilo que foi dito se perde e se
confunde com os diversos elementos que a compem. Podemos decup- la, mas jamais essa
somatria de fotogramas poder descrever ou recuperar aquilo que no passou de um instante,
em algum lugar. No h discurso. No h registro possvel dentro de um regime de autenticidade.
O que se pode fazer duvidar desse regime, duvidar da possibilidade de que a comunicao
possa a vir a ser um acontecimento.
A comunicao encontra no espao uma matriz que nos permite compreender seus
movimentos centrpetos e centrfugos, de estabilizao e de fuga, de alojar-se na interioridade de
um dentro e buscar a exterioridade de um fora. Aqui ou acol, o acontecimento da comunicao
pode tornar-se visvel pela apreenso de foras que mergulham em um mesmo fluxo, em um
mesmo vetor de intensidades que dirige as crenas e os desejos para a descoberta de sentidos.
179
Inversamente, a invisibilidade ocorre quando se busca suprimir essas linhas de fuga,
negligenciando-as ou reapropriando-as em novos cdigos que findam por diluir sua potncia
como acontecimento. Neste caso, o que se torna visvel representao da crena e do desejo da
comunicao e no mais sua intensidade como acontecimento, no mais o seu sentido. Substitui-
se o instituinte do acontecimento pelo institudo dos processos de representao legitimados pela
autoridade do discurso.
Entendida dessa maneira, o que difere a comunicao de seus meios tcnicos o
modo como operam a visibilidade do acontecimento. Afinal ambas buscam na virtualidade de
um espao contnuo e imaterial suprir as distncias que tornariam insustentvel o processo
comunicacional. A diferena que o flash do acontecimento no pode ser capturado seno
representado pelos meios tcnicos que o traduzem enquanto um discurso tcnico decupado em
imagens, sons, textos; e, assim, ele perde sua virtualidade para assentar-se sobre a atualidade de
um estado de coisas j consolidado. Diversamente, o acontecimento tem a marca da singularidade
e da instantaneidade e, portanto, no se submete ao registro seno da memria
189
.
certo que falamos que o conceito um acontecimento
190
, mas apenas enquanto
instituinte de um campo de significao em que ento as coisas adquirem sentido, enquanto um
sendo em que a velocidade infinita do pensamento no pode ser mensurada porque durao. O
conceito diz o acontecimento ao tomar uma posio, ao definir uma espacialidade, ao tomar
consistncia. Todavia, ao abdicar de sua tenso interna, de suas relaes de vizinhana com os
demais conceitos que lhe do coeso interna, enfim, ao fechar-se e petrificar-se em idia, ou
189
Acreditamos, contudo, que nem a memria possa servir de registro, j que ela tambm organiza os
acontecimentos segundo uma lgica prpria.
190
Afirmamos isso por diversas vezes, principalmente na pgina 24.
180
representao, ele perde sua virtualidade para referir-se a um estado de coisas consolidado,
institudo, que nada mais diz sobre o acontecimento, mas apenas serve para estabelecer entre o
pensamento e o mundo uma relao funcional que visa igualar o desigual
191
, ou seja, eliminar
as diferenas. Ora, esses fluxos que se propagam nos movimentos contnuos de territorializao e
desterritorializao do pensamento, e que buscam o sentido das coisas, no podem ser fixados
sem uma perda considervel de sua energia. Como vimos anteriormente
192
, o movimento no
pode ser apreendido pela espacializao do tempo, pela iluso do mecanismo cinematogrfico e,
portanto, os meios tcnicos, por mais que se esforcem, jamais reproduzem a autenticidade dos
acontecimentos. Ainda que no haja efetivamente autenticidade na natureza, e que, como
supusemos
193
, nossa subjetividade no passe de uma construo social, apenas chegaremos
concluso de que toda observao seja esta de primeira ou segunda ordem
194
, no limite, uma
construo, o que, evidentemente, no nos assegura a possibilidade de objetividade em nenhum
nvel. Conseqentemente, o risco epistemolgico que os meios tcnicos de comunicao nos
trazem o de acreditar-se em sua capacidade de objetividade, de operar em um regime de
autenticidade, quando, no mximo, o que eles nos trazem um controle das distncias. O que
efetivamente no pouco j que a atualizao de um campo virtual onde as foras interagem
que o que define um objeto
195
est circunscrita a uma condio espao-temporal
196
.
191
Vide nota 12, na pgina 13.
192
Vide pgina 19 e nota 17 pgina 20.
193
Supusemos por diversas vezes tal assertiva, principalmente no captulo I.4.
194
Vide pginas 35 e 159.
195
O que, para a fsica quntica, parece definir o que seja a realidade de um objeto. Vide pginas 35-36.
196
Vide pginas 35-36.
181
A comunicao um tornar visvel tanto o acontecimento, com a construo de um
espao contnuo entre toda sorte de desejos, fluxos e intensidades que so instituintes do sentido,
quanto trazer o visvel do acontecimento com a construo igualmente de um espao contnuo, s
que, desta vez, ancorado na segurana dos discursos, dos conceitos, das palavras, das escrituras e
das imagens tcnicas que se manifestam enquanto institudos. Tudo depende do sistema de
referncia a partir do qual se observa, dos agenciamentos que se efetuam: ora compondo-se
molecularmente, ora organizando-se molarmente. Entendida assim, a comunicao no tanto
mediao pela linguagem , mas criao de um espao comum de acolhimento, de
pertencimento de subjetividade. muito mais uma busca por um encontro do que persuaso.
No tanto eloqncia, domnio da linguagem, mas desejo de pertencimento, de reconhecimento
por parte do outro de nossa existncia autntica. Conseqentemente, a comunicao oscila entre a
busca um regime de autenticidade que, no limite, apia-se no transcendente, e um regime
discursivo que se auto-afirma. Porm, se oscila, porque no se situa em nenhum lugar que no
aquele que ela mesma funda ao criar um espao prprio de passagem de fluxos que, para
vivenci-los, preciso habit-los.
O acontecimento da comunicao marca um lugar no corpo como no mundo, e, por
isso, para percorr-la preciso tambm habit-la. Selecionamos certas frases, assim como certos
hiatos e silncios, e colocamo- los no centro ou no topo, ou escondemo-los nas bordas ou nas
profundezas. A comunicao topolgica e fisiolgica, arranja-se como relevo e mexe com
nossas vsceras. Acolhe-nos no conforto de uma verdade e desaloja- nos no amargo da solido.
REFERNCIA
BIBLIOGRFICA
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
1
ARISTOTE. Physique. Texte tabli e traduit par Henri Carteron. Tome premier (I IV); Tome
second (V VIII). Paris: Socit ddition Les Belles Lettres, 1926; 1931.
AUG, Marc. No-lugares: introduo a uma antropologia da supermodernidade. Traduo:
Maria Lcia Pereira. Campinas, SP: Papirus, 1994. 111 p.
BACHELARD, Gaston. A Potica do espao (Coleo: Os Pensadores; v. XXXVIII). Traduo:
Antnio da Costa Leal e Ldia do Valle Santos Leal. So Paulo: Abril Cultural, 1974. 514 p.
BAUMAN, Zygmunt. Globalizao: as conseqncias humanas. Traduo: Marcus Penchel. Rio
de Janeiro: Zahar, 1999. 145p.
BENJAMIN, Walter. Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e histria da
cultura (Obras escolhidas; v.1). Traduo: Srgio Paulo Rouanet. 7 edio. So Paulo: Editora
Brasiliense, 1994. 253 p.
BERGSON, Henri. A evoluo criadora. Traduo: Adolfo Casais Monteiro. Rio de Janeiro:Ed.
Delta, 1964. 360 p.
BBLIA SAGRADA. 35 edio. So Paulo: Edies Paulinas, 1979. 1357p.
CERTEAU, Michel de. A inveno do cotidiano: artes de fazer (v.1). Traduo: Ephraim
Ferreira Alves. 8 edio. Petrpolis, RJ: Vozes, 2002. 351p.
CHAU, Marilena. Da realidade sem mistrios ao mistrio do mundo (Espinosa, Voltaire,
Merleau-Ponty). 2 edio. So Paulo: Brasiliense, 1981. 280 p.
DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. Traduo: Luiz B. L. Orlandi. So Paulo: Ed. 34, 1999. 144 p.
_______. Nietzsche e a filosofia. Traduo: Edmundo Fernandes Dias e Ruth Joffily Dias. Rio
de Janeiro: Editora Rio, 1976. 170 p.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Flix. O que a filosofia? Traduo: Bento Prado Jr. e Alberto
Alonso Muoz. 2 edio. Rio de Janeiro: Editora 34, 1997a. 288 p.
______. Mil plats capitalismo e esquizofrenia, v. 5. Traduo: Peter Pl Pelbart e Janice
Caiafa. So Paulo: Ed. 34, 1997b. 240 p.
1
Norma utilizada para a elaborao das referncias: ABNT.
______. Mil plats capitalismo e esquizofrenia, v. 4. Traduo: Suely Rolnik. So Paulo: Ed.
34, 1997c. 176 p.
______. Mil plats capitalismo e esquizofrenia, v. 1. Traduo: Aurlio Guerra Neto e Clia
Pinto Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. 96 p.
DERRIDA, Jacques (1986). Uma arquitetura onde o desejo possa morar: entrevista de
Jacques Derrida a Eva Meyer. In NESBITT, Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura:
antologia terica (1965-1995). Traduo: Vera Pereira. So Paulo: Cosac Naify, 2006. 659 p.
______. Khra. Traduo:Ncia Adan Bonatti. Campinas, SP: Papirus, 1995. 76 p.
DESCARTES, Ren. Discurso do Mtodo (Coleo: Os Pensadores). Traduo: J. Guinsburg e
Bento Prado Jnior. 4 edio. So Paulo: Nova Cultural, 1987. 155 p.
DUARTE, Fbio. Crise das matrizes espaciais: arquitetura, cidades, geopoltica, tecnocultura.
So Paulo: Perspectivas/ FAPESP, 2002. 275 p.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. Organizao e Traduo: Roberto Machado. 20
edio. Rio de Janeiro: Edies Graal, 2004a. 295 p.
______. A ordem do discurso. Traduo: Laura Fraga de Almeida Sampaio. 11 edio. So
Paulo: Edies Loyola, 2004b. 79 p.
______. Vigiar e Punir: nascimento da priso. Traduo: Raquel Ramalhete. 25 edio.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2002. 288 p.
______. As palavras e as coisas : uma arqueologia das cincias humanas. Traduo: Salma
Tannus Muchail. 2 ed. So Paulo: Martins Fontes Editora, 1981. 407 p.
FRAMPTON, Kenneth (1974). Uma leitura de Heidegger. In NESBITT, Kate (org.). Uma
nova agenda para a arquitetura: antologia terica (1965-1995). Traduo: Vera Pereira. So
Paulo: Cosac Naify, 2006. 659 p.
GOTTMAN, Jean. The significance of territory. Charlottesville: The University Press of
Virginia, 1973.
GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma esttico. Traduo:Ana Lcia de Oliveira
e Lcia Cludia Leo. So Paulo: Ed. 34, 1992. 208 p.
HARRIES, Karsten (1975). A funo tica da arquitetura. In NESBITT, Kate (org.). Uma
nova agenda para a arquitetura: antologia terica (1965-1995). Traduo: Vera Pereira. So
Paulo : Cosac Naify, 2006. 659 p.
HARVEY, David. A condio ps -moderna. 13 edio. So Paulo: Ed. Loyola, 2004. 349 p.
HEIDEGGER, Martin. Ensaios e Conferncias. Trad. Mrcia S Cavalcante Schuback.
Petrpolis, RJ: Editora Vozes, 2002. 269p.
______.Seminrios de Zollikon. Traduo: Gabriella Arnhold e Maria de Ftima de Almeida
Prado. Petrpolis, RJ: EDUC/ ABD/ Editora Vozes, 2001. 311p.
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W.. Dialtica do esclarecimento: fragmentos
filosficos. Traduo: Guido Antonio de Almeida: Jorge Zahar Ed., 1985.
LVY, Pierre. As tecnologias da inteligncia. Traduo: Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro:
Ed. 34, 1993. 208p.
MARCONDES FILHO, Ciro. O escavador de silncios: formas de construir e desconstruir
sentidos na comunicao. So Paulo: Paulus, 2004. 572 p.
______. O espelho e a mscara: o enigma da comunicao no caminho do meio. So Paulo:
Discurso Editorial; Iju: Editora Iju, 2002. 322 p.
_______. Razo durante. Disponvel em: http://www.eca.usp.br/ncleos/filicom/. Acesso em:
set. 2004.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicao como extenses do homem. Traduo:
Dcio Pignatari. 5 edio. So Paulo: Editora Cultrix, 1979. 407 p.
______. A galxia de Gutenberg: a formao do homem tipogrfico. Traduo: Lenidas
Gontijo de Carvalho e Ansio Teixeira. 2 edio. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977.
390 p.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o esprito. Traduo: Paulo Neves e Maria Ermantina
Galvo Gomes Pereira; Prefcio : Claudio Lefort; Posfcio: Alberto Tassinari. So Paulo: Cosac
Naify, 2004. 166 p.
______. A natureza. Curso no Collge de France. Traduo: lvaro Cabral. So Paulo: Martins
Fontes, 2000. 448p.
______. Signos. Traduo: Maria Ermantina Galvo Gomes Pereira. So Paulo: Martins Fontes,
1991. 392 p.
______. O visvel e o invisvel. Traduo: Jos Artur Gianotti e Armando Mora. 2 edio. So
Paulo: Perspectiva, 1984. 271 p.
______. O homem e a comunicao: a prosa do mundo. Traduo: Celina Luz. Rio de Janeiro:
Bloch Editores, 1974. 159 p.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras incompletas (Coleo: Os Pensadores). Traduo e
Notas: Rubens Rodrigues Torres Filho. 2 edio. So Paulo: Abril Cultural, 1978. 416p.
NORBERG-SCHULZ, Christian (1976). O fenmeno do lugar. In NESBITT, Kate (org.). Uma
nova agenda para a arquitetura: antologia terica (1965-1995). Traduo: Vera Pereira. So
Paulo: Cosac Naify, 2006. 659 p.
______ (1983). O pensamento de Heidegger sobre arquitetura. In NESBITT, Kate (org.).
Uma nova agenda para a arquitetura: antologia terica (1965-1995). Traduo: Vera Pereira.
So Paulo: Cosac Naify, 2006. 659 p.
PLATO. A Repblica. Traduo: Eduardo Menezes. So Paulo: Hemus, [197-?]. 301 p.
PELBART, Peter Pl. A vertigem por um fio: polticas da subjetividade contempornea. So
Paulo: Editora Iluminuras ; FAPESP, 2000. 222 p.
RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. So Paulo: Editora tica, 1993. 269p.
SERRES, Michel. O Incandescente. Traduo Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi
Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 308 p.
SFEZ, Lucien. Crtica da comunicao. So Paulo: Ed. Loyola, 1994. 389 p.
VALLAUX, Camille. El suelo y el estado. Madrid: Daniel Jorro Editor, 1914. 436p.
VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise (1968). Uma significao para os
estacionamentos dos supermercados A&P, ou Aprendendo com Las Vegas. In NESBITT,
Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia terica (1965-1995). Traduo:
Vera Pereira. So Paulo: Cosac Naify, 2006. 659 p.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
400p.
_______. As origens do pensamento grego. Traduo: sis Borges B. da Fonseca. 4 edio. So
Paulo: DIFEL, 1984. 95 p.
VIRILIO, Paul. A arte do motor. Traduo: Paulo Roberto Pires. So Paulo: Estao Liberdade,
1996. 134 p.
______. O espao crtico e as perspectivas do tempo real. Traduo: Paulo Roberto Pires. Rio
de Janeiro: Editora 34, 1993. 160 p.
You might also like
- Análise Textual Da História em Quadrinhos: Uma Abordagem Semiótica Da Obra de Luiz GêDocument154 pagesAnálise Textual Da História em Quadrinhos: Uma Abordagem Semiótica Da Obra de Luiz GêSelma Olli100% (1)
- Integração Texto/Imagem HQDocument13 pagesIntegração Texto/Imagem HQSelma OlliNo ratings yet
- Imaginario 09 PDFDocument153 pagesImaginario 09 PDFSelma OlliNo ratings yet
- HQ - Um Mais Uma Igual A Tres - SELMA OLIVEIRA PDFDocument11 pagesHQ - Um Mais Uma Igual A Tres - SELMA OLIVEIRA PDFSelma OlliNo ratings yet
- HQs Cinematograficas de Moebius - MARCIO PAIXAO JR PDFDocument12 pagesHQs Cinematograficas de Moebius - MARCIO PAIXAO JR PDFSelma OlliNo ratings yet
- MANGA NO BRASIL - Sonia B Luyten PDFDocument16 pagesMANGA NO BRASIL - Sonia B Luyten PDFSelma Olli100% (4)
- Sei Q Eu Sou Bonita e Gostosa - SELMA OLIVEIRA PDFDocument14 pagesSei Q Eu Sou Bonita e Gostosa - SELMA OLIVEIRA PDFSelma OlliNo ratings yet
- Moda e HQ - SENNA PDFDocument7 pagesModa e HQ - SENNA PDFSelma OlliNo ratings yet
- (E273FADB D9DB 4770 9968 2ED189E5B3A1) Historia e Comunicacao NOVA P4Document217 pages(E273FADB D9DB 4770 9968 2ED189E5B3A1) Historia e Comunicacao NOVA P4Sérgio SiscaroNo ratings yet
- Gestos FlusserDocument106 pagesGestos FlusserSelma OlliNo ratings yet
- Análise QuadrinhosDocument15 pagesAnálise QuadrinhosVan TinoNo ratings yet
- A transição dos quadrinhosDocument15 pagesA transição dos quadrinhosSelma OlliNo ratings yet
- 306 966 1 SMDocument3 pages306 966 1 SMTiago GomesNo ratings yet
- História em Quadrinhos Como Instrumento Educacional.Document17 pagesHistória em Quadrinhos Como Instrumento Educacional.Jéssica AlvesNo ratings yet
- Copyfight WebDocument274 pagesCopyfight WebCaio SalgadoNo ratings yet
- Do Contrato Social PDFDocument211 pagesDo Contrato Social PDFEdilson Cavalcanti FONo ratings yet
- A Letra - Comunicação e ExpressãoDocument0 pagesA Letra - Comunicação e ExpressãoCláudia AlvesNo ratings yet
- III Encontro de TipografiaDocument324 pagesIII Encontro de TipografiaSelma OlliNo ratings yet
- André Dartigues - O Que É A Fenomenologia (Mal Formatado)Document81 pagesAndré Dartigues - O Que É A Fenomenologia (Mal Formatado)poars1982No ratings yet
- Canto Da Sereia - Representaçoes Publicitarias e Sociabilidade FemininaDocument13 pagesCanto Da Sereia - Representaçoes Publicitarias e Sociabilidade FemininaSelma OlliNo ratings yet
- MachadodeAssis CorrespondenciaDocument62 pagesMachadodeAssis CorrespondenciaSelma OlliNo ratings yet
- Camp SontagDocument13 pagesCamp SontagSelma OlliNo ratings yet
- Mediatized personal stories: understanding media as practiceDocument14 pagesMediatized personal stories: understanding media as practiceSelma OlliNo ratings yet
- Imaginario e Sistemas Narrativos - Sobre Perder TempoDocument6 pagesImaginario e Sistemas Narrativos - Sobre Perder TempoSelma OlliNo ratings yet
- Etnografia e Pesquisa em Cibercultura Limites e Insuficiências MetodológicasDocument14 pagesEtnografia e Pesquisa em Cibercultura Limites e Insuficiências MetodológicasAlcir JuniorNo ratings yet
- Publicidade Audiovisual e Sociedade de ConsumoDocument15 pagesPublicidade Audiovisual e Sociedade de ConsumoSelma OlliNo ratings yet
- Carta JK Sobre Demissão Do Prof Lucas SolanoDocument2 pagesCarta JK Sobre Demissão Do Prof Lucas SolanoMetropoles100% (1)
- Retratos de Família - A Importância Das Fotografias No Registro SocioculturalDocument5 pagesRetratos de Família - A Importância Das Fotografias No Registro SocioculturalTalita MotaNo ratings yet
- Eletiva - Deuza e Rosangela1Document3 pagesEletiva - Deuza e Rosangela1Silvana Santos85% (13)
- A palavra é minha liberdadeDocument19 pagesA palavra é minha liberdadeMaria ChaianeNo ratings yet
- Yoga Crianças Benefícios Práticas IntegralDocument11 pagesYoga Crianças Benefícios Práticas IntegralMelissa Crepaldi100% (2)
- Psicose 4 48 Sarah KaneDocument55 pagesPsicose 4 48 Sarah KaneFernandaStonem100% (1)
- Hinos e salmos sobre amor, luz e uniãoDocument17 pagesHinos e salmos sobre amor, luz e uniãoAna Luísa Araujo100% (1)
- A Invisibilidade Da Desigualdade BrasileiraDocument3 pagesA Invisibilidade Da Desigualdade BrasileirameilukaNo ratings yet
- Frases Cómicas para RirDocument5 pagesFrases Cómicas para RirAnaG_masudaNo ratings yet
- Resenha Critica Etapas e ModeloDocument24 pagesResenha Critica Etapas e ModeloMarcos Vinicius Krause GermanoNo ratings yet
- Psicologia Fenomenológica-Existencial HumanistaDocument8 pagesPsicologia Fenomenológica-Existencial HumanistaRosemere MateusNo ratings yet
- Alvarenga & Palma (2013) Indicadores de Depressão Materna e Interação Mãe-Bebê Aos 18 MesesDocument9 pagesAlvarenga & Palma (2013) Indicadores de Depressão Materna e Interação Mãe-Bebê Aos 18 MesesQuele GomesNo ratings yet
- Apontamentos Sobre o Nascimento Da Sociologia - Ricardo MusseDocument7 pagesApontamentos Sobre o Nascimento Da Sociologia - Ricardo MusseLucas Fraga0% (1)
- Éticas Na Grécia AntigaDocument6 pagesÉticas Na Grécia AntigaramiromarquesNo ratings yet
- Copywriting 2Document16 pagesCopywriting 2Robervério CruzNo ratings yet
- Administração Geral QuestõesDocument13 pagesAdministração Geral QuestõesFábio Luís100% (1)
- InglesDocument26 pagesInglesAmanda CorreiaNo ratings yet
- Bernardo Guimarães - Elixir Do PajéDocument14 pagesBernardo Guimarães - Elixir Do PajéAnderson SantanaNo ratings yet
- Fidelização de Clientes A Partir Do Marketing de Relacionamento No Segmento de Farmacias e DrogariasDocument123 pagesFidelização de Clientes A Partir Do Marketing de Relacionamento No Segmento de Farmacias e DrogariasJohn SmorfNo ratings yet
- O conceito de Estado em Max WeberDocument27 pagesO conceito de Estado em Max WeberAldenor FerreiraNo ratings yet
- EFT Um Passo à frente: técnicas além da EFT tradicionalDocument17 pagesEFT Um Passo à frente: técnicas além da EFT tradicionalRogerio SalesNo ratings yet
- Original Relatorio EstagioDocument11 pagesOriginal Relatorio EstagioGlaydston Teodoro0% (1)
- Simbiose e AutonomiaDocument3 pagesSimbiose e AutonomiaSilvania Amaral100% (1)
- O declínio do homem públicoDocument37 pagesO declínio do homem públicoSinei SalesNo ratings yet
- Gestão Educacional PlanejamentoDocument4 pagesGestão Educacional PlanejamentoJanaina Andrea Pinheiro FariasNo ratings yet
- Sintese Livro Projetos Pedagogicos Na Educacao Infantil Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria Da Graca Souza HornDocument13 pagesSintese Livro Projetos Pedagogicos Na Educacao Infantil Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria Da Graca Souza HornJana Lenzi100% (4)
- Teorias Organizacionais e Concepções de TrabalhoDocument28 pagesTeorias Organizacionais e Concepções de TrabalhoPérola MathiasNo ratings yet
- Sobre Conflitos - Jiddu Krishnamurti PDFDocument144 pagesSobre Conflitos - Jiddu Krishnamurti PDFKalil Morais MartinsNo ratings yet
- Questões fundamentais da filosofiaDocument7 pagesQuestões fundamentais da filosofiaAna Magalhães100% (1)
- 26690f PDFDocument18 pages26690f PDFsheilar_16846886No ratings yet