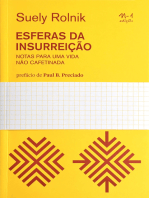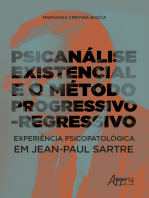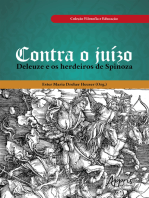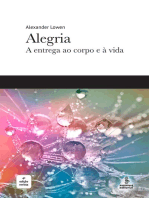Professional Documents
Culture Documents
A Árvore Do Conhecimento (MATURANA-VARELA)
Uploaded by
Murah AzevedoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
A Árvore Do Conhecimento (MATURANA-VARELA)
Uploaded by
Murah AzevedoCopyright:
Available Formats
d -rvore
- ,- - ~
do conhecimento
'lfumberto Maturana R., Eh. D. ,
:Francisco 'Varela ~ . ; ,Ph.D .
. ;.
.... dft8BIIl PRl
. " .'. ..!>
\
- 1
,
I
~
---1
"
_ _ _ ___ - . ____ J
- - - - - ~ - - - - - . : . ~ -
I
: Humberto MaturanaR" (Ph. ,D.)
Francisco Varela G" (Ph. D.)
A RVORE DO CONHECIMENTO
As bases biolgicas do
entendimento humano
Traduo
Jonas Pereita dos Santos
,Editorial . Psy II
1995
, ,.
Ttulo original
Der Baum der Erkenntnis
Die Biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens
Copyright 1987 by Scherz Verlag, Bem, Munique e Viena
Conselho editorial
Jos Carlos Vitor Gomes
Maria Aparecida Lovo
Traduo
Jonas Pereira dos Santos
Reviso tcnica
Jos Carlos Vitor Gomes
Diagramao
Micro Laser Comercial Ltda - ME
Coordenao editorial
Luclia Caravieri Temple
ISBN: 85.85.480-21-1
Direitos reservados para a lingua portuguesa:
WORKSHOPSY - Livraria, Editora e Promotora de Eventos
Fone: (0192) 31.9955
Caixa Postal 691
CEP: 13001-970
Campinas - So Paulo - Brasil
Proibida a reproduo total ou parcial por qualquer meio de impres-
so idntica, resumida ou modificada, em lngua portuguesa ou qual-
quer outro idioma.
Sumrio
PREFCIO: Ao p da rvore ...... ...................... .... .... .......... 9
CAPTULO I: Conhecendo o conhecer ... ...... .... .... .......... 59
CAPTULO II: A organizao dos seres vivos .................. 75
CAPTULO III: Histria: reproduo e hereditariedade ..... 95
CAPTULO IV: A vida dos metacelulares .......................... 111
CAPiTULO V: A deriva natural dos seres vivos................ 129
CAPTULO VI: Domnios de conduta .............. -.................. 153
CAPiTULO VII: Sistema nervoso e conhecimento ............. 171
CAPTULO VIII: Os fenmenos ........... ................. 205
CAPTULO IX: Domnios lingsticos e conscincia
humana................................................... 229
CAPTULO X: A rvore do conhecimento............. .......... 257
Glossrio.......................................................................... 267
Fontes das ilustraes...................................................... 271
ndice remissivo............................................................... 277
AO P DA RVORE
Prefcio
por
Rolf Behncke C.
"A guerra ... a guerra ... Sempre somos
contra a guerra, mas, depois de t-la
feito, no podemos viver sem ela. A
todo momento queremos voltar
guerra."
Che Guevara a Pablo Neruda em Con-
fesso que vivi.
"Os processos polticos no so seno
fenmenos biolgicos, mas qual pol-
tico sabe disso?"
Gregory Bateson, Passos para uma
ecologia da mente (*)
Steps to an ecology o/mind. (1972) , Nova Iorque. Bateson pode ser conside-
rado o "pai" da anlise das perturbaes mentais na perspectiva de siste-
ma, em que o sujeito "perturbado" apenas um componente de uma din-
mica de atividade social j estabilizada. Sua decidida presso para que se
encontrasse uma explicao para o fenmeno do conhecimento humano a
partir da perspectiva ciberntica faz dele um fundador no campo da ciber-
ntica de segunda ordem.
Primeiras folhas: a necessidade
de nos conhecermos
"Para levantar uma carga muito
pesada preciso conhecer seu centro.
Assim, para que os homens possam embelezar suas
almas, necessrio que conheam sua natureza.
Egonutica
1
As cincias sociais, em particular a economia, as cin-
cias polticas e as cincias da educao, esto fundadas numa
adequada compreenso da natureza do processo de aprendiza-
gem humana, a partir do qual se determina a diversidade das
condutas humanas? Caso no, poderiam elas vir a s-lo? Ou
seja, poderia o ser humano desenvolver uma teoria capaz de
dar conta dos processos que geram. sua prpria conduta, in-
cluda a conduta autodescritiva, isto , a conduta de descrio
de si mesmo ou autoconscincia?
Fragmento de um poema que escrevi quando estudante de engenharia,
cujo tema era o navegar por dentro da alma da engenharia do futuro. sen-
do eu um "egonauta" de minha profisso, transformada em conhecimento
da natureza humana. Alm disso, essa necessidade se tornou to forte
que, ao concluir o curso de engenharia. fui estudar biologia.
14 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
possvel explicar a grande dificuldade de poder atin-
gir um desenvolvimento social harmnico e estvel (aqui e em
qualquer parte do mundo) atravs do vazio de conhecimentos
do ser humano sobre a sua prpria natureza? Noutras pala-
vras, ser possvel que nossa grande eficcia para viver nos
mais diversos ambientes se veja eclipsada e por fim anulada
diante de nossa incapacidade para conviver com os outros?
Ser possvel que a humanidade, tendo conquistado todos os
ambientes da Terra (inclusive o espao extraterrestre), possa
estar chegando ao fim, enquanto nossa civilizao se v diante
do risco real de extino, s porque o ser humano ainda no
conseguiu conquistar a si mesmo, compreender sua natureza e
agir a partir desse entendimento?
Infelizmente, tudo parece indicar que j entramos na
etapa final desse caminho em que a incompreenso dos s e r ~ s
humanos entre si ameaa com a destruio sistemtica no s
a vida humana no planeta, mas principalmente a vida interior,
a confiana bsica recproca, que o suporte fundamerital do
viver social. Pouco a pouco, parece que estamos nos aproxi-
mando do momento em que o grande, poderoso e aparente-
mente indestrutvel navio que nossa modema civilizao coli-
dir contra a grande massa submersa de nosso formidvel
auto-engano, da estril racionalidade com que falseamos nossa
natureza (social) e que nos conduziu a essa titnica confronta-
o de foras em que todo entendimento, toda reflexo profun-
da, toda reviso da responsabilidade pessoal que cabe na gera-
o desse abismo parecem sistematicamente abolidos, j que
"a culpa de tudo sempre dos outros". Se, por assim abando-
nar o timo do nosso humano poder de reflexo que permite a
mudana de curso, sobrevier o momento do iminente naufr-
gio e do grito de "salve":se quem puder!", pessoalmente espero
no estar vivo para presenciar tal holocausto. Enquanto isso
no acontece, ainda h tempo, mas empreg-lo em qu? Volte-
mos atrs. Em que os economistas, os nossos polticos, os
educadores sociais, os meios de informao esto empregando
seu tempo?
Cruzamento de curvas de oferta e procura, urgncia de
liquidez a curto prazo, segurana interna, geopoltica, trans-
A roore do conhecimento 15
misso de conhecimentos e informao de acontecimentos (en-
tre outras coisas), mas onde est o essencial? O que se aventa
como soluo para conseguir uma harmonia social a longo
prazo? Que escola de economia ou de cincias polticas centra
seus estudos em tomo do processo fundamental da sociedade
- a aprendizagem? Porque o processo de aprendizagem, para
os seres sociais, tudo. No nascemos nem amando nem
odiando ningum em particular. Como ento aprendemos isso?
Como o ser humano capaz de odiar com tanta virulncia, a
ponto de destruir os outros, mesmo custa de sua prPz?a
destruio na tentativa? (ele comea a aprender isso j em sua
prpria famlia). Porventura sabemos como o nosso sistema
nervoso opera e que relao ele tem com o tremendo poder es-
pecificador de realidade que a imitao do comportamento?
Aqui est a chave. Para a compreenso desse processo deve-
riam convergir todas as foras e interesses das cincias so-
ciais. Mais ainda: dada a importncia do processo de aprendi-
zagem social na evoluo cultural de uma sociedade, essa ma-
tria deveria ser tema obrigatrio de debate acadmico na for-
mao curricular de todo profissional (cientistas polticos, edu-
cadores, Foras Armadas, homens de empresa, comunicadores
sociais etc.), considerando-se a imensa responsabilidade social
que eles tm na evoluo dos bem complexos sistemas sociais
modernos, o que faz com que a ciberntica (sistmica) aplicada
ao social seja um complemento bsico para tais funes.
Porventura nossos economistas (de qualquer ideologia)
sabem por que a psiquiatria, a psicologia, a sociologia fracas-
saram to redondamente (at agora) em fornecer uma explica-
o adequada a esse processo de aprendizagem como parte da
natureza sociobiolgica do ser humano? Por que eles no sa-
bem disso? H algum sequer, dentre as autoridades com
grande poder de deciso, seja qual for o governo, de qualquer
parte do mundo, que se interesse seriamente em saber disso?
E no entanto a resposta a tal pergunta vital para o nosso
prprio desenvolvimento, pois nos permitiria guiar com mais
acerto nossa evoluo cultural e humana, visto que ela nos fa-
ria compreender a natureza da formao de uma sociedade
como conjunto e nosso papel individual nela. Tal coisa im-
16
Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
portante, pois desse processo de interaes humanas que
surgem inevitavelmente as divergncias incompatveis: por que
surgem? como no so absorvidas de forma natural? por acaso
existe a possibilidade de recorrermos a algum mecanismo efeti-
vo para o entendimento social que nos permita afastar-nos do
pntano de areia movedia que a tentao do uso da fora
para ter razo?
No obstante, fala-se e exorta-se a que realizemos uma
quimrica unidade (em riome do qu?), que na maioria das ve-
zes s efetiva quando se trata no de realizar uma convivn-
cia comunitria de fato, mas de promover uma aliana ideol-
gica que tem por objetivo utilizar nossos impulsos altrustas e
de formao grupal para lanar-nos contra outros grupos hu-
manos unidos da mesma maneira, mas sob bandeiras diferen-
tes. Exatamente como se nosso planeta no tivesse outro des-
tino, que no o de ser um gigantesco estdio de futebol blico
em que o jogador inimigo se nos apresenta sempre como que
atentando contra os nossos mais sagrados valores, l longe, na
espessa noite de sua maldade preconcebida, sem que jamais
pensemos que talvez o processo de aprendizagem social seja
uma s trama apertada de relaes humanas, na qual nossos
prprios atos esto contribuindo constantemente para aumen-
tar a polarizao e a divergncia social, cavando com isso nos-
so prprio abismo, mesmo quando acreditamos lutar pela no-
bre causa da "verdade" que o outro, em sua cegueira intencio-
nal, no pode nem quer reconhec-la como tal.
Seja como for, fala-se de "unidade", mas no h preo-
cupao em saber qual o processo de aprendizagem social
que produz a feroz divergncia. Isso no mnimo uma estra-
nha contradio ou um crasso esquecimento. Em todo o caso,
a resposta pergunta anterior muito simples e est ao alcan-
ce da mo de todo aquele que aprofunde um pouco sobre o te-
ma. A razo pela qual no foi possvel (at h poucos anos) for-
necer uma descrio precisa de nossos processos de aprendi-
zagem que proporcionar uma descrio cientfica ou "objeti-
va", como tradicionalmente se pensa, de um fenmeno em que
o prprio pesquisador est envolvido, pretendendo no estar,
uma flagrante contradio conceituaI, e desta forma nos im-
A rvore do conhecimento 17
possibilita adquirir esse conhecimento como operar universal
da natureza humana.
o conhecimento no poder entrar com passo firme no
recinto das cincias sociais se pretender faz-lo sob a concep-
o de que o conhecer um conhecer "objetivamente" o mundo
e, portanto, independente daquele(s) que faz a descrio de tal
atividade. No possvel conhecer "objetivamente" fenmenos
(sociais) nos quais o prprio observador-pesquisador que des-
creve o fenmeno est envolvido. Foi justamente essa noo do
"conhecer" que bloqueou firmemente a passagem do conheci-
mento humano para a compreenso dos seus prprios fenme-
nos sociais, mentais e culturrus.
Por isso mesmo, temos assistido, nos ltimos cem
anos, proliferao de todo tipo de teorias sobre o comporta-
mento humano, que se baseiam, em ltima instncia, apenas
em pressuposies acerca dos processos operacionais que ge-
ram o comportamento humano (ou seja, nossos processos de
aprendizagem), dada a impossibilidade de responder, a partir
do enfoque tradicional das cincias naturais, s trs pergun-
tas-chave sobre o operar de nossa prpria natureza, que so:
1. Qual a organizao de todo ser vivo?
2. Qual a organizao do sistema nervoso?
3. Qual a organizao bsica de todo sistema social?
Ou, o que d no mesmo, quais so e como surgem as relaes
comportamentais que originam toda cultura?
Desse modo, afirmou-se que os comportamentos so
geneticamente determinados; que o ser humano instintiva-
mente agressivo; que os comportamentos so resultado das re-
laes sociais de produo; que os organismos vivos agem por
"instrues" ou "informao" provinda do meio ambiente, e que
eles aprendem a representar em seu sistema nervoso (mem-
ria); que o sistema nervoso, em seus processos de percepo,
opera captando, processando, acumulando e transmitindo in-
fonnao etc. O problema, para validar essas hipteses como
verdadeiras, que nenhuma dessas teses contou com uma
18 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
resposta adequada para resolver a dificuldade central do co-
nhecimento humano, que consiste em reconhecer sua nature-
za circular, em reconhecer o que eu chamo de fenmeno da
tautologia cognoscitiva.
2
Com essa terminologia refiro-me ao fato de que o uni-
verso de conhecimentos, de experincias, de percepes do ser
humano no passvel de explicao a partir de uma perspecti-
va independente desse mesmo universo. S podemos conhecer
o conhecimento humano (experincias, percepes) a partir
dele mesmo.
"Isso no um paradoxo; a expresso de nossa exis-
tncia em um domnio de conhecimento no qual o contedo do
conhecimento o prprio conhecimento. Para alm disso, no
possvel dizer nada."
Humberto Maturana Romecn dir essas palavras na
introduo sua obra capital, Biology of cognition. Por sua vez,
contudo, essas palavras impelem todo pesquisador social a se
conscientizar do que elas implicam; depois, tendo assumido
seriamente que esse o corao do problema do conhecer hu-
mano, j no poder se esquivar dele. Desse modo, o tranqilo
pesquisador que alegremente percorria seu caminho, confiante
na realidade "objetiva" das sementes de "verdades" que se ani-
nham em seu corao, ver-se- bruscamente interceptado
diante desse abismo aberto pelas inevitveis perguntas que
persistem (o problema da circularidade ou tautologia cognosci-
tiva) e que o obrigaro a construir uma nova e consistente
ponte de valor universal, se desejar chegar ao mundo humano
cruzando o espao conceituaI desse brutal desafio.
Como a conscincia humana pode descrever- (com vali-
dade universal) seu prprio operar? Como pode a conscincia
descrever a atividade subjacente conscincia, da qual surge
2 TautolOgia: uma afinnao que se valida a si mesma, como, por exemplo,
definir um homem "bom" como aquele que pratica atos "bondosos", defi-
nindo, por sua vez, atos bondosos como aqueles que so prprios de um
homem "bom". Tautologia, portanto, uma definio no espectilcada por
variveis independentes da prpria definio.
A rvore do col'lh.ecimnto 19
a capacidade do observador de fornecer descries efetivas s':
bre si mesmo, se no possvel tocar o mundo subjacente
conscincia, _a no ser com a mesma conscinc:;ia, com o que
. tal mundo; deixa imediatamente ,de subjazer . a, .ela? Se a isso
acrescermos a problemtica da linguagem, formularemos a
quesw.o da seguinte maneira: Como pode a conscincia dar
conta. de si mesma, em termos tais que essa explicao descri-
tiva tenha validade universal, se os . significados utilizados na
lingUagem sdo sempre gerados em uma cultura
Como podem ento as afirmaes sobre o operar, do qual sur-
ge a conscincia, ter valor universal, ou seja, valor transcultu-
ral, se j vimos que estamos impossibilitados de fazer u,so do
de conhecer como conhecer "objetivo", . inde-
pendentemente do observador, se queremos dar conta de nos-
sos prprios processos de percepo e conhecimento como se-
res observadores? Como pode a guia da inteligricia caar a si
mesma em seu reflexo?
Esse o problema da tautologia cognoscitiva por resol-
ver, se pretendemos responder a nossas trs perguntas-chave
sobre os seres vivos, o sistema nervoso e o surgimento da orga-
nizao social, que por sua vez conformam o fundamento pri-
mrio, para falar em termos precisos sobre os fenmenos de
comunicao, aprendizagem social e> evoluo cultural . .
A razo que nos obriga a enfrentar essa ' serpente que
se alimenta comendo a prpria cauda que estamos tentando
responder a essas perguntas a partir da perspectiva das cin-
cias naturais (diferentemente do mundo da f ou das crenas).
Logo, para dizer como opera um sistema (social, neste ,caso) a
partir dessa perspectiva, devemos conhecer tanto a .sua organi-
zao como a sua estrutura. Ou seja, devemos mostrar tanto as
relaes entre componentes que o definem como tal (organiza-
o) como os componentes com suas propriedades mais as rela-
es que o realizam como uma unidade particular (estrutura).
Aqui surgem ento nossos problemas de fundo: 1) Qual
a organizao constituinte prpria de qualquer sistema so-
cial? e 2) Como surge a propriedade de autodescrio, de auto-
observao, de autoconscincia, que caracteriza os componen-
20 Humberto Maturana. R./Francisco Varela G.
tes de um sistema social humano, se esta uma propriedade
deles enquanto componentes de um sistema social?
esta ltima pergunta que nos introduz certeiramente
no mundo de espelhos da tautolgica circularidade cognosciti-
va, posto que, para resolver tal problema a partir da perspecti-
va das cincias naturais, devemos mostrar a organizao e a
estrutura de um sistema social, tendo para isso aplicado, na
gerao de nossas explicaes, o critrio de validao das afrr-
maes cientificas. Neste caso particular, isso significa o formi-
dvel desafio de que podemos ser capazes de gerar um meca-
nismo explicativo (experiencial-operacional) que mostre como
possvel que tal atividade proposta gere por si mesma o fen-
meno do qual se quer dar conta, e, em nosso caso especfico, o
fenmeno da autodescrio ou autoconscincia.
3
.
Seria de esperar ento que, dada a limitao que a su-
posio a priori da objetividade introduz na compreenso do
fenmeno social, por impedir a visualizao da participao
geradora de mundo que cada ser humano (ou seja, cada ob-
servador) tem como componente na constituio de tal siste-
ma, os governantes, os educadores, os economistas, os jorna-
listas, os homens de armas e todos aqueles a quem a comuni-
dade delega responsabilidades sociais gerais, bem como todos
os membros da comunidade, estivessem atentos a qualquer
mudana conceitual que permita a compreenso fundamental
de tal participao geradora e sua responsabilidade nela.
Bem, no mau-comear por reconhecer que no justamen-
te isso o que ocorre. No entanto, foi em 1970 que um pesqui-
sador no mbito da neurobiologia (no fundo, ciberntica de
segunda ordem) teve a a\ldcia de aceitar que o fenmeno do
conhecer poderia ser explicado como fenmeno biolgico,
apoiando-se precisamente na participao do observador na
gerao do conhecido.
3 No terceiro volume desta mesma srie, veremos detalhadamente que o pr-
prio das afirmaes clentlftcas este processo de gerao de explicaes
baseadas numa atlvidade experiencial que deve gerar por si m e s m ~ o fen-
meno que est sendo observado. Ou seja, so explicaes gerativas do fe-
nmeno a ser explicado.
A rvore do conhecimento 21
Depois disso foram realizados, ao longo de toda a dca-
da passada (particularmente na Europa e nos Estados Uni-
dos), congressos voltados para a anlise das numerosas reper-
cusses que teria o fato de assumir seriamente a viso que
essa nova perspectiva revela para os fenmenos sociais. Em
todo caso, parece que tais avanos do intelecto humano che-
gam remando bem devagar a estas longinquas costas do Pacfi-
co Sul. Isso algo incrvel, j que o homem que justamente
"desbloqueia" o caminho par uma pesquisa rigorosamente
cientifica das cincias sociais, resolvendo o n grdio da circu-
laridade cognoscitiva, chileno, como chilena tambm boa
parte dos pesquisadores que ampliaram a extenso de tal vi-
so. Alm disso, esse grande cientista ensina na Universidade
do Chile desde 1960.
Como explicar essa ignorncia de mais de uma dcada
numa matria to vital para os pesquisadores sociais, huma-
nistas, educadores, meios de comunicao e autoridades em
geral? E vital sobretudo para ampliar os horizontes dos estu-
dantes tanto colegiais como universitrios e de instituies de
ensino superior, independentemente da pz:ofisso escolhida,
posto que se trata de conhecimentos altamente necessrios
para a sociedade (seja ela qual for), cujas principais caracters-
tcas so a transculturalidade, a transdisciplinaridade e por
isso mesmo a transideologicidade.
Eu no saberia dar uma resposta apropriada a esse de-
sinteresse em conhecer como opera a prpria natureza, mas
imagino que, se Nietzsche assistisse a essa indiferena genera-
lizada diante de um tema to crucial para nossa sobrevivncia
de seres sociais, sem dvida comentaria, com seu irnico e ha-
bitual sarcasmo: "humano, demasiado humano". Quanto a
isso, justamente no livro assim intitulado que podemos ler
sua opinio sobre os processos que originam as culturas ou,
em termos mais modernos, sobre os processos (relaes com-
portamentais humanas) que conformam a organizao dos sis-
temas sociais.
"A humanidade deve se propor metas universais que
abarquem todo o planeta ... Se a humanidade no h de se des-
22
Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
truir devido posse consciente de tais metas universais, deve
antes de tudo atingir um conhecimento sem precedentes a res-
peito das condies bsicas geradoras da cultura,. como um
guia cientfico para as metas universais. Nis$o radica o incrvel
desafio a ser enfrentado pelos grandes espritos do sculo vin-
douro."
Mas, atrasados ou no, s podemos contar com o pre-
sente, e o que realmente importa neste contexto ver se sacu-
dimos essa inrcia intelectual de operar (explcita ou implicita-
mente) com teses sobre a conduta humana e os processos de
aprendizagem subjacentes a toda cultura, queso de fato inefi-
cazes para nos explicar nossas crescentes divergncias, e ino-
perantes para produzir um encontro humano por meio do en-
tendimento do operar universal de nossos processos de apren-
dizagem comportamental (cultural).
O que a cincia abriu a todas as suas disciplinas, e em
particular s cincias da vida e s cincias sociais (Gom os pro-
cessos de decises sociopolticas que emanam destas ltimas),
foi no a "verdade"particular de uma nova ideologia (posto que
o mundo cientfico lida com confirmaes de validade experien-
cial universal no mbito humano), mas sim uma nova perspec-
tiva sobre a natureza humana, um novo cume a partir do qual
podemos visualizar coerentemente o prprio vale onde vive-
mos. Com isso se nos abriu um novo espao intelectual e espi-
ritual, tanto de debates como de renovao pessoal e social, no
qual deveremos levar at o limite do possvel toda discusso
acerca do tema, pois a criao de consenso sobre o operar de
nossos processos de aprendizagem social vista como a nica
alternativa vlida racional que nos resta para reduzir as tens-
es sociais e reverter o processo de desintegrao das socieda-
des modernas, levando estas ltimas, em contrapartida, a uma
construo social de colaborao mtua.
No dificil perceber isso, pois se s possvel discre-
par sobre uma base de consenso (do contrrio, s haver en-
frentamento de foras), estamos ad portas da possibilidade de
abrir debates em qualquer nvel sobre o operar de nossa natu-
reza universal, a fim de produzir um domnio de consenso que
A rvore do conhecimento 23
possibilite o entendimento entre nossas complexas sociedades
modernas to interdependentes umas das outras.
No se v acreditar que isso apenas outra roupagem
de nossa conhecida deusa Utopia, pois de fato contamos com
os dois poderosos recursos necessrios para obter tal consenso.
1. Nosso altrusmo biolgico natural e a necessidade
que temos como indivduos de fazer parte de grupos humanos
e de operar em consenso com eles, fenmenos esses que se do
em todos os seres cuja existncia transcorre num meio social.
2. O formidvel poder de transformao do prprio
mundo de que dispomos, graas nossa colossal faculdade
que a reflexo consciente. .
No primeiro caso, esse poderoso impulso biolgico fun-
damental .de cooperar com (e dar a vida por) nossos semelhan-
tes passa tradicionalmente despercebido em sua caracterstica
primria, i.e., de ser puramente uma fora biolgica comum a
todos os seres sociais, acreditando-se, ao contrrio, que ex-
presso de nossa "evoluo" cultural civilizada, de uma "con-
quista" de nossa racionalidade. Ao invs disso, este livro mos-
trar que os impulsos altrustas, presentes desde o comeo de
nossa vida de seres sociais (centenas de milhes de anos
atrs), so a condio biolgica de possibilidade do fenmeno
social: sem altrusmo no h fenmeno social. Triste consta-
tar que as condies atuais de nossas sociedades esto aten-
tando contra a plena realizao desse altrusmo biolgico na-
tural e suicidando nossa vida social ao se empregar contra ou-
tros seres humanos a fora de coeso social que brota de nos-
sos naturais impulsos e necessidades de comunicao e de
pertena a um meio comunitrio e cultural.
Infelizmente ainda no aprendemos a nos conduzir de
maneira a poder ampliar a escala de ao (para toda a huma-
nidade) desses magnficos impulsos co-naturais ao ser social,
e, embora os utilizemos em alianas que so foras de choque
contra outras alianas, em tal expresso de nossa natureza
social que radica a esperana de nos tomarmos verdadeira-
mente humanos, com toda a carga tica que essa expresso
24 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
implica. Atenhamo-nos, pois, tanto quanto possvel, busque-
mos o realizvel no presente humano para um presente ainda
mais humano, no para utopias irrealizveis, baseadas na ne-
gao de grupos culturais entre si, porque cada um se_cr de-
tentor da verdade. SubmeIjamo-nos no entendimento biolgico
do ser humano em sua convivncia, j que a que existem e
ocorrem essas poderosas foras naturais de coeso social que
veremos como parte essencial do processo que conforma a pr-
pria origem de nossa conscincia.
O que precisamos ento no criar impulsos biolgicos
novos, nem tentar melhorar a inteligncia humana por meio da
engenharia gentica, nem esperar uma ajuda sobrenatural ou
extraterrestre que no chegar. A nica coisa que podemos e
devemos fazer libertar em toda a sua extenso esses impul-
sos biolgicos naturais que j possumos, prestando-lhes toda
a ajuda que pudermos, removendo, com nossa reflexo cons-
ciente, todos os ramos, muros e toneladas de rancores acumu-
lados como escombros que os sufocam e esmagam, j que, es-
tando como esto, acham-se orientados contra outros homens,
o que impede de libert-los na plena manifestao de sua ma-
ravilhosa dimenso natural, que nossa realizao existencial
de seres sociais e sociveis.
No que tange ao segundo poder, o poder da reflexo
consciente, provavelmente nossa milenar ignorncia sobre as
suas origens (como se gera, como surge a reflexo consciente
na natureza) que nos impede de us-lo de outra maneira que
no como arma defensiva dos prprios interesses, impossibili-
tando-nos assim de lanar mo da tremenda potncia do poder
da reflexo numa decidida transformao no j do mundo (de
regularidades fisicas) que nos cerca, mas sim em ns mesmos
e em nossas relaes sociais. Se diante da diferena com o ou-
tro geralmente reagimos selando o valor, o significado de tal di-
ferena, com o estigma de uma divergncia cultural (ou pes-
soal) que revela uma incompatibilidade de fundo que no esta-
mos dispostos a rever, nunca atingiremos uma convivncia
criativa e sempre estaremos generalizando o rancor, que se
transforma num agressivo controle ou numa submisso hip-
crita. Por isso, e devido ao fato de que tal dinmica no tem
A rvore do conhecimento 25
sada em si mesma, mas a partir de um nov> plano de com-
preenso dessa situao, enquanto no se buscar tal plano
continuar ocorrendo o que hoje se v, por no saber o que fa-
~ e r nem como refletir para absorver tais contradies, afunda-
mos cada vez mais no pntano, defendendo nossas inflexveis
certezas, o que precisamente alimente a violncia social, num
destrutivo crculo vicioso.
Assim, a imperiosa necessidade de dar uma guinada,
de promover uma transformao interna "vivncia da huma-
nidade", s ter sentido realista se se comear pela reflexo
aplicada prpria transformao individual, pois todos ns
contribumos para que nosso mundo seja o que : um mundo
pelo qual cada dia mais dificil sentir admirao e respeito,
numa condio que, como bem sabemos, torna tudo ainda
mais dificil.
~ quando, em nosso ser social, chegarmos a duvidar
de nossa profundamente arraigada convico de que nossas
inabalveis e "eternas" certezas so verdades absolutas (verda-
des inobjetveis sobre as quais j no se reflete), a ento co-
mearemos a nos desvencilhar dos poderosssimos laos que a
armadilha da "verdade objetiva e real" tece. Desumana armadi-
lha esta, pois nos leva a negar outtos seres humanos como le-
gtimos possuidores de "verdades" to vlidas como as nossas.
S na. reflexo que busca o entendimento ns, seres humanos,
poderemos nos abrir mutuamente espaos de coexistncia nos
quais a agresso seja um acidente legtimo da convivncia e
no uma instituio justificada com uma falcia racional. S
ento a dvida sobre a certeza cognoscitiva ser salvadora,
pois levar a refletir para o entendimento da natureza de si
mesmo e dos semelhantes, ou seja, para a compreenso da
prpria humanidade, o que libertar por acrscimo os impul-
sos biolgicos de altrusmo e cooperao de sua asfixiante
clausura que a sua utilizao na unio com outros seres hu-
manos para a negao de outros seres humanos.
Se no agirmos desse modo, que implica nos aventu-
rarmos por novas sendas rumo ao entendimento mtuo, ba-
seado numa reflexiva criatividade social, s nos restar fazer o
26
Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
que continuamente estamos fazendo nas espontneas tendn-
cias do que j nos cotidiano, ou seja, na maioria dos casos,
continuarmos nos enterrando cada vez mais no pantanoso po-
ro de uma cega e surda guerra que provoca a guerra. Se o co-
nhecido atrai (e retm numa "fIxao" da verdade) justamente
por ser terreno "conhecido", sob o aval de poderosas e "sagra-
das" tradies, ao convert-las em verdades absolutas fazemos
de tais certezas as maiores barreiras na compreenso social
mtua, e, se queremos super-las, o caminho ento educar-
nos e educar nossos fIlhos na aventura do conhecimento que
nos espera mais frente como culminncia de um esforo bem
dirigido, do "conhecido por criar" num entendimento social que
ainda no existe. No devemos nos esquecer de que a criao
sempre uma nova etapa, mas construda com materiais "ve-
lhos". Criar o conhecimento, o entendimento que possibilita a
convivncia humana, o maior, mais urgente, mais grandioso
e mais diflcil desafIo com que se depara a humanidade atual-
mente.
Continuar nos enganando na considerao de que o
progresso da humanidade repousa na expanso (freqente-
mente sob coero) de nossos dogm8:s e crenas sobre a natu-
reza social humana no mais que uma trgica perda de tem-
po, pois de fato tais concepes se revelam incapazes de absor-
ver as crescentes contradies (e suas respectivas tenses so-
ciais) que surgem em virtude da nossa atual forma de convivn-
cia. Por isso mesmo que ns, seres humanos, estamos pre-
sos, escravizados e assustados com o presente que geramos,
numa condio humana que, ainda no podendo visualizar a
si mesma quanto aos seus processos constituintes, no sabe
como evitar as tenses autodestrutivas. Em contrapartida, se
nossa convivncia se desse com base na compreenso de tais
processos, fluiria de nossas relaes um entendimento que nos
tornaria senhores responsveis por nossas prprias foras.
A libertao do ser humano est no encontro profundo
de sua natureza consciente consigo mesma. Contientia ens so-
ciale (a conscincia em um ser social); no podeinos, por isso,
chegar a esse encontro pela via da guerra, em qualquer das
suas mltiplas dimenses. O caminho da liberdade a criao
A rvore do conhecimento
27
de circunstncias que libertem no ser social seus profundos
impulsos de solidariedade para com qualquer ser humano. Se
pudssemos recuperar para a sociedade humana a natural
confiana das crianas nos adultos, essa seria a maior con-
quista da inteligncia, operando no amor, jamais imaginada.
Pelo contrrio, a paz obtida pela negao do outro (nas
mltiplas formas com que essa negao se manifesta) nos des-
via desse caminho de entendimento mtuo. Por um lado, por-
que a incomunicao que tal rejeio e indiferena produz im-
pede a colaborao, reduzindo-se, portanto, a solidariedade so-
cialespontnea e a criatividade que esta traz consigo. Por ou-
tro lado, porque lutar por uma certa forma de estabilidade so-
cial, no caso em que esta conquistada pelo chamamento
negao de outros, que gera o dio mtuo, uma falcia em
sua prpria natureza e equivale, de fato, a caminhar com a
ajuda de uma bengala de ao na serena quietude de um barril
de plvora.
Brotos de inspirao
"Como diz So Joo: 'No princpio era o Verbo.'
Nada se no se distingue, se no h uma
ao, um verbo que (] tire do nada. II
H.M.R.4
Prossigamos ento com nosso tema original, que a
pergunta pelo requisito que nos possibilitaria elaborar uma
teoria cientifica dos processos de aprendizagem social. Vimos
que, para tanto, requer-se essencialmente contar com uma
teoria cientfica explicativa do processo operacional pelo qual
surge a prpria faculdade que o observador possui (comunida-
de de observadores) de fornecer descries sobre si mesmo, ou
seja, requer-se mostrar o surgimento do ser observador, do fe-
nmeno de observao consciente ou auto-observao; em
suma, o surgimento do ser autoconsciente.
Tradicionalmente, tende-se a considerar que o conhe-
cer autoconsciente a coroao evolutiva dos processos cog-
4 Em "Luco. o cientista". Homenagem aos clnqenta anos de atlvidade uni-
versitr1a do professor Joaquln Luco (neuroftsiologtsta. Universidade Cat-
lica).
30
Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
noscitivos (perceptivos) dos seres vivos, e que a conscincia
humana portanto conseqncia direta da complexidade bio-
lgica do nosso crebro, cuja funo processar e manipular
"informao" concernente ao mundo que nos rodeia. Noutras
palavras, que o surgimento da autoconscincia na linguagem
humana se d mediante a comunicao de "representaes" do
mundo que os organismos humanos adquirem por meio de
mecanismos (de cognies do prprio mundo) ao
longo da filogenia da espcie, e que a ontogenia individual
"adapta" (dentro do limite possvel) sua prpria sobrevivn-
cia.
5
Com ess&, perspectiva postula-se ento; a possibilidade
de conhecer "bjetlvamente" o fenmeno do prprio conhecer
humano, ou do surgimento da autodescrio consciente, como
processo baseado em interaes entre o mundo-objeto e o su-
jeito (observador) que conhece;" " '
. Como se chegou' a post{J,iai- esta ltima concepo do
conh'ecimentono contexto biolgico?
Essencialmente, da observao quanto s interaes
comportamentais dos seres vivos em seu ambiente e do fato de
se ver que tais interaes so to "teis" sobrevivncia do in-
divduo que aparecem como se este viesse -ao mundo j com
.conhecimentos "prvis" que o processo de seleo evolutiva
da espcie "armazenou" (por seleo diferencial) em sua sobre-
vivncia; _ Ou seja, que o conhecimen,to um processo de "ar-
II}azenamento" de "informao" sobre o mundo ambiente, e
que o processo de viver portanto um conhecer como "adapa-
tar-se"a este mundo adquirindo mais e. mais "informao" so-
bre sua natureza.
Por que se pensa que isso assim?
Consideremos um experimentador clssico no momen-
to de sua pesquisa. O que faz ele? Tem "diante de si um animal
(ou parte do animal) qualquer, digamos, um macaco, e pode
5 Essa essencialmente a concluso de biiogos cmo Komad Loi'enz e Ru-
pert Rledl, como se pode depreender da obra desses autores.
\
r
J
_ A roore do conhecimento 31
observ-lo sob trs tipos de condies diferentes: a) locomo-
vendo-se livremente em seu ambiente natural; b)- numa jaula;
e c) anestesiado e com eletrodos inseridos no crebro. Neste l-
timo caso, o observador examina a atividde do crebro verifi-
cando as variaes produzidas num osciloscpio, . contingentes
a mudanas ambientais que ele provoca e que considera como
objetosperceptivos para o animal. Pois bem, a situao em
qualquer dos trs casos essencialmente a meS1]la: um trin-
gulo formado pelo. experimentador-observador, no vrtice supe..,
rior, pelo organismo do macaco, num vrtice da base e, no ou-
tro, pelo ambiente circundante ao macaco.
Temos assim nosso exPerimentador, sentado como um
Deus que olha o mundo "de cim", vendo a conduta do nosso
. macquinho em relae s que o ambiente experi-
menta, em extrarr concluses "objetivs",ou:
seja, independentes de sua prpria interao com o animal e
esse ambiente. Tradicionalmente ssim que se trabalha,
mesmo quando se substitui o animal por um ser humano, j
que sempre se tem <? tringulo formado por: observador - or-
gnismo observado - ambiente, com o observador tratando
tanto o organismo como o ambiente como independentes de si
mesmo: Isso se deve seguinte suposio: para o observador
tradicional, evidente que a trajetria do sol operacional-
mente independente do comportamento do macaquinho e que
o comportamente ltimo dependente da posio do sol
(dos fenmenos de luz e sombras). A mesma cois.a lhe parece
vlida para -qualquer- fenmeno atmosfrico ou estimulo que
ele utilize no e que do orga-
nismo em estudo. Pelo contrrio, o comportamento do an!mal
lhe parece (ao observador tradicional) variar segundo os esti-
m.ulos ru;nbientais, -sendo-lhe evidente que, se o organismo no
se adaptar a tais mudanas, poder morrer.
O que o observador tradicional de tudo isso?
Primeira concluso: eXiste um_ ambiente cuja dinmica
operacionalmente independente do ser vivo eni estudo, din-
mica qual o observador tem acesso (conhecimento) inde-
pendente da dinmica de tal ser vivo.
32
Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Segunda concluso: a dinmica do ser vivo em estudo
depende das mudanas ambientais, e esse ser sobreviver se se
adaptar a tais mudanas, ou seja, se as "incorporar" em seu co-
nhecer (processos cognoscitivos) reagindo adequadamente a elas.
Somando ambas as concluses para o observador tra-
dicional: o conhecer um adquirir informao de um ambiente
cuja natureza operacionalmente independente do fenmeno
do conhecer, num processo cuja fmalidade permitir ao orga':'
nismo adaptar-se a ele (ao ambiente). Pois bem - diz o obser-
vador-pesquisador -, como eu sou um ser vivo, isso deve ser
vlido igualmente para mim, em razo do que meu processo de
conhecimento deve consistir em obter a maior "informao"
possvel sobre a natureza que me cerca, a qual de uma din-
mica operacional independente dos meus prprios processos
cognoscitivos e diante da qual meu conhecer me permite so-
breviver. Quanto mais informao eu adquirir sobre a consti-
tuio da "natureza em si", tapto maj,s objetiva ser minha vi-
so acerca dela e tanto mais verdadeiro meu conhecimento ob-
tido nesse contnuo tte--tte entre meus prprios mecanis-
mos cognoscitivqs e a dinmica de variao do mundo-objeto
ambiental.
Mas essa extrapolao, que to tentador subscrever,
justamente a armadilha.
Armadilha porque, embora se possa postular aexistn-
cia de tal natureza como cognoscvel em sua verdade ltima,
independentemente dos prprios processos orgnicos que ge-
ram nossas experincias perceptivas, no possvel demons-
trar nem sua existncia nem sua constituio com inde-
pendncia da experinCia perceptiva que o ato de observao
do presente, ato este que transcorre sempre e s tem existn-
cia no ser de um ser vivo que alm disso dve ser um ser auto-
consciente de tal experincia.
Nosso observador-pesquisador no poder ento, se se
tomar a si mesmo como objeto de estudo (seus prprios pro-
cessos cognoscitivos), dizer com tanta desenvoltura que ele
pode se colocar numa perspectiva tal que seus conhecimentos
sobre o ambiente sero independentes de suas prprias expe-
A TVOre do conhecimento 33
rincias perceptivas com as quais ele experimenta perceptiva-
mente tal ambiente.
Noutras palavras, se antes ele tinha acesso inde-
pendente, por um lado'ao ambiente do macaco, por outro di-
nmica de atividade do crebro do macaco (ou seu comporta-
mento) e como esta ltima variava segundo os .estmulos am-
bientais, agora, ao examinar seus prprios processos cognosci-
tivos, ele no tem como dizer: aqui est o ambiente "em si" ver-
sus: eis como varia minha atividade perceptiva diante de tais
mudanas ambientais. Ele no pode fazer isso porque no tem
como, em ltima instncia, diferenciar o que prprio do "am-
biente em si" da maneira como ele (seu ser-organismo) experi-
menta (percebe) tal ambiente.
Os seres humanos no tm, portanto, acesso ao seu
prprio campo cognoscitivo a partir "de fora" desse campo. Em
razo disso, no cabe aqui fornecer explicaes com um crit-
rio que permite assumir, explcita ' ou implicitamente, que
possvel "uma certa objetividade" (de sentido comum) para dis-
cernir entre ambiente "real" e percepes dele. Outra coisa
. muito diferente mudar a questo e se perguntar: Como sur-
gem., em nosso campo de experincias, enquanto seres orgni-
cos, as regularidades prprias dele, aquelas regularidades (ou
coerncias perceptivas) que chamamos de "ambiente", e "ns
mesmos"? Essa mudana de pergunta fundamental, pois de- '.
vemos ter em mente que, sempre que se observa ou se distin-
gue algo, est-se fazendo isso a partir da regularidade de uma
certa perspectiva adotada no presente de tal (ou tais) observa-
dor. Mesmo ao empregar a expresso (j o flzemos) "reao
adequada diante de um estmuw" (de um certo ser vivo em es-
tudo), descarta-se por completo que essa "adequao" a certas
condies estritamente uma apreciao a partir da perspecti-
va do observador (ou observadores) e no de algum ponto "ob-
jetivo" e independente a tal observador.
Apesar disso, para a maior parte dos pesquisadores,
esse problema no parece ter sido uma preocupao funda-
mental e evitou-se. uma confrontao direta com ele. Exceto
para alguns' pesquisadores, os quais, pela prpria natureza do
34 Humberto Maturana R. /FranciscoYarela G.
seu trabalho (epistemologia experimental), compreendiam que
com o procedimento anterior no possvel exallinar ofuncio-
namento do crebro (prprio ou dos outros) e dizer depois que
ele opera de uma certa maneira (com afirmaes que postulam
validade "objetiva" se antes o prprio observador
(comunidade de observadores) no precisar qual o.paPl!' que
seus prprios processos cognoscitivos jogam em tal observao
e nas asseres que nela faz.
Em virtude disso, tais pesquisadores tm objetado se-
riamente uma atitude, uma postura cognoscitiva que prete.nde
ser possvel manter, fora da observao que se realiza, o papel
desempenhado pelos prprios processos cognoscitivos 40- pes-
quisador-observador em seu presente. Para esses pesquisado-
res, o dilema agora era: onde, ao tomar o prprio pesquisador
o lugar do macaquinho no trin,gulo, poderia ele prprio se si-
tuar para poder ver as mudanas ambientais e suas prprias'
mudanas orgnico-experienciais como independentes ' <ie .si
mesmo? Porventura seria possvel fazer tal coisa?
Humberto Maturana dir ento (Neurophysiology of
cognition, 1969): "O' observador um sistema vivo, e o entendi-
mento do conhecimento como fenmeno biolgico deve. dar
conta do observador e do seu papel nele" (no sistema vivo). E
HelZ von Foerster (On cibemetics of cibemetics and social
theory): "Tanto o bilogo quanto o terico do crebro ou o pen-
sador social enfrentam um problema fundamental quando,
lens volens (querendo OU no), tm de descrever.um sistema do.
,qual eles mesmos 'so componentes. Se o pensador social ex-
clui a si mesmo da sociedade da qual ele quer fazer uma teo-
na, em circunstncias que, para descrev-la, deve ser um
membro seu, ele no produz uma teoria social adequada, por-
que essa teoria no o inclui. Se se tratar de um bilogo explo-
rando o funcionamento do crebro para dar conta dos fenme-
nos cognoscitivos, sua descno do operar cerebral ser neces'"
sariamente incompleta s.e no mostrar como surge nele, com
seu crebro, a capacidade de fazer essas descries."
Por outras palavras: Como possvel que eu mesmo
possa dar conta das regul.ri.dades e variaes perceptivas do
A rvore do conhecimento 35
meu prprio mundo, incluindo o surgimento de explicaes so-
bre elas, se no tenho como me situar "fora" de minhas pr-
prias percepes? Nesse caso, em vez do clssico tringulo o b ~
servador - organismo - ambiente, o que h um crculo com
o observador no centro, em que o observar s um modo de vi-
ver o mesmo campo experiencial que se deseja explicar. O ob-
servador, o ambiente e o organismo observado formam agora
um s e idntico processo operacional-experiencial-perceptivo
no ser do ser observador. Em tais condies, como podemos
falar "objetivamente" dos nossos processos de conhecimento?
Que critrio explicativo cabe aqui?
Esse problema, do ponto de vista da ciberntica, ou da
ciberntica de segunda ordem, equivale a se perguntar o se-
guinte: Como operam os sistemas observadores, de maneira tal
que podem observar como operam eles mesmos em seu obser-
var, se toda variao perceptiva neles (seu prprio conhecer)
funo das variaes perceptivas que eles mesmos experimen-
tam? Noutras palavras: Qual a organizao de um sistema
que est organizado de maneira tal que pode descrever os fun-
damentos que o capacitam a realizar seu prprio descrever?
Como pode ento um sistema conhecer sua dinmica cognos-
citiva, se sua dinmica cognoscitiva (que o que deseja conhe-
cer) simultaneamente seu prprio instrumento de conhecer?
Pode o homem se conhecer a partir do homem? - eis a pergun-
ta.
Como podem, portanto, os conceitos desenvolvidos no
campo de estudos da ciberntica de segunda ordem ajudar a
resolver esse problema da circularidade cognoscitiva? Dessa
tautolgica condio humana em que, por no ter um cho (ou
um cu) independente de ns, parece se deduzir que estamos
condenados a no conhecer nossa prpria natureza e a conti-
nu;rr sofrendo, como estamos fazendo, as conseqncias dessa
ignorncia.
Tradicionalmente o que a cincia faz com mais facilida-
de analisar decompondo, ou seja, pesquisando nas proprie-
dades particulares dos componentes do ser ou sistema em es-
tudo, e o faz em maior proporo do que o estudo das relaes
36 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
entre componentes que uma organizao de "algo" deve pos-
suir para existir como entidade, independentemente de quais
sejam as propriedades de tais componentes. O que as proprie-
d-ades dos componentes fazem s especificar o espao parti-
cular em que tal sistema existir, mas as propriedades dos
componentes no detenninam por si ss a organizao de um
sistema nem tampouco as propriedades do sistema como con-
junto.
"Ciberntica" vem tio grego kybemetik, que literalmen-
te significa "a arte de governar". Essa cincia foi definida origi-
nalmente por Norbert Wiener como "a cincia do controle e a
comunicao em sistemas complexos (computadores, seres vi-
vos)", ainda que sua verso modema (Pask, Von Foerster) se
refira a ela como o estudo das relaes (de-organizao) que os
componentes de um sistema devem ter para existir como uma
entidade autnoma; em resumo: Como possvel que um sis-
tema se autogoverne para: existir como tal em algum espao,
em alguma dimenso?
Foi justamente nesse contexto de pesquisa que se des-
cobriu o princpio do feedback ou de retroalimentao (que
auto-regula a atividade interna do prprio sistema); esta e ou-
tras descobertas -posteriores deram um grande impulso ao de-
senvolvimento das mquinas automticas e ao mcremento de
sua complexidade (computadores).
Mas a organizao dos mais complexos sistemas exis-
tentes at agora descobertos em nosso universo continuava ve-
dada para a ciberntica; ou seja, permanecamos sem poder
responder s perguntas:
1. Qual a organizao do ser vivo?
2. Qual a organizao do sistema nervoso?
3. Qual a organizao do sistema social?
E essa ausncia se reflete na incapacidade da cincia
para responder adequadamente s desordens estruturais e
funcionais dos sistemas sociais: distrbios mentais e psicolgi-
cos, econmicos, culturais etc., para citar apenas alguns dos
A rvore do conhecimento 37
flagelos de que o mundo padece desde que se foi aberta a caixa
de Pandora.
6
A resposta que se buscava mediante a aplicao do en:
foque ciberntico devia mostrar ento qul era, ao tomar as
molculas como componentes, a organizao do ser uivo, qul
era, ao substituir as molculas por neurnios, a organizao
do sistema nervoso, qul era, ao substituir os neurnios por
pessoas, a organizao de todo sistema social (ou relaoes
comportamentais geradoras das culturas).
Mas o que dificultava esse encontro com o conhecimen-
to de ns mesmos 'era o problema anteriormente examinado;
no a mesma coisa dizer qul a organizao de um sistema
observado "objetivamerlte" e, portanto, supostamente inde-
pendente de nossa prpria atividade de observao (por exem-
plo, o operar de um computador), e observar e descrever o ope-
rar de um sistema no qul a prpria atiuidade molecular, biol-
gica e social parte constituinte e geradora do fenmeno do co-
nhecer.
Ao estudo dos sistemas supostamente "independentes"
de nossa atividade cognoscitiva (de observao) deu-se o nome
de ciberntica de 'primeira ordem ou ciberntica dos sistemas
observados, posto que o observador se supe margem de tais
sistemas; ao estudo dos sistemas nos quais nossa prpria ati-
vidade descritiva parte constitutiva deles deu-se o nome de
ciberntica de segunda ordem ou ciberntica dos sistemas ob-
servadores . (Heinz von Foerster: Cibernetics of , cibernetics,
1974, Biologicl Computer Laboratory, University of Illinois) .
Por isso mesmo as respostas que se busavam deviam
obviamente provir da plicao dos princpios gerais da ciber-
6 A primeira mulher, segundo a mitologia grega, fabricada por Vulcano, por
ordem de Jpiter, e dotada de todas as graas e talentos, mas que era to
"encantadora" que trouxe aos mortais, como presente celestial, uma caixa
que continha todos os males, os quais, quando esta foi aberta, se dissemi-
naram por toda a Terril, restando em seu fundo apenas a esperana. Espe-
rana que. pelo que vemos, se relaciona com o conhecimento dos nossos
prprios processos naturais de percepo. conhecimento, _ comunicao e
aprendizagem, entre outros.
38 Hwnberto Maturana R./Frandsco Varela G.
ntica ao operar dos seres vivos e do sistema nervoso, ou seja,
deviam provir de um enriquecimento da biologia, em particular
da neurobiologia ou cincia que estuda o sistema nervoso.
por essa razo que as respostas ocorreram onde tinham de
ocorrer, e que na perspectiva dos anos transcorridos vemos
que tambm no podia ser de outra maneira: o campo da neu-
ro biologia, enriquecido com as noes cibernticas de segunda
ordem.
Foi desse mDdo que um neurobiologista
7
trabalhando
no Chile na dcada de 60, e ocasionalmente com os grupos de
pesquisa de ciberntica nos Estados Unidos, elaborou uma
tese global sobre a natureza (cognoscitiva) h}lmana, a partir de
uma nova perspectiva que mostra que o central para esse en-
tendimento a autonomia operacional do ser vivo iTldividual.
Em particular, ele explicou qual a dimenso de conhecimen-
to na qual surge e existe a autoconscincia (dinmica social
operando em linguagem) . Mas o mais importante que esse
trabalho se funda numa reflexo sobre o explicar cientfico,
que revela que as explicaes cientficas so proposies gera-
tivas (proposies que geram o fenmeno a explicar) no mbito
de experincias dos observadores, em virtude do que no re-
querem a suposio a priori de um mundo objetivo inde-
pendente do observador.
Encontrar essa resposta de modo algum foi simples.
Chama a ateno, contudo, uma caracterstica muito particu-
lar de sua gnese
8
, qual seja, ela no foi gerada como uma ar-
mao de um quebra-cabea, juntando-se os fragmentos para
produzir uma totalidade, e sim ao contrrio: ela surgiu de uma
sbita e repentina viso sobre a totalidade, da qual foi emer-
gindo o trabalho detalhado de cada uma de suas peas. Em
sntese, a histria a seguinte: desde 1960 Maturana traba-
7 Humberto Maturana Romecn; Neurophysiology ofcognitton (1969); Biology
of cognition (1970), Blologlcal Computer Laboratory, Universlty of Illinois.
Internacionalmente conhecido a partir dos seus clsslcos trabalhos com
Me. Cullogs, Lettvln e Pitts; "What the frog's eye tells the frog's brain
w
(1959 e outros artigos subseqentes).
8 Ver capitulo "Histria de uma teoria
w
, no terceiro volume desta srie.
A rvore do conhecimento 39
lhava em dois campos de pesquisa separados entre si, a per-
cepo e a organizao do ser uivo, ao mesmo tempo em que se
perguntava pela natureza e pelos limites da linguagem huma-
na enquanto operar descritivo de conhecimento, devido ao fato
de que seus trabalhos sobre percepo de cor em pombas esta-
vam fazendo com que ele pusesse seriamente em dvida a vali-
dade da suposta "objetividade" cognoscitiva que o mtodo cien-
tifico postulava como conquista essencial de suas afirmaes
explicativas.
Por volta de 1968 ele compreendeu que os fenmenos
associados percepo s podiam ser entendidos se se conce-
besse o operar do sistema nervoso como uma rede circular fe-
chada de correlaes internas, e simultaneamente compreen-
deu que a organizao do ser vivo se explicava a si mesma ao
ser vista como um operar circular fechado de produo de
componentes que produziam a prpria rede de relaqes de
componentes que os gerava (teoria que ele posteriormente cha-
mou de autopoiese). Em dezembro daquele ano, preparando
sua participao para um congresso (que se realizaria em mar-
o de 1969 em Chicago) sobre antropologia do conhecimento,
para o qual havia sido convidado por Heinz von Foerster (em
novembro de 1968) para falar sobre neurofisiologia do conheci-
mento, Maturana resolveu abordar a problemtica do c o n h e c i ~
mento no do ponto de vista do sistema nervoso, como lhe fora
pedido, mas da perspectiva do operar biolgico completo do ser
uivo. Essa foi, portanto, a magna inspirao da qual brota a
sua obra, conforme podemos ler em suas prprias palavras:
9
"Decidi considerar quais processos deveriam ocorrer no
organismo durante a cognio, entendendo assim a cognio
como um fenmeno biolgico. Ao fazer isso, percebi que minhas
duas atiuidades acadmicas, aparentemente contraditrias, no
o eram e que estavam de fato voltadas para o mesmo fenmeno:
o conhecimento e o operar do sistema uivo - seu sistema neroo-
9 Introduo ao livro Biol.ogy of cognftion (Humberto Maturana R, 1970),
reeditado por Riedl (1980) juntamente com Autopolesis: .the organization of
the Uvlng (Maturana & Varela, 1974), sob o titulo conjunto de AutopOlesis
and cognftion.
40 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
so includo quando estava presente - eram a mesma coisa.
Desse entendimento, o ensaio Biologia do conhecimento" sur-
giu como um desdobramento de minha apresentao naquele
simpsio."
Surge assim, neste ltimo liVro, como que um todo coe-
rente e unificado, uma nova viso sobre os seres vivos e sobre
a natureza cognoscitiva do Tal obra d conta ex-
plicitamente das seguintes dimenses: o conhecimento, a per-
cepo, a organizao tanto do sistema nervoso como de todo
ser vivo, a linguagem, a autoconscincia, a comunicao, a
aprendizagem, e contm reflexes finais sobre o caminho que
essa dimenso abre para a evoluo cultural da humanidade
como um sistema unitrio. -
Deste trabalho surgiria, nos anos seguintes, no s o
desdobramento de tais temas, como a formulao explcita de:
a organizao dos sistemas sociais, o operar da imeligncia hu-
mana, o surgimento do espao fisico nos seres humanos, uma
nova concepo de evoluo orglnica e, muito fundamental-
mente, a considerao precisa a respeito do espao ceJnceitual
que valida tais afirmaes sem reco"er noo de conhecimen-
to objetivo e como, por sua vez, tal critrio de validao radica
no prprio fundamento cognoscitivo (experiencial) universal
nossa natureza. Da extenso radial dessas dimenses concei-
tuais participam, em colaborao criativa com Humberto Ma-
turana, Francisco Varela (organizao dos seres vivos, evolu-
o orgnica), Glria Guiloff (inteligncia), Fernando Flores (co-
municao, linguagem), Rolf Behncke (comunicao, intelign-
cia, critrio de validao).
Em tal extenso, relevante a brilhan-
te obra de Francisco Varela, que, aps colaborar com Matura-
na tanto no livro em que se apresenta extensamente a teoria
da organizao dos seres vivos como, mais recentemente, na
reformulao da teoria da evoluo orgnica, desenvolveu de
maneira independente a formulao dos mate-
_ da ciberrttica de segunda ordem, aplicando depois
essa formulao fi organizao do e do siste-
ma imunolgico.
A rvore do conhecimento
41
De passagem, ele amplia o conceito de autonomia ope-
racional do ser vivo para o dos sistemas autnomos em geral
(conceito de clausura operacional))O
Em sntese, todo o trabalho assinalado forma em con-
junto uma trama terica unificada das cincias da vida e das
cincias sociais, com a qual se comea a colonizar um novo
continente que outra coisa no seno uma nova viso do
nosso velho mundo, numa perspectiva que obriga a um pro-
fundo repensar da natureza da condio social humana.
Como podemos agora ordenar essas diferentes dimen-
ses conceituais num grfico que, alm de nos mostrar o ne-
cessrio entrecruzamento de todas essas disciplinas cientfi-
cas, nos revele _ o carter transdisciplinar dessa perspectiva
com a qual podemos agora vislumbrar nossa prpria natureza?
Olhando em retrospectiva, vemos que dois dos grandes
impulsos que a biologia recebeu do sculo passado e que con-
triburam para transform-la na poderosa ferramenta cognos-
citiva da natureza humana que ela atualmente so: a con-
cepo da teoria da evoluo orgnica de Charles Darwin e a
fundao, poderamos dizer, da moderna qumica orgnica,
coma descoberta realizada por Federico A. Kekul (1829-1896)
da do carbono e da estrutura espacial molecular
do benzeno.
O prprio Kekul relata que durante muito tempo ten-
tou infrutiferamente organizar num grfico o modo como os
tomos de carbono podiam estar relacionados entre si para
formar a molcula bsica do benzeno, cuja organizao consti-
tutiva explicaria ento as suas propriedades. At que "certa
noite" - conta ele - "voltando de uma farra, me deitei para
dormir e sonhei que seis macacos se perseguiam atrelados
cada um na cauda do seguinte, formando assim um crculo fe-
10 De mquinas e seres vivos (Maturana, Varela), Editorial Universitria (Chi-
le), 1973; verso em Ingls dessa obra, op. cit (Rledl, 1980); Principies of
biological autonomy, 1979, Elsevler North Holland; "Evolutlon: natural dr1ft
through the conservatlon of adaptatlon" (Maturana, Varela), J . Soc. BioL
Struc., 1984.
42 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
chado. No dia seguinte, repentinamente relacionei que aquela
devia ser a resposta que eu procurava, e que cada tomo de
carbono devia estar disposto no vrtice de um hexgono f e c h a ~
do". Essa inspirao foi genial, porque mais tarde todos os da-
dos experimentais e tericos confirmaram a validade de tal hi-
ptese.
Trago baila esse relato porque se o hexgono de Ke-
kuli; se constituiu, como sabido, na base da qumica orgni-
ca moderna, foi justamente com a ajuda de um grfico hexago-
nal que eu pude finalmente ordenar e visualizar, num conjun-
to conceituaI funcional, a vasta srie de dimenses cientficas
originadas no trabalho de 1969-1970 de Humberto Maturana.
Essas teses e seu posterior desdobramento formam em con-
junto uma nova cosmoviso do universo humano e como tais
fazem a biologia dar um salto para um plano de importncia
que s tem paralelo histrico com o salto cosmolgico provoca-
do pela concepo de Darwin (e Wallace).
O que esse grfico hexagonal explicita (ver grfico
adiante, pgina 43) a inter-relao de todas as dimenses
conceituais que revelam nossa natureza cognoscitiva. Em pri-
meiro lugar, temos o eixo central, a porta que se abriu diante
de Maturana e pela qual ele adentrou esse universo, correla-
cionando, para tanto, a percepo e o conhecimento com o
operar do sistema nervoso e a organizao do ser vivo (organi-
zao autopoitica). Simultaileamente ele teve de explicar o fe-
nmeno da descrio e do surgimento da autoconscincia pr-
pria do observador que descreve (ou seja, do processo que d
lugar ao fenmeno da linguagem natural humana, sem a qual
no existe autoconscincia), bem como do critrio de validao
de tais afirmaes.
Este livro nos mostrar essa unidade operacional: per-
cepo, operar do sistema nervoso, organizao do ser vivo e
conhecimento autoconsciente conformam um todo conceituaI e
operacional indissolvel. Sejam quais forem nossas percepes
conscientes, ainda que as diferenciemos entre sensoriais ou
espirituais (dos sentidos, sensaes, emoes, pensamentos,
imagens, idias), elas no operam "sobre" o corpo: elas so o
A roore do conhecimento 43
e\Jo\uo cultural
reflexo tica
o SER do SER hUMANO
Cosmologia. do universo humano, revelada no espao conceitual do critrio
cientifico, o qual se encontra enraizado no prprio fundamento cognoscitivo
(experiencial) universal nossa natureza. O Homem est contido apenas em
sua prpria natureza, em seu modo humano de operar e de autodescrever seu
universo experiencial-perceptivo, portanto: em seu prprio Ser.
44 Humberto MaturanaR./Francisco Varela G.
corpo, so expresso da dinmica estrutural do sistema nervo-
so em seu presente, operando no espao das descries reflexi-
vas (dinmica social da linguagem). Toda percepo que traze-
mos conscincia, fazemo-la surgir por meio da descrio re-
flexiva sobre tal fenmeno (em estudo). Percepo e pensamen-
to so operacionalmente 0_ mesmo no sistema nervoso; por isso
no tem sentido falar de esprito versus matria, ou de idias
versus corpo: todas essas dimenses experienciais so o mes-
mo no sistema nervoso; noutras palavras, so operacionalmen-
te indiferenciveis. No mbito experiencial de uma comunidade
de observadores, a nica diferena entre "matria" e "esprito"
est na maior ou menor estabilidade ou constncia perceptiva
(regularidade) de umas ou outras experincias perceptivas; que
crente objetaria que seu Deus mais estvel ainda do que o
cho em que est pisando?
Projetando em seguida nossas novas reformulaes
conceituais para as disciplinas que as estudam, formamos dois
leques que, ao se abrir completamente, se superpem, gerando
com sua unio nossos plos cognoscitivos de referncia. Pri-
meiro, a biologia do conhecimento humano, que surge da con-
juno das reas da biologia como cincia natuql.l,e a cibern-
tica de segund ordem, que analisa o operar geral dos siste-
mas complexos capazes de projetar-se e descreve'r-se a si mes-
mos (sistemas observadores ou autoconscientes, em nosso
caso). Segundo, a evoluo cultural das sociedades humanas,
que se abre para a possibilidade sria da reflexo tica, como
se nos evidencia a partir do conhecimento do processo do qual
surgem; a autoconscincia (do operar em linguagem, ou seja,
em domnios consensuais) e a inteligncia humana (como fa-
culdade de absorver contradies gerando domnios consen-
suais, tema que estudaremos no segundo e no terceiro volu-
mes desta srie).
Mas o plo de referncia dessa ltima concluso refle-
xiva um conhecimento que por sua vez uma nova percepo
para olhar nosso mundo (e nossa realidade social) atravs
dela, pelo que afeta (devido natureza de toda percepo) si-
multaneamente nossa dinmica operacional "interna" (organis-
mo e sistema nervoso) e "externa" (nossos atos no meio social).
A rvore do conhecimento
45
Mas o caso que tal percepo (de reflexo tica) nos afetar
sempre de uma maneira convergente para o ser humano ' uni-
versal, que , em ltima instncia, nossa verdadeira condio,
j que a humanidade Constitui atualmente, como resultado da
ampliao das interaes humanas, um s sistema unitrio in-
tegrado, pelo que a responsabilidade primeira dos governantes
de ' todo o mundo deve ser compreender que a realizao de
toda vida individual depender sempre da organizao do sis-
tema social total a que se pertence (posto. u ~ se componente
dele), estejamos ou no conscientes desse fato.
Entendido isso, segue-se que, doravante (queiramos ou
no), Lar, Ptria, Humanidade passam a ser termos sinnimos,
visto que em ltima anlise significam a mesma coisa: o meio
formador de nOSsa prpria vida e da vida dos nossos filhos. O
fato de que at agora a vida cultural dos diferentes povOs da
Terra esteja' centrad.a na defesa das fronteiras de suas certezas
particulares no mais que um signo de que nossa humnida.:.
de ainda no se , encontrou consigo mesma nem assumimos
plenamente, ex toto corpus et toto corde (de todo. o corpo e de
todo o corao), o que significa ser humano. E ausncia des-
se encontro, dessa reflexo profunda sobre nossa condio hu-
mana, est nos custando muito caro e nos custar cada vez
mais caro, enquanto o eixo do nosso entendimento social girar
em torno da defesa de fronteiras culturais particulares, j que
continuaremos girando excentricamente ao que a natureza
ltima do ser humano: seu ser social, que seu ser em lingua-
gem, isto , em coordenao consensual (comunicao); numa
palavra, em cooperao mtua.
Apesar disso, se realmente qUlsessemos reverter eSse
processo e gerar um formidvel reencontro humano com sua
natureza profunda, poderamos faz-lo. O desafio nietzschiano
da necessidade de revelar as bases operacionais que cimentam
as culturas humanas foi cumprido, e isso confere um fUnda-
mento cientfico comum a todas as cincias sociais, o que pos-
sibilita iluminar o ser humano a partir do prprio ser humano
e, portanto, compreender' o humano com conceitos igu.alrriente
vlidos para toda a escala do sistema social, desde a vida pes-
soal individual at a Humanidade como um todo.
46
Hwnberto Maturana. R./Francisco Varela G.
Da economia s leis, da psiquiatria educao, as
cincias sociais humanas repousam agora sobre uma poderosa
base conceitual, desenvolvida graas ao estudo ciberntico dos
altamente complexos sistemas observadores ou autoconscien-
tes, ou seja, na explicao biolgica de nossa natureza cognos-
citiva. Descortina-se assim um imprevisvel espao de criativi-
dade social, baseado no "encaixe" interdisciplinar que essa
perspectiva transdisciplinar prov.
Alm disso, as evidncias cientifico-experimentais dos
mais diversos campos confirmam passo a passo o acerto do
enfoque proposto, o qual forma, em conjunto, um campo teri-
co unificado das cincias orgnicas (da vida) e das cincias so-
ciais. Isso levou o ento presidente da American Association
for the Advancement of Science (AAAS) , Kenneth Boulding, a .
dizer, depois que a AAAS publicou um livro sobre tais teses: "A
histria reconhecer essa mutao intelectual e as idias que
tais termos introduzidos simbolizam como a mais significativa
mutao da dcada, do ponto de vista do seu impacto a longo
prazo." li
1 i Palavras introdutrias ao livro Autopoiesis: a theory of living organizatton,
North Hollan. Sries em geral Systems Research, MUan Zeleny (ed.J, 1981.
Anteriormente a MAS editara o livro Autopoiesis, dissipative structures
and spontaneous social orders. MAS Selected Symposium, 1980, e dedica-
do aos trabalhos de Maturana e Varela (organizao dos seres vivos), Pri-
gogine (ordem atravs de flutuaes e estruturas dissipativs), F.A. Hayek
(ordens sociais espontneas).
Folhas finais:
Viragens para um reencontro
"Ah, quo pouco me agrada a rigida atitude do 1wrizonte/
essa dura retido de sua limitada conscincia.
O que eu verdadeiramente amo a gigantesca
curvatura do imenso mar flutuando suspensa
em seu sideral abrao, esse lquido azul
eternamente atrado por seu prprio ser"
Egonutica
No liVro que o leitor tem em mos, Humberto Maturana
e Francisco Varela realizam uma extraordinria e didtica vi-
so das principais dimenses conceituais que conformam nos-
so domnio cognoscitivo, cuja caracterstica particular que,
medida que avanamos em seu estudo, vemo-nos voltando im-
perceptivelmente para o reencontro com a nossa prpria ori-
gem, retornando assim ao ponto de partida, que a experin-
cia cognoscitiva do presente na linguagem como fenmeno so-
cial. Uma detida anlise das demais noes ir se completando
ao longo dos outros volumes que sero publicados neste Pro-
grama de Comunicao Transcltural da Qrganizao dos Es-
tados Americanos (OEA).
48 Humberto MaturanaR./Francisco Varla G.
Devido ao fato de que uma atenta leitura dos captulos
seguintes mais uma autntica experincia de encontro social
do que uma mera acumulao de conhecimentos, enfatizamos o
seguinte: cada unidade precedida por um "mapa" que relacio-
na o avano conceitual captulo por captulo, em razo do
quanto importante dominar bem os conceitos de cada um de-
les, antes de passar para o seguinte. Fazer isso de maneira sis-
temtica talvez retarde sua leitura, mas facilitar enormemente
a compreenso dos captulos finais, bem como a viso sobre a
totalidade, posto que as concluses vo se originando numa se-
qncia praticamente bvia de seus precedentes. Em contra-
partida, uma leitura rpida e superficial (leitura "executiva"),
feita com o intuito de captar o essenciJ. "de passagem", ter
como conseqncia quase inevitvel a impresso de que esta
obra (e o programa completo) uma mescla de cincia-fico,
quando na realidade ela no outra coisa que a janela que nos
descortina os horizontes cientficos do terceiro milnio. Particu-
larmente, a gigantesca curvatura dessa trajetria intelectual, a
exemplo de uma guia caa do seu reflexo, se volta sobre si
mesma, do mesmo modo como nosso mar flutua fechado no es-
pao sideral, eternamente atrado para si mesmo por sua pr-
pria natureza. Assim, este conjunto de dimenses conceituais
sobre nossa natureza forma um todo coerente que se auto-sus-
tenta cognoscitivamente a partir de um mesmo fundamento,
que a bem particular organizao de nossa natureza biolgica
universal, revelada atravs dos prprios processos cognosciti-
vos com que operamos em nossa experincia cotidiana. 12
Pois bem, embora tenhamos dito que este conjunto
como um todo conforma uma cosmologia sobre a natureza hu-
12 guisa de exemplo e sob o risco de provocar um "choque conceituaI" em
mais de um leitor, antecipo algumas afirmaes que surgem dessas desco-
bertas cientificas: "o sistema nervoso no gera o comportamento"; "a lin-
guagem no transmite informao alguma"; "o cdigo gentico (genes e
cromossomos) no especifica o crescimento do ser vivo"; "no existem inte-
. raes comunicativas 'instrutivas' ou 'informativas' entre seres vivos"; "o
sistema nervoso no obtm, nem processa, nem acumula, nem emite in-
formao alguma, nem 'controla' nada"; "a base geradora comportamental
que origina todo sistema social (cultural) e que Nietzsche pedia essen-
cialmente de carter no-racional".
A roore do conhecimento 49
mana, que alm disso conceituaI e operacionalmente auto-
sustentadora, no nos deve assustar nem angustiar a falta de
cho slido e "objetivo" como argumento central para revelar
nossa natureza, pois basta recordarmos que cosmologias auto-
validadas h muitas (todas as religies o so); com efeito, a na-
tureza mesma de toda cosmologia consiste no fato . de ela ser
autocontida em si mesma (pois demonstra o que postula me-
diante premissas tautolgicas). Nesse carter de autovalidao
de si mesma, esta cosmologia tambm o ; ela parte do reco-
nhecer a tautolgica noo que implica usar nosso instrumen-
to cognoscitivo (nossa organizao como um todo) para conhe-
cer o prprio instrumento cognoscitivo, ou seja, que no temos
uma varivel independente (de ns) para conhecer nosso pr-
prio processo cognoscitivo.
A p e s ~ disso, o aspecto extraordinariamente notvel
desta cosmologia o fundamento operacional em que ela se ba-
seia para demonstrar justamente que a condio ltima de nos-
sa natureza precisamente este "ser humano" que se faz (faze-
mo-nos) continuamente a si mesmo, num operar recursivo,
tanto de processos autopoiticos como sociais (linguagem), com
os quais se gera continuamente a autodescrio do que faze-
mos. No possvel conheer seno o que se faz. Nosso ser hu-
mano pois uma continua criao humana. Se para muitos
isso soa como uma blasfmia, que seja, mas a noo mesma de
blasremia se nos afigura aqui mais como uma criao humana
do que como uma distino operada por um ser supremo.
Assim, esta cosmologia flutua como um planeta no es-
pao conceituaI validado pelas afirmaes cientficas: Do que
se trata, em todo caso, no contexto social, ou seja, da comuni-
cao humana, de se perguntar qual a viso . sobre as rela-
es humanas (e a atitude que o hbmem assume diante de si
mesmo e dos outros homens) que uma ou outra cosmologia in-
duz na sociedade e, tambm, qual a amplitude transcultural
que pode ser alcanada pelo critrio de validao de 'afirma-
es em que se fundamentam.
A cosmoviso sobre o universo humano que aqui se
apresenta nos mostra que ela coroada com a mesma concep-
50 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
o tica que nos faz refletir na condio humana como uma
natureza cuja evoluo e realizao est no encontro do ser in-
dividual com sua natureza ltima, que o ser social. Portanto,
se o desenvolvimento individual depende da interao social, a
prpria formao, o prprio mundo de significados em que se
existe, funo do viver com os outros. A aceitao do outro
ento o fUndamento para que o ser observador ou autoconscien-
te possa aceitar-se plenamente a si mesmo. S ento se redes-
r o ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~
dessa trama interdependente de relaes que conforma nossa
natureza existencial de seres sociais, j que, ao reconhecer nos
outros a legitimidade de sua existncia (mesmo quando no a
achemos desejvel em sua atual expresso), o individuo se en-
contrar livre tambm para aceitar legitimamente em si mesmo
todas as dimenses que atualmente possam ocorrer em seu
ser e que tm sua origem precisamente no todo social. Isso li-
berta nossas relaes (e convenes) sociais de um imenso e
pesado fardo "original", reconciliando-nos de passagem com a
prpria vida, por ser essa reflexiva viragem um retorno a si
mesmo, por meio de um reencontro com o restante'da prpria
humanidade.
o amor ao prximo comea a aflorar ento no entendi-,
mento dos processos que geram o fenmeno existencial da
conscincia de si, numa expanso dos impulsos naturais de
altrusmo comunitrio, precisamente como a condio necess-
ria do social, e no como uma imposio de uma supranature-
za diferente da nossa.
Tal compreenso um corolrio inescapvel do enten-
dimento dos processos que constituem o ser humano. Se a
ao de cooperao social mtua surge na condio primria
do social, o compartilhar tal conhecimento no pode seno ex-
pandir nossos espaos de cooperao e realizao mtua. Por
isso, o desenvolvimento socioeconmico da comunidade huma-
na encontra-se ento no mesmo eixo (tico e operacional) do
processo de desenvolvimento de toda vida individual e, portan-
to, no pode o primeiro se realizar a expensas deste ltimo,
sem se transformar num mecanismo constitutivamente anti-
sociaL.. mas qual poltico sabe disso? "
A roore do conhecimento 51
o que diferencia profundamente certas cosmologias de
outras, mesmo quando suas concluses so similares, o cri-
trio de validao das explicaes, afirmaes e asseres que
se fazem em seu marco. Em geral, elas se baseiam na esfera
das crenas e da f, o que limita sua escala de validade s cul-
turas que as geram. Pelo contrrio, a cosmologia que esta obra
nos fornece se funda no domnio de validao operacional (ex-
periencial) da natureza humana universal.
Mas, ao fim e ao cabo, e excetuando-se a nfase na re-
flexo e no na moral, esta concepo de nossa natureza no
diz nada de novo em tica que h dois mil anos no tenha sido
pregado por um simples carpinteiro da Galilia. !
R.B.C.
Santiago do Chile, janeiro de 1984
Post-scriptum
"Quando, falto de fio condutor no labirinto
das montanhas, de nada te sf;rue a deduo
(porque sabes que teu caminho s embarranca
quando surge o abismo)
ento, s vezes, se prope esse guia e, como
se voltasse de l longe, te traa o caminho.
Mas, uma vez percorrido, esse caminho permanece
traado e te parece evidente,
e esqueces o milagre de uma caminhada
que foi semelhante a um retomo.
Antoine de Saint Exupry, Cidadela
I
A ARVORE DO CONHECIMENTO
As bases biolgicas do
entendimento humano
10
1
ConheceI" o ,
,--i--- l'f1ll11<'crr L 1
I - .. nen(,la O1J(!Jana
1---:---- f:IICH C> I
r-- ' .... nmeno do ('onh('('er
"'-___ ...,-___ .... 1 Exp'!catao Obst __
L n l'nlllkj ,adOl
9
Domnios
r.--r-::-- -
II
l1!(li ;5I1CO"---'--;
I
I
ConsncnnH
1-';"-';---
1 F"110:'f'110S
- r- F" lloJ1leTlOS SI)( l .. tlS _
6
SISI('OlH1
I 11(,IT:j so
I!( ...
SolipsIsmo 1
, -
-
2
4
r
FI10
!(f'll1H .,--+---:'-'
1 )('1'1\''' --':'11,SI,I,,, OP _ _ I
naturHI 1I11C'nices
c' '''')lvac-(!......:''i,J,,(O _ _
d .. -tclaptw:.:o f'SlruturHI
I I
Det"1'1ll1IHH.:o
('strutunil
Figura 1. Cristo coroado com espinhos.
60 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
A grande tentao
Na Figura 1, apreciamos o Cristo coroado com espinhos,
do mestre de Hertogenbosh, mais conhecido como Bosch. Essa
apresentao to pouco tradicional da coroao de espinhos
mostra a cena quase que em plano nico, dominado pelas ca-
beas. No nos fala apenas de um episdio da Paixo, mas de
um sentido universal do demonaco em contraste com o reino
dos cus. Cristo, no centro, expressa uma imensa pacincia e
aceitao. No entanto, seus atormentadores no foram trata-
dos nessa tela, como em tantas outras obras da poca e do
prprio Bosch, como figuras de outro mundo que o agridem di-
retamente, puxando seus cabelos ou perfurando sua carne. Os
verdugos aparecem como. quatro tipos humanos que, para a
mentalidade medieval, representavam uma viso total da hu-
manidade. Cada um desses tipos corrio uma grande tentao
para a vastido e pacincia da expresso de Cristo. So quatro
estilos de alienao e perda da paz interior.
_ .. H muito o que contemplar e meditar sobre essas qua-
tro tentaes. Mas, no incio do longo itinerrio que ser este
livro, o personagem do canto inferior, direita, particular-
mente relevante. Ele segura Jesus pelo manto e o atrai para o
cho. Agarra-o e restringe sua liberdade, exigindo sua ateno.
Pc rece lhe dizer:
"Olhe aqui, sei do
que estou falan-
do." a tentao
da certeza.
Tendemos
a viver num mun-
do de certezas, de
uma perceptivida-
de slida e in-
questionvel, em
que .. nossas con-
vices nos dizem
que as coisas so
da maneira como
A rvore do conhecimento 61
as vemos e que no pode haver alternativa ao que nos parece
certo. Tal nossa situao cotidiana, nossa condio cultural,
nosso modo corrente de sermos humanos.
Pois bem: este livro pode ser visto como um convite a
resistirmos tentao da certeza. O esforo necessrio por
dois motivos: por um lado, porque se o leitor no suspender
suas certezas, no poder incorporar sua experincia o que
comunicaremos . como uma compreenso efetiva do fenmeno
da cognio. Por outro lado, porque este livro precisamente
mostrar, ao estudar de perto o fenmeno do conhecimento e .
nossas aes ocasionadas por ele, que toda experincia cogni-
tiva envolve aquele que conhece de uma maneira pessoal, en-
raizada em sua estrutura biolgica. E toda experincia de cer-
.teza um fenmeno individual, cego ao ato cognitivo do outro,
em uma solido que, como veremos, transcendida somente
no mundo criado com esse outro.
As surpresas do olho
O leitor s entender o que vamos dizer de modo verda-
deiramente eficaz caso se sinta pessoalmente e n v o l ~ d o numa
experincia direta, alm da mera descrio.
Portanto, em vez de explicar o fato de a aparente soli-
dez de nosso mundo experiencial repentinamente oscilar quan-
do o olhamos de perto, iremos demonstr-lo com duas situa-
es simples. Ambas correspondem ao mbito de nossa expe-
rincia visual cotidiana.
. >
Primeira situao: cubra seu olho esquerdo e olhe fixa-
mente para a cruz na Figura 3, segurando a pgina a uma dis-
tncia de cerca de quarenta centmetros. Observar que o pon-
to negro da figura, de tamanho considervel, desaparecer de
sbito. Experimente girar um pouco a pgina ou abrir o outro
oiho.Tambm interessante copir o mesmo desenho em ou-
tra folha de papel e ampliar aos poucos o ponto negro at che-
gar ao mximo, quando ento desaparece. Em seguid: gire a
pgina de modo que o ponto B ocupe o lugar antes ocupado
62
Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
+
Figura 3. Experincia do ponto cego.
pelo ponto A e repita a observao. O que aconteceu com a li-
nha que cruza o ponto?
Na verdade, pode-se observar essa mesma situao sem
nenhum desenho: simplesmente substitua a cruz e o ponto
pelo polegar. Parece que o dedo foi decepado (Tente!). A p;opsi-
to, foi assim que essa observao se tornou conhecida: Marriot,
cientista da corte de um dos Luses, usou o procedimento para
mostrar ao rei como seus sditos ficariam quando decapitados.
A explicao geralmente aceita do fenmeno que, nes-
sa posio especfica, a imagem do ponto (ou do polegar, ou do
DF sdito) cai na zona da retina de onde parte o nervo ptico, sen-
do portanto insensvel luz. o chamado ponto cego. Mas o
que raramente se enfatiza quando se oferece essa explicao :
Toda vez em que aparecer este smbolo 1IlO'. o leitor poder se remeter ao
glossrio que se encontra ao final do livro (pgina 267).
7
A rvore do conhecimento
" ,
Figura 4. Os dois circulos desta Pgina "foram impressos com
tinta idntica. No entanto, o inferior parece rosado devido a
seu contorno verde. Moral da histria: a cor no uma pro-
priedade das coisas; inseparvel da maneira como a vemos.
63
Por que no andamos pelo mundo com semelhante lacuna o
tempo todo? Nossa experincia visual de um espao conti':' "
nua. Somente fazendo essas manipulaes engenhosas que"
percebemos a descontinuidade que sempre esteve presente. O
experimento do ponto cego " fascinante ppr " o s t r a r que no
vemos que no "vemos.
Segunda situao: Pegue dois focos de luz e os dispo-
nha como na Figura 4. (Isso pode ser feito facilmente com um
tubo de cartolina do tamanho de um lmpada potente e com
papel celofane vermelho como filtro.) Em seguida, coloque um .
objeto (sua mo, por exemplo) sob o facho de luz e observe as
sombras projetadas sobre a parede. Uma das sombras parece
azul-esverdeada! O leitor pode experimentar usar papis trans-
parentes de cores diferentes em frente s lmpadas, bem como
diferentes intensidades de luz.
A situao to surpreendente como no caso do ponto
cego. De onde vem a cor azul-esverdeada, quando se esperava
64 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
Figura 5. Sombras coloridas.
apenas o branco, o vermelho e
misturas de branco com ver-
melho (cor-de-rosa)? Estamos
acostumados a pensar que a
cor uma qualidade dos obje-
tos e da luz que refletem. Des-
se modo, se vejo verde por-
que uma luz verde chega a
meus olhos, ou seja, uma luz
com um certo comprimento de
onda. Agora, se usarmos um
aparelho para medir a compo-
sio da luz nessa situao,
veremos que no h qualquer
predominncia de comprimen-
tos de ondas chamadas verdes
ou azuis na sombra que ve-
mos como azul-esverdeadas, e
sim somente a distribuio
prpria da luz branca. Mas a
experincia do verde-azulado
, para cada um de ns, ine-
gvel.
Esse fen-
meno das chamadas sombras
coloridas foi descrito pela pri-
meira vez por Otto von Gueri-
cke em 1672. Notou que seu
dedo ficava azul na sombra en-
tre uma vela e o sol nascente.
Diante desse fenmeno e de
outros parecidos, as pessoas
costumam perguntar: "Muito
bem, mas qual a cor real-
mente?" , como se os dados
oferecidos pelo instrumento
. que mede os comprimentos de
onda fossem a resposta final.
A rvore do conhecimento 65
Na verdade, esse simples experimento no revela uma situao
isolada, que pudesse ser considerada (como muitos fazem)
marginal ou ilusria. Nossa experincia de um mundo feito de
objetos coloridos literalmente independente da composio e
comprimentos das ondas que partem de cada cena que olha-
mos. Com efeito, se levo uma laranja do interior da minha casa
ao ptio, a fruta continua aparentando a mesma cor. No entan-
to, o interior da casa era iluminado, por exemplo, por luz fluo-
rescente que tem grande quantidade de comprimentos de onda
chamada azul (ou curtos), enquanto no Sol predominam os
comprimentos de onda chamada vermelha (ou longos). No h
como estabelecer uma correspondncia entre a tremenda esta-
bilidade cromtica com que vemos os objetos do mundo e a luz
que emana deles. No fcil explicar como vemos as cores, e
tampouco tentaremos fornecer aqui uma explicao detalhada.
Mas o essencial que, para compreend-lo, devemos parar de
pensar que a cor dos objetos determinada pelas caractersti-
cas da luz que recebemos deles. Em vez disso, devemos nos
concentrar em entender que a experincia da cor corresponde
a uma configurao especfica de estados de atividade do siste-
ma nervoso determinados por sua estrutura. Embora no o fa-
amos agora, poderamos demonstrar que, como tais estados
de atividade neural (como enxergar o verde) podem ser desen-
cadeados por uma variedade de perturbaes luminosas dis-
tintas (como as que nos permitem ver sombras coloridas), pos-
svel correlacionar o nomear de cores com estados de atividade
neural, mas no com comprimentos de onda. Os estados de ativi-
dadeneural que so desencadeados pelas diferentes perturba-
es em cada pessoa so determinados por sua estrutura indivi-
dual, e no pelas caractersticas do agente perturbador.
"'
O que dissemos vlido para todas as dimenses da
experincia visual (movimento, textura, forma etc.), e tambm
para qualquer outra modalidade perceptiva. Poderiamos citar
situaes semelhantes que nos revelam, de um s golpe, que
aquilo que tomvamos como a simples apreenso de alguma
coisa (como espao ou cor) traz a marca indelvel de nossa
prpria estrutura. Teremos de nos contentar, por enquanto,
com as observaes acima, confiando que o leitor realmente as
66 Hwnberto MaturWla R. / Fra.ncisco Varela G.
tenha vivenciado, e que, dessa forma, ainda esteja fresca em
sua memria a experincia de perceber a instabilidade do que
antes lhe parecera slido.
De fato, tais experimentos (e outros semelhantes) con-
tm de modo capsular o sabor essencial do que desejamos ex-
pressar. Mostram-nos de que maneira nossa experincia est
indissociavelmente amarrada nossa estrutura. No vemos o
"espao" do mundo - vivemos nosso campo visual. No vemos
as "cores" do mundo - vivemos nosso espao cromtico. Sem
dvida, e como descobriremos ao longo destas pginas, habita-
mos um mundo. Mas, ao examinarmos mais de perto como
chegamos a conhecer esse mundo, sempre descobriremos que
no podemos separar nossa histria de aes - biolgicas e
sociais - de como ele nos parece ser. algo to bvio e prxi-
mo de ns que fica muito dificil perceb-lo.
o grande escndalo
No zoolgico do Bronx, em Nova Iorque, h um grande
pavilho especialmente dedicado aos primatas. L pod,emos ver
de perto chipanzs, gorilas, gibes e muitos macacos do V e ~ h o e
Novo Mundos. No entanto, nossa ateno atrada para uma
cela separada, nos fundos do pavilho, cercada por fortes grades.
Quando nos aproximamos, lemos a seguinte placa: "O primata
mais perigoso do planeta". Ao olhar por entre as grades, vemos,
com surpresa, nosso prprio rosto.
Esclarece o letreiro que o homem j
destruiu mais espcies sobre o pla-
neta do que todas as outras esp-
cies conhecidas. De observadores,
passamos a observados (por ns
mesmos). Mas o que vemos?
Ver nosso reflexo no espelho
sempre um momento muito pecu-
liar, pois quando tomamos cons-
cincia daquele nosso aspecto que
no podemos conhecer de nenhu-
A rvore do conhecimento 67
ma outra -maneira - como quando revelamos o ponto cego,
que nos .mostra nossa prpria estrutura, ou quando suprimi-
mos a cegueira que ela acarreta, preenchendo o vazio. A refle-
xo um processo de conhecer como conhecemos, um ato de
nos voltarmos sobre ns mesmos, a nica oportunidade que te-
mos de descobrir nossas cegueiras e de reconhecer que as certe-
zas e os conhecimentos dos outros so, respectivamente, to ne-
bulosos e tnues quanto os nossos.
A situao especial de conhecer como seconhee tra-
dicionalmente elusiva em nossa cultura ocidental, centrada na
ao, e no na reflexo. Assim, geralmente nossa vida pessoal
cega a si mesma.- como se um tabu nos dissesse: " proibi-
do conhecer o conheceL" Na verdade, no saber como se cons-
titui nosso mundo de eXperinCias, que est de fato mais pr-
ximo de ns, uma vergonha. H muitas vergonhas no mun-
do, mas ignorncia est entre as piores.
Talvez uma das razes por que se evita tocar nas bases
do nosso conhecer a sensao um pouco vertiginosa causada
pela circularidade de se utilizar o instrumento de anise para
analisar o instrumento de anlise - como pretender que um
olho veja a si mesmo. A Figura 7, um desenho do artista holan-
ds M.C. Escher, representa nitidamente tal vertigem por meio
das mos que se desenham mutuamente, de modo que se des-
conhece a origem do processo: qual das mos a "verdadeira"?
De forma semelhante, embora saibamos que os processos
envolvidos em nossasatividades, em nossa constituio, em nos-
sas aescomo seres vivos, constituem nosso conhecer, preten-
demos investigar como corillecemos examinando esses elementos
por meio desses processos. Mas no temos outra alternativa, pois
o que fazemos inseparvel de nossa. experincia do mundo, com
todas as suas regularidades: seus centros comerciais, suas
crianas, suas guerras atmicas. Mas podemos tentar (e o leitor
deve assumir isso como tarefa pessoal) nos conscientizar de tudo
o que implica essa coincidncia contnua de nosso ser, nosso fa-
zer e nosso conhecer, abandonando a atitude cotidiana de es-
tanipar sobre nossa um selo de inquestionabilidade,
como se refletisse um inundo absoluto.
68
Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
Figura 7. Mos que desenham, de M. C. Escher.
Portanto, na base de tudo o que diremos est essa cons-
tante conscincia de que o fenmeno do conhecer no pode ser
equiparado existncia de "fatos" ou objetos l fora, que pode-
mos captar e armazenar na cabea. A experincia de qualquer
coisa "l fora" validada de modo especial pela estrutura huma-
na, que toma possvel ua coisa" que surge na descrio.
Tal circularidade, tal encadeamento entre ao e expe-
rincia, tal inseparabilidade entre ser de uma maneira particu-
lar e coinoo mundo nos parece ser, indica que todo ato de co-
nhecer produz um mundo. Essa caracterstica do conhecer ser
invariavelmente nosso problema, nosso ponto de partida e a li-
nha mestra de tudo o que apresentaremos nas pginas seguin-
tes. Tudo isso pode ser condensado no aforismo: Todo fazer
conhecer e todo conhecer fazer.
Quando falamos aqui de ao e experincia, no nos
referimos apenas ao que ocorre em relao ao mundo que nos
A rvore do conhecimento 69
cerc'a, no plano meramente "fisico". Tal caracterstica do fazer
humano se aplica a todas as dimenses de nossa existncia.
Em particular, ao que estamos fazendo aqui e agora,
ns e os leitores. E o que estamos fazendo? Estamos na lingua-
gem, movendo-nos dentro dela, num modo peculiar de conversa-
o: um dilogo imaginado. Toda reflexo, inclusive a reflexo so-
bre os fundamentos do conhecer humano, se d necessariamen-
te na linguagem, que nossa forma particular de sermos huma-
nos e estarmos no fazer humano. Por esse motivo, a linguagem
tambm nosso polito de partida, nosso instrumento cognitivo e
nosso problema. muito importante no esquecermos que a cir-
cularidade entre ao e experincia tambm se aplica ao que es-
tamos fazendo aqui e agora, e tem conseqncias fundamentais,
como o leitor ver adiante. Tal ponto no deve ser esquecido
nunca, e para tanto resumiremos tudo o que foi dito num segun-
do aforismo que devemos ter em mente ao longo deste livro: Tudo
o que dito, dito por algum. Toda reflexo produz um mundo.
Sendo assim, uma ao humana realizada por algum em par-
ticular, num lugar em particular.
Esses dois aforismos devem ser os faris a nos lembrar
constantemente de onde viemos e para onde vamos.
Costuma-se pensar que essa produo do conhecimen-
to seja uma dificuldade, um erro ou resduo explicativo a ser
erradicado. Da, por exemplo, a afirmao de que a sombra co-
lorida uma "iluso tica" e que, "na realidade", no existe
cor. Afirmamos exatamente o oposto: esse carter do conhecer
a chave mestra para compreend-lo, e no um resduo inc-
modo ou um obstculo. O produzir do mundo o cerne pu 1-
sante do conhecimento, e est associado s razes mais pro-
fundas de nosso ser cognitivo, por mais slida que nos parea
nossa experincia. E, j que essas razes se estendem at a pr-
pria base biolgica, como veremos, esse gerar se manifesta em
todas as nossas aes e em todo o nosso ser. Sem dvida se ma-
nifesta em todas aquelas aes da vida social humana em que
costuma ser evidente, como no caso dos valores e preferncias.
No h uma descontinuidade entre o social e o humano e suas
razes biolgicas. O fenmeno do conhecer um todo integrado, e
todos os seus aspectos esto fundados sobre a mesma base.
70
Explicao
Humberto MaturanaR.jFranJ::sco Varela G.
Aforismos centrais do livro
"Todo fazer conhecer e todo
conhecer fazer."
"Tudo que dito dito por algum."
Nosso objetivo, portanto, claro: queremos examinar o
fenmeno do conhecer, considerando a natureza universal do
fazer na cognio - esse gerar de um mundo - como nosso
problema e ponto de partida, de modo a revelar seu fundamen-
to. E qual ser nosso critrio para saber se tivemos xito em
nossa investigao?
Uma explicao sempre uma proposio que reformu-
la ou recria as observaes de um fenmeno dentro de um sis-
tema de conceitos aceitveis para um grupo de pessoas que
compartilham um critrio de validao. A magia, por exemplo,
to explicativa para os que a aceitam como a cincia o para
quem a prefere. A diferena especfica entre a explicao mgi-
ca e a cientfica reside no modo como se. gera um sistema ex-
plicativo cientifico, o que constitui seus critrios de validao.
Sendo assim, podemos distinguir quatro condies essenciais
que devem ser satisfeitas na proposio de uma explicao
cientifica. Elas no ocorrem, necessariamente, nessa seqn-
cia, mas se imbricam de alguma forma.
a. Descrio do ou dos fenmenos a serem explicados de forma
aceitvel para a comunidade de observadores.
b. Proposio de um sistema conceituaI capaz de gerar o fen-
meno a ser explicado de maneira aceitvel para a comunida-
de de observadores (hiptese explicativa).
c. Deduo, a partir de b, de outros fenmenos no considerados
explicitamente na proposio, bem como a descrio de suas
condies de observao na comunidade de observadores.
d. Observao desses outros fenmenos deduzidos a partir de b.
A roore do conhecimento
CONHECER
Conhecer ao efetlva, ou seja,
efetividade operacional no dom-
nio de existncia do ser vivo.
71
EXPLICAO DO CONHECER
I. Fenmeno a ser explicado:
a ao efetiva do ser vivo
em seu meio ambiente.
II. Hiptese explicativa: orga-
nizao autnoma do ser
vivo; deriva fllogentlca e
ontogentlca com conser-
vao da adaptao (aco-
plamento estrutural).
III. Deduo de outros fenme-
nos: coordenao comporta-
mental nas Interaes recor-
rentes entre seres vivos e
coordenao comportamen-
tal recursiva sobre a coorde-
nao comportamental.
IV. Observaes adicionais: fe-
nmenos sociais, domnios
lingsticos, linguagem e
autoconscincia.
Somente se tais critrios de validao forem satisfeitos,
a explicao ser considerada cientfica, e uma afirmao s
considerada cientfica quando se fundamenta em explicaes
cientficas. .
Esse ciclo de quatro componentes no estranho ao
nosso pensamento cotidiano. Costumamos us-lo para explicar
os fenmenos mais variados, como o defeito de um automvel
ou as eleies presidenciais. O que os cientistas fazem tentar
ser plenamente consistentes e explicitos com relao a cada um
dos passos, deixando um registro documentado de modo a criar
uma tradio que v alm de uma s pessoa ou gerao.
Nossa situao e exatamente a mesma. Tanto o leitor
como ns, os autores, tornamo-nos observadores que fazem
descries. Como observadores, escolhemos precisamente o
conhecer como o fenmeno a ser explicado. Alm disso, o que
72 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
dissemos torna evidente qual ser nossa descrio de partida
do fenmeno do conhecer: j que todo conhecer produz um
mundo, nosso ponto de partida ser, necessariamente, a efic-
cia operacional do ser vivo em seu domnio de existncia. Em
outras palavras, nosso ponto de partida, para gerar uma expli-
cao cientificamente validvel, caracterizar a cognio como
uma ao efetiva, umaao que permita a um ser vivo conti-
nuar sua existncia em determinado meio ao produzir a seu
mundo. N ~ m mais, nem menos.
E como saberemos se obtivemos uma explicao satis-
fatria do fenmeno do conhecer? Bem, o leitor poder, a esta
altura, imaginar a resposta: quando tivermos proposto um sis-
tema conceitual capaz de gerar o fenmeno cognitivo como re-
sultado da ao de um ser vivo, e tivermos mostrado que tal
processo pode resultar em seres vivos como ns, capazes de
gerar descries e refletir sobre elas como resultado de sua
realizao como seres vivos, operando efetivamente em seus
domnios de existncia. A partir dessa proposio explicativa,
haveremos de perceber como que podem ser geradas todas as
dimenses do conhecer que nos so familiares.
Tal o roteiro que propomos ao leitor nestas pginas.
Ao longo dos captulos seguintes, desenvolveremos tanto essa
proposio explicativa como sua conexo com vrios fenme-
nos adicionais, tais como a comunicao e a linguagem. Ao fi-
nal dessa jornada, o leitor poder revisitar estas pginas e ava-
liar at que ponto foi proveitoso ter aceito nosso convite para
olhar o fenmeno do conhecer de uma nova forma.
10
Conhecer o
.--:---- conhecer ----,
I
f-----tica
Dominios
ri--.---'lingisticos---...,
. I
Lmguagem
ConsLncia
1-+---- reflexiva
8
Fenmenos
culturais
Fenmenos sociais
Unidades de __
terceira ordem
/j,
7
Atos cognoscitivos -.!.LJ
c0'l"oO.1 '''T..-J i
Ampliao do
dominio de
interaes <::J
L Plutioidad,
..rrurum i
1
Experincia cotidiana
I C
Fenmeno do conhecer
I I
Explicao Obser-
cientfica vador
I I
2
.-1-,-- Unidade - ........ -+--,
Organizao-Estrutura
L Autopoiese J
I .
Fenomenologta
biolgica
V
AO-----H'-'
3
Fenmenos histricos
I I
Conservao-Va riao
I I
V
4
Perturbaes ____ +,
r-AcoPl
1
amento--6nto- II
.--+-i-1-i--
1
eSjtural j enia J
Unidades de
I segunda ordem
,-7-'-..l....Clausura lperacional
6
-
Contabilidade lgica
I _
Representaao-
Solipsismo "
V
5
(ilogeniaT'"----f-I
Deriva_ Histria de
natural interaes
Cc
I - si I -
e eao
da adaptao estrutural
I I
Detenninao
estrutural
/
2
A ORGANIZAO DOS
SERES VIVOS
Figura 8. Galxia MI04, da constelao de Virgem.
76
Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Nosso ponto de partida foi a consclencia de que todo
conhecer uma ao da parte daquele que conhece. Todo co-
nhecer depende da estrutura daquele que conhece. Esse ponto
de partida sero indicador de nosso roteiro conceituaI ao longo
destas pginas: como o conhecimento se produz na ao?
Quais so as razes e os mecanismos desse operar?
Diante' dessas perguntas, o primeiro passo de nosso ro-
teiro o seguinte: o fato de o conhecer ser a ao daquele que
conhece est enraizado no modo mesmo de seu ser vivo, em
sua organizao. Sustentamos que as bases biolgicas do co-
nhecer no podem ser entendidas somente pelo exame do siste-
ma nervoso. Parece-nos necessrio entender como esses pro-
cessos esto enraizados no ser vivo como um todo.
Como conseqncia, neste captulo passaremos a dis-
cutir alguns aspectos relaclonados com a organizao do ser
vivo. Tal discusso no tem carter decorativo, nem uma es-
pcie de rudimento necessrio para os que no possuem for-
mao biolgica. Neste livro, uma pea fundamental para en-
tender o fenmeno do conhecimento em toda a sua dimenso.
Uma breve histria da Terra
Para darmos os primeiros passos rumo compreenso
da organizao do ser vivo, veremos primeiro como sua mate-
rialidade pode nos servir como guia para compreendermos seu
princpio bsico. Faamos uma viagem por alguns marcos da
transformao material que possibilitou o aparecimento dos
seres vivos.
A Figura 8 mostra a chamada galxia MI04, da conste-
lao de Virgem, conhecida como a galxia-chapu. Alm de
sua beleza, ela tem para ns um interesse especial: nossa pr-
pria galxia, a Via Lctea, apresentaria um aspecto muito se-
melhante se a pudssemos ver de longe. Como no podemos,
devemos nos contentar com um diagrama como o da Figura 9,
que mostra algumas dimenses do espao estelar e das estre-
las que nos fazem sentir humildes quando as comparamos
A roore do conhecimento 77
+10
+5
o
~ .
. ~ - + _ -w,":'
. .'. .' .
. .
-10
-15 -10 -8 o +5 +10 + 15
Figura Y. lJistncias na Via Lactea e localizao do nosso sol.
~ com as nossas. As unidades escalares esto em quiloparsecs, e
~ cada um deles equivale a 3.260 anos-luz. Dentro da Via Lc-
tea, nosso sistema solar ocupa uma posio bastante perifri-
ca, a cerca de 8 quiloparsecs do centro.
Nosso sol uma entre vrios milhes de outras estrelas
que formam essas estruturas multifacetadas que so as gal-
xias. Como as estrelas se originaram? Uma proposta de re-
constituio dessa histria a seguinte.
O espao interestelar contm enormes quantidades de
hidrognio. As turbulncias dessas massas gasosas produzem
verdadeiras bolsas de gases de alta densidade, mostradas nas
primeiras etapas da Figura 10. Nesse estado, algo muito inte-
ressante comea a acontecer: produz-se um equilbrio entre a
tendncia coeso, devido gravidade, e a tendncia irra-
diao, devido s reaes termonuc1eares no interior da estrela
em formao. Essa irradiao, visvel do exterior, nos permite
ver as estrelas no cu, mesmo a grandes distncias.
Quando os dois processos se equilibram, a estrela en-
tra em sua chamada "seqncia principal" (Figura 10), qual
seja, seu curso de vida como uma estrela individual. Durante
esse perodo, a matria que foi condensada gradualmente
78
Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Figura 10. Esquema da seqencia de transformaes de uma es-
trela desde sua formao.
consumida em reaes termonucleares durante um perodo de
cerca de 8 bilhes de anos. Quando uma poro do hidrognio
condensado consumida, a seqncia principal termina num
processo de transformaes mais dramticas. Primeiro a estre-
la se converte num'gigante vermelho, em seguida numa estrela
pulsante, e por ltimo numa supernova, explodindo num ver-
dadeiro espirro csmico, formador de elementos pesados. A
matria restante no centro da estrela se colapsa numa estrela
menor e de densidade muito alta, chamada "an branca".
Nosso sol encontra-se aproximadamente no meio de
sua seqncia principal, e espera-se que continue irradiando
durante pelo menos 3 bilhes de anos antes de se consumir.
Pois bem, muitas vezes durante a transformao de uma estre-
la, esta, atrai do espao interestelar e agrupa a seu redor um
halo de matria, que gira em torno de si e depende energetica-
mente de seu curso de transformaes. A Terra e os outros
planetas de nosso sistema planetrio so desse tipo, e devem
ter sido captados como remanescentes da exploso de uma su-
pernova, j que so ricos em tomos pesados.
Segundo os geofsicos, a Terra tem no mnimo 5 bilhes
de anos e uma histria de transformaes incessantes. Se a ti-
vssemos visitado h 4 bilhes de anos e caminhado sobre sua
superfcie, teramos encontrado uma atmosfera composta de
A rvore do conhecimento 79
gases tais como metano, amoma, hidrognio e hlio - certa-
mente uma atmosfera muito diferente da que conhecemos
hoje. Diferente, entre outras coisas,por estar constantemente
submetida a um bombardeio energtico de radiao ultraviole-
ta, raios gama, descargas eltricas, impactos metericos e ex-
ploses vulcnicas. Todos esses impactos de energia produzi-
ram (e ainda produzem) na Terra primitiva e na sua atmosfera
uma diversificao contnua de espcies moleculares .. Nos
princpios da histria da estrela havia, fundamentalmente, ho-
mogeneidade molecular. Depois da formao dos planetas, um
processo contnuo de transformao qumica levou a uma
grande diversidade de espcies moleculares, tanto na atmosfe-
ra como sobre a superficie da Terra.
Contudo, dentro dessa complexa e contnua histria de
transformaes moleculares, para ns particularmente inte-
ressante o momento de acumulao e diversificao das mol-
culas formadas por cadeias de carbono, ou molculas orgni-
cas. J que os tomos de carbono podem formar, sozinhos e
com a participao de muitos outros tipos de tomos, um n-
mero ilimitado de cadeias diferentes emtamanho, ramificao,
dobradura e composio, a diversidade morfolgica e qumica
das molculas orgnicas , em princpio, infinita. precisa-
mente essa diversidade morfolgica e qumica das molculas
orgncias o que toma possvel a existncia dos seres vivos, ao
permitir a diversidade de reaes moleculares envolvidas nos
processos que as produzem. Voltaremos a falar disso. Por en-
quanto, podemos dizer que algum que passasse pela Terra pri-
mitiva veria a continua produo abiognica (sem a participao
80
Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
de seres vivos) de molculas orgamcas. tanto na atmosfera
como nos mares, agitados como verdadeiros caldeires de rea-
es moleculares. AFigura 11 mostra algo dessa diversidade:
vemos uma molcula de gua, que tem somente um nmero
muito limitado de associaes, comparada a outras molculas
orgnicas.
o aparecimento dos seres vivos
Quando as transformaes moleculares nos mares da
Terra primitiva atingiram esse ponto, tornou-se possvel a for-
mao de sistemas de reaes moleculares de um tipo particu-
lar. Ou seja: a diversificao e a plasticidade possveis na fam-
lia de molculas orgnicas possibilitaram, por sua vez, a for-
mao de redes de reaes moleculares que produzem os mes-
mos tipos de molculas que as integram, ao passo que limitam
Figura 11. Comparao em e&cala de modelos de molculas de
gua ( esquerda); de um aminocldo, a lisina (no centro) e de
uma protena, a enzima ribonuclease ( direita).
A roore do conhecimento 81
o contorno espacial em que se realizam. Tais redes e interaes
moleculares que se produzem a si mesmas e especificam seus
prprios limites so, como veremos a seguir, os seres vivos.
A Figura 12 mostra fotografias feitas com microscpio
eletrnico desse tipo de agrupamento molecul&r formado h
mais de 3,4 bilhes de anos. Poucos casos desse tipo foram en-
contrados, mas existem. H outros exemplos encontrados em
lI<I!f depsitos fsseis geologicamente mais recentes: com menos de
2 bilhes de anos. Os pesquisadores classificaram tais agrupa-
mentos moleculares como os fsseis dos primeiros seres vivos
- na verdade, como fsseis de seres vivos ainda existentes
lI<I!f hoje em dia: as bactrias e as algas.
Agora, a afirmao "Este o fssil de um ser vivo"
muito curiosa, e convm examin-la mais detidamente. O que
permite a um pesquisador dizer isso? Vamos por etapas. Em
primeiro lugar, foi necessrio fazer uma observao para de-
pois afirmar que h algo, alguns pequenos glbulos, cujo perfil
pode ser visto sob o microscpio. Em segundo lugar, observa-
Figura 12. Acima: fotografias de fsseis presumveis de bact-
rias, encontrados em depsitos de mais de trs bilhes de
anos. Abaixo: fotografias de bactrias vivas e atuais, cuja for-
ma comparvel dos fsseis.
82 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
se que as unidades assim indicadas se parecem, morfologica-'
mente, com seres vivos que existem atualmente, Como h evi-
dncias convincentes de que esses glbulos so caractersticos
de seres vivos, e de que esses depsitos datam de uma poca
compatvel com a histria de transformaes da superfcie eat-
mosfera terrestres, associadas a processos prprios aos seres
vivos como hoje os conhecemos, conclui-se que so f s s e i s ~ de
seres vivos.
Ou seja, o pesquisador est propondo um critrio que
diz: os seres vivos que existiam antes devem se parecer (nesse
caso, morfologicamente) com os seres vivos de hoje. Isso impli-
ca que precisamos ter, ainda que implicitamente, alguns crit-
rios para saber e classificar quando uma entidade ou sistema
um ser vivo e quando no .
Ficamos com um problema difcil: Como saber quando
um ser vivo? Quais so meus critrios? Ao longo da histria da
biologia, muitos critrios foram propostos. Todos apresentam di-
ficuldades. Por exemplo, alguns propuseram que o critrio deve-
ria ser a composio qumica. Ou ento a capacidade de movi-
mento. Ou ento a reproduo. Ou, por fim, alguma combinao
de tais critrios, isto , uma lista de propriedades. Mas como sa-
ber quando a lista est completa? Por exemplo, se construirmos
uma mquina capaz de reproduzir a si mesma, mas feita de ferro
e plstico em vez de molculas, estaria ela viva?
Queremos propor uma resposta a essa pergunta de
modo radicalmente distinto da tradicional enumerao de pro-
priedades, e que simplifica o problema tremendamente. Para
entender essa mudana de perspectiva, precisamos perceber
que s o fato de perguntarmos como se reconhece um ser vivo in-
dica que temos uma idia, ainda que implcita, de sua organiza-
o. essa idia que determinar se aceitaremos ou rejeitaremos
a resposta que nos oferecerem. Para evitar que tal idia implcita
seja uma armadilha que nos tolha e cegue, precisamos ter cons-
cincia dela ao considerarmos a resposta seguinte.
O que a organizao de algo? ao mesmo tempo
muito simples e potencialmente complicado. So aquelas rela-
es que precisam existir ou ocorrer para que esse algo exista.
A rvore do conhecimento
DISTINES
o ato de designar qualquer ser,
objeto, coisa ou unidade, est
vinculado a um ato de distin-
o, que destaca o designado e
o distingue de um fundo. Toda
vez que fazemos referncia a
algo, de modo implcito ou ex-
plcito, estamos especificando
um critrio de distino, que
designa aquilo de que falamos
e especifica sua propriedade
como ser, unidade ou objeto.
uma situao inteiramente
cotidiana, nada excepcional,
em que estamos imersos ne-
cessria e permanentemente.
83
UNIDADES
Uma unidade (entidade, objeto)
suscitada por um ato de dis-
tino. Inversamente, toda vez
que fazemos referncia a uma
unidade em nossas descri-
es, tornamos implcita a ope-
rao de distino que a define
e possibilita.
Para que eu julgue este objeto como uma cadeira, preciso reco-
nhecer uma certa relao entre as partes que chamo de per-
nas, encosto e assento, de forma que torne o sentar-se poss-
vel. Se feita de madeira e pregos, ou de plstico e parafusos,
totalmente irrelevante para que eu a qualifique ou classifique
como uma cadeira. Essa situao, em que reconhecems im-
plcita ou explicitamente a organizao de um objeto, quando o
indicamos ou distinguimos, universal por ser algo que faze-
mos constantemente: um ato cognitivo bsico, que consiste em
simplesmente gerar nada mais, nada menos do que classes de
qualquer tipo. Assim, a classe de cadeiras definida pelas re-
laes que devem ser cumpridas para que eu classifique algo
como cadeira. A classe de "boas aes" definida pelos crit-
84 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
- ---- ----.,--. --
I
I
I'
f
r
I
!
r
f
I
I
Figura 13. O experimento de Miller como metfora das transfor-
maes da atmosfera primitiva.
rios que estabeleo e devo aplicar entre as aes realizadas e
suas conseqncias para que sejam consideradas boas.
fcil apontar para uma determinada organizao ao
indicar os objetos que compem uma classe, mas pode ser
complexo e dificil descrever exata e explicitamente as relaes
que constituem tal organizao. No caso da classe das cadei-
ras, parece fcil descrever a organizao "cadeira", mas tal no
se d com a classe das boas aes, a menos que se comparti-
lhe de uma quantidade imensa de elementos culturais.
Quando falamos de seres vivos, j estamos pressupondo
algo em comum entre eles - de outro modo, no os incluira-
mos na mesma classe que designamos com o nome "vivos". O
que no foi respondido todavia : "Qual a organizao que os
define como classe?" Nossa proposta que os seres vivos se ca-
racterizam por, literalmente, produzirem-se continuamente a si
mesmos - o que indicamos ao chamarmos a organizao que
A roore do conhecimento 85
os defme de organizao autopoitica. Fundamentalmente, essa
organizao se define por certas relaes que passaremos a ex-
plicitar e que veremos mais facilmente em nvel celular.
Em primeiro lugar, os componentes moleculares de uma
unidade autopoitica celular devem estar dinamicamente relacio-
nados numa continua rede de interaes. Hoje conhecemos mui-
tas das transformaes qumicas concretas dessa rede, e o bio-
1& qumico lhes d o termo coletivo de metabolismo celular.
Mas o que distingue essa dinmica celular, se comparada
a qualquer outro conjunto de transformaes moleculares nos
processos naturais? muito interessante: esse metabolismo ce-
lular produz componentes que integram a rede de transforma-
es que os produzem. Alguns desses componentes formam uma
fronteira, um limite para essa rede de . transformaes. Em ter-
mos morfolgicos, podemos considerar a estrutura que toma
possvel essa clivagem no espao como uma membrana. Contu-
do, essa fronteira membranosa no um produto do metabo-
lismo celular, assim como um tecido produto de uma mquina
de fabricar tecidos. Isso porque essa membrana no s limita a
extenso da rede de transformaes que produziu seus compo-
nentes integrantes como tambm participa dessa rede. Se no
existisse tal arquitetura espacial, o metabolismo celular se desin-
tegraria numa sopa molecular, que se difundiria por toda parte e
no formaria uma unidade discreta como a clula.
Temos, portanto, uma situao muito especial no que
diz respeito s relaes de transformaes qumicas: por um
lado, podemos ver uma rede de transformaes dinmicas que
produz seus prprios componentes e que a condio de pos-
sibilidade da fronteira, por outro, vemos uma fronteira que a
condio de possibilidade para a operao da rede de transfor-
maes que a produziu como unidade.
I
Dinmica
(metabolismo)
t
,
Fronteira
(membrana)
I
86 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
A ORIGEM DAS MOLCULAS ORGNICAS
Quando se discute a origem das
molculas orgnicas compar-
veis s que se encontram nos
seres vivos (tais como as bases
~ nucleotdicas, os aminocidos
ou as cadeias proticas), tende-
se a pensar que demasiado pe-
quena a probabilidade de que te-
nham se produzido espontanea-
mente, e que alguma fora dire-
cional deve ter participado do
processo. Segundo a reconstru-
o que esboamos, no foi as-
sim. Cada uma das etapas des-
critas surge como conseqncia
da anterior de modo Inevitvel.
Mesmo hoje em dia, quando pro-
duzimos uma imitao da atmos-
fera primitiva, com a turbulncia
energtica adequada, obtemos
molculas orgnicas de comple-
xidade comparvel s encontra-
das nos seres vivos atuais. Mes-
mo hoje em dia, se uma massa
gasosa de hidrognio suficien-
temente comprimida, ocorrem no
interior dela reaes termonu-
cleares que do origem a novos
elementos atmicos que antes
no estavam presentes. A hist-
ria que estamos de!ineando fei-
ta de seqncias que se suce-
dem inevitavelmente, e algum
s6 se surpreenderia com o re-
sultado se no tivesse acesso
seqncia histrica completa.
Uma das evidncias mais clssi-
cas de que no h descontinui-
{US. L. Miller, Science 117: 528,1953.
dade nessa transformao por
etapas foi fornecida por um expe-
rimento realizado por Miller em
1953 (veja figura 13). A idia de m
Miller simples: colocar dentro
de um tubo de laboratrio uma
imitao da atmosfera primitiva,
reproduzindo sua composio e
radiaes energticas. Ele conse-
guiu isso transmitindo uma des-
carga eltrica por meio de uma
mistura de amonaco, metano, hi-
drognio e vapor d'gua .. Obtm-
se os resultados das transforma-
es moleculares pela circulao
da gua e pela anlise das subs-
tncias que ali se encontram dis-
solvidas. Para a surpresa de toda
a comunidade cientfica, Miller
produziu abundantes molculas
tpicas dos organismos celulares
modernos, tais como os amino-
cidos alanina e cido asprtico, e
outras molculas orgnicas co-
mo a uria e o cido succnico.
A rvore do conhecimento 87
ORGANIZAO E ESTRUTURA
Entende-se por organizao as
relaes que devem se . dar entre
os componentes de um sistema
para que este seja reconhecido
como membro de uma classe es-
pecfica. Entende-se por estrutu-
ra os componentes e as relaes
que concretamente constituem
uma determinada unidade e reali-
zam sua organizao.
Por exemplo, na descarga, a or-
ganizao do sistema de regula-
o do nvel d'gua consiste nas
relaes entre um aparelho ca-
paz de detectar o nvel da gua e
um outro capaz de interromper o
fluxo de entrada da gua. No ba-
nheiro domstico, encontramos
um sistema misto de plstico e
metal que consiste numa bia e
numa vlvula de passagem. Essa
estrutura, todavia, poderia ser
modificada substituindo-se o
plstico pela madeira, sem alte-
rar o fato de ser um sistema de
descarga.
Notemos que tais processos no so seqenciais, e sim
dois aspectos de um fenmeno unitrio. No que primeiro
haja a fronteira, depois a dinmica, depois a fronteira, e assim
por diante. Falamos de um tipo de fenmeno em que a possibi-
lidade de distinguir algo do todo (algo que posso ver ao micros-
cpio; por exemplo) depende da integridade dos processos que
o possibilitam. Se interrompermos (em algum ponto) a rede
metablica celular, descobriremos que, aps algum tempo, no
teremos mais uma unidade para observar! A caracterstica
mais marcante de um sistema autopoitico que ele se levanta
por seus prprio cordes, e se constitui como distinto do meio
circundante mediante sua prpria dinmica, de modo que am-
bas as coisas so inseparveis.
Os seres vivos se caracterizam por sua organizao au-
topoitica. Diferenciam-se entre si por terem estruturas dife-
rentes, mas so iguais em sua organizao.
88 Hwnberto MaturanaR./Francisco Varela G.
Autonomia e autopoiese
Reconhecer que aquilo que caracteriza os seres vivos
sua organizao autopoitica permite relacionar uma grande
quantidade de dados empricos sobre o funcionamento celular
e sua O conceito de autopoiese, portanto, no con-
tradiz esse corpo de dados - ao contrrio, apia-se neles e
prope, explicitamente, interpret-los de um ponto de vista es-
pecfico, que enfatiza o fato de os seres vivos serem unidades
autnomas.
Usamos a palavra "autonomia" em seu sentido corrente
- ou seja, um sistema autnomo se puder especificar suas
prprias leis, aquilo que prprio dele. No estamos sugerindo
qve os seres vivos so as nicas entidades autnomas: certa-
mente no o so. Mas uma das caractersticas mais evidentes
dos seres vivos sua autonomia. Estamos propondo que o
modo, o mecanismo que toma os seres vivos sistemas autno-
mos a autopoiese, que os caracteriza enquanto tais.
A pergunta sobre a autonomia to antiga quanto a
sobre o vivo. S os bilogos contemporneos se sen-
tem desconfortveis diante da pergunta: "como entender a au-
tonomia do vivo?" De nosso ponto de vista, contudo, tal per-
gunta se transforma num guia que nos permite ver que, para
entender a autonomia dos seres vivos, devemos conceber a or-
ganizao que o define como unidade. Tomar conscincia dos
seres vivos como unidades autnomas o que permite mostrar
como sua autonomia, geralmente vista como algo misterioso e
elusivo, se toma explcita quando indicamos que aquilo que os
define como unidades sua organizao autopoitica. nesta
que simultaneamente se realizam e se especificam.
Nossa inteno, portanto, proceder cientificamente:
se no podemos fornecer uma lista de caractersticas do ser
vivo, por que no propor um siste:m,a que, ao operar, gere toda
a sua fenomenologia? A evidncia de que uma unidade auto-
poitica tem exatamente tais caractersticas se revela luz do
que sabemos sobre a interdependncia entre metabolismo e es-
trutura celular.
A rvore do conhecimento 89
AS CLULAS E SUAS MEMBRANAS
As membranas das clulas de-
sempenham um papel muito
mais rico e diversificado do
que uma simples linha de de-
marcao espacial para um
conjunto de transformaes
qurmicas, j que participam
desse conjunto como os ou-
tros componentes celulares. O
interior da clula contm uma
intrincada arquitetura, compos-
ta de grandes blocos molecula-
res, atravs dos quais transi-
tam mltiplas espcies orgni-
cas em contrnua mutao. A
membrana, operacionalmente
falando, parte desse interior.
Isso vale tanto para as mem-
branas que limitam os espaos
celulares adjacentes ao meio
exterior, como para as que li-
mitam cada um dos variados
espaos internos da clula
(veja figuras 14 e 14a).
Essa arqultetura interior e a di-
nmica celular so, como j fri-
samos, faces de um mesmo fe-
nmeno de autoproduo. Por
exemplo, dentro das clulas h
organelas especializadas como
as mitocndrias, em cujas pa-
redes se situam, em seqn-
clas espaciais precisas, enzi-
mas que se comportam como
verdadeiras cadeias transpor-
tadoras de eltrons sobre sua
membrana, processo que cons-
titui a base da respirao celu-
lar.
Possuir uma organizao, evidentemente, prprio no
s dos seres vivos, mas de todas as coisas que podemos anali-
sar como sistemas. No entanto, o que os distingue sua orga-
nizao ser tal que seu nico produto so eles mesmos, inexis-
tindo separao entre produtor e produto. O ser e o fazer de
uma unidade autopoitica so inseparveis, e esse constitui
seu modo especfico de organizao.
A organizao autopoitica, como toda organizao,
pode ser obtida por muitas classes diferentes de componentes.
No entanto, precisamos compreender que, no mbito molecu-
lar da origem dos seres vivos terrestres, somente algumas es-
pcies moleculares devem ter possudo as caractersticas que
permitiram constituir unidades autopoiticas, iniciando a his-
90 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
tria estrutural a que ns prprios pertencemos. Por exemplo,
foi necessrio contar com molculas capazes de formar mem-
branas suficientemente estveis e plsticas para serem, por
sua vez, barreiras eficazes, ~ de propriedades mutantes para a
difuso de molculas e ons por longos perodos de tempo com
relao s velocidades moleculares. As molculas das lminas
de silicone, por exemplo, formam barreiras de propriedades de-
masiado rgidas para participarem de unidades dinmicas (c-
lulas), envolvidas numa troca molecular continua e rpida com
o meio.
Figura 14. Microfotografia de um embrio de sanguessuga, que
mostra membranas e componentes intracelulares (com au-
mento de aproximadamente vinte mil vezes). O diagrama des-
taca os principais perfis, tais como membrana nuclear, mito-
cndrias, retculo endoplasmtico, ribossomas e membrana
celular. A ilustrao seguinte faz uma projeo tridimensional
hipottica do que permaneceria sob a superfcie do corte.
A rvore do conhecimento 91
Figura 14a
Somente quando, na histria da Terra, se deram as
condies para a formao de molculas orgnicas como as
protenas, cuja flexibilidade e maleabilidade praticamente
ilimitada, surgiram tambm as condies para a formao de
unidades autopoiticas. De fato, podemos supor que, quando
se deram na histria da Terra todas as condies suficientes,
a formao de sitemas autopoiticos ocorreu de modo inevit-
vel.
Tal momento o ponto que podemos assinalar como a
origem da vida. Isso no quer dizer que tenha sido num s ins-
tante e num s lugar, nem que possamos especificar uma data
para essa origem. Tudo nos faz pensar que, uma vez dadas as
condies para a origem dos sistemas vivos, estes se origina-
ram muitas vezes - ou seja, muitas unidades autopoiticas,
com muitas variantes estruturais, surgiram em vrios lugares
da Terra ao longo de talvez muitos milhes de anos.
O aparecimento de unidades autopoiticas sobre a face
da Terra um marco na histria do nosso sistema solar. Preci-
,
92 Humberto Maturana. R./Francisco Varela G.
samos entender isso bem. A formao de uma unidade sempre
determina uma srie de fenmenos associados s caracteristi-
cas que a definem. Podemos, ento, dizer que cada classe de
ll'E unidades especifica uma fenomenologia particular. Assim, as
unidades autopoiticas especificam a fenomenologia biolgica
como a fenomenologia prpria delas, com caracteristicas dis-
tintas da fenomenologia fisica. No porque as unidades auto-
poiticas violem algum aspecto da fenomenologia fisica - j
que, por terem componentes moleculares, devem satisfazer to-
das as leis fisicas - mas porque o fenmeno que geram ao
operar como unidades autopoiticas dependem de sua organi-
zao e do modo como esta se realiza, e no da natureza fisica
de seus componentes, que s determinam seu espao de exis-
tncia.
Portanto, se uma clula interage com uma molcula X,
incorporando-a a seus processos, o que ocorre como conse-
qncia dessa interao determinado no pelas propriedades
da molcula X, mas pelo modo com que essa molcula "vista"
ou tomada pela clula quando esta a incorpora em sua din-
mica autopoitica. As mudanas que ocorrem nela como con-
seqncia dessa interao sero determinadas por sua prpria
estrutura como unidade celular. Portanto, na medida em que a
organizao autopoitica determina a, fenomenologia biolgica
ao conceber os seres vivos como unidades autnomas, um fe-
nmeno biolgico ser qualquer fenmeno que envolva a auto-
poiese de pelo menos um ser vivo.
Conhecer o I 1
....--i--- conhecer ----:----I
L
1
I ,.... Experincia cotidiana
r-+---Il:tica l> I
,--Fenmeno do conhecer
I I
10
_,... Organizao-Estrutura
L AutopoieseJ
I ,
Fenomenologia
Explicao Obser-_ ;....
cientifica vador
I I
6 ___
Do!nios 1
Ao-----H
u
, I
Lmguagem_
I
Conscincia
I-H ,....-- reflexiva
L
8
I
Fenmenos
Irr= culturais i
- Fenmenos
Atos cognoscitivos -lu
c-eor,..lm
l
..JI
do
dominio de
interaes <:]
estrutural
LPlasticidade l
I I
Conservao-Variao
I I
Reproduo--l-!...J
V
4
Perturbaes----l--,
rT AcopJamento-6nto---1
1
......-+-i-7
11
-+ estrrtural ,enia
Unidades de
I segunda ordem
,.-!---!--t'_ Clausura l peracional
I
6
Conduta - Sistema-
nervoso
I
Contabilidade lgica-
RepreJntao-
S I
" ------..:...-
o Ipslsmo
\J
5
r Filogenia T"""---+'
D
' H' .I. d I
enva_ Istona e_
natural interaes
Co
I - S i I -
e eao_
da adaptao estrutural
I I
Detenninao
estrutural
3
HISTRIA: REPRODUO
E HEREDITARIEDADE
Figura 15. Uma das primeiras divises de um embrio de rato.
96 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Este captulo tratar de reproduo e hereditariedade.
Dois motivos o tornam necessrio. Um deles que ns, como se-
res vivos - e, como veremos, tambm como seres sociais - te-
mos uma histria: descendemos por reproduo, no s de nos-
sos antepassados humanos, mas tambm de antepassados mui-
to diferentes, que recuam no tempo mais de3 bilhes de anos. O
outro motivo que, como organismos, somos seres multicelula-
res, todas as nossas clulas descendem por reproduo da clula
particular que se formou quando um espermatozide uniu -se a
um vulo e nos deu origem. A reproduo est, portanto, inseri-
da em nossa histria como seres humanos e na histria de nos-
sos componentes celulares individuais. Curiosamente, isso faz de
ns e de nossas clulas seres da mesma idade ancestral. O mes-
mo vale, de um pon.to de,vista histrico, para todos os seres vivos
e para todas as clulas contemporneas: compartilhamos a mes-
ma idade ancestral. Portanto, para entendermos os seres vivos
em todas as suas dimenses, e assim entendermos a ns mes-
mos, necessrio entender os mecanismos que os tornam se-
res histricos. Com esse fim, examinaremos em primeiro lugar
o fenmeno da reproduo.
Como a reproduo acontece?
A biologia tem estudado os processos de reproduo
sob vrios pontos de vista, em particular em nvel celular. H
muito tempo foi demonstrado que uma clula pode dar origem
a outra por meio de uma diviso. A diviso celular (ou mitose)
um complexo processo de reordenao dos elementos celula-
FENMENOS HISTRICOS
Toda vez que, num sistema, um esta-
do surge como modificao de um
estado anterior, temos um fenmeno
histrico.
A rvore do conhecimento 97
ORGANIZAO E HISTRIA
A dinmica de qualquer siste-
ma no presente pode ser expli-
cada se mostrarmos as rela-
es entre suas partes e as re-
gularidades de suas intera-
es, de forma a revelar sua
organizao. Mas, para o en-
tendermos plenamente, no
basta v-lo como uma unidade
operando em sua dinmica In-
terna, mas tambm em suas
circunstncias, no contorno ou
contexto a que seu operar o
une. Tal compreenso requer
sempre um certo distancia-
mento de observao, uma
perspectiva que, no caso dos
sistemas histricos, Implica re-
ferncia a uma origem. Isso
pode ser fcil, por exemplo,
nos casos atuals das mquinas
criadas pelo homem, pois te-
mos acesso a todos os deta-
lhes de sua produo. No en-
tanto, a situao no to fcil
no caso dos seres vivos, por-
que sua gnese e sua histria
nunca so diretamente vis-
veis, e s podem ser reconsti-
tudas em fragmentos.
res que resulta na determinao de um plano de diviso. O
que acontece nesse processo? O fenmeno da reproduo ge-
ralmente ocorre quando uma unidade, mediante determinado
processo, d origem a outra da mesma classe, que um obser-
vador pode reconhecer como possuidora da mesma organiza-
o que a original.
evidente, portanto, que a reproduo pressupe duas
condies bsicas: a unidade original e o processo que a repro-
duz.
No caso dos seres vivos, a unidade original um ser
vivo, uma unidade autopoitica, e o processo - de que tratare-
mos adiante - deve terminar com a formao de pelo menos
uma outra unidade autopoitica, distinta da que se considera
ser a primeira.
O leitor atento deve ter percebido a esta altura que, ao
vermos assim o fenmeno da reproduo, afirmamos que este-
98 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
no constitutivo dos seres vivos. Portanto, no desempenha
um papel em sua organizao. Estamos to acostumados fi
pensar os seres vivos como uma lista de propriedades (sendo a
reproduo uma delas) que isso pode parecer chocante pri-
meira vista. No entanto, estamos dizendo simplesmente que, a
reproduo no pode ser parte da organizao do ser vivo por-
que, para que algo se reproduza, preciso que antes seja uma
unidade e tenha uma organizao que o defina. Trata-se de
uma, lgica e cotidiana. Se levarrlos essa lgica co-
mum s ltimas conseqncias, seremos obrigados a concluir
que os seres vivos so capazes de existir sem se reprod:uzir.
Basta pensar numa mula para perceber isso. Discutiremos
neste captulo' como a dinmica estrutural de uma unidade
autopoitica se 'complica no processo de reproduo, e as con-
seqncias disso para a histria dos seres vivos. Mas acrescen-
tar alguma coisa dinmica estrutural bem diferente de mu-
dar as caracteristicas essenciais de uma unidade, o que impli-
caria mudar sua organizao.
Modos de gerar unidades
Para entender o que acontece na reproduo celular,
veremos vrias situaes que do origem a unidades da mes-
ma classe. Procuraremos, ao' distingui-las, ver o que prprio
da reproduo celular.
". . .. . - .
Rplica: Falamos de rplica (ou, s vezes, de proquo)
quando temos um mecanismo que, ao operar, pode gerar repe-
tidas unidades da mesma classe. Por exemplo, uma fbrica
um grande mecanismo produtivo que, por meio de repetidas
aplicaes de um mesmo procedimento, produz rplicas em s-
rie de unidades da mesma classe: tecidos, carros, pneus (Figu-
ra 16).
o mesmo acontece com os componentes celulares - o
que se percebe claramente na produo das protenas, em que
os ribossomos, os cidos nuclicos mensageiros e de
rncia e outras molculas formam a maquinaria de produo,
sendo as protenas o produto.
A rvore do conhecimento
99
Figura 16. Um caso de rplica.
o principal no fenmeno da rplica que o mecanismo
de produo e o produto so sistemas operacionalmente dis-
tintos - o mecanismo de produo gera elementos inde-
pendentes dele prprio. Como conseqncia de como a rplica
ocorre, as unidades produzidas so historicamente inde-
pendentes umas das outras. O que acontece a qualquer uma
em sua histria individual no afeta o que acontece s que se
seguem na srie de produo. O que acontece minha Toyota
depois que a comprei em nada afetar fbrica Toyota, que
continuar imperturbavelmente produzindo seus automveis.
Resumindo, as unidades produzidas por rplicas no consti-
tuem um sistema histrico entre si.
Cpia: Falamos de cpia sempre que temos uma unida-
de modelo e um procedimento de projeo para gerar uma uni-
dade idntica. Por exemplo, esta pgina colocada numa mquina
Xerox gera uma cpia, como costumamos dizer. Logo, a unidade
100 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
modelo esta pagIna, e o procedimento o mtodo de operar
com um mecanismo de projeo ptica (a mquina Xerox).
Agora, podemos distinguir nesta situao dois casos
essencialmente diferentes. Se o mesmo modelo usado para
fazer vrias cpias sucessivas, as cpias da srie sero histori-
camente independentes umas das outras. Mas, se o resultado
de uma cpia usado para fazer a cpia seguinte, gera-se uma
srie de cpias historicamente relacionadas, pois o que aconte-
ce a cada uma delas no perodo em que se tornam individuais,
antes de serem usadas como modelo, determina as caracters-
ticas da cpia seguinte. Desse modo, se uma cpia desta pgi-
na por sua vez copiada pela mesma mquina, o original e as
outras duas cpias diferiro levemente entre si. Se repetirmos
esse mesmo processo, ao final de muitas cpias poderemos no-
tar a progressiva transformao dessas cpias numa linhagem
ou sucesso histrica de unidades copiadas. Um uso crativo
desse fenmeno histrico o que em arte se conhece como ana-
morfose (Figura 17): um excelente exemplo de deriva histrica.
Reproduo: Falamos de reproduo quando uma uni-
dade sofre uma fratura que resulta em duas unidades da mes-
ma classe. Isso acontece, por exemplo, quando um pedao de giz
quebrado em dois, ou quando um cacho de uvas dividido em
dois cachos. As unidades que resultam dessas fraturas no so
idnticas original nem idnticas entre si. No entanto, perten-
Figura 17. Um caso de cpia com substituio do modelo.
:..; '>-
,,,.,.
" "". ",
A rvore do conhecimento
101
cem mesma classe da original, ou seja, possuem a mesma
organizao. O mesmo no acontece na fratura de outras uni-
dades, como um rdio ou uma cdula de dinheiro. Nesses ca-
sos, a fratura destri a unidade original e deixa dois fragmen-
tos, e no duas unidades da mesma classe da unidade origi-
nal.
Para que fratura de uma determinada unidade resul-
te no fenmeno da reproduo, a estrutura da unidade deve se
organizar de modo distribudo e no-compartimentalizado. As-
sim, o plano de fratura pode separar fragmentos com estrutu-
ras capazes de realizar, de maneira independente, a organiza-
o original. O giz e o cacho de uvas tm esse tipo de estrutu-
ra, e admitem vrios planos de fratura porque os componentes
que formam suas respectivas organizaes se repetem de uma
maneira distribuda e no-compartimentalizada em toda a sua
extenso (cristais de clcio no giz e uvas no cacho).
Muitos sistemas na natureza satisfazem esses requIsI-
tos, o que torna a reproduo um fenmeno freqente. Exem-
plos: cristais, madeiras, comunidades, estradas (Figura 18).
Por outro lado, o rdio e a moeda no se reproduzem, porque
as relaes que os definem no se repetem em suas extenses.
H muitos sistemas dessa classe, tais como xcaras, pessoas,
canetas-tinteiro e a declarao dos direitos humanos. Tal inca-
pacidade de reproduzir um fenmeno muito freqente no
universo. Interessante que a reproduo, como fenmeno,
no est restrita a um espao particular nem a um grupo par-
ticular de sistemas.
102 Humberto Maturana R. / Francisco Varelci G.
.l
- - = - - - - - _ . ~ ~ j
Figura 18. Um caso de reproduo por fratura.
o central no processo de reproduo (diferente da rpli-
ca ou da cpia) que tudo acontece na unidade como parte
dela mesma, e no h separao entre o sistema reprodutor e
o sistema reproduzido. Tampouco se pode dizer que as unida-
des resultantes da reproduo preexistam ou estejam em for-
mao antes que a fratura reprodutiva ocorra - elas simples-
mente no existem. Alm disso, ainda que as unidades resul-
tantes da fratura reprodutiva tenham a mesma organizao da
unidade original, seus aspectos estruturais no so somente
iguais aos dela, mas diferem tanto em relao a ela como entre
si. E isso no s por serem menores. Suas estruturas derivam
diretamente da estrutura da unidade original no momento da
reproduo, mas ao se formarem recebem componentes dife-
rentes da unidade original que no esto uniformemente dis-
tribudos e que so uma funo de sua histria individual de
mudana estrutural.
Devido a essas caractersticas, o fenmeno da reprodu-
o necessariamente d. origem a unidades historicamente re-
\
A rvore do conhecimento
103
lacionadas. Se estas sofrem fraturas reprodutivas, formam em
seu conjunto um sistema histrico.
A reproduo celular
Visto tudo isso, o que acontece com as clulas? Se to-
marmos qualquer clula em seu estgio de interfase - ou seja,
fora de seu processo de reproduo - e a fraturarmos, o resul-
tado no ser duas clulas. Durante a interfase, a clula um
sistema compartimentalizado, ou seja, h componentes que
esto segregados do resto ou esto presentes em quantidades
nicas (o que exclui qualquer plano de fratura reprodutiva).
i!i" Isso acontece em particular com os cidos desoxirribonuclicos
i!i" (DNA), que compem parte dos cromossomas e que, durante a
interfase, esto contidos no ncleo e separados do citoplasma
pela membrana nuclear (Figura 19a).
i!i" Durante a mitose, ou diviso celular, todos os proces-
sos que ocorrem (b-j) consistem numa descompartimentaliza-
o celular. Isso se nota facilmente na Figura 19, que mostra a
dissoluo da membrana nuclear (com a rplica das grandes
hlices duplas do DNA) e o deslocamento dos cromossomas e
de outros componentes, o que torna possvel um plano de fra-
tura. Tudo ocorre sem interrupo da autopoiese celular, mas
como resultado dela. Assim, como parte da prpria dinmica
da clula que se produzem as mudanas estruturais, tais
como a formao da haste mittica (d-h). Essas mudanas pro-
vocam uma clivagem ou fratura da clula formada.
Visto dessa forma, o processo de reproduo celular
simples: uma fratura num plano gera duas unidades da mes-
i!i" ma classe. Em clulas modernas eucariticas (com ncleo), o
estabelecimento desse plano e a mecnica da fratura formam
um mecanismo intrincado e sofisticado de coreografia molecu-
i!i" lar. No entanto, nas clulas mais antigas (ou procariticas),
que no apresentam a mesma compartimentalizao ilustrada
pela Figura 19, o processo de fato mais simples. Em todo
caso, evidente que a reproduo celular do tipo discutido
acima, e no uma rplica ou cpia de unidades.
104 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
d
Figura 19. Mitose ou reproduo por fratura numa clula ani-
mal. O diagrama mostra as diferentes etapas de descomparti-
mentalizao que possibilitam a fratura reprodutiva.
Contudo, ao contrrio dos exemplos de reproduo
mencionados acima, na reproduo celular ocorre um fenme-
no peculiar: a prpria dinmica autopoitica que causa a fra-
tura celular no plano de Nenhum agente ou fora
externa necessrio. Podemos imaginar que a reproduo no
se dava assim nas primeiras unidades autopoiticas - que a
reproduo no incio era uma fragmentao resultante do cho-
que com outras entidades exteriores. Na rede histrica assim
produzida, algumas clulas singulares passaram a fraturar-se
como resultado de sua prpria dinmica interna, e a dispor de
um mecanismo de diviso do qual derivou uma linhagem ou
\
\
I
I
A rvore do conhecimento
105
sucesso histrica estvel. No claro como isso ocorreu, e
provavelmente essas origens esto perdidas para sempre. Mas
isso no invalida o fato de a diviso celular ser um caso parti-
cular de reproduo que podemos chamar, legitimamente, de
auto-reproduo.
Hereditariedade reprodutiva
Independentemente de seu incio, sempre que se forma
uma srie histrica, ocorre o fenmeno da hereditariedade -
ou seja, configuraes estruturais prprias de um membro de
uma srie reaparecem no membro seguinte. Isso se evidencia
tanto na realizao da organizao prpria classe como em
outras caractersticas individuais. Se lembrarmos do caso da
srie histrica das sucessivas cpias feitas na mquina Xerox,
106 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
HEREDITARIEDADE
Entendemos por hereditariedade a
conservao transgeracional de
qualquer aspecto estrutural de uma
linhagem de unidades historicamen-
te ligadas.
veremos que, por mais que as ltimas copIas se diferenciem
das primeiras, certas relaes do branco da pgina e o preto
das letras permanecero as mesmas, o que torna possvel sua
leitura e a constatao de que uma cpia da outra. No mo-
mento em que a cpia se tornar difusa a ponto de no ser mais
possvel l-la, a linhagem histrica ter terminado.
Da mesma forma, a hereditariedade se manifesta em
cada instncia reprodutiva dos sistemas como um fenmeno
constitutivo da reproduo ao gerar duas unidades da mesma
classe. Precisamente porque a reproduo ocorre quando exis-
te um plano de fratura numa unidade de estrutura distribu-
da, haver necessariamente uma certa permanncia de confi-
guraes estruturais de uma gerao a outra.
Sendo assim, como a fratura reprodutiva resulta da se-
parao de duas unidades coma mesma organizao, mas com
estruturas diferentes da unidade original, a fratura conserva a
organizao e produz uma variao estrutural. O fenmeno da
reproduo necessariamente implica a gerao tanto de seme-
lhanas como de diferenas estruturais entre "pais", "filhos" e
"irmos". Os aspectos da estrutura inicial da nova unidade que
avaliamos como sendo idnticos aos da unidade original so
chamados hereditrios; os aspectos da estrutura inicial da nova
unidade que avaliamos como sendo diferentes da unidade origi-
nal so chamados variao reprodutiva. Por esse motivo, cada
nova unidade necessariamente inicia sua histria individual
com semelhanas e diferenas estruturais em relao a suas
antecessoras. Tais semelhanas e diferenas, como veremos,
I
\
\
\
A rvore do conhecimento
107
A NOO DE INFORMAO GENTICA
muito freqente ouvirmos di-
zer que os genes constituem a
"informao" que especifica
um ser vivo. Isso um erro por
duas razes fundamentais. Pri-
meiro, porque confunde o fen-
meno da hereditariedade com
o mecanismo de rplica de cer-
tos componentes celulares (os
DNAs), de grande estabilidade
transgeracional. Segundo, por-
que dizer que o DNA contm o
necessrio para especificar um
ser vivo tira esses componen-
tes (parte da rede autopoitica) .
de sua inter-relao com o res-
tante da rede. a rede de inte-
raes em sua totalidade que
const,tui e especifica as carac-
terrstlcas da clula, no um de
seus componentes. certo
que modificaes nos genes
trazem conseqncias dramti-
cas para a estrutura de uma c-
lula. O erro est em confundir
participao essencial com
responsabilidade nica. Com o
mesmo argumento, poder-se-ia
dizer que a constituio polti-
ca de um pars determina sua
histria. Um evidente absurdo:
a constituio poltica um
componente essencial da his-
tria, mas no contm a "infor-
mao" que a especifica.
sero conservadas ou perdidas dependendo das circunstncias
das respectivas ontogenias. Por enquanto, nosso interesse
ressaltar que a hereditariedade e produo de mudanas es-
truturais em descendentes um fenmeno prprio da reprodu-
o, e no menos vlido na reproduo de seres vivos.
Na reproduo celular, h muitas instncias em que
possvel detectar com preciso as circunstncias estruturais
que tleterminam tanto a variao como a conservao das se-
melhanas. Assim, alguns componentes admitem poucas va-
riaes em seu modo de participar da autopoiese, mas muitas
peculiaridades no modo como se realiza tal participao. Esses
componentes participam de configuraes estruturais funda-
mentais que se conservam de gerao a gerao (ou no have-
ria reproduo) com apenas ligeiras variaes.
108 Hwnberio Maturana R./Francisco Varela G.
~ O mais conhecido desses componentes o DNA (cido
nuclico) ou gene, cuja estrutura fundamental replicada na
reproduo com pouca variao. Como resultado, encontramos
grandes invarincias entre individuos de uma linhagem, ao
passo que os aspectos estruturais variam continuamente e no
permanecem constantes durante mais de uma ou duas gera-
es. Assim, por exemplo, o modo de sntese das protenas
com participao do DNA permaneceu invarivel ao longo de
vrias linhagens, mas o tipo de protenas sintetizadas mudou
muito na histria das mesmas.
O padro de distribuio de varincia ou invarincia
estrutural ao longo de um sistema de linhagens histricas de-
termina os modos diferentes em que a hereditariedade distri-
buda de gerao a gerao, e que vemos como sistemas gen-
ticos (hereditrios) distintos. O estudo moderno da gentica
tem-se concentrado principalmente na gentica dos cidos nu-
clicos. No entanto, h outros sistemas genticos (hereditrios)
que apenas comeamos a entender, e que tm sido -ofuscados
pelo brilho da gentica dos cidos nuclicos, entre eles os as-
sociados a outros compartimentos celulares, como as mitocn-
drias e as membranas.
\
10
Conhecer o
,...---,..-- conhecer ----i----l
I
I-.....,..---Il:tica
I>
L
9
r-i--,.-,--......, Dominios __ ..:.....,
lingsticos
. I
Lmguagem
C
I. .
onsclncla
I-i-'-- reflexiva
___ 11-:-.._-,
8
Fenmenos
rr-- culturais
II Fenmenos sociais
Unidades de __ -':-;;'
terceira ordem
Atos cognoscitivos
~ m M T ~ 1
Ampliao do
dominio de
interaes <:]
LPlasticidade l
estrutural
2
1
Experincia cotidiana
I
Fenmeno do conhecer
I I
l1Iunidade!1
. Organizao-Estrutum
L AutOPOieseJ
I
Fenomenologia
Explicao Obser-
cientifica vador
I I
AO----...;....l'-l
~ ~ ~ ~
6
Conduta - Sistema
nervoso
I
Contabilidade lgica
R
I -
epresentaao-
Solipsismo
Fenmenos histricos
I I
Conservao-Variao
I I
Reproduo--l....J...J
4
Perturbaes' _ _ !-l-...
I I
Acoplamento-Onto-
II I eSjtural , nia
~ Unidades de
I
segunIJa ordem
I .
...-;.---!-+_iausura operacional
\l
5
r FiIOgenia T"""-+---l-I
Deriva _ Histria de
natuml intemes
conseha<L-se\eo
da adaptao estrutural
I I
Determinao
estrutural
\
\
\
\
\
I
I
I
I
\
I
4 A VIDA DOS METACELULARES
Figura 20. Agua, leo de Giuseppe Arcimboldo.
112 Humberto Maturana R.I Francisco Varela G.
lli:W A ontogenia a histria da mudana estrutural de uma
unidade sem que esta perca sua organizao. Essa contnua
mudana estrutural ocorre na unidade a cada momento, de-
sencadeada por interaes com o meio onde se encontra ou
como resultado de sua dinmica interna. A clula classifica e
v suas contnuas interaes com o meio de acordo com sua
estrutura a cada instante, que por sua vez est em contnua
mudana devido a sua dinmica interna. O resultado geral
que a transformao ontognica de uma unidade no cessa at
sua desintegrao. Para abreviar essa situao, quando nos
referirmos a unidades autopoiticas usaremos o seguinte dia-
grama:
Mas o que acontece se considerarmos a ontogenia no de
uma unidade, mas de duas (ou mais) unidades vizinhas em seu
ambiente de interaes? Podemos resumir a situao assim:
Acoplamento estrutural
evidente que essa situao, vista da perspectiva de
qualquer uma das unidades, ser simtrica. Vale dizer: para a
clula da esquerda, a clula da direita apenas uma fonte a
mais de interaes, indistinguveis enquanto tais das que ns,
A rvore do conhecimento 113
observadores, classificamos como provenientes do meio "iner-
te". Inversamente, para a clula da direita, a clula da esquer-
da uma fonte a mais de interaes, do ponto de vista de sua
prpria estrutura.
Isso significa que duas (ou mais) unidades autopoiti-
cas podem ter suas ontogenias acopladas quando suas intera-
es adquirem um carter recorrente ou muito estvel. preci-
so entender isso bem. Toda ontogenia ocorre dentro de um
meio que ns, como observadores, podemos descrever como
tendo uma estrutura particular, tal como radiao, velocidade,
densidade etc. Como tambm descrevemos a unidade auto-
poitica como tendo uma estrutura particular, fica evidente
que as interaes (desde que sejam recorrentes) entre unidade
e meio consistiro em perturbaes recprocas. Nessas intera-
es, a estrutura do meio apenas desencadeia as mudanas
estruturais das unidades autopoiticas (no as determina nem
informa), e vice-versa para o meio. O resultado ser uma hist-
ria de mudanas estruturais mtuas, desde que a unidade au-
topoitica e o meio no se desintegrem. Haver um acoplamen-
to estrutural.
Dentre todas as interaes possveis, encontramos al-
gumas que so particularmente recorrentes ou repetitivas. Por
exemplo, se examinarmos a membrana de uma clula, notare-
mos que atravs dela se d um constante transporte ativo de
certos ons (tais como o sdio e o clcio), de forma que, na pre-
sena desses ons, a clula reage incorporando-os a sua rede
metablica. Esse transporte inico ativo ocorre muito regular-
mente, e ns, como observadores, podemos dizer que o acopla-
mento estrutural das clulas ao meio permite suas interaes
recorrentes com os ons que o meio contm. O acoplamento es-
trutural celular requer que tais interaes ocorram somente
com certos ons, pois, se forem introduzidos no meio outros
ons (csio ou ltio, por exemplo), as mudanas estruturais que
estes desencadeariam na clula interromperiam a autopoiese.
Mas, por que a autopoiese se realiza em cada tipo celu-
lar com a participao de apenas um certo tipo de interaes
regulares e recorrentes, e no de outras? Essa pergunta s en-
114 Hwnberto MaiuranaR.jFrancisco Varela G.
contra resposta na filogenia, ou histria da estirpe celular cor-
respondente. Ou seja: o tipo de acoplamento estrutural atual
de cada clula o estado presente da histria de transforma-
es estruturais da filogenia a que pertence - quer dizer, um
momento na deriva natural dessa linhagem, resultante da con-
tnua conservao do acoplamento estrutural de cada clula ao
meio em que se realiza. Assim, no caso do exemplo acima, no
presente dessa deriva natural celular as membranas operam
transportando ons de sdio e clcio, e no outros.
O acoplamento estrutural ao meio como condio de
existncia abrange todas as dimenses de interaes celulares
e, portanto, tambm as que incluem outras clulas. As clulas
de sistemas multicelulares normalmente existem somente es-
tando estreitamente agregadas a outras clulas como meio de
realizao de sua autopoiese. Tais sistemas so resultado da
deriva natural de linhagens em que essa estreita agregao se
conservou.
KW Um grupo de animais unicelulares, os mixomicetos,
uma excelente fonte de exemplos que revelam claramente esse
processo. Quando germina, um esporo de Physarum d origem a
uma clula (Figura 21). Se o ambiente for mido, a ontogenia
KW dessa clula resultar no crescimento de um flagelo e na capaci-
dade de movimento. Se o ambiente for seco, a ontogenia produzi-
r clulas do tipo amebide. O acoplamento estrutural entre es-
sas clulas faz com que se agreguem de modo to estreito que
KW provoca uma fuso, com a formao de um plasmdio que, por
sua vez, leva formao de um corpo frutfero macroscpico que
KW produz esporos. (Observe, no desenho, que a parte superior cor-
responde a um aumento muito maior em relao inferior).
KW Nesses eucariontes filo geneticamente primitivos, o
agregamento celular estreito culmina na constituio de uma
nova unidade, com a formao do corpo frutfero resultante da
fuso celular. Esse corpo frutfero, na verdade, constitui uma
unidade metacelular, cuja existncia historicamente comple-
mentada pelas clulas que lhe do origem na realizao do ci-
clo vital da unidade orgnica a qual pertence (e que definida
por esse ciclo vital). preciso prestar ateno nesse ponto: a
1
I A rvore do conhecimento
Figura 21. Ciclo de vida de Physarum, com formao de plasm-
dia por fuso celular.
115
formao de unidades metacelulares capazes de dar origem a li-
nhagens como resultado de sua reproduo em nvel celular
gera uma fenomenologia distinta da fenomenologia das clulas
que as integram. Essa unidade de segunda ordem, ou metace-
lular, ter um acoplamento estrutural e uma ontogenia adequa-
da a sua estrutura como unidade composta. Em particular, sis-
temas metacelulares como o descrito acima tero uma ontoge-
nia macroscpica, e no microscpica como a de suas clulas.
Um exemplo mais complexo o de outro mixomiceto, o
Dycostelium (Figura 22). Nesse grupo, quando o ambiente pos-
sui certas caractersticas especiais, indivduos amebides so
capazes de agregar-se para formar um corpo frutfero seme-
lhante ao do exemplo anterior, mas sem fuso celular. No en- W
tanto, aqui tambm encontramos, na unidade de segunda or-
dem, uma clara diversificao dos tipos celulares: as clulas
da extremidade so capazes de gerar esporos, enquanto as da
base no o so. Estas se enchem de vacolos e paredes, que
m J. T. Bonner, Prac. Natl. Acad. Sei. USA 45:379, 1959.
116 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
.
.//",' t'-"'S" . . /" -()
. ... ". . - ," . ;
- ..
. - -- ". --
Figura 22. Ciclo de vida de Dycostelium (fungo de limo), com
corpo frutfero formado por agrupamento das clulas formadas
a partir da reproduo de uma clula-esporo fundadora.
fornecem um suporte mecnico a todo o sistema metacelular.
No dinamismo desse estreito agregamento celular como parte
de um ciclo de vida, as mudanas estruturais sofridas por
'cada clula em sua histria de interaes com outras clulas
sQ, necessariamente complementares entre si e limitadas por
sua pahicipao na constituio da unidade metacelular que
integram. Por esse motivo, as mudanas estruturais ontogni-
cas de cada clula so necessariamente distintas, dependendo
de como participam na constituio da unidade com suas inte-
raes e relaes de vizinhana.
Ciclos de vida
bom insistir: o agregamento estreito entre clulas des-
cendentes de uma nica clula, resultando numa unidade me-
tacelular, uma condio totalmente consistente com a auto-
poiese contnua das clulas. Mas certamente no biologica-
mente imprescindvel, j que muitos seres vivos permaneceram
como organismos unicelulares durante sua filogenia. Nas li-
nhagens em que ocorre agregamento celular, resultando num
sistema metacelular, as conseqncias para as respectivas his-
trias de transformaes estruturais so profundas. Vejamos
essa situao mais de perto.
A rvore do conhecimento 117
",
.) ~ \
1\. \ 'j
~ L J!,.) :
I -" . " ,--_ o
evidente que a ontogenia de um sistema metacelular
ser determinada pelo domnio de interaes. que esse sistema
especifica como unidade total, e no pelas interaes indivi-
duais de suas clulas componentes. Em outras palavras, a
vida de um indivduo multicelular como unidade passa pela
operao de seus componentes, mas no est determinada pe-
las propriedades destes. No entanto, cada um desses indiv-
duos pluricelulares resulta da divso e segregao de uma li-
nhagem de clulas, que se originam no momento da fecunda-
~ o de uma s clula, ou zigoto, produzida por alguns rgos
ou partes do organismo multicelular. Se no houver gerao
de novos indivduos, no haver continuidade da linhagem. E,
para que haja novos indivduos, o comeo precisa se dar a par-
tir de uma clula. simplesmente assim: a lgica da constitui-
o de cada organismo metacelular exige que este seja parte de
um ciclo, no qual existe uma etapa unicelular necessria.
Mas durante a fase unicelular de um organismo mul-
ticelular, durante a reproduo, que ocorrem as variaes ge-
racionais. Logo, no h diferena no modo com que as linha-
gens so estabelecidas em organismos multicelulares e unice-
lulares. Em outras plavras, o ciclo de vida de um organismo
metacelular constitui uma unidade cuja ontogenia ocorre em
sl..l:a transformao de unicelular em multicelular, mas em que
a reproduo e as variaes reprodutivas ocorrem durante a
etapa unicelular.
Todos os seres vivos multicelulares conhecidos so va-
riaes elaboradas do mesmo tema: a organizao celular e a
118 Humberto Maturana. R./Francisco Varela G.
constituio da filogenia. Cada indivduo multicelular repre-
senta um momento elaborado na ontogenia de uma linhagem,
cujas variaes continuam sendo celulares. Nesse sentido, o
surgimento da multicelularidade no introduz nada de funda-
mentalmente novo. A novidade consiste em possibilitar vrias
classes distintas de indivduos, ao possibilitar muitas linha-
gens diferentes como modos distintos de conservao do aco-
plamento ontogentico estrutural com o meio. A riqueza e va-
riedade dos seres vivos sobre a Terra, incluindo ns mesmos,
devem-se ao surgimento dessa variante ou desvio multicelular
dentro das linhagens celulares que continuam at hoje.
Notemos, contudo, que a reproduo sexuada dos orga-
nismos multicelulares no constitui uma exceo caracteriza-
o fundamental da reproduo que vimos no captulo anterior.
Com efeito, a reproduo sexuada requer que uma das clulas do
organismo multicelular (como o esperma) assuma uma dinmica
operacional independente e se funda a outra clula de outro or-
ganismo da mesma classe para formar o zigoto - ou seja, a fase
unicelular desse ser vivo. H alguns organismos m'!l"lticelulares
que alm disso (ou exclusiVmente) se reproduzem por fratura
simples. Quando isso ocorre, a unidade de variao na linhagem
no constituda por uma clula, mas por um organismo.
A reproduo sexual tem como resultado uma rica re-
combinao estrutural. Isso permite, por um lado, o entrecru-
zamento de linhagens reprodutivas, e por outro um aumento
muito grande nas variaes estruturais possveis em cada ins-
tncia reprodutiva. Assim, a gentica e a hereditariedade se
enriquecem com os efeitos combinatrios das alternativas es-
truturais de um grupo de seres vivos. Esse efeito de aumento
da variabilidade, que por sua vez toma possvel a deriva filoge-
ntica (como veremos no prximo captulo), explica como a se-
xualidade praticamente universal entre os seres vivos por fa-
cilitar a multiplicao das linhagens.
Tempo de transfonnaes
Uma maneira elegante de considerar os fenmenos me-
tacelulares e seus ciclos de vida comparar o tempo que esses
A rvore do conhecimento
119
organismos demoram para cumprir um ciclo completo de vida
m com seu tamanho. A Figura 23(a), por exemplo, ilustra o mes-
mo ciclo que discutimos antes, de um mixomiceto. Um eixo
representa o tempo que cada estgio demora para se comple-
tar; o outro eixo, o tamanho alcanado. Assim, leva por volta
de um dia para que um corpo frutfero de 1 cm se forme. O es-
poro, que mede cerca de 10 milionsimos de metro, se forma
depois de aproximadamente um minuto.
A Figura 23(b) ilustra a mesma situao, mas no caso
da r. O zigoto, que d origem ao adulto, se forma em cerca de
um minuto, ao passo que o adulto leva quase um ano para
crescer vrios centmetros. O mesmo vale para a maior rvore
do mundo, a sequia - ela alcana uma altura de 100 metros
ao longo de um perodo de formao de mil anos (Figura 22(c)),
bem como para o maior animal do mundo, a baleia azul, que
chega a medir 40 metros em dez anos (Figura 22(d)).
Independentemente do tamanho e aspecto externo, em
todos esses casos as etapas so sempre as mesmas: a partir de
uma clula inicial, o processo de diviso e diferenciao celular
gera um individuo de segunda ordem por meio de um acopla-
mento entre as clulas resultantes dessas divises. O indiv-
duo assim formado possui uma ontogenia de extenso variada
que leva etapa reprodutiva seguinte, com a formao de um
novo zigoto. Portanto, o ciclo geracional uma unidade funda-
mental que se transforma no tempo. Um modo de tornar isso
evidente relacionar num grfico o tempo de reproduo com
o tamanho do organismo (Figura 24). Uma bactria que no
esteja acoplada a outras tem uma reproduo muito rpida e,
portanto, seu ritmo de transformaes tambm rpido. Um
efeito necessrio da formao de indivduos de segunda ordem
por agregamento celular a necessidade de tempo para o cres-
cimento e diferenciao celular. Sendo assim, a freqncia de
geraes ser muito menor.
O grfico torna claro que h uma enorme semelhana
entre os metacelulares, assim como a existente entre as clu-
m J. T. Bonner, Size anel cyc!e, Princeton University Press, 1965.
120 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
10 em
I em
~
I .
t'
Imm
I
100"
I"
1 Minuto 1 Hora
1 Ola
a
1 Minuto 1 Hora 1 Ola 1 Ms 1 Ano
b
Figuras 23 e 23a. Exemplos das relaes entre tamanho alcan-
ado e tempo necessrio para alcanc-lo nas diferentes etapas
dos ciclos de vida de quatro organismos.
A roore do conhecimento
121
100 m
1 Minuto 1 Ola 1 Ano 100 Anos
1 Hora 1 Ms . 10 Anos 1000 Anos
G
100m
1 Minuto 1 Hora 1 Ola 1 Ms 1 Ano 10 Anos
d
Figura 23a.
122
Humber"o Maturana R. / Francisco Varela G.
Figura 24. Tempo de transformaes em uni e metacelulares:
Sequoia - Sequia; Abeto - Abeto; Abedul - Btula; Blsamo -
Blsamo; Rinoceronte - Rinoceronte; Elefante - Elefante; Alce -
Alce; Oso - Urso; Hombre - Homem; Ciervo - Cervo; Serpiente -
Serpente; Algas (Nereocystis) - Algas (Nereocystis); Baleoa -
Baleia; Castor - Castor; Zorro - Raposa; Rata - Ratazana; Sala-
mandra - Salamandra; Estrela de mar - Estrela-do-mar; Ratn
- Rato; Ostin - Ostra maior; Caracol - Caracol; Limulo - L-
mulo; Tortuga - Tartaruga; Lagartija - Lagartixa; Sapo - Sapo;
Camalen - Camaleo; Ostra - Ostra; Tbana - Tavo; Abeja -
Abelha; Mosca - Mosca; Almeja - Amijoa; Drosophila - Dro-
sophila; Daphnia - Daphnia; Stentor - Stentor; Paramecium -
Paramecium; Didinium - Didinium; Tetrahymena - Tetrahyme-
na; Euglena - Euglena; Spirochaeta - Spirochaeta; E. col - E.
Coli; Pseudomonas - Pseudmonas e B. Aureus - B. Aureus.
A rvore do conhecimento 123
METACELULARIDADE E SISTEMA NERVOSO
Sustentamos neste livro que
no possvel entender como
opera o sistema nervoso e,
conseqentemente, a biologia
do conhecer, sem entender
onde opera o sistema nervoso.
A diferenciao celular prpria
dos metacelulares, com ou
sem sistema nervoso, segue
uma lgica comum da qual o
tecido do sistema nervoso no
escapa. Na balela-azul h bi-
lhes de clulas bastante dis-
tintas, mas todas elas Inseridas
numa legalidade de acoplamen-
to recfproco que torna possfvel
a unidade de segunda ordem
que a balela-azul. De modo
semelhante, o sistema nervoso
contm milhes de clulas,
mas todas so parte do orga-
nismo a cuja legalidade devem
se ajustar. Perder de vista tais
rafzes orgnicas do sistema
nervoso uma das maiores
fontes de confuso quanto ao
seu operar efetlvo. Isso ser o
tema de um dos prximos capf-.
tulos.
las. Apesar da assombrosa diversidade aparente, todos se re-
produzem a partir de uma etapa unicelular, o que a caracte-
rstica central de sua identidade como sistemas biolgicos.
Esse elemento comum na organizao de todos os organismos
no interfere com a riqueza da diversidade entre eles, j que
esta se deve a variaes em nvel estrutural. Por outro lado, ve-
mos que toda essa variao se d em torno de um tipo funda-
mental, mas criando modos diferentes de dimensionar univer-
sos de interao por meio de unidades distintas com a mesma
organizao. Ou seja, toda variao ontognica resulta em mo-
dos diferentes de ser no mundo em que vivemos, porque a
estrutura da unidade que determina sua interao no ambien-
te e o mundo que configura.
A organizao dos metacelulares
Quando falamos de metacelulares, referimo-nos a toda
unidade em cuja estrutura podemos distinguir agregados celu-
124 Hwnberto MatwnnaR./Francisco Varela G.
lares em acoplamentos estreitos. A metacelularidade est pre-
sente em todos os reinos, ou grandes divises dos seres vivos
(procariontes, eucariontes, animais, plantas e fungos), sendo
uma possibilidade estrutural desde o incio da histria dos se-
m res vivos.
Mas o que comum a todos os metacelulares nos cinco
reinos que eles incluem clulas como componentes de sua
estrutura. Por esse motivo, dizemos que os metacelulares so
sistemas autopoiticos de segunda ordem. Cabe ento a per-
gunta: qual a organizao dos metacelulares? J que as clu-
las componentes podem se relacionar de muitas maneiras dife-
rentes, evidente que os metacelulares admitem tipos diferen-
tes de organizao, tais como organismos, colnias e socieda-
des. Mas seriam alguns metacelulares unidades autopoiticas?
Ou seja, os sistemas autopoiticos de segunda ordem so tam-
bm sistemas autopoiticos de primeira ordem? O corpo frut-
fero de um mixomiceto uma unidade autopoitica? E a ba-
leia?
No so perguntas fceis. Apesar de conhecermos com
detalhes como uma clula se toma uma unidade autopoitica
molecular, no sabemos como descrever os componentes e rela-
es de um organismo que o tomam um sistema autopoitico
molecular. No caso dos metacelulares, nosso conhecimento dos
processos moleculares que os constituiriam como unidades au-
topoiticas comparveis s clulas muito menos preciso.
Para os propsitos deste livro, deixaremos aberta a
questo quanto a se os metacelulares so ou no sistemas a ~
topoiticos de primeira ordem. Mas podemos dizer que pos-
suem clausura operacional em sua organizao: sua identidade
est especificada por uma rede de processos dinmicos cujos
efeitos no saem dessa rede. Mas, quanto forma explcita de
tal organizao, no diremos mais nada, o que no constitui
uma limitao para nossos propsitos atuais. Como j disse-
mos, seja qual for sua organizao, os metacelulares so com-
m L. Margulis, Fiue kingdoms, Freeman, San Francisco, 1982.
A roore do conhecimento 125
SIMBIOSE E METACELULARIDADE
Tudo o que foi dito neste cap-
tulo pode ser resumido com o
seguinte diagrama de duas uni-
dades autopoiticas que esta-
belecem relaes recorrentes:
Tais recorrncias podem deri-
var, em princpio, em duas di-
rees:
Uma direo (a) conduz im-
bricao das fronteiras das
duas unidades, situao que
correntemente se conhece por
simbiose. A simbiose parece
ter sido multo importante na
transio dos sistemas auto-
poiticos sem compartimentos
internos, ou procariontes, para
clulas comparti mentalizadas,
ou eucariontes (ver Figura 14).
Com efeito, todas as organelas m
de uma clula (as mitocn-
drias, cloroplastos e seu n-
cleo, por exemplo) parecem ter
sido ancestral mente procarion-
tes de vida livre.
Mas a outra alternativa (b)
que nos interessa mais neste
captulo: a recorrncia de aco-
plamentos em que as clulas
participantes conservam seus
limites individuais, ao mesmo
tempo em que estabelecem,
por esse acoplamento, uma
nova coerncia especial que
distinguimos como uma unida-
de metacelular e que vemos
como sua forma.
postos de sistemas autopoiticos de primeira ordem e formam
linhagens por meio da reproduo em nvel celular. Essas
duas condies bastam para garantirmos que tudo lhes ocorre,
como unidades autnomas, de modo a conservar a autopoiese
m L. Margulis, Symbiosis in cell evolution, Freeman, San Francisco, 1980.
126 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
das clulas componentes e sua prpria organizao. Conse-
qentemente, o que diremos a seguir se aplica tanto aos siste-
mas autopoiticos de primeira como aos de segunda ordem, e
no faremos distino entre eles, a menos que seja estritamen-
te necessrio.
I
I
I
I
Conhecer o r---;:========::;l
r---+-- conhecer -----7-1 1
I L_EXPerinCia cotidiana
1--+---tica C> I
..--- Fenmeno do conhecer
I I
10
oL:::buL 11
L Autopoiese J
I
Fenomenologia
Explicao Obser-
cientifica vador -
I I
9 Ao---+ -H'-'
b"f
Dominios
r-i--r-+-----,lingisticoS--+.
L
' I
mguagem_
C
1. - ,
onsclencla
reflexiva
8
Fenmenos
m--= culturais -
--Fenmenos sociais-
Unidades de
Fenmenos histricos-'
I I
Variao
I I
Reproduo--+-'....I
4
Perturbaes--H -,
rT AcopLmento-6nto-- l
l
r-+-i-i-
II
-+- eSjtural ,enia ]
Unidades de
I segunda ordem
r-.....
Atos cognoscitivos
II
1
rFilOgeniaT"""-+-f-l
DerlVa_ HiSt6k de_ f--I
natural interae8
,..--Ampliao do
dominio de
in teraes -<:]
L '"""tici,,,,,, Jl
"b'<umJ I
Conduta Sistem: l
I
Contabilidade 1<1"--
R
I -
epresentaao-
Solipsismo 1
Co
1_ Sel' -
nservaao_ e&O- f--
da adaptao estrutural
, ,
Detenninao
estrutural
5
A DERIVA NATURAL
DOS SERES VIVOS
Figura 25. Charles Darwin.
130
Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Nos captulos anteriores, demos uma noo dos trs
aspectos fundamentais dos seres vivos. Em primeiro lugar, vi-
mos como eles se constituem enquanto unidades, e como sua
identidade definida pela organizao autopoitica que lhes
prpria. Em segundo lugar, explicamos de que modo essa
identidade autopoitica pode adquirir a capacidade da repro-
duo seqencial, e assim gerar uma rede histrica de linha-
gens. Por ltimo, vimos de que modo os organismos celulares,
como ns mesmos, nascem a partir do acoplamento de clulas
descendentes de uma clula nica, e como todos os organis-
mos metacelulares, intercalados em ciclos geracionais que
sempre partem do estado unicelular, no passam de variaes
sobre o mesmo tema.
Tudo isso resulta em ontogenias de seres vivos capazes
de reproduo e em fllogenias de diferentes linhagens reproduti-
vas, que se entrelaam numa gigantesca e extremamente variada
rede histrica. Isso patente no mundo orgnico que nos cerca,
feito de plantas, animais, fungos e bactrias, bem como nas dife-
renas que observamos entre ns como seres humanos e entre
outros seres vivos. Essa grande rede de transformaes histri-
cas dos seres vivos a trama de sua existncia como seres hist-
ricos. Neste captulo, retomaremos Vrios temas que surgiram
nos captulos anteriores com o fim de entendermos a evoluo or-
gnica de modo global e geral, pois sem uma compreenso ade-
quada dos mecanismos histricos de transformao estrutural
impossvel entender o fenmeno da cognio.
Na verdade, a chave para entender a origem da evolu-
o consiste em algo que j notamos nos captulos anteriores:
a associao inerente entre diferenas e semelhanas em cada
etapa reprodutiva, a conservao da organizao e a mudana
estrutural. Se a existncia de semelhanas cria a possibilidade
de uma srie histrica ou lmhagem mmterrupta, a existncia
de diferenas estruturais cria a possibilidade de variaes his-
tricas nas linhagens. Mas, sendo mais precisos, por que cer-
tas linhagens, e no outras, se produzem ou se estabelecem?
. Por que, quando olhamos ao redor, os peixes nos parecem to
naturalmente aquticos, e os cavalos to adaptados aos cam-
pos? Para responder a essas perguntas, precisamos exammar
A roore do conhecimento 131
de modo mais atento e explcito como ocorrem as interaes
entre os seres vivos e seu meio.
Determinao e acoplamento estrutural
A histria das mudanas estruturais de um determinado
ser vivo sua ontogenia. Nessa histria, todos os seres vivos co-
meam com uma estrutura inicial que condiciona o curso de
suas interaes e delimita as mudanas estruturais que tais inte-
raes desencadeiam. Ao mesmo tempo, eles nascem num deter-
minado lugar, num meio que constitui o entorno em que se reali-
zam e interagem, e que consideramos tambm ser dotado de
uma dinmica estrutural prpria, operacionalmente distinta do
ser vivo. Esse ponto crucial. Como obselVadores, destacamos o
ser vivo enquanto unidade do seu pano de fundo e o caracteriza-
mos como dotado de uma determinada organizao. Dessa for-
ma, distinguimos duas estruturas que sero consideradas opera-
cionalmente independentes uma da outra: o ser vivo e o meio.
Entre elas h uma congruncia estrutural necessria (ou a uni-
dade desapareceria). Em tal congruncia estrutural, uma pertur-
bao do ambiente no determina o que acontecer ao ser vivo,
pois a estrutura deste que define que mudanas ocorrero
como resposta. Portanto, no se trata de uma interao instruti-
va, j que no determina quais sero seus efeitos. Por isso, usa-
mos a expresso "desencadear" um efeito. Desse modo nos referi-
mos ao fato de que as mudanas que resultam da interao entre
o ser vivo e seu meio so desencadeadas pelo agente perturba-
dor, mas determinadas pela estrutura do sistema perturbado. O
mesmo vale para o meio: o ser vivo uma fonte de perturba-
es, e no de instrues.
Talvez o leitor esteja pensando que tudo isso compli-
cado demais e prprio apenas dos seres vivos. Mas, assim
como no caso da reproduo, trata-se de um fenmeno absolu-
tamente comum e cotidiano. No v-lo em toda a sua clareza
que gera complicaes. Portanto, vamos nos demorar mais um
pouco no exame do que ocorre toda vez que distinguimos uma
unidade do meio no qual ela interage.
132 HwnbertoMaturanaR./Francisco Varela G.
A chave para a compreenso disso tudo , de fato, mui-
to simples: como cientistas, s podemos tratar com unidades
detenninadas estruturalmente. Ou seja, s podemos tratar com
sistemas cujas mudanas so determinadas por sua estrutura,
seja qual for. Essas mudanas estruturais ocorrem como re-
sultado de sua prpria dinmica ou so desencadeadas por
suas interaes.
De fato, agimos em nosso da-a-dia como se todas as
coisasfossem unidades determinadas estruturalmente. O auto-
mvel, o gravador, a mquina de costura e o computador so
sistemas que tratamos como se tivessem determinao estru-
tural. Caso contrrio, como explicar que tentemos modificar a
estrutura da unidade quando esta apresenta um defeito? Se o
carro no sai do lugar quando apertamos o acelerador, jamais
pensamos que a falha seja do p que exerce a presso. Supo-
mos que o problema esteja na comunicao entre o acelerador
e o sistema de injeo: ou seja, na estrutura do automvel.
por isso que os defeitos nas mquinas construdas pelo ho-
mem revelam mais sobre a operao efetiva destas do que as
descries que fazemos quando funcionam bem. Na ausncia
de defeitos, abreviamos nossa descrio dizendo, por exem-
plo,que demos "instrues" ao computador para que nos forne-
a o extrato de nossa conta corrente.
Essa atitude cotidiana (que apenas se torna mais siste-
mtica e explcita na cincia, com a aplicao rigorosa do crit-
rio de validao das afirmaes cientficas) adequada no
apenas aos sistemas artificiais, mas tambm aos seres vivos e
aos sistemas sociais. No fosse assim, nunca procuraramos
um mdico quando ficamos doentes nem mudaramos o geren-
te de uma companhia quando seu desempenho frustra as ex-
pectativas. Podemos optar por no explicar muitos fenmenos
de nossa experincia humana, mas se decidirmos propor uma
explicao cientfica, deveremos considerar as unidades estu-
dadas como sendo estruturalmente determinadas.
Isso se torna explcito ao distinguirmos quatro dom-
nios (ou classes) especificados pela estrutura de uma unida-
de:
A rvore do conhecimento 133
a) Domnio de mudanas de estado: todas as mudan-
as estruturais que uma unidade pode sofrer sem
que sua organizao se modifique: ou seja, manten-
do sua identidade de classe.
b) Domnio de mudanas destrutivas: todas as mudan-
as estruturais que causam a perda da organizao
da unidade, que portanto desaparece como unidade
de uma certa classe.
c) Domnio de perturbaes: todas as interaes que
desencadeiam mudanas de estado.
d) Domnio de interaes destrutivas: todas as intera-
es que resultam numa mudana destrutiva.
Assim, temos razo em supor que balas de chumbo dis-
paradas queima-roupa desencadearo na vtima mudanas
destrutivas, especificadas pela estrutura dos seres humanos.
Mas, como bem sabido, essas mesmas balas so meras per-
turbaes para a estrutura de um vampiro, que precisa de esta-
cas de madeira no corao para sofrer uma mudana destruti-
va. Ou, ento, evdente que uma coliso grave contra um pos-
te uma interao destrutiva para uma motocicleta, enquanto
no passa de perturbao para um tanque (Figura 26).
Notemos que, estando a estrutura de um sistema din-
mico estruturalmente determinado em contnua mudana,
seus domnios estruturais tambm sofrero variaes, embora
sempre especificadas a cada momento pela sua estrutura pre-
sente. Essa contnua mudana de domnios estruturais um
trao prprio da ontogenia de cada unidade dinmica, seja um
toca-fitas ou um leopardo.
Desde que uriIa unidade entre numa interao des-
trutiva com seu meio, ns, como observadores, necessariamen-
te veremos entre a estrutura do meio e a da unidade uma com-
patibilidade ou comensurabilidade. Existindo tal compatibili-
dade, meio e unidade atuam como fontes mtuas de perturba-
es e desencadeiam mudanas mtuas de estado, ,num pro-
cesso contnuo que designamos com o nome de acoplamento
estrutural. Por exemplo, na histria do acoplamento estrutural
entre 'as linhagens dos automveis e as cidades,' ocorrem mu-
dramticas ambas as partes, como expresso da i-
134 Hwnberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
d
Figura 26. O trompete, como toda unidade, tem quatro dom-
nios: a) de mudanas de estado; b) de mudanas destrutivas;
c) de perturbaes; dI de interaes destrutivas.
nmica estrutural de cada linhagem ao passar por interaes
seletivas com a outra.
Ontogenia e seleo
Tudo o que foi dito acima vale para qualquer sistema,
inclusive para os seres vivos. Estes no so os nicos em ter-
mos de determinao e acoplamento estrutural. Prprio deles
que a determinao e o acoplamento estrutural se realizam na
r
I
1
\
1
\
!
I
I
A rvore do conhecimento 135
CURVA PERIGOSA: A SELEO NATURAL
A palavra "seleo" traioeira
neste contexto, e preciso cui-
dado para no deslizarmos,
sem nos dar conta, para uma
srie de conotaes pertencen-
tes a outros domnios e no ao
do fenmeno de que nos ocu-
pamos. Com efeito, freqente-
mente pensamos o processo de
seleo como o ato de escolher
voluntariamente entre muitas
alternativas. fcil ceder ten-
tao de pensar que algo seme-
lhante ocorre aqui: o melo, atra-
vs de suas perturbaes, "es-
colheria" quais das multas mu-
danas posslvels ocorrero.
Isso o inverso do que efetiva-
mente ocorre, e contradiz o fato
de que estamos tratando com
sistemas determinados estrutu-
ralmente. Interaes no podem
especificar mudanas estrutu-
rais, pois estas so determina-
das pelo estado anterior da uni-
dade em questo, e no pela es-
trutura do agente perturbador,
como discutimos na seo an-
terior. Falamos de seleo aqui
no sentido de que o observador
pode notar que, dentre as mui-
tas mudanas que v como
possveis, cada perturbao de-
sencadeou ("escolheu") uma, e
no outra do conjunto. Tal des-
crio no totalmente adequa-
da, j que em cada ontogenia
s ocorre uma srie de intera-
es e se desencadeia somente
uma srie de mudanas estrutu-
rais. O conjunto das mudanas
que o observador v como pos-
sveis s existe em sua mente,
ainda que sejam possveis para
histrias diferentes. Nessas cir-
cunstncias, a palavra "seleo"
sintetiza o entendimento que o
observador tem do que ocorre
em cada ontogenia, ainda que tal
entendimento seja fruto da com-
parao de suas observaes de
muitas ontogenias.
H outras explicaes poss-
veis para esse fenmeno. No
entanto, a razo para a tratar-
mos como uma seleo de ca-
minhos de mudana estrutural
que a palavra j se tornou in-
dissocivel da histria da biolo-
gia desde que Darwin a utilizou.
Em Origem das espcies, Dar-
win apontou pela primeira vez a
relao entre variao geracio-
nal e acoplamento estrutural,
observando que era "como se"
houvesse uma seleo natural,
comparvel, por seu efeito se-
parador, seleo artificial que
um fazendeiro faz das varieda-
des que o interessam. O prprio
Darwin foi muito claro ao afir-
mar que nunca tencionou dar
palavra outro uso que no o de
uma metfora conveniente.
Mas, pouco depois, com a di-
vulgao da teoria da evoluo,
a idia de "seleo natural"
passou a ser interpretada como
fonte de interaes instrutivas
do meio. A esta altura da hist-
ria da biologia, mudar sua no-
menclatura seria impossvel,
sendo melhor us-Ia com bom
entendimento. A biologia tam-
bm tem sua ontogenia I
136 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
conservao contnua da autopoiese que os define - seja esta
de primeira ou de segunda ordem -, estando tudo o mais su-
bordinado a essa conservao. Assim, a autopoiese das clulas
que compem um sistema metacelular est subordinada au-
topoiese desse sistema autopoitico de segunda ordem. Portan-
to, toda mudana estrutural de um ser vivo est J)ecessaria-
mente limitada pela conservao de sua autopoiese. As intera-
es que desencadeiem mudanas estruturais compatveis com
tal conservao so perturbaes, e as que no fizerem isso
so interaes destrutivs. A mudana estrutural contnua dos
seI"es vivos com a conservao de sua autopoiese ocorre a cada
instante, continuamente e de vrias maneiras ao mesmo tem-
po. o pulsar de tudo o que vive.
Mas notemos algo interessante: quando, como observa-
dores, falamos do que ocorre a um organismo em determinada
interao, ficamos numa situao peculiar. Por um lado, temos
acesso estrutura do meio .e, por outro, estrutura do orga-
nismo. Podemos considerar as vrias maneiras com que ambas
poderiam ter mudado ao se encontrarem, caso as interaes ti-
vessem sido diferentes das que efetivamente ocorreram. Por
exemplo, podemos imaginar como seria o mundo se Clepatra
tivesse nascido feia. Ou, num exemplo mais srio, como seria
esse menino que nos pede esmola caso tivesse recebido ali-
mentao adequada quando beb. Dessa perspectiva, as mu-
danas estruturais que efetivamente ocorrem numa unidade
parecem "selecionadas" pelo meio atravs de um jogo contnuo
de interaes. Assim, o meio pode ser visto como um "selecio-
nador" contnuo das mudanas estruturais que o organismo
sofre em sua ontogenia.
Estritamente falando, com o meio ocorre exatamente o
mesmo. Em sua histria, so as interaes com os seres vivos
que atuam como seletores de sua mudana estrutural. Por
exemplo, o fato de ter sido o oxignio, dentre todos os gases
possveis, aquele que as clulas dissiparam durante os primei-
ros milhes de anos aps a origem dos seres vivos, teria deter-
minado ' mudanas fundamentais na atmosfera terrestre, de
modo que hoje, como resultado dessa histria, esse gs existe
numa porcentagem significativa. Por sua vez, a presena de oxi-
I
i
\
\
j
I
t
\
I
A rvore do conhecimento
137
gemo na atmosfera teria selecionado variaes estruturais em
muitas linhagens de seres vivos que, ao longo de sua fllogenia,
levaram estabilizao de formas que funcionam corrio seres
respiradores de oxignio. O acoplamento estrutural sempre
mutuo: tanto os organismos como o meio sofrem transforma-
es.
O acoplamento estrutural entre o organismo e o meio
ocorre entre sistemas operacionalmente independentes. A ma-
nuteno dos organismos como sistemas dinmicos em seu
meio depende de uma compatibilidade entre os organismos
com o meio, o que chamamos de adaptao. Se, por outro
lado, as interaes do ser vivo com seu meio se tornam destru-
tivas, desintegrando-o ao interromper sua autopoiese, conside-
ramos que o ser vivo perdeu sua adaptao. A adaptao, por-
tanto, uma conseqncia necessria do acoplamento estru-
tural da unidade com o meio, e portanto no deveria surpreen-
der. Em outras palavras, a ontogenia de um indivduo uma
deriva de mudanas estruturais com conservao de organiza-
o e adaptao.
bom repetir: a conservao da autopoiese e a conser-
vao da adaptao so condies necessrias existncia dos
seres vivos. A mudana estrutural ontognica de um ser vivo
no seu meio ser sempre uma deriva estrutural congruente en-
tre o ser vivo e o meio. Ao observador, essa deriva parecer "se-
lecionada" pelo meio ao longo da histria de interaes do ser
vivo, enquanto estiver vivo.
Filogenia e evoluo
Neste ponto j dispomos de todos os elementos para
entender, em seu conjunto, a grande srie de transformaes
dos seres vivos durante sua histria, e para responder s per-
guntas com que abrimos o captulo. O leitor atento deve ter
notado que, para nos aprofundarmos nesse fenmeno, o que
fIzemos foi examinar sob um microscpio conceitual o que
ocorre na histria das interaes individuais. Ao entender
como isso acontece em cada caso, e sabendo que haver varia-
138 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
es em cada etapa reprodutiva, podemos nos projetar frente
de uma escala de tempo de vrios milhes de anos e encontrar
os resultados de um nmero muito grande (muito grande mes-
mo) de repeties do mesmo fenmento de ontogenia indivi-
dual acompanhada de mudana reprodutiva. A Figura 27 ofe-
rece uma viso global da histria dos seres vivos, desde suas
origens at nossos dias, em todo o seu esplendor.
A figura lembra uma rvore, e portanto chamada de
histria filogen.tica das espcies. Uma filogenia uma suces-
so de formas orgnicas geradas seqencialmente por relaes
reprodutivas. As mudanas vivenciadas ao longo da filogenia
constituem a mudana filogentica ou evolutiva.
Figura 27. As grandes linhas de evoluo orgnica, desde as ori-
gens procariontes at o presente, com toda a variedade de uni-
celulares, plantas, animais e fungos, que surgem das ramifica-
es e entrecruzamentos po'r simbiose de muitas linhagens
primitivas.
\
,
A rvore do conhecimento
Tercirio Phylocerida
Ly)ocerida
Ammoni)ida
Cre)ceo
Jurssico
Certilida
. Trisico
Goniatitida
Permiano
Carbonfero
Oevoniano
Figura 28. Expanso e extino em linhagens de um grupo de
trilobites, animais que existiram entre 500 e 300 milhes de
anos atrs.
139
Por exemplo, a Figura 28 mostra a reconstruo da deri-
va de um grupo especfico de metacelulares: invertebrados mari-
nhos j extintos, conhecidos como trilobites. As. variaes em
cada etapa reprodutiva da fase unicelular do arumal geraram,
como se v em cada momento da histria dos trilobites, uma
grande diversidade de tipos dentro do grupo. C!iQa uma dessas
140 Hwnberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
variantes est acoplada ao meio, que uma variante de um
tema central. Durante essa longa seqncia, ocorreram trans-
formaes geolgicas dramticas sobre a Terra, tais como as
do final do penado conhecido como trisico, h cerca de du-
zentos milhes de anos. O registro fssil revela que durante
esse penado a maioria das linhagens dos trilobites desapare-
ceu. Ou seja, a variao estrutural produzida nessas linhagens
no se mostrou complementar s variaes estruturais con-
temporneas do meio, e com isso os organismos que consti-
tuam tais linhagens no conservaram sua adaptao, no se
reproduziram e as linhagens foram interrompidas. As linha-
gens em que isso no ocorreu ainda sobreviveram durante
muitos milhes de anos, mas, fmalmente, novas e repetidas
mudanas drsticas no meio dos trilobites acabaram impedin-
do a conservao de sua adaptao, e todas as suas linhagens
se extinguiram.
O estudo dos restos fsseis e da paleontologia permite
construir histrias semelhantes dos trilobites para cada um
dos tipos de animais e plantas conhecidos hoje em dia. No h
um nico caso na histria estrutural dos seres vivos que no
revele que cada linhagem um caso particular de variaes so-
bre um tema fundamental, ao longo d uma seqncia ininter-
rupta de etapas reprodutivas, com a conservao da autopoie-
se e da adaptao.
Notemos que nesse, como em todos os casos, muitas
variaes de uma estrutura so capazes de produzir individuas
viveis num meio determinado. Todas essas variaes, como
vimos antes, so igualmente adaptadas e capazes de continuar
a linhagem a que pertencem em seu meio, seja este mutante
ou no, durante no mnimo alguns milhares de anos. Mas esse
caso tambm revela que as diferentes linhagens que as varia-
es estruturais originam ao longo da histria evolutiva de um
grupo diferem na oportU:nidade que tm de manter ininterrup-
ta sua contribuio variedade do grupo num meio mutante.
Isso se nota numa viso retrospectiva que mostra o desapare-
cimento de linhagens, revelando que as configuraes estrUtu-
rais que as caracterizavam no lhes permitiram conservar a
organizao e a adaptao que asseguravam sua continuidade.
J
\
1
I
I
I
I
)
I
I
J
I
\
1
\
\
\
A rvore do conhecimento 141
No processo da evoluo orgnica, cumprido o requisito onto-
gnico essencial da reproduo, tudo permitido. No cumprir
esse requisito levaria extino. Veremos adiante como isso
condiciona de modo importante a histria cognitiva dos seres
vivos.
Deriva natural
Examinemos essa maravilhosa rvore da evoluo or-
gnica a partir de uma analogia. Imaginemos uma colina de
topo estreito. Do alto desse cume, jogamos gotas d'gua sem-
pre na mesma direo, ainda que a mecnica do lanamento
cause variaes no seu modo de cair. Por fim, imaginemos que
as gotas d'gua sucessivamente lanadas deixam marcas sobre
a terra como registros de sua queda.
Evidentemente, ao repetir vrias vezes o experimento,
obteremos resultados ligeiramente diferentes. Algumas gotas
cairo direto para baixo, na direo escolhida, enquanto ou-
tras encontraro obstculos que contornaro de maneiras dife-
rentes, dependendo de suas pequenas diferenas de peso e im-
pulso, desviando-se para um lado ou para o outro. Talvez mu-
danas na corrente de vento conduziro algumas gotas por ca-
minhos mais sinuosos, afastando-as mais da direo inicial. E
assim indefinidamente.
Tomemos agora essa srie de experimentos e, seguindo
as marcas de cada gota, assinalemos todos os caminhos que
obtivemos, como se todas as gotas tivessem cado juntas. O re-
sultado seria algo parecido ao que mostra a Figura 29.
A ilustrao representa adequadamente as mltiplas
derivas naturais das gotas d'gua sobre a colina, resultados de
seus diferentes modos individuais de interagirem com as irre-
gularidades do terreno, com os ventos e assim por diante. A
analogia com os seres vivos bvia. O cume e a direo inicial
escolhida equivalem ao organismo ancestral cQmum, que d
origem a descendentes com ligeiras variaes estruturais. A re-
petio mltipla equivale s muitas linhagens que surgem a
142 Htunberto MaturanaR./Francisco Varela G.
Figura 29. A deriva natural dos seres vivos segundo a metfora
da gua. .
partir desses descendentes. A colina, naturalmente, todo o
meio circundante dos seres vivos, que muda segundo o vir-a-
ser. Este em parte independente do modo como os seres vi-
vos se desenvolvem, em parte dependente deles, e associamos
aqui com a diminuio de altitude. Ao mesmo tempo, a queda
contnua das gotas d'gua, com conservao continua da dimi-
nuio da energia potencial, se associa conservao da adap-
tao. Pulamos as etapas reprodutivas nessa analogia, j que
estamos representando o vir-a-ser das linhagens) e no como
elas se formam. No entanto, a analogia nos mostra que a deri-
va natural ocorrer somente seguindo os cursos que so poss-
I
,
I
j
I
\
\
\
A rvore do conhecimento
143
veis a cada instante, muitas vezes sem grandes variaes na
aparncia dos organismos (fentipo), e muitas vezes com ml-
tiplas ramificaes, dependendo dos tipos de relao organis-
mo-meio que se conservam. Organismos e meio variam de for-
ma independente: os organismos em cada etapa reprodutiva, e
o meio segundo uma dinmica distinta. Do encontro dessas
duas variaes surgiro a estabilizao e a diversificao feno-
tpicas, como resultado do mesmo processo de conservao da
adaptao e da autopoiese, dependendo de quando o encontro
acontece: estabilizao quando o meio se transforma lenta-
mente; diversificao e extenso quando a mudana abrupta.
A constncia e variao das linhagens dependero, portanto,
do jogo entre as condies histricas em que as linhagens
ocorrem e das propriedades intrnsecas dos indivduos que as
144 Humberto Maturana R.I Francisco Varela G.
constituem. Por esse motivo, na deriva natural dos seres vivos
haver muitas extines, muitas formas surpreendentes e ou-
tras que podemos imaginar como possveis, mas que nunca ve-
remos surgir.
Examinemos agora as trajetrias da deriva natural dos
seres vivos de outro ponto de vista, ou seja, a partir de cima. A
forma primordial passa a estar no centro. As linhagens deriva-
das se distribuem ao seu redor como ramificaes que surgem
do centro e vo se afastando dele medida que os organismos
que as constituem se diferenciam da forma original. Isso
m mostrado na Figura 30.
Dessa perspectiva, vemos que a maioria das linhagens
dos seres vivos que encontramos atualmente assemelha-se s
primeiras unidades autopoiticas - bactrias, fungos, algas.
So linhagens que equivalem a trajetrias prximas ao ponto
central. Em seguida, algumas trajetrias se separam e vo
constituir a variedade dos seres multicelulares. Algumas se se-
param ainda mais, constituindo os vertebrados superiores:
pssaros e mamferos. Como no caso das gotas d'gua, desde
que haja casos e tempo suficiente, muitas das linhagens poss-
Figura 30. Deriva natural dos seres vivos como distncias de
complexidade em relao sua: origem comum.
m Conceito original de Ral Berros.
A rvore do conhecimento 145
veis ocorrero, por mais estranhas que paream. Alm disso,
algumas das linhagens se interrompem porque, em dado mo-
mento, e como indicamos no caso dos trilobites, a diversidade
reprodutiva que geram no comensurvel com a variao
ambiental. A conservao da adaptao termina porque tais li-
nhagens produzem seres incapazes de se reproduzir no meio
em que precisam viver.
No sistema das linhagens biolgicas, h muitas trajet-
rias que duraram milhes de anos sem grandes variaes em
torno de uma forma fundamental, muitas que sofrerm gran-
des mudanas geradoras de novas formas e, por fim, muitas
que se extinguiram sem produzir ramificaes que chegassem
ao presente. Em todos os casos, no entanto, trata-se de derivas
filogenticas em que a organizao e a adaptao dos organis-
mos que compem as linhagens se conservam enquanto estas
existem. Alm disso, no so as variaes do meio vistas por
um observador que determinam a trajetria evolutiva das dife-
rentes linhagens, e sim o curso que segue a conservao do
acoplamento estrutural dos organismos em seu meio prprio
(nicho), que eles definem e cujas variaes podem passar des-
percebidas a um observador. Quem capaz de observar as t-
nues variaes da fora do vento, da frico ou das cargas ele-
trostticas que podem desencadear mudanas nas trajetrias
das gotas do exemplo da Figura 29? O fisico se desespera, joga
as mos para o alto e se limita a mencionar flutuaes ca-
suais. No entanto, mesmo usando a linguagem do acaso, o fisi-
co sabe que por trs de cada situao observada h processos
perfeitamente deterministas. Ou seja, ele sabe que, para des-
crever o que acontece com as gotas d'gua, necessria uma
descrio detalhada praticamente impossvel. Mas ele pode se
limitar a uma descrio probabilstica que, ao supor uma lega-
lidade determinista, prediz a classe de fenmenos que podem
ocorrer, mas nenhum caso em particular.
Para entender o fenmeno da evoluo, o bilogo se v
numa situao semelhante. Mas os fenmenos que lhe interes-
sam so regidos por leis muito diferentes das que regem os fe-
nmenos fisicos, como j vimos ao tratar da conservao da
identidade e da adaptao. Assim, o bilogo pode confortavel-
146 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
MAIS OU MENOS ADAPTADO
Dissemos que, enquanto no
se desintegra, o ser vivo est
adaptado a seu meio, manten-
do uma condio de adaptao
invariante. Ou seja, ele se con-
serva. Alm disso, dissemos
que nesse aspecto todos os
seres vivos somos Iguais en-
quanto estamos vivos. No en-
tanto, freqentemente ouvimos
dizer que h seres mais ou me-
nos adaptados, ou que esto
adaptados como resultado de
sua histria evolutiva.
Essa descrio da evoluo
biolgica, e multas outras que
nos legaram os textos escola-
res, Inadequada, como se
conclui de tudo o que disse-
mos. No melhor dos casos, o
observador pode Introduzir um
padro de comparao ou refe-
rncia que lhe permita fazer
comparaes e falar de efic-
cia na realizao de uma fun-
o. Por exemplo, poder-se-ia
medir o grau de eficcia quan-
to ao consumo de oxlgnio en-
tre diferentes grupos de ani-
mais aquticos e mostrar que,
despendendo o que nos parece
o mesmo esforo, alguns con-
somem menos que outros. Ca-
beria descrever estes ltimos
como mais eficazes e mais
bem adaptados? Certamente
que no, pois na medida em
que esto todos vivos, todos
satisfizeram os requisitos ne-
cessrios para uma ontogenia
ininterrupta. As comparaes
sobre eficcia pertencem ao
domfnio de descries feitas
pelo observador, e no tm re-
lao dlreta com o que ocorre
s histrias Individuais de con-
servao da adaptao.
Em resumo: no h sobrevi-
vncia do mais capaz, h so-
brevivncia de quem capaz.
Trata-se de condies neces-
srias que podem ser satisfei-
tas de multas maneiras, e no
de otimlzao de algum critrio
alheio prpria sobrevivncia.
Figura 31. Diferentes
maneiras de nadar.
~
I
\
I
\
\
\
A roore do cbnhecimento 147
EVOLUO: DERIVA NATURAL
importante, para a compreen-
so plena deste livro, dar-se
conta de que aquilo que disse-
mos sobre evoluo orgnica
basta para entender as caracte-
rsticas bsicas do fenmeno
da transformao histrica dos
seres vivos. No necessrio
um exame detalhado dos me-
canismos subjacentes.
Por exemplo, praticamente no
tocamos em tudo o que hoje se
sabe sobre como a gentica
populacional tornou explcitos
alguns aspectos do que Darwin
chamava de "modificao por
meio da descendncia". Da
mesma maneira, no tocamos
na contribuio do estudos
dos fsseis para o conheci-
mento detalhado das transfor-
maes evolutivas de multas
espcies.
De fato, no h hoje um quadro
unificado de como ocorreu a
evoluo dos seres vivos em
todos os seus aspectos. H
mltiplas escolas de pensa-
mento que questionam seria-
mente o entendimento da evo-
luo pela seleo natural, que
vem dominando a biologia des-
de a ltima metade do sculo.
No entanto, sejam quais forem
as novas idias propostas para
os mecanismos evolutivos,
no se pode negar o fenmeno
da evoluo. Mas estamos li-
vres da viso popularizada da
evoluo como um processo
em que seres vivos se adaptam
progressivamente a um mundo
ambiental, otimizando sua ex-
plorao. O que estamos pro-
pondo que a evoluo ocorre
como um fenmeno de deriva
estrutural sob contnua sele-
o filognica, em que no h
progresso nem otimizao do
uso do meio. H apenas con-
servao da adaptao e da
autopolese, num processo em
que organismo e meio perma-
necem em contnuo acopla-
mento estrutural.
mente dar conta de grandes linhas evolutivas na histria dos
seres vivos baseando-se no acoplamento estrutural destes a
um meio em transformao (tais como as mudanas ambien-
tais que mencionamos no caso dos trilobites) . Mas ele tambm
se desespera quando se trata de explicar as transfonnaes
148 Hwnberto Maturana R. / FrWlCisco Varela G.
detalhadas de um grupo animal. Para isso, precisaria recons-
truir no s todas as variaes ambientais, como tambm o
modo com que esse grupo em particular compensou tais flu-
tuaes segundo sua prpria plasticidade estrutural. Em resu-
mo, somos obrigados a descrever cada caso particular como
resultado de variaes casuais, j que s podemos descrever o
transcurso de suas transformaes a posteriori. Da mesma
maneira descreveramos um barco deriva, movido por varia-
es do vento e da mar inacessveis a nossa previso.
Podemos ento dizer que um dos aspectos mais interes-
santes da evoluo a maneira como a coerncia interna de um
grupo de seres vivos compensa uma determinada perturbao.
Por exemplo, caso haja uma mudana significativa na tempera-
tura terrestre, somente os organismos capazes de viver dentro do
novo padro trmico podero continuar sua filogenia. Mas a
compensao da temperatura pode se dar de vrias formas: com
plos mais espessos, com mudanas das taxas metablicas, com '
migraes geogrficas em massa etc. Em cada caso, o que vemos
como adaptao ao frio tambm envolve o resto do organismo de
maneira global: desenvolver pelos, por exemplo, implica necessa-
riamente mudanas correlativas - no s na pele e nos mscu-
los, mas tambm no modo como os animais de um mesmo grupo
se reconhecem entre si e na maneira como o tono muscular re-
gulado durante o movimento. Em outras palavras, j que todo
sistema autopoitico uma unidade feita de mltiplas interde-
pendncias, quando uma dimenso do sistema modificada, o
organismo como um todo passa por mudanas correlativas em
muitas dimenses ao mesmo tempo. Mas, certamente, tais mu-
danas correlativas, que nos parecem corresponder a mudanas
no meio, no ocorrem por causa destas, e sim na deriva que se
configura no encontro operacionalmente independente entre or-
ganismo e meio. Como no vemos todos os fatores que partici-
pam do encontro, a deriva nos parece um processo comandado
pelo acaso. Veremos que no assim ao estudarmos as maneiras
com que o organismo, como um todo coerente, experimenta mu-
danas estruturais.
Resumindo: a evoluo uma deriva natural, produto
da invarincia da autopoiese e da adaptao. Como no caso
A rvore do conhecimento 149
da,s gotas d 'gua, no necessria uma direcionalidade exter-
na para gerar a diversidade e a complementaridade entre orga-
nismo e meio. Tampouco necessrio tal roteiro para explicar
a direcionalidade das variaes numa linhagem, nem se trata
da otimizao de alguma qualidade especifica dos seres vivos.
A evoluo se assemelha mais a um escultor vagabundo que
perambula pelo mundo recolhendo um fio aqui, um pedao de
lata ali, um pedao de madeira acol, e os combinando da ma-
neira que sua estrutura-e circunstncia permitem, sem mais
razo do que a possibilidade de combin-las. E assim, enquan-
to ele vagueia, vo se produzindo formas intrincadas, compos-
tas de partes harmonicamente interligadas, que so produtos
no de um desgnio, mas de uma deriva natural. Assim tam-
bm, sem outra lei que a conservao de uma identidade e a
capacidade de reproduo, foi que todos ns surgimos. a lei
fundamental que nos liga a todas as coisas: rosa de cinco p-
talas, ao camaro-d'gua-doce, ao executivo de Nova Iorque.
10
Conhecer o
....---i--- conhecer ----r-.--1
I
1---:-___ tica
Dominios
r+""--+---'lingisticos--""":-'
. I
Lmguagem
C
1.- .
onsclenCla
I-!-;-- reflexiva
Fenmenos
II I Fenmenos sociais
Unidades de __ ......,,..;.,
l1 __
7
Atos cognoscitivos ---ll..u
Ampliao do
dominio de
interaes
L I'Iruoticid'd' Jl
,.'nu""" I
2
1
Experincia cotidiana
I
Fenmeno do conhecer
I I
Explicao Obser-
cientifica vador
I I
Ao _ __ .....l-+-l-J
I unidade?1l
Organizao-Estrutura
L Autopoiese J
I .
FenomenologIa
Fenmenos histncos
I I
Conservao-Variao
I I
4
Perturbaes _ _ .:.....,!'-,
rT Acoplamento-6nto- II
""""-+++II--;... l eSjtural jenia j
Unidades de
I segunda ordem
!peraciOnal
V
5
rFilogenia
Deriva Histria de
natural interaes
C
I - S II -
onservaaL e eao
da adaptao estrutural
I I
Determinao
estrutural
Figura 32. Um orangotngo roubando um rato de um gato.
154 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Quando um adivinho promete predizer
nosso futuro com sua arte, geralmente ficamos cheios de senti-
mentos contraditrios. Por um lado, nos atrai a idia de que
algum olhe para nossas mos e, valendo-se de um determi-
nismo para ns inescrutvel, possa antecipar nosso futuro.
Por outro lado, a idia de sermos seres determinados, explic-
veis e previsveis nos parece inaceitvel. Apreciamos nosso li-
vre arbtrio e queremos estar alm de qualquer determinismo.
Mas, ao mesmo tempo, queremos que o mdico cure nossos
males tratando-nos corno sistemas estruturalmente determina-
dos. O que revela isso? Que relao h entre nosso ser orgni-
co e nossa conduta? Nosso propsito neste e nos prximos ca-
ptulos responder a tais perguntas. Com esse fim, comeare-
mos examinando mais detalhadamente corno podemos enten-
der um domnio comportamental em todas as suas possveis
dimenses.
Previsibilidade e o sistema nervoso
Como j vimos, s podemos gerar urna explicao cienti-
fica se tratar o fenmeno que nos interessa explicar corno resul-
tado da operao de um sistema estruturalmente determinado.
Na verdade, estamos apresentando toda essa anlise do mundo e
dos seres vivos em termos deterministas, mostrando corno o uni-
verso se toma compreensvel a partir dessa perspectiva, e corno a
vida surge nele corno algo espontneo e natural.
No entanto, preciso distinguir claramente entre deter-
minismo e previsibilidade. Previso quando consideramos o
estado presente de um sistema qualquer que estejamos obser-
vando e afirmamos que haver um estado subseqente que re-
sultar de sua dinrnica estrutural e que tambm poderemos
observar. Portanto, urna previso revela o que ns, corno ob-
servadores, esperamos que acontea.
Sendo assim, a previsibilidade no sempre possvel, e
no a mesma coisa afirmar o carter estruturalmente determi-
nado de um sistema e afirmar sua total. previsibilidade. Isso por-
que: corno observadores, podemos no ter condies de obter os
A rvore do conhecimento . 155
conhecimentos necessrios sobre a operao de um certo siste-
ma que possibilitem uma previso sobre ele. Ningum discute
que as nuvens e os ventos seguem obedientemente certos prin-
cpios de movimento e transformao relativamente simples.
No entanto, a dificuldade em conhecer todas as variveis rele-
vantes toma a meteorologia uma disciplina de limitados pode-
res de previso. Nesse caso, a limitao decorre de uma inca-
pacidade de observao. Em outros, a incapacidade pode ser
de outra ordem. Em fenmenos como a turbulncia, nem se-
quer temos elementos que permitam imaginar um sistema de-
terminista detalhado que lhe d origem. um caso em que a
limitao da previso revela uma limitao conceituai. Por lti-
mo, h sistemas que mudam de estado ao serem observados,
de modo que a prpria inteno do observador de prever o cur-
so estruturai do sistema o afasta do seu domnio de previses.
Em outras palavras, os fenmenos que nos parecem
necessrios e inevitveis nos permitem, como observadores, fa-
zer uma previso vlida. Mas os fenmenos que vemos como
casuais no permitem a proposio de um sistema explicativo
cientfico.
preciso ter isso em mente ao estudarmos o que ocor-
re com a ontogenia dos organismos multicelulares dotados de
sistema nrvoso, aos quais costumamos atribuir um domnio
comportamental muito vasto e rico. Mesmo antes de explicar o
sistema nervoso, sabemos que parte de um organismo e que
ter de funcionar dentro deste de modo a contribuir a cada
momento para a sua determinao estrutural. Tal contribuio
deve-se tanto sua estrutura quanto ao fato de que os resulta-
dos de sua operao (por exemplo, a linguagem) sero parte do
meio, que, a cada instante, funciona como seletor da deriva es-
trutural do organismo que nele conserva sua identidade: O ser
vivo (com ou sem sistema nervoso) funciona sempre em seu
presente estrutural. O passado, como referncia de interaes
j ocorridas, e o futuro, como referncia de interaes que iro
ocorrer, so dimenses valiosas para que os observadores se
comuniquem entre si, mas no participam do determinismo
estrutural do organismo a cada momento.
156 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Dotados ou no de sistema nervoso, todos os organis-
mos, incluindo o nosso, funcionam como funcionam e esto
onde esto a cada instante devido a seu acoplamento estrutu-
ral. Estamos escrevendo estas linhas porque fomos feitos de
uma certa maneira e seguimos uma certa ontogenia particular.
E o leitor que nos l entende o que est entendendo porque
sua estrutura no presente, e portanto (indiretamente) sua his-
tria, assim o determina. Em sentido estrito, nada acidental.
Ainda assim, nossa experincia de liberdade criativa, e temos
a impresso de que o fazer dos animais superiores imprevis-
vel. Como ocorre essa espantosa riqueza na conduta dos ani-
mais dotados de sistema nervoso? Para entender essa questo,
precisamos examinar com mais ateno o funcionamento do
sistema nervoso em toda a riqueza dos domnios de acopla-
mento estrutural que sua presena possibilita.
Sapos e crianas-lobo
Todas as variedades de sapos, esses animais to co-
muns em nossos campos, se alimentam de animais pequenos
tais como vermes, traas e moscas. Sua conduta alimentar
sempre a mesma: o animal se orienta em direo presa, pro-
jeta sua longa lngua pegajosa e a recolhe rapidamente, trazen-
do a presa aderida superficie. Nesse ponto, a conduta do
sapo extremamente precisa - o observador v que ele sem-
pre lana a lngua em direo presa.
Por isso, possvel fazer com o sapo um experimento
m muito revelador. Cortamos a borda do olho de um girino e,
sem tocar no nervo ptico, giramos o olho at completar 180
graus. Deixamos que o animal operado complete seu desenvol-
vimento larval e sua metamorfose at se tomar adulto. Ento
mostramos um verme ao nosso sapo de laboratrio, tomando o
cuidado de cobrir o olho virado. Ele tira a lngua para fora e
acerta em cheio o alvo. Repetimos o experimento, desta vez co-
m R. w. Sperry, J. Neurophysiol., 8: IS, 1945.
A roore do conhecimento
Figura 33. Erro de pontaria ou expresso de uma nova correla-
o interna?
157
brindo o olho normal. Vemos ento que o animal projeta a lngua
com um desvio de exatamente 180 graus. Ou seja, se a presa
est abaixo e na frente do animal, este projeta sua lngua para
cima e para trs. Toda vez que repetimos o teste, o sapo comete o
mesmo erro, faiendo um desvio de 180 graus. intil insistir: o
animal com o olho virado nunca muda esse novo modo de lanar
a lngua com um desvio em relao posio da presa equivalen-
te rotao imposta pelo pesquisador (Figura 33). O sapo projeta
a lngua como se a zona da retina onde a imagem da presa se for-
ma estivesse em sua posio normal.
O experimento revela de maneira dramtica que para o
animal no existe acima e abaixo, ou frente e trs, em relao
ao mundo exterior, como existe para o observador que faz o es-
tudo. Existe apenas uma correlao interna entre o lugar de
onde a retina recebe uma determinada perturbao e as con-
traes musculares' que movem a lngua, a boca, o pescoo e,
em ltima instncia, todo o corpo do sapo.
Quando posicionamos a presa abaixo e na frente do
sapo com o olho virado, causamos uma perturbao visual aci-
ma e atrs na zona da retina que habitualmente est situada
na frente e abaixo. Isso desencadeia no sistema nervoso do
sapo uma correlao sensrio-motora entre a: posio da retina
158 Hwnberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
e o movimento da lngua, e no um clculo sobre um mapa do
mundo, como pareceria razovel a um observador.
Esse experimento, como vrios realizados desde os
anos 50, pode ser considerado uma evidncia direta de que a
operao do sistema nervoso expresso de sua conectividade,
ou estrutura de conexes, e que a conduta resultado das re-
laes de atividades internas do sistema nervoso. Trataremos
disso adiante. No mo-mento, queremos chamar a ateno do
leitor para a dimenso de plasticidade estrutural que o sistema
nervoso introduz no organismo - ou seja, de como para cada
organismo sua histria de interaes resulta num caminho es-
pecfico de mudanas estruturais. Estas, por sua vez, consti-
tuem uma histria particular de transformaes a partir de
uma estrutura inicial, em que o sistema nervoso participa am-
pliando o domnio de estados possveis.
Se separarmos um carneiro recm-nascido de sua me
por algumas horas, devolvendo-o em seguida, o animalzinho se
desenvolver de modo aparentemente normal. C r e ~ c e r , cami-
nhar, seguir sua me, sem revelar nada de diferente, at que
observemos suas interaes com outros fllhQtes de carneiro. A
brincadeira desses animais correr e dar cabeadas uns nos
outros. Mas o carneiro que separamos da me por poucas ho-
ras no participa. No sabe e no aprende a brincar, permane-
cendo separado e solitrio. O que lhe aconteceu? No podemos
dar uma explicao detalhada, mas sabemos? por tudo o que j
vimos neste livro, que a dinmica dos estados do sistema ner-
voso depende de sua estrutura. Portanto, o fato desse animal
se comportar de maneira diferente revela que seu sistema ner-
voso se tornou diferente do dos outros como resultado da pri-
vao passageira da me. De fato, durante as primeiras horas
aps o nascimento dos carneiros, a me os lambe continua-
mente, passando a lngua por todo o seu corpo. Ao separar o
fllhote da me, impedimos essa interao e tudo o que acarreta
em termos de estmulo ttil-visual e, provavelmente, de conta-
tos qumicos de vrios tipos. O experimento mostra como es-
sas interaes so decisivas para a transformao estrutural
do sistema nervoso, e suas conseqncias aparentemente vo
muito alm do simples ato de lamber.
A roore do conhecimento 159
Todo ser vivo comea sua existncia com uma estrutu-
ra unicelular particular. seu ponto de partida. Por isso, a on-
togenia de todo ser vivo consiste em sua contnua transforma-
o estrutural. Por um lado, um processo que ocorre sem in-
terromper a identidade nem o acoplamento estrutural do orga-
nismo ao meio, desde o incio at a desintegrao final; por ou-
tro, segue um curso particular selecionado pela seqncia de
mudanas estruturais desencadeadas por sua histria de inte-
raes. O caso do carneiro no constitui uma exceo. Como
no exemplo do sapo, apenas mais evidente, pois temos aces-
so a uma srie de interaes que podemos descrever como "se-
letoras" de um certo caminho de mudana estrutural que, no
caso em questo, mostrou-se patolgico quando comparado ao
curso normal.
Tudo isso tambm se aplica aos seres humanos, como
foi demonstrado pelo caso dramtico das duas meninas de
uma aldeia bengali ao norte da ndia que, em 1922, foram res-
gatadas (ou arrancadas) de uma famlia de lobos que as havia
criado em total isolamento de qualquer contato humano (Figu-
m ra 34). Uma das meninas tinha oito anos e a outra cinco. A
menor morreu pouco tempo depois de ser encontrada, e a ou-
tra sobreviveu mais dez anos com outros rfos com quem foi
criada. Quando foram encontradas, as meninas no sabiam
andar sobre os ps, mas se moviam rapidamente de quatro.
claro que no falavam, e seus rostos eram inexpressivos. Que-
riam comer apenas carne crua, tinham hbitos noturnos, repe-
liam o contato humano e preferiam a companhia de cachorros
e lobos. Ao ser resgatadas, estavam perfeitamente saudveis e
no apresentavam nenhum sintoma de debilidade mental ou
desnutrio. Mas a separao da famlia lupina causou-lhes
uma profunda depresso que as levou beira da morte, sendo
que uma efetivamente morreu.
A menina que sobreviveu dez anos acabou por mudar
seus hbitos alimentares e seus ciclos de atividade. Aprendeu
a caminhar sobre os dois ps, mas sempre voltava a correr de
W C. MacLean, The wolfchildren, Penguin Books, Nova Iorque, 1977.
160 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
a
b
c
Figura 34. a) e b): Comparao mostrando o andar lupino da
menina bengali algum tempo depois de encontrada; c) meni-
na-lobo comendo como aprendera.
A rvore do conhecimento 161
d
Figura 34. d) Nunca pareceram completamente humanas.
quatro em situaes de urgncia. Nunca chegou propriamente
a falar, embora usasse um punhado de palavras. A famlia do
missionrio anglicano que cuidou dela, bem como outras pes-
soas que a conheceram intimamente, nunca sentiu que fosse
verdadeiramente humana.
Esse caso - e no o UlllCO - mostra que, embora
sua constituio gentica, sua anatomia e fisiologia fossem hu-
manas, as duas meninas nunca chegaram a se acoplar num
contexto humano. Os comportamentos que o missionrio e sua
famlia queriam mudar por serem aberrantes no contextohu-
mano eram completamente naturais para as meninas criadas
entre os lobos. Na verdade, Mowgli, o menino das selvas imagi-
nado por Kipling, jamais poderia ter existido em carne e osso,
162 Hwnberto Maturana. R./Francisco Varela G.
j que aprendeu a falar e a se portar como homem quando co-
nheceu o meio humano. Ns, seres de carne e osso, no somos
alheios ao mundo em que vivemos e a que damos luz com
nosso existir cotidiano.
Sobre o fio da navalha
A viso mais popular e corrente do sistema nervoso
considera-o um instrumento por meio do qual o organismo ob-
tm informaes do meio, de modo a construir uma repre-
sentao do mundo que lhe permita calcular uma conduta
adequada para sua sobrevivncia (Figura 35). Assim, o meio
imprimiria no sistema nervoso as caractersticas que lhe so
prprias e este as utilizaria para gerar a conduta, como quem
usa um mapa para traar uma rota.
Mas sabemos que o sistema nervoso, sendo parte de
um organismo, opera com determinao estrutural. Portanto, a
estrutura do meio no pode determinar suas mudanas, mas
apenas desencade-las. Como observadores, temos acesso ao
sistema nervoso e estrutura do seu meio, o que nos permite
descrever a conduta do organismo como produto do operar do
sistema nervoso com representaes do meio, ou como expres-
so de algum processo intencional ou direcionado a uma meta."
Mas tais descries no refletem a operao do sistema nervo-
so em si e, portanto, sua utilidade para ns de carter so-
mente comunicativo, no tendo valor explicativo cientfico.
Se refletirmos um pouco sobre os exemplos que apre-
sentamos anteriormente, veremos que nossa primeira tendn-
cia ao descrever o que acontece em cada caso utilizar, de um
modo ou de outro, alguma forma da metfora de obter "infor-
maes" do meio que so representadas no "interior". No en-
tanto, nossa argumentao anterior deixou claro que o uso
desse tipo de matfora contradiz tudo o que sabemos sobre os
seres vivos. A situao gera grande dificuldade e resistncia, j
que a nica alternativa viso do sistema nervoso operando
com representaes parece ser a negao da realidade circun-
dante. De fato, se o sistema nervoso no opera - e no pode
A roore do conhecimento
Figura 35. Csar segundo a metfora representacionista (aguila
[espanhol) = guia).
163
operar - com representaes do mundo circundante, como ex-
plicar a extraordinria eficcia operacional do homem e dos
animais, nossa enorme capacidade de aprendizagem e mani-
pulao do mundo? Se negarmos a objetividade de um mundo
cognoscvel, no cairemos no caos e na total arbitrariedade,
em que tudo possvel?
como caminhar sobre o fio de uma navalha. De um
lado, h uma cilada: a impossibilidade de compreender o fen-
meno cognitivo se supusermos que o mundo feito de objetos
que nos informam, j que no h um mecanismo que de fato
permita tal "informao". Do outro lado, h outra cilada: o
caos e a arbitrariedade da ausncia de objetividade, onde tudo
parece ser possvel. Temos de aprender a seguir o caminho in-
termedirio - a andar sobre o fio da navalha (Figura 36).
Com efeito, se ~ a i r m o s na cilada de supor que o siste-
ma nervoso funciona com representaes do mundo, ficaremos
cegos possibilidade de explicar como o sistema nervoso opera
164 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Figura 36. A odissia epistemolgica: navegando entre o rede-
moinho Caribdis do solipsismo e o monstro Scila do repre-
sentacionismo.
de um momento a outro como um sistema determinado e com
clausura operacional, como veremos no prximo captulo.
Por outro lado, h a cilada de negar o meio circundan-
te, de supor que o sistema nervoso funcione no vcuo, e que
logo tudo seria vlido e possvel. o extremo da absoluta solido
cognitiva, do solipsismo (dentro da tradio da filosofia clssica,
a afirmao de que s existe a interioridade de cada um), que no
explica a existncia de uma adequao ou comensurabilidade en-
tre o funcionamento do organismo e seu mundo.
Mas esses dois extremos ou ciladas existem desde as pri-
meiras tentativas de compreender o fenmeno do conhecimento,
em suas razes mais clssicas. Hoje em dia, predomina o extremo
representacional; noutros tempos, prevaleceu a viso contrria.
Queremos propor uma maneira de desfazer esse apa-
rente n grdioe encontrar um modo natural de evitar os dois
abismos que cercam o fio da navalha. Na verdade, o leitor
A roore do conhecimento 165
atento j deve estar imaginando que maneira essa, Ja que
est contida em tudo o que dissemos. A soluo manter uma
clara contabilidade lgica - ou seja, no perder de vista o que
dissemos no incio: Tudo o que dito, dito por algum. A so-
luo, como todas as solues de aparentes contradies, con-
siste em sair do plano das oposies e mudar a natureza da
pergunta, passando para um contexto mais abrangente.
Na verdade, a situao simples. Como observadores,
podemos ver uma unidade em domnios diferentes, d e p ~ n
dendo das distines que ftzermos. Assim, por um lado, pode-
mos considerar um sistema no domnio do operar de seus
componentes, de seus estados internos e mudanas estrutu-
rais. Nesse caso, para a dinmica interna do sistema, o meio
no existe, irrelevante. Por outro lado, tambm podemos con-
siderar uma unidade segundo suas interaes com o meio e
descrever a histria dessas interaes. Nessa perspectiva, em
que o observador pode estabelecer relaes entre certas carac-
tersticas do meio e a conduta da unidade, a dinmica inter-
na que se torna irrelevante.
Nenhum desses dois domnios possveis de descrio
problemtico em si, e ambos so necessrios para um entendi-
mento completo da unidade. o observador que os correlacio-
na a partir de sua perspectiva externa. ele quem reconhece
que a estrutura do sistema determina suas interaes ao espe-
ciftcar quais conftguraes do meio podem desencadear mu-
danas estruturais no sistema. ele quem reconhece que o
meio no especiftca nem informa as mudanas estruturais do
sistema. O problema comea quando mudamos, sem perceber,
de um domnio para o outro, e exigimos que as correspondn-
cias que estabelecemos entre eles (pois podemos v-los simul-
taneamente) participem de fato do funcionamento da unidade
- nesse caso, o organismo e o sistema nervoso. Se mantiver-
mos clara nossa contabilidade lgica, a complicao se dissi-
par - ftcaremos conscientes das duas perspectivas e as rela-
cionaremos num domnio mais abrangente estabelecido por
ns. Assim, no precisamos recorrer s representaes nem
negar que o sistema opera num meio que lhe comensurvel
graas sua histria de acoplamento estrutural.
166 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
Talvez isso fique mais claro com uma analogia. Imagi-
nemos uma pessoa que passou toda a sua vida dentro de um
submarino. Nunca saiu dele, mas recebeu um treinamento
perfeito de como oper-lo. Estamos na praia e vemos que o
submarino se aproxima e emerge graciosamente superfcie.
Ento, pegamos o rdio e dizemos ao piloto: "Parabns, voc
evitou os recifes e emergiu com muita elegncia. As manobras
do submarino foram perfeitas." Mas nosso amigo no interior do
submarino fica perplexo: "Que negcio esse de recifes e emer-
gir? Tudo o que fiz foi mover alavancas, girar botes e estabele-
cer certas relaes entre indicadores, numa seqncia prescri-
ta qual me acostumei. No fiz manobra alguma e no sei de
que submarino est falando. Deve estar brincando."
Para o homem no interior do submarino, s existem as
leituras dos indicadores, suas transies e maneiras de obter
certas relaes especficas entre elas. Somente para ns do
lado de fora, que vemos como mudam as relaes entre o sub-
marino e seu meio, a conduta do submarino existe e parece
mais ou menos adequada, conforme suas conseqncias. Para
manter a contabilidade lgica, no devemos confundir o operar
do submarino, sua dinmica de estados, com deslocamentos e
mudanas de posio no ambiente. A dinmica de estados do
submarino, com seu piloto que no conhece o mundo exterior,
nunca depende de representaes do mundo que o observador
externo v: no envolve nem "praias", nem "recifes", nem "su-
perfcie", mas apenas correlaes entre indicadores dentro de
certos limites. Entidades como praias, recifes e superfcie va-
lem unicamente para observadores externos, no para o sub-
marino ou para o piloto que opera como componente deste. O
que vale para o submarino dessa analogia tambm vale para
todos os sistemas vivos: para o sapo de olho virado, para a me-
nina-lobo e para cada um de ns, seres humanos.
Conduta e sistema nervoso
O que chamamos de conduta ao observar as mudanas
de estado de um organismo em seu meio corresponde descri-
A rvore do conhecnento 167
CONDUTA
Denominamos conduta as mudanas
de postura ou posio de um ser
vivo que um observador descreve
como movimentos ou aes em rela-
o a um determinado meio.
o que fazemos dos movimentos do organismo no meio que
assinalamos. A conduta no algo que o ser vivo propriamente
faa, j que nela s acontecem mudanas estruturais internas,
e sim algo que ns assinalamos. Uma vez que as mudanas de
estado de um organismo (com ou sem sistema nervoso) depen-
dem de sua estrutura, e esta de sua histria de acoplamento
estrutural, as mudanas de estado do organismo sero neces-
sariamente congruentes ou comensurveis com seu meio, no
importando quais condutas ou meios descritos. Por esse moti-
vo, a conduta, ou configurao particular de movimentos, pa-
recer ou no adequada dependendo do meio em que a descre-
vamos. O sucesso ou fracasso de uma conduta sempre defi-
nido pelo mbito de expectativas delimitado pelo observador.
Se o leitor adotar os mesmos movimentos e a mesma postura
para ler este livro no meio do deserto do Atacama, sua conduta
ser no s excntrica, como tambm patolgica.
Portanto, a conduta dos seres vivos no uma inven-
o do sistema nervoso, e no est associada exclusivamente a
ele, pois o observador observar condutas em qualquer ser
vivo em seu meio. O que o sistema nervoso faz expandir o do-
mnio de possveis condutas, ao dotar o organismo de uma es-
trutura tremendamente verstil e plstica. Esse o tema do
prximo captulo.
Conhecer o r--;:========::;-l
r----i'---- conhecer ---+-1 1
I Lf-Experincia cotidiana
I--+---lttica C> I
do conhecer
I I
10
,1C Lll
L AutoPOiese J
I
Explicao Obser----..,_
cientifica vador
I I
9
Ao----t--H-'
Domnios
r-i--r-+----:lingisticoS---+--,
" I
Lmguagem_
conJ inCia
I-i--- reflexiva
1 "i
E culturais
Fenmenos sociais-r-
Atos cognoscitivos
-Correta&!
I "
'-;- -Ampliao do -II--!--'
domnio de
nteraes <J
LPlasticidade - I-
estrutural
Fenmenos histricos f-
I I
Conservao-Variao
I I
Reproduo--r,-'
4
rr Acopbento-6nto--) I
'--;-;""1 ;-I-+- eSjtural ,enia
Unidades de
I
segunda ordem
I "
jr+--!--i:_
c
.......
Conduta Sistemal
I
Contabilidadelgica r-
RepreJntao-
Solipsismo 1
r Filogenia ,.--+--i-'
Deriva_ Histha de--: _I
natural interaes
Co
1 _ Sell-
eao-,_
da adaptao estrutural
I I
Determinao
estrutural
7
o SISTEMA NERVOSO
EACOGNIO
Figura 37. Neurnios cerebrais desenhados por Santiago Ramn
y Cajal .
172 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Neste captulo queremos examinar de que maneira o
sistema nervoso expande os domnios de interao de um or-
ganismo. Vimos que a conduta no uma inveno do sistema
nervoso. Ela prpria de qualquer unidade considerada num
meio, onde especifica um domnio de perturbaes e mantm
sua organizao como resultado das mudanas de estado de-
sencadeadas pelas perturbaes.
importante ter isso em mente, j que costumamos
ver a conduta como algo prprio aos animais com sistemas
nervosos. Todavia, as associaes costumeiras com a palavra
"conduta" so com aes tais como caminhar, comer, procurar
etc. Todas essas atividades, normalmente associadas noo
de conduta, tm em comum a noo de movimento. No entan-
to, o movimento, seja sobre a terra seja na gua, no univer-
sal entre os seres vivos. Muitas formas resultantes da deriva
natural no apresentam movimento.
Histria natural do movimento
Consideremos, por exemplo, a planta da Figura 38.
Quando cresce fora d'gua, a sagitria tem a forma ilustrada
acima. Mas quando o nvel da gua sobe, submergindo-a, a
planta muda de estrutura dentro de poucos dias e assume sua
forma aqutica, ilustrada abaixo. A situao inteiramente re-
versvel e ocorre por meio de mudanas estruturais bastante
complexas, que envolvem uma forma de diferenciao distinta
das diferentes partes da planta. Poderamos descrever esse
caso como conduta, pois existem mudanas estruturais obser-
vveis na forma da planta de modo a compensar certas pertur-
baes recorrentes do meio. No entanto, a situao costuma
ser descrita como uma mudana no desenvolvimento da plan-
ta, e no como conduta. Por qu?
Comparemos o caso da sagitria com a conduta ali-
n:w mentar da ameba, quando prestes a ingerir um pequeno proto-
zorio mediante a extenso de seus pseudpodes (Figura 39).
Os pseudpodes so expanses ou digitaes do protoplasma
associveis s mudanas na constituio fisico-qumica local
A rvore do conhecimento
Figura 38. Sagitria sagitifoliada em suas formas aqutica e ter-
restre.
173
da matriz e membrana celular. Como resultado, protoplasma
flui em certos pontos e empurra o animal numa ou noutra di-
reo, produzindo os movimentos amebides. Ao contrrio do
que ocorre com a sagitria, ningum hesita em descrever tal
situao como conduta.
De nossa perspectiva, claro que h uma continuidade
entre ambos os casos. Ambos so instncias de conduta. Ten-
de-se a caracterizar como conduta a situao da ameba e no
a da sagitria porque na primeira se pode detectar movimento.
Ou seja, h uma continuidade entre o movimento da ameba e
174 Humberto Maturana R.I Francisco Varela G.
Figura 39. Ingesto
a grande diversidade de condutas dos animais superiotes que
sempre vimos como formas de movimento. Por contraste, as
mudanas de diferenciao da sagitria parecem distantes do
que reconhecemos como movimento, por serem lentas e pare-
cerem no passar de uma mudana de forma.
Na verdade, do ponto de vista do aparecimento e trans-
formao do sistema nervoso, a possibilidade de movimento
essencial. isso que torna a histria do movimento to fasci-
nante. Como e por que motivo, o que veremos no decorrer
deste captulo. Antes, examinemos os casos gerais de uma
perspectiva mais abrangente, considerando como o movimento
ocorre em todo o mbito da natureza.
o grfico da Figura 40 mostra o tamanho de diferentes
unidades naturais em funo de sua capacidade de movimen-
to, medida em termos das velocidades mXimas alcanadas. m
Vemos que, nos extremos do grande e do pequeno, tanto s ga-
lxias como as partculas elementares so capazes de movi-
mentos muito rpidos, da ordem de milhares de quilmetros
por segundo. No entanto, ao consider as molculas grandes,
como as que constituem os seres vivos, vemos que seu movi-
m J. T. Bonner, The evolution of cu/ture in animal societies, Princeton Uni-
versity Press, 1980.
A rvore do conhecimento
175
tO"
10
10
IG"
10'
10-'
10-11
10-11
10-' 10-' 10-' 1 10' 10' II}' 10' 10' 10' lO' lG" 10' 10"
V_de (com/mllfrOS por segundo)
Figura 40. Relaes de tamanho (' velocidade na natureza.
mento vai se tornando cada vez mais lento com o aumento de
seu tamanho e com seu movimento entre outras molculas que
formam um meio viscoso. Por isso, algumas molculas que
contm muitas protenas do nosso organismo so to grandes
que seu deslocamento espontneo desprezvel se comparado
mobilidade das molculas menores.
em tais circunstncias que ocorre, como vimos no
Captulo 2, o aparecimento dos sistemas autopoiticos, possi-
bilitados pela existncia de toda essa variedade de molculas
orgnicas grandes. Depois da formao das clulas de tama-
nho muito maior, a curva apresenta uma guinada abrupta, as-
sinalando que a histria das transformaes celulares levou
origem de estruturas como os flagelos ou pseudpodes. Estes
permitem um movimento considervel, pois colocam em ao
foras muito maiores do que a viscosidade. Alm disso, quando
da origem dos organismos pluricelulares, alguns deles desen-
volvem por meio da diferenciao celular, capacidades locomo-
176 Hwnberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
toras muito mais espetaculares. Assim, um antlope pode cor-
rer vrias dezenas de quilmetros por hora, apesar de ser mui-
to maior que a pequena molcula que se desloca (em mdia)
mesma velocidade. Portanto, os metazorios e os organismos
unicelulares mveis criam um mbito de movimento que, para
seu tamanho, nico na natureza.
Mas no podemos perder de vista que o aparecimento
desse tipo de movimento no universal nem necessrio a to-
das as formas de seres vivos. As plantas so um caso funda-
mental, pois resultam de uma deriva natural em que o movi-
mento est essencialmente ausente de seu modo de ser. Isso
deve estar relacionado com o fato de as plantas realizarem sua
manuteno pela fotossntese - desde que disponham de nu-
trientes e gua no solo, bem como de gases e luz na atmosfera
- o que permite a conservao da adaptao sem grandes e
rpidos movimentos. Mas tambm certo que a condio ss-
sil perfeitamente possvel sem fotossntese, como podemos
observar em muitos exemplos de linhagens de animais, como
os picorocos que, embora descendentes de ancestrais dotados
de motilidade, adotaram esse modo de vida ao contar com con-
dies locais de nutrio que lhes permitem a conservao da
adaptao, a exemplo do que ocorre com as plantas, sem movi-
mentos durante a maior parte de sua ontogenia.
Para um observador, evidente que o movimento tem
mltiplas possibilidades, muitas das quais realizam nos seres
vivos como resultado de sua deriva natural. Assim, os organis-
mos mveis baseiam no movimento no s sua reproduo,
como tambm sua alimentao e modos de interao com o
meio. para esses seres vivos, cuja deriva natural levou ao es-
tabelecimento da mobilidade, que o sistema nervoso adquiriu
importncia. Veremos agora esse aspecto com mais detalhes.
Coordenao sensrio-motora unicelular
Retornemos ameba prestes a engolir um protozorio.
O que ocorre nessa seqncia? Podemos resumi-la assim: a
presena do protozorio gera no meio uma concentrao de
substncias capazes de interagir com a membrana da ameba,
A rvore do conhecimento 177
desencadeando mudanas de consistncia protoplsmica que re-
sultam na formao de um pseudpode. O pseudpode, por sua
vez, produz mudanas na posio do animal e o desloca, modifi-
cando assim a quantidade de molculas do meio que interagem
com sua membrana. O ciclo se repete, e a seqncia de desloca-
mento da ameba se d por meio da manuteno de uma correla-
o intema entre o grau de modificao de sua membrana e as
modificaes do protoplasma que chamamos de pseudpodes.
Ou seja, cria-se uma correlao recorrente ou invariante entre
uma rea perturbada ou sensorial do organismo e uma superfcie
motora (ou capaz de produzir deslocamento), que mantm inva-
rivel um conjunto de relaes internas na ameba.
Outro exemplo pode tornar a idia mais clara. A Figura
41 mostra um protozorio que possui uma estrutura muito es-
pecializada chamada flagelo, que bate de modo a desloc-lo em
seu meio aquoso. Nesse caso, o movimento do flagelo arrasta a
clula por trs dele. Ao nadar dessa forma, o protozorio s ve-
zes encontra e se choca com um obstculo. Ocorre ento uma
interessante conduta de mudana de direo: o flagelo se dobra
ao topar com o obstculo. Esse dobramento desencadeia mu-
danas na base do flagelo embutida na clula, que por sua vez
desencadeia mudanas no citoplasma, de modo a produzir um
leve giro. Ao voltar a bater, o flagelo leva a clula em outra dire-
o. Portanto, vemos o protozorio tocar o obstculo, torcer-se
e evadi-lo. De novo, como no caso da ameba, o que ocorre a
manuteno de uma certa correlao interna entre uma estru-
tura capaz de admitir certas perturbaes (superfcie sensorial)
e uma estrutura capaz de gerar deslocamentos (superfcie mo-
tora). O interessante nesse exemplo que a superfcie sensorial
e a motora so uma s e, portanto, o acoplamento imediato.
Vejamos ainda outro exemplo desse acoplamento entre
superfcies sensoriais e motoras. Certas bactrias (unicelula-
res) possuem, assim como alguns protozorios, flagelos de
aparncia semelhante. Mas, como ilustra a Figura 42, esses
W flagelos funcionam de maneira muito diferente. Em vez de ba-
m H. Berg, Sei. Amer., 233:36, 1975.
178 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
Figura 41. Correlao sen-
srio-motora no nado de
um protozorio.
~
. I
. !----l>
I
Figura 42. Propulso flage-
lar na bactria.
terem, como no caso acima, simplesmente giram fixos sobre
sua base, constituindo uma verdadeira hlice propulsora para
a bactria. Alm disso, as rotaes tornam ambas as direes
possveis. Mas h uma direo em que a coordenao dos giros
resulta num deslocamento ntido da bactria, enquanto na di-
reo oposta a bactria apenas d tombos sem sair do lugar.
possvel acompanhar os movimentos dessas bactrias sob o
microscpio e ver suas mudanas sob diferentes condies
controladas. Se a bactria colocada, por exemplo, num meio
onde se encontra um gro de acar, notamos que ela logo pra
de dar tombas, muda a direo de giro dos flagelos e se dirige
at a zona de maior concentrao de acar, seguindo o gra-
diente de concentrao. Como isso ocorre? Acontece que a
membrana da bactria tem molculas especializadas capazes de
interagir especificamente com os acares. Quando h uma di-
ferena de concentrao numa pequena rea ao redor da bact-
ria, ocorrem mudanas em seu interior que determinam a mu-
dana da direo de giro do flagelo. Em cada momento, portan-
to, volta a se estabelecer uma correlao estvel entre a superf-
cie sensorial e a superfcie motora da clula, que permite a esta
a conduta nitidamente discriminatria de dirigir-se a zonas de
maior concentrao de certas substncias. Tal fenmeno co-
nhecido como quimiotaxia - um caso de conduta em nvel uni-
celular da qual se conhecem muitos detalhes moleculares.
A rvore do conhecnento 179
Ao contrrio dessas bactrias, a sagitria e outras
plantas no tm uma superficie motora que lhes possibilite o
movimento. Com efeito, encontramos entre as bactrias casos
que so um tipo de meio-termo entre a capacidade de movi-
mento e a ausncia dele. Por exemplo, quando se encontra
num meio de alta umidade, o Caulobacter se fIxa ao solo por
meio de um pedestal de tipo vegetal. Mas, durante um perodo
de desidratao, a bactria se reproduz, e as novas clulas
crescem com um flagelo capaz de transport-las a outro am-
biente de maior umidade.
Correlao sensrio-motora multicelular
Vimos com os exemplos anteriores que o movimento
nos organismos unicelulares, ou a conduta de
baseia-se numa correlao muito especfica entre as superfi-
cies sensoriais e as superfIcies motoras, responsveis pelo mo-
vimento. Tambm vimos que essa correlao se d por meio de
processos no interior da clula, ou seja, por transformaes
metablicas prprias da unidade celular. Mas o que acontece
no caso dos organismos metacelulares?
Examinemos a situao, outra vez, por meio de um
exemplo. A Figura 43 mostra a fotografIa de uma hidra, como
as da lagoa do parque O'Higgins, em Santiago. Esses metazo-
rios pertencem ao grupos dos celenterados, uma linhagem de
animais muito antigos e primitivos, formados por uma camada
dupla de clulas em forma de vaso. Alguns tentculos na bor-
da permitem ao animal movimentar-se na gua e capturar ou-
tros animais, que ingere e digere mediante a secreo de sucos
digestivos. Examinando a constituio celular desse animal,
notamos uma dupla camada, uma dando para o interior e a
outra para o exterior. Uma dessas superficies apresenta certa
diversidade celular. Algumas clulas tm projteis que por elas
so lanados ao serem tocadas, enquanto outras possuem va-
colos capazes de secretar lquidos digestivos no interior. Alm
disso, encontramos na hidra algumas clulas motoras com fI-
bras contrteis, dispostas tanto em sentido longitudinal como
180 Hwnberto MaturanaR./Francisco Varela G.
Figura 43. Um pequeno celenterado: a hidra.
radial na parede do animal (Figura 44). Ao se contrarem em
diferentes combinaes, essas clulas produzem toda a varie-
dade de movimentos do animal.
evidente que, para que se produza uma ao coorde-
nada entre as clulas musculares dos tentculos e as clulas
secretoras do interior, necessrio algum tipo de acoplamento
entre elas. No basta simplesmente estarem dispostas sobre a
camada dupla.
Para entender como se d esse acoplamento, basta exa-
minar o que h entre as duas camadas celulares. Encontra-
mos algumas clulas de um tipo muito peculiar, cujos prolon-
gamentos estendem-se por uma distncia considervel dentro
do animal. Tais clulas so peculiares porque suas prolonga-
es colocam-nas em contato com elementos celulares topo-
~ graficamente distantes de um metazorio. So as clulas ner-
A rvore do conhecimento
Figura 44. Esquema da diversidade celular dos tecidos da hidra.
com os neurnios em destaque.
181
vasas, ou neurnios, em sua forma mais simples e primitiva. A
hidra possui uma das formas mais rudimentares de sistema
nervoso que se conhece, constituda de uma rede que inclui
esse tipo peculiar de clulas, receptores e efetores. De modo
geral, o sistema nervoso da hidra parece um verdadeiro emara-
nhado de interconexes, que se estendem a todos os locais do
animal atravs do espao entre as clulas, possibilitando a in-
terao de elementos sensoriais e motores distantes.
182 Htunberto Maturana R./Francisco Varela G.
Trata-se, em todos os detalhes, da mesma situao que
vimos na conduta unicelular: uma superficie sensorial (no caso,
clulas sensoriais), uma superficie motora (no caso, clulas
musculares e secretoras) e vias de interconexo entre as duas
superficies (a rede neural). A conduta da hidra (alimentao,
fuga, reproduo etc) resulta das maneiras distintas como as
duas superficies, sensorial e motora, se relacionam dinamica-
mente entre si, por meio da rede intemeural que integra o con-
junto do sistema nervoso, para constituir o sistema nervoso.
Estrutura neuronial
Os neurnios se distinguem por suas ramificaes cito-
plasmticas de formas especficas que se estendem por distn-
cias enormeS, alcanando dezenas de milmetros no caso dos
maiores. Essa caracteristica neuronial universal, presente em
todos os organismos com sistema nervoso, determina o modo
Figura 45. O neurnio e sua extenso.
A rvore do conhecimento 183
especfico de participao do sistema nervoso nas unidades de
segunda ordem que integra, ao colocar em contato elementos
celulares situados em diferentes partes do corpo. No podemos
desprezar a delicada srie de transformaes necessrias ao
crescimento de uma clula que, medindo inicialmente poucos
milionsimos de metro, adquire ramificaes de formas espec-
ficas que chegam a alcanar dezenas de milmetros, numa ex-
panso de vrias ordens de magnitude (Figura 45).
por meio de sua presena fisiCa que os neurnios
acoplam, de muitos modos diferentes, grupos celulares que de
outra maneira s poderiam acoplar-se mediante a circulao
geral das substncias internas do organismo. A presena fisiCa
de um neurnio permite o transporte de substncias entre
duas regies atravs de um caminho muito especfico, que no
afeta clulas vizinhas, e sua entrega local. A particularidade
das conexes e interaes que as formas neurais possibilitam
so a chave mestra para o funcionamento do sistema nervoso.
As influncias recprocas entre os neurnios so de
muitos tipos. O mais conhecido uma descarga eltrica que se
184 Humberto MaturanaR./Francisco Varela G.
I@f'propaga pelo prolongamento neural chamado "axnio" com a
velocidade de um rastilho de plvora. Por isso, comum ouvir-
mos que o sistema nervoso um rgo que funciona base de
trocas eltricas. Mas isso apenas parcialmente correto, j que
os neurnios no s interagem por meio de trocas eltricas,
mas tambm, e de modo constante, por meio de substncias
que se transportam no interior do axnio. Quando liberadas
(ou recolhidas) nos terminais, tais substncias desencadeiam
mudanas de diferenciao e crescimento nos neurnios, nos
. efetores ou nos sensores a que se ligam.
A que tipo de clulas os neurnios se conectam? Na
verdade, a quase todos os tipos celulares de um organismo,
embora o mais comum que cheguem com suas expanses at
outros neurnios. Essas expanses nervosas muito especiali-
I@f'zadas so conhecidas como "dendrites" e "terminais axnicos".
Entre essas zonas e os corpos celulares estabelecem-se conta-
I@f'tos conhecidos como "sinapse", que o ponto onde se produ-
zem efetivamente as influncias mtuas no acoplamento entre
um neurnio e o outro com que fez contato. As sinapses, por-
tanto, constituem as estruturas efetivas que permitem ao sis-
tema nervoso realizar as interaes especficas entre grupos
celulares distantes.
Embora no sistema nervoso a maioria esmagadora dos
contatos sinpticos seja entre neurnios, naturalmente estes
realizam sinapses com muitos outros tipos celulares do orga-
nismo. Tal o caso das clulas que designamos .coletivamente
de superfcie sensorial. Na hidra, por exemplo, a superfcie
sensorial incluiria todas as clulas capazes de reagir a pertur-
baes especficas, quer do ambiente (tais como as clulas com
projteis), quer do prprio organismo (tais como as clulas qui-
miorreceptoras). Do mesmo modo, existem neurnios que se
conectam com clulas da superfcie motora, especialmente dos
msculos, numa configurao muito precisa. Resumindo, o
sistema neuronial se inseriu no organismo por meio de cone-
xes mltiplas entre muitos tipos celulares, funcionando como
uma rede de interconexes neuroniais entre as superfcies sen-
soriais e motoras e constituindo o conjunto que chamamos de
sistema nervoso.
A rvore do conhecimento
185
A rede intemeural
Essa arquitetura fundamental do sistema nervoso
universal e vlida no s para a hidra como para todos os ver-
tebrados superiores, incluindo o homem. A nica diferena re-
side no na organizao fundamental da rede geradora de cor-
relaes sensrio-motoras, mas na forma com que essa rede se
implementa, mediante neurnios e conexes que variam de
uma espcie animal a outra. Com efeito, um cadastro dos tipos
neurais que encontramos nos sistemas nervosos dos animais
apresenta uma enorme diversidade. Algumas dessas varieda-
des neurais so mostradas na Figura 47. Alm disso, se pen-
sarmos que no crebro humano existem certamente mais de
10
10
, e talvez mais de 10
11
neurnios (dezenas de bilhes), e
que cada um deles recebe cantatas mltipos de outros neur-
nios que, por sua vez, se conectam com muitas clulas, a com-
binatria de possveis interaes mais que astronmica.
Mas bom insistir: a organizao bsica de um sistema
nervoso to imensamente complexo como o do homem segue,
na essncia, a mesma lgica que o da humilde hidra. Na srie
de transformaes das linhagens que vo da hidra aos mamfe-
ros, os desenhos que vemos so variaes sobre um mesmo
tema. Nos vermes, por exemplo, o tecido nervoso, entendido
como uma rede de neurnios, como um compartimento em
forma de cordo, separado dentro do animal, com nervos por
onde passam conexes que se comunicam com as superfcies
sensoriais e motoras (Figura 48). Cada variao do estado mo-
tor do animal ser produto de uma certa configurao de ativi-
dade em certos grupos de neurnios que se conectam aos
msculos (neurnios motores). Mas tal atividade motora gera
mudanas mltiplas, tanto nas clulas sensoriais situadas nos
msculos como em outras partes do corpo, na superficie de
cantata com o meio e nos prprios neurnios motores, em um
processo realizado por meio de mudanas na mesma rede de
neurnios interpostos, ou intemeurnios, que os interconecta.
Desse modo, h uma contnua correlao sensrio-motora, de-
terminada e mediada pela configurao da atividade da rede
interneural. J que pode haver um nmero praticamente ilimi-
186 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
SINAPSE
A sinapse o ponto de cantata
estreito que existe entre um
neurnio e outro, ou entre neu-
rnios e outras clulas, como na
sinapse neuromuscular. Nesses
pontos, as membranas de am-
bas as clulas se aderem estrei-
tamente. Neles, as membranas
so especializadas para a se-
creo de molculas especiais,
llE os neurotransmissores. Um im-
pulso nervoso percorre o neu-
rnio e chega finalmente a uma
terminao sinptica, produzin-
do a secreo do np.urotrans-
missar que cruza o espao en-
tre as membranas desenca-
deando uma permuta eltrica na
clula receptora. Somente espe-
cializaes como essas possi-
bilitam aos neurnios, bem
como a outras clulas, uma in-
fluncia mtua e localizada, e
no difusa - ou generalizada,
como ocorreria se as Interaes
se dessem por permutas de
concentrao entre algumas
molculas na corrente sang-
nea.
Sobre cada neurnio, em sua
rvore dendrtlca, h muitos mi-
lhares de terminaes sinpti-
cas de centenas de neurnios
distintos. Cada uma das termi-
naes faz uma contribuio
pequena permuta total de ati-
vldade eltrlca do neurnio a
que se conecta. Alm disso,
cada neurnio capaz d ~ in-
fluenciar quimicamente a estru-
tura de todos os neurnios que
a ele se conectam (Figura 46),
por meio da difuso de metab-
litos que saem e penetram as
superfcies sinpticas e se ele-
vam pelos axnios at os res-
pectivos corpos celulares. Des-
se duplo trfego eltrico meta-
blico depende, a cada momen-
to, o estado de atividade e o es-
tado estrutural de cada neur-
nio do sistema nervoso.
Figura 46. Reconstruo
t ridimensional de todos
os con tatos sinpticos
que o cor po celular re-
cebe de um neurnio
motor da medula espi-
n hal.
A ruore do conhecimento
Figura 47. Diversidade neural (da esquerda para a direita): clu-
la bipolar da retina, corpo celular de neurnio motor da medu-
la espinhal, clula mitral do bulbo olfatrio, clula piramidal
do crtex cerebral de um mamfero.
187
tado de estados possveis dentro dessa rede, as condutas pos-
sveis do organismo tambm podem ser praticamente ilimita-
das.
<.
Esse o mecanismo-chave por meio do qual o sistema
nervoso expande o domnio de interaes do organismo: acopla
as superficies sensoriais e motoras mediante uma rede de neu-
rnios cuja configurao pode ser muito variada. um meca-
nismo altamente simples, mas que, uma vez estabelecido, per-
mitiu filogenia dos metazorios uma imensa variedade e di-
versificao de domnios comportamentais. De fato, os siste-
mas nervosos das diferentes espcies se diferenciam essencial-
mente apenas nas configuraes especficas de suas redes in-
terneurais.
No caso do homem, cerca de 10
11
(cem bilhes) de in-
terneurnios interconectam cerca de 10
6
(um milho) de neu-
rnios motores, que ativam alguns poucos milhares de mscu-
188 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Figura 48. Desenho do sistema nervoso de uma lombriga (Tubu-
Janus annuJata), mostrando o agrupamento de neurnios
numa corda ventral com uma poro ceflica volumosa.
los, com cerca de 10
7
(dezenas de milhes) de clulas senso-
riais distribudas como superfcies receptoras em vrios locais
do corpo. Entre os neurnios motores e sensoriais situa-se o
crebro, como uma gigantesca massa de interneurnios que os
interconecta (a uma razo de 10/100.000/1), numa dinmica
sempre em mutao.
Por exemplo, a Figura 49 mostra um esboo do neur-
nio sensorial da pele, capaz de responder (eletricamente) a um
aumento de presso sobre esse ponto. O que causa essa ativi-
dade? Bem, esse neurnio est ligado ao interior da medula
espinhal, onde faz cantatas com muitos interneurnios. Entre
estes, alguns fazem cantata direto com um neurnio motor ca-
paz, por sua atividade, de desencadear a contrao de um
msculo e assim produzir um movimento. Esse movimento re-
sulta na mudana da atividade sensorial ao diminuir a presso
sobre o neurnio sensorial, restabelecendo assim uma certa
relao recproca entre as superfcies sensoriais e motoras. Do
ponto de vista do observador, o que ocorreu foi que a mo se
afastou de um estmulo doloroso. Do ponto de vista do sistema
nervoso, houve a manuteno de uma certa correlao sens-
rio-motora em seu interior por meio da rede neural. Mas como
IJW muitos outros neurnios, originados em outras partes do siste-
ma nervoso (como no crtex cerebral), podem influir sobre os
neurnios motores, a conduta de deixar a mo sob o excesso
A roore do conhecimento 189
Figura 49. Correlao sensrio-motora no movimento do brao.
de presso tambm possvel. Mas isso causaria o estabeleci-
mento de um novo equilbrio interno, implicando outros grupos
neuronais mais diversos do que no caso da retirada da mo.
Vamos imaginar, a partir de situaes especficas como
aanterior, um organismo funcionando normalmente. A todo
momento descobriremos que o sistema nervoso est operando
segundo mltiplos ciclos internos de interaes neurais (como
entre os neurnos motores e as fibras sensoriais dos mscu-
los), numa transformao incessante. Essa imensa atividade
modulada pelas mudanas na superficie sensorial causadas
por perturbaes que so independentes do organismo (tais
como a presso sobre a pele). Como observadores, estamos
acostumados a concentrar a ateno no que mais acessvel,
ou seja, nas perturbaes externas, e a pensar que estas so
determinantes. No entanto, tais perturbaes externas, como
190 Hwnberto MaturanaR.jFranctsco Varela G.
CONEXES DO SISTEMA VISUAL
O diagrama neste quadro ilustra
as mltiplas conexes presen-
tes no ncleo geniculado de um
mamrfero. Tal ncleo a princi-
pal regio de conexes entre a
retina e o sistema nervoso cen-
traI. Os nomes indicados no
diagrama correspondem a aglo-
merados de neurnios em dife-
rentes regies do sistema ner-
voso central, incluindo o crtex
cerebral. Como est claro, a re-
tina no afeta o crebro como
uma linha telefnica que encon-
tra uma estao de recepo no
crtex occipital
NGL, visto que a este conver-
gem simultaneamente muitas
outras vias de interconexo.
Conseqentemente, a retina po-
de modular, mas no especifi-
car, o estado dos neurnios no
ncleo geniculado, que depen-
de da totalidade das conexes
que recebe de vrios lugares
distintos do crebro. Um dia-
grama semelhante (com outros
nomes, claro) poderia ser
traado para qualquer outro
centro do sistema nervoso cen-
traI.
~ 7U10 superior
D----+ LGN
retina
/,
ncleo reticular
+--+ do tlamo
hipotlamo locus cerleo
LGN = ncleo geniculado lateral
acabamos de dizer, podem somente modular as constantes os-
cilaes dos equilbrios internos. uma idia importante que
podemos ilustrar com o funcionamento do sistema visual. Ge-
ralmente consideramos a percepo visual como uma operao
sobre a imagem que se forma na retina, cuja representao
ser em seguida transformada no interior do sistema nervoso.
No entanto, tal abordagem representacionista do fenmeno vi-
sual fica abalada to logo compreendemos que, para cada neu-
rnio da retina projetado sobre nosso crtex visual, h mais de
A roore do conhecimento 191
cem neurnios que provm de outras partes do crtex. E, mes-
mo antes de chegar ao crtex, quando a projeo da retina en-
tra no crebro, no chamado ncleo geniculado lateral do tla-
mo (NGL) , este no atua simplesmente como uma estao de
passagem da retina at o crtex, j que a esse centro conver-
gem muitos outros centros, com mltiplos efeitos que se su-
perpem ao da retina. Notemos no diagrama que uma das
estruturas que afetam o NGL , precisamente, o prprio crtex
visual. Ou seja, ambas as estruturas esto interligadas numa
relao de efeito mtuo, e no de simples seqencialidade.
Basta considerar essa estrutura do sistema nervoso
(embora no examinando com muitos detalhes as relaes de
atividade que nele se especificam a cada momento) para nos
convencermos de que o efeito de projetar uma imagem sobre a
retina no como uma linha telefnica ligada a um receptor.
Seria mais como uma voz (perturbao) somada a muitas vo-
zes numa agitada tarde de transaes na bolsa de valores (re-
laes de atividade interna entre todas as projees convergen-
tes), em que cada participante ouve o que lhe interessa.
Clausura operacional do sistema nervoso
J dissemos que a conduta a descrio feita por um
observador das mudanas de estado de um sistema em relao
a um meio, com o fim de compensar as perturbaes que rece-
be deste. Tambm dissemos que o sistema nervoso no inventa
a conduta, e sim a expande de forma dramtica. Agora deve
estar mais claro o que queremos dizer com essa expanso -
significa que o sistema nervoso surge na histria fllogentica
dos seres vivos como um tecido de clulas peculiares, que se
inserem no organismo de modo a acoplar pontos nas superfi-
cies sensoriais com pontos nas superfcies motoras. Portanto,
coma rede de neurnios mediando o acoplamento, amplia-se o
campo de possveis correlaes sensrio-motoras do organismo
e expande-se o domnio de condutas.
Fica claro, ento, que a superficie sensorial inclui no
s as clulas que vemos externamente como receptoras capa-
zes de ser perturbadas pelo meio, como tambm todas as clu-
192 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
..
Figura 50. Tamanho relativo da poro ceflica do sistema ner-
voso em vrios animais.
HISTRIA NATURAL DO SISTEMA NERVOSO
Nos celenterados (a hidra), o
sistema nervoso distribui-se
uniformemente por todo o orga-
nismo. No assim com outros
animais, como os mamferos.
H duas tendncias fundamen-
tais na transformao do siste-
ma nervoso na histria dos se-
res vivos: 1) reunir os neur-
nios num compartimento (cor-
do nervoso), ou 2) concentrar
um volume maior de neurnios
no extremo ceflico (cefaliza-
o). Assim, nos animais seg-
mentados, como as lombrigas,
o sistema nervoso tipicamen-
te concentrado em grupos celu-
lares em forma de gnglios dis-
tribudos segmentalmente ao
longo de todo o animal, mas in-
terconectados entre si por uma
leve concentrao ceflica. Em
outros animais, a concentrao
ceflica pode ser enorme, como
se v claramente na lagosta, e
mais ainda no homem.
O resultado que o operar do
sistema nervoso se diversifica
tremendamente com o aumento
da variedade dos modos de in-
terao neural, acarretando o
crescimento da poro ceflica,
como mostram todas as linha-
gens de vertebrados, cefalpo-
des e insetos (Fig. 44). Em ou-
tras palavras, o aumento da
massa ceflica amplia enorme-
mente as possibilidades de
plasticidade estrutural do orga-
nismo, o que fundamental
para a capacidade de aprendi-
zagem, como veremos adiante.
A roore do conhecimento 193
las capazes de influenciar o estado da rede neural. Assim, por
exemplo, h clulas quimiorreceptoras em algumas artrias
capazes de ser modificadas especificamente por mudanas de
concentrao no meio sangneo de um vertebrado. Tais clu-
las, por sua vez, modificam certos neurnios que contribuem,
com sua mudana de atividade, para as mudanas de estados
globais de toda a rede, podendo resultar ou no em mudanas
em algum ponto das superflcies motoras. Por exemplo, uma
queda do nvel de glicose no sangue pode, dependendo de cer-
IQ'" tas correlaes internas, causar a secreo de mais insulina
pelas clulas do pncreas, mantendo a correlao sangnea
de glicose dentro de certos limites.
Assim, o sistema nervoso contribui para ou participa
do operar de um metazorio ao se constituir, por meio de ml-
tiplos circuitos entremeados, num mecanismo que conserva as
constncias internas essenciais para a organizao do organis-
mo como um todo.
assim que podemos definir o sistema nervoso, quanto
sua organizao, como dotado de uma clausura operacional
- ou seja, o sistema nervoso constitui-se de tal forma que, se-
jam quais forem suas mudanas; estas geram outras mudan-
as dentro de si mesmo. Seu operar consiste em manter inva-
riveis certas relaes entre seus componentes diante das con-
tnuas perturbaes que geram, tanto na dinmica interna
como nas interaes do organismo que integra. Em outras pa-
lavras, o sistema nervoso funciona como uma rede fechada de
mudanas de relaes de atividade entre seus componentes.
Quando experimentamos uma presso excessiva sobre
um ponto do corpo, podemos dizer como observadores: "Ahal A
contrao deste msculo far com que meu brao levante." Mas,
do ponto de vista do sistema nervoso propriamente dito (como no
caso do piloto do submarino), o que ocorre somente a manu-
teno de certas relaes entre elementos sensoriais e motores
que foram temporariamente perturbados pela presso externa. A
relao interna que se mantm, nesse caso, relativamente sim-
ples: trata-se do equilbrio entre a atividade sensorial e o tono
muscular. O que determina o equilbrio do tono muscular em re-
194 Humberto Maiurana R.I Francisco Varela G.
lao ao restante da atividade do sistema nervoso, dificil ex-
plicar de modo sucinto. Mas, em princpio, toda conduta
uma viso externa da dana das relaes internas do organis-
mo. Encontrar, em cada caso, os mecanismos precisos de tais
coerncias neurais a tarefa explicita do investigador.
a que dissemos mostra que o operar do sistema nervo-
so plenamente consistente com sua participao numa uni-
dade autnoma, em que todo estado de atividade leva a outro
estado de atividade nela prpria, pois seu operar circular,
dentro de uma clausura operacional. Portanto, por sua prpria
arquitetura, o sistema nervoso no contradiz o carter autno-
mo do ser vivo, e sim o ressalta. Comeamos a ver com clareza
os modos como todo processo do conhecer funda-se necessa-
riamente no organismo como uma unidade e no fechamento
operacional de seu sistema nervoso. Da que todo conhecer
fazer, como correlaes sensrio-efetoras nos domnios de aco-
plamento estrutural em que o sistema nervoso existe.
Plasticidade
J mencionamos vanas vezes que o sistema nervoso
est em contnua' mudana estrutural - ou seja, dotado de
plasticidade. Na verdade, essa dimenso do sistema nervoso
fundamental na sua participao da constituio de um orga-
nismo. A plasticidade se traduz nos seguintes termos: o siste-
ma nervoso, ao participar por meio dos rgos sensoriais e efe-
tores dos domnios de interao do organismo que selecionam
a mudana estrutural deste, participa da deriva estrutural do
organismo com conservao de sua adaptao.
Mas a mudana estrutural do sistema nervoso normal-
mente no ocorre sob a forma de mudanas radicais em suas
grandes linhas de conexo. Estas, em geral, so invariantes e
costumam ser as mesmas em todos os indivduos de uma es-
pcie .. Entre o zigoto fertilizado e o adulto, no processo de de-
senvolvimento e diferenciao celular, os neurnios, ao se mul-
tiplicar, vo se ramificando e interligando segundo uma arqui-
tetura prpria da espcie. Como isso ocorre, segundo proces-
A roore do conhecimento 195
o CREBRO E O COMPUTADOR
interessante: a clausura ope-
racional do sistema nervoso
no permite que seu operar
caia em nenhum dos dois ex-
tremos, representacionista ou
solipsista.
No solipsista porque, como
parte do organismo, o sistema
nervoso participa das intera-
es deste com o meio. Tais
mudanas desencadeiam cons-
tantemente mudanas estrutu-
rais que modulam a dinmica
de estados do sistema n e r v o ~
soo Com efeito, basicamente
por isso que ns, como obser-
vadores, vemos as condutas
animais em geral como ade-
quadas s suas circunstncias.
Eles no se comportam como
se estivessem seguindo sua
prpria programao, inde-
pendentemente do meio. as-
sim apesar do fato de que, para
o operar do sistema nervoso,
no existe fora nem dentro, e
sim apenas a manuteno das
correlaes prprias que esto
em contnua mutao (como os
instrumentos indicadores do
submarino do nosso exemplo).
Tampouco representacionis-
ta, j que em cada "i nterao
o estado estrutural do sistema
nervoso que especifica quais
perturbaes so possveis e
quais mudanas podem desen-
cadear em sua dinmica de es-
tados. Seria um erro, portanto,
definir o sistema nervoso co-
mo dotado de entradas ou saf-
das no sentido tradicional -
ou seja, tais entradas e sadas
fariam parte da definio do
sistema, como ocorre com o
computador e outras mquinas
criadas pela engenharia. Isso
totalmente razovel na criao
de uma mquina com a qual se
deseja interagir. Mas o sistema
nervoso (e o organismo) no
foi projetado por ningum. o
resultado de uma deriva filog-
nica de unidades centradas em
sua prpria dinmica de esta-
dos. Adequado , portanto, re-
conhecer o slstem nervoso
como uma unidade definida
por suas relaes internas, cu-
jas Interaes s modulam sua
dinmica estrutural, dentro de
sua clausura operacional. Dito
de outra forma, ao contrrio do
que se costuma pensar, o sis-
tema nervoso no "capta infor-
maes" do meio, e sim pro-
duz um mundo ao especificar
que configuraes do melo so
perturbaes e que mudanas
estas desencadeiam no orga-
nismo. A metfora to em voga
do crebro como um computa-
dor no s ambgua como
francamente equivocada.
196
Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
sos de exclusiva determinao local, um dos maiores enig-
mas da biologia moderna.
, Onde ocorrem as mudanas estruturais, se no nas
grandes linhas de conexo? A resposta que ocorrem no nas
conexes que unem grupos de neurnios, e sim nas caracters-
ticas locais dessas conexes. Ou seja, as mudanas se do no
nvel das ramificaes finais e das sinapses. Nesses pontos, as
mudanas moleculares provocam mudanas na eficcia das
interaes sinpticas, que podem transformar drasticamente o
modo de operar das grandes redes neurais.
Imaginemos, por exemplo, o seguinte experimento. Lo-
calizamos um dos msculos grandes que acionam os dedos de
um rato e isolamos o nervo que desce da medula espinhal e o
atravessa. Em seguida, cortamos o nervo e deixamos que o
animal se recupere. Depois de algum tempo, reabrimos o ani-
mal e examinamos o msculo. Vemos que est atrofiado e re-
duzido. No entanto, no alteramos de modo algum sua alimen-
tao e irrigao sangnea. S cortamos o trnsito eltrico e
qumico que normalmente existe entre o msculo e o nervo a
que se liga. Se deixarmos que o nervo volte a crescer e reinte-
gre o msculo, este se recuperar de sua atrofia. Outros expe-
rimentos revelam que algo parecido ocorre entre muitos (se
no todos) elementos neurais que compem o sistema nervoso.
O nvel de atividade e o trnsito qumico entre duas clulas -
nesse caso uma muscular e outra neural - modulam a efic-
cia e o modo de interao que ocorre entre elas durante sua
mudana contnua. Ao cortar o nervo, desvendamos esse dina-
mismo de modo dramtico.
A plasticidade do sistema nervoso explica-se pelo fato
de os neurnios no estarem interligados como se fossem ca-
bos com suas respectivas tomadas. Os pontos de interaes
entre as clulas so delicados equilbrios dinmicos, modula-
dos por um sem-nmero de elementos desencadeadores de
mudanas estruturais locais. Estas so produzidas pela ativi-
dade dessas mesmas clulas e de outras cujos produtos viajam
pela corrente sangnea e banham os neurnios, tudo como
parte da dinmica de interaes do organismo em seu meio.
A roore do conhecimento
197
Todo sistema neIVOSO conhecido apresenta algum grau
de plasticidade. Mas nos insetos, por exemplo, parece que a plas-
ticidade muito mais limitada, em parte pelo nmero menor de
neurnios e por seu tamanho mais reduzido. Logo, o fenmeno
da mudana estrutural se manifesta com mais fora entre os ver-
tebrados, particularmente entre os mamferos. Assim, toda inte-
rao, todo acoplamento afeta o operar do sistema neIVOSO devi-
do s mudanas estruturais que desencadeia nele. Toda expe-
rincia particularmente nos modifica, ainda que s vezes as mu-
danas no sejam de todo visveis.
Percebemos isso em termos de conduta. No temos,
hoje em dia, um quadro exato das mudanas estruturais do
sistema neIVOSO dos vertebrados envolvidas nessa plasticidade.
Tampouco h uma descrio clara de como a constante especi-
ficao do modo de interao neural provoca as mudanas
bem definidas que obseIVamos na conduta. Mais uma vez, tra-
ta-se de uma das reas mais importantes de pesquisa na neu-
robiologia atual.
No entanto, sejam quais forem os mecanismos precisos
que inteIVm nessa constante transformao microscpica da
rede neural durante as interaes do organismo, as mudanas
no podem nunca ser localizadas nem vistas como algo prprio
acada experincia (por exemplo, nunca encontraremos "a" lem-
brana do nome de um cachorro em sua cabea). Isso impos-
svel, em primeiro lugar, porque as mudanas estruturais de-
sencadeadas no sistema neIVOSO so, forosamente, distribu-
das como resultado de mudanas de atividade relativa na rede
neural. Em segundo lugar, porque a conduta de responder a
um nome uma descrio feita por um obseIVador de certas
aes resultantes de configuraes sensrio-motoras que, por
uma necessidade de seu operar interno, envolvem (estritamen-
te falando) todo o sistema neIVOSO.
A riqueza plstica do sistema neIVOSO no reside em
sua produo de representaes "engramas" das coisas do
mundo, mas em sua contnua transformao, que permanece
congruente com as transformaes do meio, como resultado de
cada interao que efetua. Do ponto de vista do obseIVador,
198
Humberto MaturanaR./Francisco Varela G.
isso se mostra como uma aprendizagem adequada. Mas o que
ocorre que os neurnios, o organismo que integram e o meio
em que este interage operam reciprocamente como seletores de
suas correspondentes mudanas estruturais, acoplando-se es-
truturalmente entre si. a operar do organismo, incluindo o sis-
tema nervoso, seleciona as mudanas estruturais que lhe per-
mitem continuar operando sem se desintegrar.
a observador v o organismo se mover adequadamente
num meio em transformao e chama isso de aprendizagem.
Para ele, as mudanas estruturais que ocorrem no sistema
nervoso parecem corresponder s circunstncias das intera-
es do organismo. Para o operar do sistema nervoso, em con-
trapartida, existe apenas uma deriva estrutural contnua, que
segue o curso que, a cada momento, conserva o acoplamento
estrutural (adaptao) do organismo a seu meio de interao.
Condutas inatas e condutas aprendidas
Dissemos muitas vezes, e preciso frisar bem, que toda
conduta um fenmeno relacional que ns, como observado-
res, notamos entre o organismo e seu meio. No entanto, o m-
bito de possveis condutas de um organismo determinado por
sua estrutura, j que esta que especifica seus domnios de
interaes. Por esse motivo, toda vez que se desenvolvem, nos
organismos de uma mesma espcie, certas estruturas inde-
pendentes das peculiaridades de suas histrias de interaes,
diz-se que tais estruturas so determinadas geneticamente, e
que as condutas que tornam possveis (se for o caso) so ins-
tintivas. Quando um beb, pouco depois de nascer, suga o seio
da me, essa ao independente de ele ter nascido por parto
natural ou cesariana, ou num luxuoso hospital da metrpole
ou no interior.
Ao contrrio, se as estruturas que tornam possvel
uma certa conduta entre os membros de uma espcie se de-
senvolvem somente se h uma histria particular de intera-
es, diz-se que as estruturas so ontognicas e que as con-
dutas so aprendidas. As meninas-lobo do captulo anterior
A roore do conhecimento
199
no viveram as interaes s o c i a i s como todas as crianas, e a
. conduta de correr sobre os dois ps, por exemplo, no se de-
senvolveu. At para algo to elementar como correr depende-
mos do contexto humano, que nos cerca como o ar que respi-
ramos.
.,.
Notem bem que as c.ondutas inatas e as adquiridas
so, como condutas, indistinguveis em sua natureza e realiza-
o. A distino est na histria das estruturas 'que as torna-
ram possveis e, portanto, s poderemos classific-las como
uma ou outra se tivermos acesso histria estrutural perti-
nente. No podemos fazer tal distino observando o operar do
sistema nervoso no presente.
Atualmente tendemos a considerar o aprendizado e a
memria como fenmenos de mudana de conduta que ocor-
rem quando se "capta" ou se recebe algo do meio, o que impli-
ca supor que o sistema nervoso funcione com representaes.
J vimos como tal suposio obscurece e complica tremenda-
mente o entendimento dos processos cognitivos. Tudo o que
dissemos sugere que a aprendizagem uma expresso do aco-
plamento estrutural, que sempre manter uma compatibilida-
de entre o operar do organisrpo e o meio. Quando ns, como
observadores, examinamos uma seqncia de perturbaes
compensadas pelo sistema nervoso de uma das muitas manei-
ras possveis, parece-nos que ele intemalizou algo do meio.
Mas, como sabemos, adotar essa descrio seria perder a con-
tabilidade lgica: seria tratar algo que til para nossa comu-
nicao entre observadores como um elemento operacional do
sistema nervoso. Descrever a aprendizagem como uma inter-
nalizao do meio confunde as coisas, pois sugere que na di-
nmica estrutural do sistema nervoso h fenmenos que exis-
tem apenas no domnio de descries de alguns organismos
capazes de linguagem, como ns.
Conhecimento e sistema nervoso
No captulo anterior, falamos de domnios de condutas.
Agora, ao tratar da organizao fundamental do sistema nervo-
200
Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
CONHECIMENTO
Falamos em conhecimento toda vez
que observamos uma conduta efeti-
va (ou adequada) num contexto assi-
nalado - ou seja, num domnio que
definimos com uma pergunta (expl-
cita ou implcita), que formulamos
como observadores.
so, ficaremos mais prximos dos fenmenos cotidianos que de-
signamos como atos de conhecimento e entenderemos melhor
o que significa dizer que um ato cognitivo.
Se refletirmos sobre os critrios que utilizamos para di-
zer que algum tem conhecimento, veremos que o que busca-
mos uma ao efetiva no domnio em que se espera uma res-
posta. Ou seja, esperamos uma conduta efetiva em algum con-
texto que delimitamos ao fazer a pergunta. Assim, duas obser-
vaes do mesmo sujeito, sob as mesmas condies, mas feitas
com perguntas diferentes, podem atrbuir valores cognitivos
distintos ao que se observa como a conduta do sujeito.
Uma histria real ilustra isso claramente. Em certa
ocasio, um jovem estudante de uma universidade encontrou
o seguinte problema num exame: "Calcule a altura da torre da
universidade usando este altmetro." O estudante pegou o alt-
metro e um fio comprido, subiu na torre, amarrou o altmetro
ao fio e o deixou cair cuidadosamente at a base da torre. Me-
diu ento o comprimento do fio: trinta metros e quarenta cen-
tmetros foi o resultado. O professor, contudo, considerou a
resposta errada. O estudante fez um pedido ao diretor da esco-
la e conseguiu outra chance. Novamente, disse o professor:
"Calcule a altura da torre da universidade com este altmetro."
O estudante pegou o altmetro, foi aos jardins que cercavam a
torre, munido de um gonimetro. Postando-se a uma distncia
precisa, usou a longitude do altmetro para triangular a torre.
O clculo deu trinta metros e quinze centmetros. O professor
A rvore do conhecimento 201
mais uma vez disse que estava errado. O estudante voltou a
recorrer, ganhou outra chance, e o problema se repetiu. O es-
tudante utilizou seis procedimentos distintos para calcular a
altura da torre com o altmetro, sem nunca us-lo como alt-
metro. evidente que, dentro de um certo contexto de obser-
vao, o aluno revelou muito mais conhecimento do que lhe
pediram. Mas, dentro do contexto da pergunta do professor,
seu conhecimento era inadequado.
Notemos, ento, que a avaliao quanto a se h ou no
conhecimento se d sempre num contexto relacional, em que
as mudanas estruturais que as perturbaes desencadeiam
no organismo parecem ao observador como um efeito sobre o
meio. em relao aos efeitos esperados que o observador
avalia as mudanas estruturais desencadeadas no organismo.
Desse ponto de vista, toda interao de um organismo, toda
conduta observada, pode ser avaliada por um observador como
um ato cognitivo. Da mesma maneira, o viver -'- a conservao
ininterrupta do acoplamento estrutural como ser vivo - co-
nhecer no mbito do existir. Aforisticamente, viver conhecer
(viver ao efetiva no existir como ser vivo).
Em princpio, isso bastaria para explicar a participao
do sistema nervoso em todas as dimenses cognitivas. No en-
tanto, se quisermos compreender a participao do sistema
nervoso em todas as formas particulares da cognio humana,
teremos, naturalmente, de descrever todos os processos espe-
cficos e concretos que ocorrem na gerao de cada uma das
condutas humanas em seus distintos domnios de acoplamen-
to estrutural. Para isso, seria necessrio examinar detidamen-
te e em todos os detalhes o funcionamento do sistema nervoso
do homem, o que foge inteno deste livro.
Resumindo, o sistema nervoso participa dos fenmenos
cognitivos de duas maneiras complementares, relacionadas com
seu modo particular de operao: como uma rede neural com
clausura operacional e como parte de um sistema metacelular.
A primeira, e mais bvia, se d pela ampliao do do-
mnio de estados possveis do organismo, resultado da enorme
diversidade de configuraes sensrio-motoras que o sistema
202 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
nervoso permite, e que a chave de sua participao no fun-
cionamento do organismo. A segunda ocorre quando se abrem
para o organismo novas dimenses de acoplamento estrutural,
tornando-lhe possvel associar uma grande diversidade de es-
tados internos diversidade de interaes de que participa.
A presena ou ausncia do sistema nervoso o que de-
termina a descontinuidade existente entre organismos com
uma cognio relativamente limitada e aqueles capazes de
uma diversidade em princpio ilimitada, como o homem. Para
assinalar sua importncia central, ao smbolo que designa
uma unidade autopoitica (celular ou multicelular):
o
I
a ~
devemos agora acrescentar a presena de um sistema nervoso,
que tambm funciona com clausura operacional, mas como
parte integrante do organismo. Podemos ilustr-lo sucinta-
mente assim:
Em organismos cujo sistema nervoso to rico e varia-
do como o do homem, os domnios de interao permitem a ge-
rao de novos fenmenos ao possibilitar novas dimenses de
acoplamento estrutural. Foi isso que, em ltima instncia,
possibilitou a linguagem e a 'autoconscincia humanas. Explo-
raremos esse terreno nos prximos captulos.
Conhecer o r--;::===::::=====::;-i
.--f--- conhecer 1
I L..- Experincia cotidiana
1---+---tica [> I
.----- ,-Fenmeno do conhecer
I I
10
I
I,- """ organizao-Estrutura
L Autopoiese J
I .
FenomenologIa
biolgica
Explicao Obser----.., '-
cientifica vador
I I
\I
Ao ---+ +-l!-l 3
Domnios
,...;...-,--+----,lingisticos----;.-,
. I
Lmguagem_
Conslincia
I-i--i-- reflexiva
8
Fenmenos
I cultprais -
;- - Fenmenos sociais-
'- _ Unidades de
terceira ordem II
.------_-"6 ___
7
Atos cognoscitivos ---ll..U
00'1-1 "joo-J!
Ampliao do
domnio de
in teraes <::]
LP-']]
,,,",u.,,,, I
I I
Conservao-Variao
I I
Reproduo T
4
rT Aco
p
JamentO-6nto-_] 1
1
I I I eSjtural ,ema
lU- Unidades de
I
segunda ordem
I .
I ........ -'--..;... Clausura operacional
I
Deriva _ Hist1
natural interaes
Conduta SisJ
I neT:d14::'
Contabilidade lgica
R
I -
epresentaao-
C
I - S 'I -
e eao __
da adaptao estrutural
, ,
Determinao
estrutural
Solipsismo
~ OSFENMENOSSOCUUS
Figura 51. Desenho de Juste de Juste.
206 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
Vejamos uma situao paralela do Captulo 4, a pro-
psito da origem dos metacelulares. Ao invs de considerarmos
somente um organismo com seu sistema nervoso,
examinemos o que acontece quando esse organismo participa
de um acoplamento estrutural com outros organismos.
Como no caso das interaes celulares entre os metace-
lulares, do ponto de vista da dinmica interna do organismo, o
outro representa uma fonte de perturbaes indistinguveis
daquelas que provm do meio "inerte". No entanto, possvel
que tais interaes entre organismos adquiram, ao longo de
sua ontogenia, um carter recorrente, estabelecendo assim um
acoplamento estrutural que permita a manuteno daindivi-
dualidade de ambos na prolongada sucesso de suas intera-
es. Quando isso se d, acontece uma fenomenologia pecu-
liar, de que falaremos neste captulo e nos seguintes - a dos
acoplamentos de terceira ordem.
Acoplamentos de terceira ordem
A essa altura de nossa discusso, no parecer estra-
nho que tais acoplamentos ocorram por ser basicamente os
A roore do conhecimento 207
mesmos mecanismos que j discutimos a respeito da constitui-
o de unidades autopoiticas de segunda ordem. De fato, foi o
surgimento de organismos com sistema nervoso e sua partici-
pao em interaes recorrentes que ocasionou tais. acopla-
mentos, de complexidade e estabilidade distintas, mas como
resultado natural da congruncia de suas respectivas derivas
ontognicas.
Como podemos entender e analisar os acoplamentos de
terceira ordem?
Em primeiro lugar, preciso entender que tais acopla-
mentos so absolutamente necessrios, em alguma medida,
para a continuidade das linhagens dos organismos com repro-
duo sexuada, pois os gametas precisam ao menos se encon-
trar e se fundir. Alm disso, em muitos animais que requerem
um aparelho sexual para a procriao de novos indivduos, os
filhotes precisam receber algum cuidado de seus pais, de modo
que comum encontrarmos algum grau de acoplamento com-
portamental na gerao e criao dos filhotes.
Esse fenmeno, relativamente universal, ocorre em di-
ferentes grupos de animais e de formas variadas. Ns, como
humanos criados numa cultura patriarcal, tendemos a pensar
que o natural que a fmea cuide dos filhotes e o macho se
encarregue da proteo e sustento. Podemos supor que essa
imagem esteja baseada em parte no fato de sermos mamferos,
com perodos maiores ou menores de lactncia, em que a
criana fica necessariamente ligada me. No existe uma
nica espcie de mamferos em que a amamentao seja res-
ponsabilidade do macho.
No entanto, essa diviso de papis to ntida est longe de
ser universal. Entre os pssaros, encontramos uma grande varie-
dade de condutas. Em muitas aves) tanto o macho como a remea
podem produzir uma espcie de lquido leitoso no papo, que depois
regurgitam para os filhotes. Outro caso o das avestruzes sul-
americanas: o macho se acasala com um harm de remeas (poligi-
nia), e cada uma delas deposita um ovo dentro de um buraco. De-
pois, o macho que se encarrega de tomar conta deles.
208 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Tal inclinao domstica do macho aparece em forma
mista em outra ave sul-americana, a jaan. Nesse caso, a f-
mea define um territrio mais ou menos amplo em que prepara
vrios ninhos, permitindo a entrada do mesmo nmero de ma-
chos (poliandria). Depois da fertilizao, ela deposita um ovo
em ~ a d a ninho e constri outro para si mesma, onde tambm
deposita um ovo. Dessa maneira, tanto as fmeas como os Ma-
chos gozam dos prazeres de criar os passarinhos (Figura 52) .
Entre os pingins ocorre uma variao ainda mais no-
tvel. Para essas aves, conseguir alimento para os filhotes pa-
rece ser mais dificil e requer a participao dos dois progenito-
res. Mas como cuidam dos pequenos pingins? interessante:
alguns dos adultos permanecem ao redor do grupo de filhotes
e o protegem, formando uma verdadeira creche.
Entre os peixes, o esgana-gata constitui um caso extre-
mo. o macho que constri o ninho, seduz a fmea e a expulsa
logo depois da desova (Figura 53) . Uma vez sozinho, ele sacode
cuidadosamente a cauda, fazendo a gua circular em torno dos
Figura 52. Jaan.
ovos, at que os filhotes
saiam da casca. Em se-
guida, dedica-se a cuidar
dos peixinhos at que se
tornem independentes.
Ou seja, aqui o macho
que se encarrega da cria,
e sua relao com a f-
mea dura o tempo da cor-
te e da desova.
H outros exem-
plos em que a fmea
que tem maior responsa-
bilidade pela cria. Pode-
ramos citar muitos ou-
tros casos do acoplamen-
to necessrio para a pro-
criao e criao. Eviden-
temente, no h papis
fixos entre os animais.
I
!
I
\
\
.J
\
A rvore do conhecimento 209
Figura 53. Momentos da conduta na corte do esgana-gato.
Tampouco h nas sociedades humanas, em que ocorrem nu-
merosos casos tanto de poliandria como de poliginia, e nos
quais a diviso das tarefas da criao dos fllhos varia de um
extremo a outro. De fato, a presena do sistema nervoso torna
possvel uma variedade imensa de acoplamentos, o que produz
uma histria natural tambm muito variada. Devemos ter isso
em mente para entender a dinmita social humana como um
fenmeno biolgico.
Insetos sociais
Os acoplamentos de condutas sexuais e de criao dos
filhotes, embora praticamente universais, no so os nicos
possveis. H muitos outros modos de acoplamento comporta-
mental que os incluem e vo muito alm deles, pois especifi-
210
Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
Figura 54. Diferentes morfologias nas castas das formigas mir-
mceas (Pheidole kingi instabilis). De a) a f) individuos da casta
operria; g) a rainha; h) o macho.
cam, entre os indivduos de um grupo, coordenaes compor-
tamentais que podem durar por toda a vida.
O caso clssico e mais notvel de um acoplamento to
estreito que engloba toda a ontogenia dos organismos partici-
pantes so os insetos sociais. Esses animais englobam muitas
espcies entre vrias ordens de insetos. Em vrios deles se ori-
ginaram, paralelamente, mecanismos de acoplamento muito
semelhantes. Exemplos bem conhecidos d insetos sociais so
as formigas, os cupins, as vespas e as abelhas.
Por exemplo, a Figura 54 mostra vrios indivduos que
se encontram entre as formigas mirmceas, um grupo bastante
estudado. Vemos que h uma grande variedade de formas en-
tre os indivduos participantes, e sua morfologia difere de acor-
do com as atividades que realizam na colnia. Como vemos na
A rvore do conhecimento 211
figura, a maior parte so fmeas estreis, que realizam tarefas
como a coleta de alimentos, a defesa, o cuidado dos ovos e a
manuteno do formigueiro. Os machos ficam reclusos no in-
terior, onde se acha aquela que costuma ser a nica fmea fr-
til: a rainha (assinalada pela letra g na Figura 54) . So not-
veis as fmeas com mandbulas enormes, capazes de grande
presso, e que so muito maiores que as fmeas operrias (le-
tras e e f, na Figura 54). A maioria das formigas de um formi-
gueiro desse tipo no participa absolutamente da reproduo,
que est restrita rainha e aos machos. No entanto, todos os
indivduos de um formigueiro esto estreitamente acoplados
em sua dinmica estrutural fisiolgica.
O mecanismo de acoplamento entre a maior parte dos
insetos sociais se d por meio do intercmbio de substncias,
sendo assim um acoplamento qumico. Estabelece-se um fluxo
contnuo de secrees entre os membros de uma colnia -
trocam seus contedos estomacais todas as vezes que se en-
contram, o que podemos notar apenas observando uma fileira
de formigas na cozinha. Esse intercmbio qum'ico contnuo,
~ chamado trofolaxes (Figura 55), resulta na distribuio, por
toda a populao, de uma certa quantidade de substncias,
entre elas os hormnios, responsveis pela diferenciao e es-
pecificao de papis. Assim, a rainha torna-se o que pelo
modo como alimentada, e no hereditariamente. Basta tirar a
rainha de seu lugar para que imediatamente o desequilbrio
hormonal causado por sua ausncia produza uma mudana
na alimentao diferencial de algumas larvas, que se desenvol-
vem como rainhas. Vale dizer, todas as ontogenias dos diferen-
tes membros da unidade social esto atreladas a sua histria
contnua de interaes trofolticas seletivas, que de maneira
dinmica orientam, mantm ou mudam seu modo particular
de desenvolvimento.
Os processos e mecanismos detalhados que determinam
as castas, os modos de cooperao entre espcies distintas, a or-
ganizao territorial e muitos outros aspectos da vida dos insetos
sociais foram objeto de vrios estudos, sendo uma fonte sempre
nova de circunstncias que revelam as formas mais inesperadas
de acoplamento estrutural entre esses organismos. No enta.1'lto,
212
Humberto Maturana R./Frandsco Varela G.
~
.. . ~
: ~ l
,." ".,' .
~
Figura 55. Mecanismo de acoplamento entre os insetos sociais:
trofolaxes.
em todas elas se evidencia um grau de rigidez e inflexibilidade.
Isso no deveria surpreender, j que os insetos (como muitos
invertebrados) organizam-se essencialmente com base numa
armadura exterior de quitina. No interior dessa armadura in-
serem-se os msculos que a movem. Essa arquitetura impe
um limite ao tamanho mximo que os insetos podem alcanar
e, portanto, ao tamanho do seu sistema nervoso. Logo, os inse-
tos no se distinguem individualmente por sua variedade com-
portamental e sua capacidade de aprendizagem. Os vertebra-
dos, por sua vez, j que possuem um esqueleto interno revesti-
do pelos msculos, no sofrem uma limitao to severa de ta-
manho e so capazes, em princpio, de um crescimento prolon-
gado. Isso permite organismos maiores (mais clulas), com sis-
temas nervosos tambm maiores, o que possibilita uma diver-
sidade maior de estados e de condutas.
A roore do conhecimento
213
Vertebrados sociais
Imaginemos um rebanho de ungulados, tais como os
antlopes, que vivem em terrenos montanhosos. Quem j ten-
tou se aproximar deles deve ter notado que basta chegar a cem
metros de distncia para que todo o rebanho fuja. Geralmente,
correm at alcan,ar um topo mais elevado, de onde ficam a ob-
servar o intruso. No entanto, para chegar de um cimo a outro,
devem tambm passar por um vale que lhes impede a viso do
intruso. um caso evidente de acoplamento social: o rebanho
se desloca numa formao que tem o macho dominante fren-
te, seguido pelas fmeas e pelos filhotes. Por ltimo seguem os
outros machos do rebanho, um dos quais fica para trs, sobre
o topo mais prximo, vigiando o intruso enquanto os demais
descem. To logo alcanam a nova elevao, junta-se a eles
(Figura 56).
Essa forma peculiar de conduta, em que animais dis-
tintos cumprem papis distintos, permite que os membros do
rebanho relacionem-se em atividades que no lhes seriam pos-
sveis como indivduos isolados. Alm desse exemplo de fuga,
h muitos outros no sentido inverso. Por exemplo, os lobos vi-
vem tambm em grupos, coordenando suas condutas mediante
vrias interaes olfativas, faciais e corporais, como o mostrar
dos dentes, o abaixar das orelhas e o mover da cauda, como
vemos nos ces domsticos. Tal grupo, como unidade social,
capaz de perseguir e matar um gigantesco alce (Figura 57), fa':'
anha que no estaria altura de nenhum lobo solitrio.
Figura 56. A fuga como fenmeno social entre os cervos.
214
Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
Figura 57. A caa como fenmeno social entre os lobos.
Entre os vertebrados, modos de interao fundamental-
mente visuais e auditivos lhes permitem gerar um novo dom-
nio de fenmenos inacessveis a indivduos isolados. Nesse as-
pecto, os vertebrados se assemelham aos insetos sociais, mas
se diferenciam destes pela maior flexibilidade que seu sistema
nervoso e seu acoplamento visual lhes permitem.
Entre os primatas ocorrem situaes comparveis. Por
exemplo, entre os babunos das savanas africanas, cuja con-
duta natural (muito diferente da do cativeiro) tem sido minu-
ciosamente estudada, verifica-se uma contnua e mltipla inte-
rao gestual, pbstural (visual) e ttil entre todos os indivduos
do grupo. Nesse caso, o acoplamento intragrupal tende a esta-
belecer uma hierarquia de dominao entre os machos. Essa
hierarquia, que permite a coeso do grupo, toma-se ntida
quando os observamos migrar de um lugar para outro, ou en-
frentar um predador como o leo. Quando o grupo migra, os
machos e fmeas dominantes vo no centro, junto com os fi-
A rvore do conhecimento 215
Figura 58. Um grupo de babunos se desloca.
lhotes. Outros machos e fmeas se posicionam estrategicamen-
te frente- e atrs (Figura 58). Durante longas horas do dia, os
babunos costumam brincar e tirar pulgas uns dos outros,
mantendo uma contnua interao. Dentro desses grupos,
alm disso, notamos o que se pode chamar de temperamentos
individuais: alguns babunos so irritadios, outros sedutores,
outros exploradores etc. Toda essa diversidade comportamen-
tal possvel d a cada grupo de babunos seu prprio perfil.
Cada indivduo est continuamente ajustando sua posio na
rede de interaes do grupo segundo sua dinmica prpria, re-
sultado da histria de acoplamentos estruturais do grupo. No
entanto, apesar de todas essas diferenas, h um estilo de or-
ganizao generalizado em todos os grupos de babunos, refle-
tindo a linhagem filognica compartilhada por todos eles.
Grupos distintos de primatas revelam modos e estilos
de interao muito variados. As hamadrias do norte da frica
so habitualmente muito agressivas, formando hierarquias de
dominao bastante rgidas. J os chipanzs tm uma organi-
zao grupal muito mais fluida e varivel, criando grupos fami-
liares extensos que permitem muita mobilidade individual (Fi-
gura 59}. Cada grupo de primatas apresenta suas peculiarida-
des.
216 Hwnberto Maturana R./FranciscoVarela G.
1. Estrutura que corresponde aos
babunos habitantes da savana.
2. Estrutura que corresponde aos
chipanzs da selva.
__ Fronteira de um grupo fechado. - - - Fronteira de um grupo aberto.
Figura 59. Esquema comparativo da distribuio de indivduos
babunos e chipanzs.
Fenmenos sociais e comunicao
Entendemos os fenmenos sociais como aqueles asso-
ciados s unidades de terceira ordem. Apesar da variedade de
estilos de acoplamento que apresentamos, os fenmenos so-
ciais esto vinculados a um tipo particular de unidade. A for-
ma de realizao das unidades dessa ordem varia muito, desde
os insetos, os ungulados, at os primatas. Comum a todas
elas, todavia, que as unidades dos acoplamentos
de terceira ordem, ainda que transitrias, geram uma fenome-
nologia interna particular, em que os organismos participantes
satisfazem suas ontogenias individuais, fundamentalmente, se-
gundo seus acoplamentos mtuos na rede de interaes recpro-
cas que formam ao constituir as unidades de terceira ordem. Os
mecanismos segundo os quais se estabelecem essa rede e as
unidades que a constituem, mantendo sua coeso, variam em
cada caso.
Toda vez que h um fenmeno social, h um acopla-
mento estrutural entre indivduos. Portanto, como observado-
res, podemos descrever uma conduta de coordenao recproca
entre eles. Chamaremos de comunicao as condutas coorde-
A rvore do conhecimento
FENMENOS SOCIAIS
Entendemos os fenmenos so-
ciais como aqueles associados
participao dos organismos
na constituio de unidades de
terceira ordem.
217
COMUNICAO
Como observadores, designa-
mos como comunicativas as
condutas que ocorrem num
acoplamento social, e como co-
municao a coordenao com-
portamental que observamos
como resultado dela.
nadas, mutuamente desencadeadas, entre os membros de uma
unidade social. Portanto, entendemos como comunicao uma
classe particular de condutas que ocorrem, com ou sem a pre-
sena do sistema nervoso, no operar dos organismos em siste-
mas sociais. Como ocorre com toda conduta, se podemos dis-
tinguir o carter instintivo ou aprendido das condutas sociais,
podemos tambm distinguir entre formas filogenticas e onto-
gnicas de comunicao. A comunicao peculiar, portanto,
no por resultar de um mecanismo distinto do restante das
condutas, mas apenas por ocorrer no domnio de acoplamento
social. Isso vale igualmente para ns, como descritores de nos-
sa prpria conduta social, cuja complexidade no significa que
nosso sistema nervoso opere de modo distinto.
o cultural
Um belo caso de comunicao ontognica nos acess-
vel diariamente no canto de certos pssaros - entre outros, do
papagaio e de' seus parentes prximos. Esses animais habi-
tualmente vivem numa selva densa, onde no podem manter
contato visual. Em tais condies, o canto que permite que
218
Freqncia 4
1
(Khz)
2
1
Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Espectograma
25 m 10m 40 cm
~ ~ \,CJ ~
0"----........ --
O 0.5 O 0.5 O 0.5
Tempo (segundos)
Figura 60. Dueto vocal entre duas aves africanas.
fmea e macho se acasalem, ao estabelecerem um canto em
comum. Por exemplo, a Figura 60 mostra um espectograma
das aves africanas. (O espectograma uma maneira de pr o
som no papel em duas dimenses, como uma notao musical
continua). Pelo espectograma, parece que cada ave canta uma
melodia completa. Mas no assim. Pode-se mostrar que a
melodia , na realidade, um dueto, em que cada membro do
par constri uma frase que o outro continua. Tal melodia
prpria de cada par, e se especifica durante a histria de seu
acasalamento. Nesse caso (diferentemente do que ocorre com
muitos outros pssaros), tal comunicao, ou coordenao
comportamental do canto, claramente ontognica.
Com esse exemplo, quisemos mostrar que a melodia es-
pecfica de cada par ser exclusiva de sua histria de acopla-
mento. Se observarmos outro par de a v e ~ , veremos que especi-
ficaro outra melodia distinta. E os fIlhotes da cada par, quan-
do tambm forem se acasalar, geraro melodias de acasala-
mento diferentes das de seus pais. A melodia especfica de
cada par est limitada vida dos indivduos participantes.
A situao acima diferente de outra conduta, tambm
ontognica, que podemos ilustrar com um caso que se passou
na Inglaterra. H no muito tempo, novas garrafas de lete fo-
ram introduzidas em Londres e arredores. Eram cobertas por
uma fina lmina de alumnio no lugar do papelo. Como a
nova cobertura fosse fina o bastante para ser picotada pelo
A rvore do conhecimento
219
A METFORA DO TUBO PARA A COMUNICAO
Nossa discusso nos levou a
concluir que, biologicamente,
no h Informao transmitida
na comunico. A comunica-
o ocorre toda vez em que h
coordenao comportamental
num domnio de acoplamento
estrutural.
Tal concluso s chocante se
continuarmos adotando a met-
fora mais corrente para a comu-
nicao, popularizada pelos
meios de comunicao. a me-
tfora do tubo, segundo a qual
a comunicao algo gerado
num ponto, levado por um con-
dutor (ou tubo) e entregue ao
outro extremo receptor. Portan-
to, h algo que comunicado e
transmitido integralmente pelo
veculo. Da estarmos acostu-
mados a falar da informao
contida numa imagem, objeto
ou na palavra impressa.
Segundo nossa anlise, essa
metfora fundamentalmente
falsa, porque supe uma unida-
de no determinada estrutural-
mente, em que as interaes
so instrutivas, como se o que
ocorre com um organismo
numa interao fosse determi-
nado pelo agente perturbador e
no por sua dinmica estrutu-
rai. No entanto, evidente no
prprio dia-a-dia que a comuni-
cao no ocorre assim: cada
pessoa diz o que diz e ouve o
que ouve segundo sua prpria
determinao estrutural. Da
perspectiva de um observador,
sempre h ambigidade numa
interao comunicativa. O fen-
meno da comunicao no de-
pende do que se fornece, e sim
do que acontece com o recep-
tor. E isso muito diferente de
"transmitir informao".
bico de um pssaro, poucos dias aps a mudana, certas aves
(as cotovias) aprenderam como picotar as embalagens e ali-
mentar-se da camada superior de creme. O interessante que
a conduta se expandiu do foco central at todas as ilhas brit-
nicas. Em pouco tempo, todos os pssaros haviam aprendido o
truque de como conseguir um bom caf da manh.
Os vertebrados tm uma tendncia essencial e nica: a
imitao. No fcil explicar exatamente o que seja a imitao
220 Humberto Maturana R; / Francisco Varela G.
ALTRUrSMO E EGOrSMO
o estudo dos acoplamentos on-
tognlcos entre os organismos e
a avaliao de sua universalida-
de e variedade apontam para um
fenmeno prprio do social.
Pode-se dizer que, quando o ant-
lope fica para trs . e se arrisca
mais do que os outros, o grupo
que se beneficia, e no o animal
diretamente. Tambm se pode di-
zer que, quando uma formiga
operria no se reproduz e em
vez disso se dedica a conseguir
alimento para todas as crias do
formigueiro, o grupo que se be-
neficia, e no a formiga direta-
mente.
Tudo acontece como se hou-
vesse um equilbrio entre a ma-
nuteno e subsistncia indivi-
duai e a manuteno e subsis-
tncia do grupo como unidade
mais ampla, que engloba o Indi-
vduo. De fato, na deriva natural
se estabelece um equilbrio en-
tre o individual e o coletivo,
pois os organismos, ao acopla-
rem-se estruturalmente em uni-
dades de ordem superior (com
seu prprio domnio de existn-
cia), incluem a manuteno
dessas estruturas na dinmica
de sua prpria manuteno.
Os etlogos chamam de "al-
trustas" as aes que podem
ser descritas como tendo efei-
tos benficos para.a coletivida-
de, escolhendo um termo que
evoca uma conduta humana
carregada de conotaes ti-
cas. O motivo talvez seja a vi-
so, herdada do sculo passa-
do, de que a natureza tem "den-
tes e garras sangrentos", como
disse um contemporneo de
Darwin. Muitas vezes ouvimos
que a teoria de Darwin implica
que vivemos sob a lei da selva
- cada um cuida egoistamente
de seus prprios interesses
custa dos demais, numa impla-
cvel competio.
Essa viso do animal como
egofsta duplamente falsa. Em
primeiro lugar, porque a hist-
ria da natureza nos diz que no
assim, seja por onde for que a
examinemos. Os exemplos de
condutas que podem ser des-
critos como altrustas so qua-
se universais. Em segundo lu-
gar, porque os mecanismos que
se podem postular para enten-
der a deriva animal no reque-
rem absolutamente a noo in-
dividualista, em que o benefcio
de um indivdu requer o preju-
zo de outro. Ao contrrio, seria
uma incoerncia.
Com efeito, ao longo deste livro
vimos que a existncia do vivo
na deriva natural, tanto onto
como filogentica, no depende
da competio, e sim da con-
servao da adaptao. O en-
contro individual com o meio
resulta na sobrevivncia do ca-
paz. Pois bem, podemos mudar
de nvel de referncia em nossa
observao e considerar tam-
bm a unidade grupal, compos-
ta pelos indlvrduos, para a qual
a conservao considerar
tambm a unidade grupal, com-
A rvore do conhecimento
posta pelos Indivduos, para a
qual a conservao consIde-
rar tambm a unidade grupal,
composta pelos Indivduos, pa-
ra a qual a conservao da
adaptao tambm necessria
em seu domnio de existncia.
Para o grupo como unidade, os
componentes individuais so Ir-
relevantes, j que todos so,
em princpio, substituveis por
outros que possam cumprir as
mesmas relaes. Para os com-
ponentes como seres vivos, por
outro lado, a Individualidade
condio de existncia. Im-
portante no confundir esses
dois nveis fenomnicos para a
compreenso plena dos fen-
menos sociais. A conduta do
antlope ao retardar-se est re-
lacionada conservao do
grupo e expressa caractersti-
cas p r p r i a ~ dos antlopes em
seu acoplamento grupal, uma
vez que o grupo existe como
221
unidade. Ao mesmo tempo, to-
davia, essa conduta altrusta
para com a unidade grupal se
realiza no antlope . Individual
como resultado de seu acopla-
mento estrutural no meio que
envolve o grupo, e expressa a
conservao de sua adaptao
como indivduo. Portanto, no
h contradio na conduta do
antlope, uma vez que se realiza
em sua individualidade como
membro do grupo. "altruista-
mente" egosta e "egoistamen-
te" altrusta, porque sua realiza-
o individual depende de sua
presena no grupo que Inte-
gra.
Todas essas consideraes. va-
Iem tambm no domnio huma-
no, embora modificadas segun-
do as caracterscas da lingua-
gem como modo de acoplamen-
to social humano, como vere-
mos adiante.
em termos de fisiologia nervosa, mas ela bvia em termos
comportamentais. Por meio desse fenmeno, o que comeou
como uma conduta localizada em alguns pssaros se expandiu
rapidamente. A imitao, portanto, permite que um certo modo
de interao ultrapasse a ontogenia de um indivduo e se man-
tenha mais ou menos invariante ao longo de sucessivas gera-
es. Se os filhotes dos pssaros da Gr-Bretanha no fossem
capazes de imitar, o hbito de furtar o creme das garrafas teria
de ser reinventado a cada gerao.
Outro caso clebre de permanncia transgeracional social
de uma conduta adquirida foi registrado nos estudos de primatas
realizados numa reserva de macacos localizada num arquiplago
do Japo (Figura 61). Como procedimento de pesquisa, os inves-
222 Hwnberto Maturana. R. / Francisco Varela G.
Figura 61. Macaco japons lavando suas batatas.
tigadores espalharam batatas e trigo sobre a areia da praia. W
Atraidos pela comida, os macacos deixavam a selva vizinha ao
mar e saiam at a praia, onde podiam ser vistos. Com o tempo,
os animais foram se familiarizando com o contato com o mar e
realizando transformaes de conduta. Uma delas foi que uma
fmea talentosa, chamada Imo, descobriu um dia que podia la-
var as batatas na gua, tirando assim a areia que as tornava
desagradveis de comer. Em questo de dias, os outros maca-
cos, especialmente os jovens, j imitavam Imo e lavavam suas
batatas. Com o passar de poucos meses, a nova conduta j ha-
via se estendido a todas as colnias vizinhas.
Imo mostrou ser uma macaca realmente brilhante por-
que, alguns meses depois de ter inventado a lavagem das bata-
m s. Kawamura, J. Primatol. 2:43, 1959.
" \
A rvore do conhecimento 223
ORGANISMOS E SOCIEDADES
Organismos e sociedades per-
tencem a uma mesma classe de
metassistemas, membros for-
mados pela agregao de uni-
dades autnomas, tanto celula-
res como metacelulares. O ob-
servador pode distinguir os di-
ferentes metassistemas que
participam dessa classe pelos
diferentes graus de autonomia
que considera possveis para
seus componentes. Assim, se
ele os ordena em srie segundo
o grau em que seus componen-
tes dependem, para sua realiza-
o como unidades autnomas,
da participao no metassiste-
ma que integram, os organis-
mos e sistemas sociais huma-
nos ocuparo os extremos
opostos da srie. Os organis-
mos seriam metasslstemas com
componentes de mnima auto-
nomia, ou seja, cuja dimenso
de existncia Independente
muito pouca ou Inexistente, en-
quanto as sociedades humanas
seriam metassistemas com
componentes de mxima auto-
nomia, ou seja, com amplas di-
menses de existncia inde-
pendente. As sociedades for-
madas por outros metacelula-
res, como as dos insetos, fica-
riam situadas em diferentes
pontos intermedirios. No en-
tanto, as diferenas entre esses
metassistemas so operacio-
nais. Dadas algumas transfor-
maes nas respectivas dinmi-
cas internas e relacionais, eles
podem se deslocar para uma ou
outra dlreo da srie. Vejamos
agora as diferenas entre os or-
ganismos e sistemas sociais
humanos.
Os organismos, como sistemas
metacelulares, possuem clausu-
ra operacional graas ao acopla-
mento estrutural das clulas
que os compem. O central , na
organizao dos organismos
sua maneira de ser unidade num
meio em que precisam operar
com propriedades estveis que
lhes permitam conservar sua
adaptao, quaisquer que sejam
as propriedades de seus com-
ponentes. A conseqncia evo-
lutiva fundamental disso que a
conservao da ' adaptao dos
organismos de uma determina-
da linhagem seleciona, recor-
rentemente, a estabilizao das
propriedades das clulas que os
compem. A estabilidade gen-
tica e ontogentlca dos proces-
sos celulares que constituem os
organismos de cada espcie,
bem como a existncia de pro-
cessos orgnicos que podem
eliminar clulas que fogem da
norma, revela esse trao.
224 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Nos sistemas sociais humanos,
a situao diferente. Sendo
comunidades humanas, tam-
bm possuem clausura opera-
cional que se d no acoplamen-
to estrutural de componentes.
No entanto, os sistemas socias
humanos tambm existem co-
mo unidades para seus compo-
nentes no domnio da lingua-
gem. A identidade dos sistemas
sociais humanos depende, por-
tanto, da conservao da adap-
tao dos seres humanos no
s como organismos, no senti-
do geral, mas tambm como
componentes dos domnios lin-
gsticos que constituem. Pois
bem, a histria evolutiva do ho-
mem est associada s suas
condutas lingsticas. uma
histria em que se selecionou a
plasticidade comportamental
ontognica que possibilita os
domnios lingsticos e em que
a conservao da adaptao do
ser humano como organismo
exige que opere em tais dom-
nios e conserve tal plasticidade.
De modo que, assim como a
existncia do organismo requer
a estabilidade operacional de
seus componentes, a existncia
de um sistema social humano
requer a plasticidade operacio-
nal (comportamental) de seus
componentes. Assim como os
organismos requerem um aco-
plamento estrutural no-lings-
tico entre seus componentes,
os sistemas sociais humanos
requerem componentes acopla-
dos estruturalmente nos dom-
nios lingsticos onde eles (os
componentes) podem operar
com a linguagem e ser observa-
dores. Conseqentemente, en-
quanto para o operar de um or-
ganismo o central o prprio
organismo, que restringe ele
mesmo as propriedades de
seus componentes, para o ope-
rar de um sistema social huma-
no o central o domnio lings-
tico que seus componentes ge-
ram e a ampliao de suas pro-
priedades - condio necess-
ria para a realizao da lingua-
gem, que seu domnio de exis-
tncia. O organismo restringe a
criatividade individual das uni-
dades que o integram, pois es-
tas existem por causa dele. O
sistema social humano amplia a
criatividade individual de seus
componentes, pois o sistema
existe por causa destes.
A coerncia e harmonia nas re-
laes e interaes entre os
componentes de cada organis-
mo em particular devem-se, no
desenvolvimento individual, a
fatores genticos e ontogenti-
cos que restringem a plasticida-
de estrutural de seus compo-
nentes . . A coerncia e harmonia
nas relaes e interaes entre
os integrantes de um sistema
social humano se devem coe-
rncia e harmonia de seu cres-
cimento dentro dele, numa con-
tnua aprendizagem social que
seu prprio operar social (lin-
gstico) define, e que poss-
vel graas aos processos gen-
ticos e ontogenticos que lhes
permitem sua plasticidade es-
truturaI.
A rvore do conhecimento
Organismos e sistemas sociais
humanos so, pois, casos
opostos na srie de metassiste-
mas formados pela agregao
de sistemas celulares de qual-
quer ordem. Entre eles temos,
alm dos diversos tipos de sis-
temas sociais formados por ou-
tros animais, aquelas comuni-
dades humanas que, por incor-
porar mecanismos coercitivos
de estabilizao em todas as di-
menses comportamentais de
seus membros, constituem sis-
temas sociais humanos desvir-
tuados, que perderam suas ca-
Mlnlma
autonomia Organls-
de mos
componentes
Insetos
sociais
225
racterstica::. prprias e desper-
sonalizaram seus componen-
tes. Parecem-se mais com orga-
nismos, como foi o caso de Es-
parta. Organismos e sistemas
sociais humanos no podem,
portanto, ser equiparados sem
distorcer ou negar as caracte-
rsticas prprias de seus res-
pectivos componentes.
Qualquer anlise da fenomeno-
logia social humana que des-
preze as consideraes acima
ser falha, pois negar os fun-
damentos biolgicos dessa fe-
nomenologia.
Esparta
Sociedades
humanas
Mxima
autonomia
de
componentes
tas, criou outra conduta: pegava o trigo misturado com areia
(desagradvel de comer), mergulhava-o no mar, deixava que a
areia se desprendesse e recolhia o cereal limpo. A segunda in-
veno de Imo, como a anterior, expandiu-se gradualmente pe-
las colnias da ilha. Os velhos sempre eram os mais lentos em
adquirir a nova forma de conduta.
Chamaremos as configuraes comportamentais adqui-
ridas ontogenicamente na dinmica comunicativa de um meio
social, e mantidas estveis atravs de geraes, de condutas
culturais. O nome no deve surpreender, j que se refere preci-
samente a todo o conjunto de interaes comunicativas de de-
terminao ontognica que permitem uma certa invarincia na
histria do grupo, indo alm da histria particular dos indiv-
226 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
CONDUTA CULTURAL
Entendemos por conduta cultu-
ra/ a estabilidade transgeracio-
nal de configuraes comporta-
mentais adquiridas ontogenlca-
mente na dinmica comunicati-
va de um meio social.
duos participantes. A imitao e a contnua seleo comporta-
mental intragrupal desempenham a um papel essencial, pois
tornam possvel o acoplamento dos jovens com os adultos, es-
pecificando uma certa ontogenia que se expressa no fenmeno
cultural. A conduta cultural, portanto, no representa uma
forma essencialmente distinta quanto ao mecanismo que a
possibilita. um fenmeno que existe como uin caso particu-
lar de conduta comunicativa.
\
1
10
Conhecer o
1
conh,ecer L ,- Experincia cotidiana
I .
tica t:>.---- Fenmeno do conhecer
I I
Explicao Obser-__
cientfica vador
I I
AO----.,- j ;....;...J
L AutoPoiese J
I .
Fenomenologta
My'
Fenmenos his tricos-
I I
Conservao-Variao
I I
9
Domnios
r-i--'+ --'Ingsticos---+"
L
' I
mguagem_
ConJinCia
I--i-+-- reflexiva
J
I pertu1 aes I
r- AcopJarnento- 6nto-J I
r-+-f
L
-+--\ eSjtural jenia J
Unidades de
I segunda ordem
I .-;'---'-_Clausura lperacional
l
Atos cognoscitivos rFiIOgenia.----::--...;,...J
6
I L natural interaes
do C d ta S' t l- I I
dominio de on u - IS Conservaa-o_Selea-o_
I
nervloso -
interaes <::] da adartao eSjtural
LPlasticidade l Contabilidade lgica Determinao
estrutural I estrutural
Representao-
Solipsismo
I
v
1 Fen: enos
rr-r:= culturais j
rT Fenmenos sociais-
I I Unidades de __ +-,:-:-,
terceira ordem
I
9
D O M N I O ~ LINoisTICOS
E CONSCINCIA HUMANA
Figura 62. Hieroglifos egpcios.
230 Hwnberlo Maturana R. / Francisco Varela G.
Um amigo nosso acordava todas os dias quando seu
gato, ao raiar do sol, caminhava sobre o piano. Se nosso amigo
se levantava, encontrava-o junto porta que levava ao jardim,
esperando que a abrisse. Se no se levantava, o gato voltava a
caminhar sobre o piano, produzindo sons no muito harmo-
niosos.
Seria perfeitamente natural descrever a conduta do
gato como "significando" ao seu dono o desejo de sair para o
jardim. Assim, estariamos fazendo uma descrio semntica
das condutas de nosso amigo e seu gato. No entanto, tambm
sabemos que as interaes entre eles s ocorreram como um
desencadeamento mtuo de mudanas de estado, segundo
suas respectivas determinaes estruturais. uma nova oca-
sio para manter nossa contabilidade lgica muito clara e ca-
minhar sobre o fio da navalha, diferenciando o operar de um
organismo da descrio de suas condutas.
Sem dvida h muitas circunstncia como a do nosso
amigo, em que podemos aplicar uma descrio semntica a
um fenmeno social. um freqente recurso literrio ou meta-
frico, tornando a situao comparvel a uma interao lin-
gstica humana, tais como as fbulas. Essa questo requer
uma ateno mais detalhada.
Descries semnticas
Vimos no ltimo captulo que dois ou mais organismos,
ao interagir, recorrentemente, geram um acoplamento social
em que se envolvem de modo recproco na realizao de suas
respectivas autopoieses. As condutas que ocorrem nesses do-
mnios de acoplamentos sociais, como dissemos, so comuni-
cativas e podem ser inatas ou adquiridas. Para ns, como ob-
servadores, o estabelecimento ontognico de um domnio de
condutas comunicativas pode ser descrito como o estabeleci-
mento de um domnio de condutas coordenadas associveis a
termos semnticos. Ou seja, como se o que determinasse a
coordenao comportamental assim produzida fosse o signifi-
cado que o observador atribui s coIldutas, e no o acopla-
\
I
\
A roore do conhecimento 231
DOMNIO LlNGSTICO
Toda vez que um observador
descreve as condutas de imera-
es entre organismos, como
se o significado que atribui a
elas determinasse o seu curso,
faz uma descrio em termos
semnticos.
Designamos como IIngstlca
uma conduta comunicativa on-
tognica, ou seja, que se d
num acoplamento estrutural on-
condutas
ontognicas
tognico entre organismos, e
que um observador pode des-
crever em termos semnticos.
Designamos como domnio lin-
gstico de um organismo o do-
mnio de todas as suas condu-
tas lingsticas. Os domnios
lingstlcos so, em geral, va-
riveis e mudam ao longo das
ontogenias dos organismos
que os geram.
condutas
comunicativas
condutas
lingfsticas
mento estrutural dos participantes. essa qualidade das con-
dutas cqmunicativas ontognicas de poderem aparecer como
semnticas a um observador, que trata cada elemento compor-
tamental como se fosse uma palavra, que permite relacionar
tais condutas linguagem humana. Vamos ressaltar essa con-
dio ao designar tal classe de condutas como um domnio lin-
gstico entre os organismos participantes.
O leitor no precisa de mais exemplos de domnios lin-
gsticos, No captulo anterior, vimos vrios deles, mas no os
apontamos como tais pois o tema era o social em geral. Por
exemplo, o dueto um ,exemplo elegante de interao lings-
232 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
tica. Um bom exerccio para o leitor seriareexaminar o captulo
anterior concentrando-se em descobrir quais daquelas condu-
tas comunicativas podem ser consideradas lingsticas e ver
como nelas se d a possibilidade de descries semnticas.
Notemos que a escolha desse termo - .como o termo
"ato cognitivo" que vimos anteriormente - no arbitrria.
Equivale a afirmar que as condutas lingsticas humanas per-
tencem de fato a um domnio de acoplamento estrutural onto-
gnico recproco, que os seres humanos estabelecem e mantm
como resultado de suas ontogenias coletivas. Ou seja, quando
descrevemos as palavras como designadoras de objetos ou si-
tuaes no mundo, fazemos, como observadores, uma descri-
o de um acoplamento estrutural que no reflete a operao
do sistema nervoso, posto que este no opera com repre-
sentaes do mundo.
Por contraste, as condutas comunicativas instintivas,
cuja estabilidade depende da estabilidade gentica da espcie,
e no da estabilidade cultural, no constituem um domnio lip-
gstico. As condutas lingsticas so expresso de um acopla-
mento estrutural ontognico. A chamada "linguagem" das abe-
lhas, por exemplo, no uma linguagem, e sim um caso misto
de conduta instintiva e lingstica, j que se trata de uma
coordenao condutal comportamental fundamentalmente f i l o ~
gentica que apresenta, todavia, algumas variaes grupais ou
"dialetos" de determinao ontognica.
Nessa perspectiva, o carter aparentemente to arbitr-
rio dos termos semnticos (h alguma relao entre a palavra
"mesa" e o objeto mesa?) algo completamente previsvel e
consistente com o mecanismo que subjaz ao acoplamento es-
trutural. Com efeito, so inmeros os modos com que as inte-
raes recorrentes que levam coordenao comportamental
se estabelecem entre os organismos ("mesa", "table", "Tafel").
Relevante como suas estruturas efetuam essas interaes, e
no os modos de interao em si. Se no fosse assim, os sur-
dos-mudos no teriam linguagem, por exemplo. Trata-se, efeti-
vamente, de uma deriva cultural em que - como na deriva fi-
logentica dos seres vivos - no h um desgnio, e sim um ar-
A rvore do conhecimento 233
cabouo ad hoc que vai se fazendo com os elementos dispon-
veis a cada momento.
Se observarmos a histria natural tendo em mente tais
noes, percebemos que o domnio lingstico do homem
muitos mais abrangente e envolve muito mais aspectos de sua
vida do que ocorre com qualquer outro animal.
Escapa inteno deste livro fazer uma discusso
aprofundada das muitas dimenses da linguagem humana -.
seria necessrio outro livro. Mas, para nossos propsitos, que-
remos identificar a caracterstica-chave da linguagem, que mo-
difica de modo to radical os domnios comportamentais hu-
manos possibilitando novos fenmenos como a reflexo e a
conscincia. Tal caracterstica que a linguagem permite a
quem opera nela descrever-se a si mesmo e s suas circuns-
tncias. disso que nos ocuparemos neste captulo.
Vimos que, quando observamos a conduta de outros
animais (humanos ou no) num domnio lingstico, como ob-
servadores podemos tratar suas interaes de maneira semn-
tica, como se indicassem ou denotassem algo do meio. Ou
seja, num domnio lingstico, podemos sempre tratar a situa-
o como se fosse uma descrio do meio comum aos organis-
mos em interao. No caso humano, para o observador as pa-
lavrs geralmente denotam elementos do domnio comum en-
tre os seres humanos, seja objetos, estados de esprito, inten-
es e assim por diante. Esse trao em si no peculiar aos
seres humanos, embora sua variedade de termos semnticos
seja muito maior do que em outros animais. O fundamental no
caso humano que, para o observador, as descries podem
ser feitas tratando as outras descries como objetos ou elemen-
tos do domnio de interaes. Ou seja, o prprio domnio lin-
gstico passa a fazer parte do meio de interaes possveis.
Somente quando se produz tal reflexo lingstica que existe
linguagem, surge o observador, e os organismos participantes
passam a operar num domnio semntico. E somente quando
isso ocorre que o domnio semntico passa a fazer parte do
meio de conservao de adaptao de seus participantes. o
que acontece com os seres humanos: existimos em nosso ope-
234 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
rar na linguagem, conservando nossa adaptao no domnio
de significados resultante: fazemos descries das descries
que fazemos ... (como o faz esta sentena). Somos observadores
e existimos num domnio semntico criado pelo nosso operar
lingstico.
Nos insetos,como j vimos, a coeso da unidade social
se d por uma interao qumica, a trofolaxes. No caso dos se-
res humanos, a "trofolaxes" social a linguagem,. que faz com
que existamos num mundo sempre aberto de interaes lin-
gisticas recorrentes. A partir da existncia da linguagem, no
h limites para o que podemos descrever, imaginar, relacionar.
Ela permeia de modo absoluto toda a nossa ontogenia como
indivduos, desde o caminhar e a postura at a poltica. Mas,
antes de examinar mais a fundo essas conseqncias da lin-
guagem, vejamos pdm eira como foi possvel seu aparecimento
na deriva natural dos seres vivos.
Histria natural da linguagem humana
Durante muitos anos, existiu um dogma em nossa cul-
tura: aJinguagem seria um privilgio absoluta e exclusivamen-
te humano, a anos-luz da capacidade de outros animais. Em
tempos mais recentes, essa idia veio se abrandando conside-
ravelmente. Em parte devido quantidade cada vez maior de
estudos sobre a vida animal, que reconhecem em alguns ani-
mais, como nos macacos e nos. golfinhos, possibilidades muito
mais amplas do que nos dispnhamos a admitir antes. Mas
sem dvida foi o fato de os primatas superiores serem capazes
de aprender a interagir conosco lingisticamente de maneira
cada vez mais ampla o que mais contribuiu para a mudana
de perspectiva. .
de supor que o homem, desde eras remotas, tenha-
tentado ensinar a linguagem a macacos tais como os chipan-
. zs, to parecidos com ele. Mas foi somente nos anos 30 que a
literatura cientfica- registrou uma tentativa sistemtica, reali-
zada nos Estados Unidos, pelos Kellogs. O casal criou um beb
chipanz ao lado de seu prprio filho, com o fim de lhe ensinar
. I I
A rvore do conhecmento
A LINGUAGEM
Operamos na linguagem quan-
do um observador v que os
objetos de nossas distines
-lingsticas so elementos de
nosso domnio lingstico.
235
a falar. Foi um fracasso quase completo. O animal era incapaz
de reproduzir as modulaes vocais necessrias fala. No en-
tanto, vrios anos depois, outro casal americano, os Gardner,
achou que o problema estaria no na capacidade lingstica do
animal, mas sim no fato de sua habilidade ser gestual, e no
vocal, o que uma caracterstica proverbial dos macacos. As-
sim, decidiram repetir o experimento dos Kellogs, mas desta
vez utilizando como sistema de interaes lingsticas o Ames-
lan - o idioma gestual mais rico e amplo, internacionalmente
usado pelos surdos-mudos (Figura 63). Washoe, o chipanz m
dos Gardner, no s aprendeu o Ameslan como o dominou de
tal maneira que era tentador dizer que aprendera a "falar". O
experimento comeara em 1966, quando Washoe tinha um
ano. Quando completou cinco, ele j aprendera um repertrio
de cerca de duzentos gestos, incluindo alguns equivalentes s
funes de verbos, adjetivos e substantivos da linguagem fala-
da (Figura 64).
Por outro lado, o mero fato de aprender a fazer certos mo-
vimentos com a mo para obter recompensas no em si uma
grande faanha, como sabe qualquer treinador de circo. A per-
gunta : Washoe usava os gestos como uma linguagem, assim
como fica claro quando travamos uma conversa gestual com um
surdo-mudo? Depois de quinze anos, de muitas horas de investi-
gao. de muitos outros chipanzs e gorilas treinados por dife-
rentes grupos, a resposta a essa pergunta continua ferozmente
W R. A. Gardner e B. T. Gardner, Science 165:664, 1969.
236 Hwnberto Maturrula R./Francisco Varela G.
Figura 63. O Ameslan no uma linguagem fontica, e sim
"ideogrfica". Aqui o gorila Koko aprende o gesto para "mqui-
na".
debatida. No entanto, parecia que Washoe, e outros de seus
co
I1
gneres, havia realmente aprendido uma linguagem.
Em certas ocasies, embora at hoje poucas, esses a n i ~
mais foram capazes de combinar seu repertrio limitado de
gestos para criar novos gestos, que pareceram adequados no
contexto de observaes. Assim, de acordo com Lucy, outra
chipanz treinada como Washoe, uma melancia uma "fruta-
beber", ou um "doce-beber", e um rabanete forte uma "comi-
da-chorar-forte". E, embora lhe tivessem ensinado um gesto
para "refrigerador", Washoe preferia a proposio "abrir-comer-
beber". Isso significaria que Washoee Lucy refletiam sobre
suas aes, evidenciando recurses por meio do Ameslan?
Que um primata possa interagir usando os gestos do
Ameslan no implica necessariamente que consiga usar sua
reflexibilidade potencial para distinguir elementos do domnio
lingstico como se fossem objetos, tal como fazem os huma-
nos. Um experimento recente, por exemplo, comparou a habili-
dade de trs chipanzs treinados em formas de interao lin-
gstica semelhantes ao Ameslan. A chipanz Lana diferia de
A roore do conhecimento 237
Figura 64. Interao lingistica interespecifica.
seus companheiros Shennan e Austin porque o treinamento
destes enfatizara o uso prtico dos signos e objetos na mani-
pulao do mundo durante interaes com os humanos e en-
ali tre si. Lana, ao contrrio, aprendera uma fonna de interao
lingstica mais estereotipada, por meio de um computador, em
que a nfase recaa na associao de signos com objetos. O ex-
perimento consistia em ensinar os trs animais a distinguir
duas classes de objetos: comestveis e no-comestveis (Figura
65), que separavam em duas bandejas. Em seguida, deram-lhes
uma nova srie de objetos e lhes pediram que os pusessem nas
bandejas correspondentes. Nenhum dos macacos teve proble-
mas em realizar a tarefa. O passo seguinte foi apresentar aos
animais imagens visveis, ou lexicogramas, de objetos comest-
veis e no-comestveis, e pedir-lhes que os classificassem corre-
tamente. Por ltimo, a prova era associar ao lexicograma uma
srie- nova 'de objetos. Nesse novo experimento, Lana falhou
dramaticamente em comparao com seus companheiros.
W E. S. Savage-Rumbaugh, D. M. Rumbaugh, S. T. Smith e J. Lawson,
Science 210: 922, 1981.
238 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
~ ~ Q ~ .. :o/
4 ~ ~
~ ~ ~
~ ' f
~ ~
<>. '.:J
ta,
~ ~ ~
~ ~ . ~
~ ~ Q
~ .. -O/
] [I]
~ If
~ ~
<> '1J
./
~
[I]
Figura 65. Capacidade de generalizao segundo histrias dife-
rentes de aprendizado lingstico.
o experimento mostrou que Lana operava num dom-
nio lingstico sem utilizar os elementos deste para fazer dis-
tines dentro desse domnio, como na transferncia ou gene-
ralizao de categorias. Mas Sherman e Austin tinham essa
habilidade, como demonstrou o experimento. Ficou claro que o
fato de terem sido treinados num contexto de interao e ex-
plorao lingisticamente mais rico, por envolver diretamente
a convivncia com outros animais, e no s com um computa-
A rvore do conhecimento 239
dor, fez uma diferena fundamental em suas ontogenias, com-
paradas com a de Lana.
Todos esses estudos sobre a capacidade lingstica dos
primatas superiores (os gorilas tambm aprenderam a lingua-
gem gestual) so muito importantes para compreender a hist-
ria lingstica do homem. Esses animais pertencem a linha-
gens paralelas e muito prximas nossa - 98% de seu mate-
rial gentico nuclear coincide com o humano. Mesmo pequena,
a diferena de componentes responsvel pelas grandes dife-
renas nos modos de vida que caracterizaram as linhagens dos
~ homindeos e dos grandes macacos ou antropides, e que num
caso levaram ao desenvolvimento habitual da linguagem e no
outro no. Assim, quando submetidos a um acoplamento lin-
gstico variado - como foi Washoe - esses animais so ca-
pazes de participar, ainda que a magnitude e o carter de seus
domnios lingsticos se mostrem limitados. No sabemos se
isso se deve a limitaes lingsticas intrnsecas ou ao mbito
de suas preferncias comportamentais. Mas sabem9s que a di-
vergncia histrica entre homindeos e antropides deve ter
envolvido diferenas estruturais no sistema nervoso associa-
das a seus modos de vida to distintos.
No conhecerpos os detalhes da histria das transfor-
maes estruturais dos homindeos, e talvez jamais o saiba-
mos. Lamentavelm!:!nte, a vida social e lingstica no deixa
fsseis, e no possvel reconstru-la. Mas podemos dizer que
as mudanas nos homindeos primitivos, que propiciaram o
surgimento da linguagem, esto relacionadas coleta e par-
tilha de sua histria de animais sociais e de relaes interpes-
soais afetivas estreitas, associadas ao colher e compartilhar
alimentos. Neles coexistiam atividades aparentemente contra-
ditrias, como fazer parte integral de um grupo muito coeso e,
ao mesmo tempo, afastar-se por perodos mais ou menos lon-
gos para colher alimentos e caar. Uma "trofolaxes" lingsti-
ca, capaz de tecer uma trama recursiva de descries, foi o
mecanismo que permitiu a coordenao comportamental on-
tognica, como fenmeno de carter cultural, j que cada in-
divduo podia "levar" o grupo consigo, sem necessidade de in-
240 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
Figura 66. Nossa linhagem.
teraes fisicas contnuas com ele. Examinemos isso com mais
ateno.
A linhagem de homindeos qual pertencemos tem
mais de quinze milhes de anos (Figura 66). No entanto, no foi
seno h cerca de trs milhes de anos que se consolidaram os
traos estruturais essencialmente idnticos aos atuais. Entre
os mais importantes esto: o andar bpede e ereto, o aumento
da capacidade craniana (Figura 67) e uma conformao dental
particular - associvel a uma alimentao onvora, mas princi-
palmente base de sementes e nozes. Alm disso, houve a pas-
~ sagem dos ciclos estrais de fertilidade nas fmeas para o ciclo
menstrual, o que tornou a sexualidade continua e no mais sa-
zonal e possibilitou os confrontamento dos rostos durante a c-
pula. claro que nem todas essas mudanas que distinguem
os homindeos dos outros primatas ocorreram simultaneamen-
te, mas sim em momentos e ritmos distintos, ao longo de vrios
milhes de anos. Em algum momento ao longo dessas transi-
A rvore do conhecimento
241
cm'
2050
1850 -
1650
~
1450
e
w
o
E
o
,.
1250
1050
..
" 850
"
~
"-
.!!
650
..
~
'"
450 ~ I
250
I mdia eatatfatlcB
Figura 67. Comparao da capacidade craniana dos homindeos.
es, O enriquecimento do domnio lingstico, associado a
uma sociabilidade recorrente, levou produo da linguagem.
Podemos imaginar os homindeos primitivos como seres
que viviam em pequenos grupos, ou famlias extensas, em
constante movimento pela savana (Figura 68). Alimentavam-se
sobretudo do que colhiam, como sementes e nozes, mas tam-
bm da caa ocasional. Como eram bpedes, tinham as mos
livres para carregar os alimentos por grandes trechos at seu
grupo de base, no precisando lev-los no aparelho digestivo,
como acontece com o resto do reino animal. As descobertas
fsseis indicam que essa conduta de transportadora era parte
integrante da conformao da vida social. Fmea e macho, uni-
dos por uma sexualidade permanente e no mais sazonal,
como nos outros primatas, compartilhavam alimentos e coope-
ravam na criao dos filhos. Isso dentro do domnio das estrei-
tas coordenaes de conduta aprendidas (lingsticas) que
ocorrem na contnua cooperao de uma famlia extensa.
242
Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
DISTRIBUIAO MUNDIAL DE COLHEITEIROS-CAADORES (10.000 a.C.)
Populao
mundial:
10 milhes
Porcentagem de
colheiteiros-
caadores: 100%
LOCALIZAOES CONHECIDAS DE COLHEITEIROS-CAADORES CONTEMPORNEOS
Populao
mundial:
3 bilhes
Porcentagem de
colheiteiros-
caadores: 0,01%
1. Esquims - Alasca
2. Esquims - Territrios do
Noroeste
3. Esquims - Groenlndia
4. Akuri - Suriname
5. Pigmeus - Zaire
6. Ariangulos - Tanznia
Boni - Tanznia
Sanye - Tanznia
Bekannte Standorte gegenwiirtger Sammler und Jager
7. Korokas - Angola
Bantos - Angola
8. Bosqumanos - frica do Sul, Botswana
9. Birhar - India Central
10. Andamaneses - Ilha de Andaman
11. Rues - Tailndia
12. Aborigenes aUstralianos - Austrlia
? Presena no-verificada de
colheiteiros-caadores
Figura 68. No perodo neoltico, as populaces humanas eram
colheiteiras-caadoras (mapa acim.a). Essas origens esto
ocultas nos estilos de vida atuais (mapa inferior).
\
\
A roore do conhecimento 243
Esse modo de vida de contnua cooperao e coordena-
o comportamental teria constitudo o mbito lingstico. A
conservao deste, por sua vez, teria levado a deriva estrutural
dos homindeos a aumentar continuamente a capacidade de
fazer distines dentro desse mbito de coordenaes compor-
tamentais cooperativas entre individuos em convivio estreito.
Essa participao recorrente dos homindeos nos domnios lin-
gsticos que geram em sua socializao deve ter sido uma di-
menso determinante na efetiva ampliao de tais domnios
at a reflexo que deu origem linguagem - ou seja, quando
as condutas lingsticas passaram a ser objeto da coordenao
comportamental lingstica, da mesma forma que as aes no
meio so objetos das coordenaes comportamentais. Por
exemplo, na intimidade das interaes individuais recorrentes,
que personalizam o outro com uma distino lingstica parti-
cular, que opera como vocativo individual, poderiam ter ocorri-
do as condies para o aparecimento da reflexo lingstica.
At onde podemos imaginar, tal foi a histria da deriva
estrutural dos homindeos que levou ao surgimento da lingua-
gem. Com essa herana e com as mesmas caractersticas funda-
mentais que operamos hoje em dia, numa deriva estrutural que
conserva a socializao e a conduta lingstica descritas acima.
Janelas experimentais para o mental
As caracteristicas nicas da vida social humana e seu
intenso acoplamento lingstico foram capazes de gerar um fe-
nmeno novo, ao mesmo tempo to prximo e to distante de
nossa prpria experincia: a mente e a conscincia. Ser que
podemos fazer algumas perguntas experimentais que nos reve-
lem esse fenmeno de modo mais claro? Por exemplo, poderia-
mos perguntar a um smio: "Como se sente sendo um maca-
co?" Infelizmente, parece que essa pergunta ficar para sempre
sem resposta, j que no podemos construir com os macacos
um domnio de convivncia que admita tais distines compor-
tamentais ("sentir-se") como distines lingsticas na lingua-
gem. a riqueza (diversidade) das interaes recorrentes que
individualiza o outro na coordenao lingstica, tomando
244
Humberto MaturanaR./Francisco Varela G.
Figura 69. O calcanhar-de-aquiles para a habilidade iingistica
oral humana (em vermelho).
possvel a linguagem e determinando seu carter e amplitude.
A pergunta, portanto, permanece.
Talvez um modo mais bvio de contrastar a experincia
dos primatas com a humana seja no por meio da linguagem,
e sim pelo recurso a este objeto to ligado reflexo: o espe-
lho. Os animais, em geral, tratam comportamentalmente sua
imagem no espelho como se fosse a presena de outro animal.
Os ces latem ou balanam o rabo para sua imagem; os gatos
fazem algo equivalente. Entre os primatas, os macacos tm
uma conduta claramente parecida, e respondem com toda sor-
te de gestos a seu reflexo. Mas os gorilas, ao se confrontar pela
primeira vez com um espelho, demonstram surpresa, mas logo
W se acostumam ao efeito e o ignoram. Para explorar essa reao
m G. Gallup, Am.er. Scient. 67:417, 1979.
A rvore do conhecimento
245
prpria imagem, aparentemente to distinta da dos outros
animais, anestesiaram um gorila e pintaram entre seus olhos
um ponto colorido, visvel somente ao espelho. Quando o ani-
mal saiu da anestesia e foi confrontado com o espelho - sur-
presaI - sua mo se dirigiu ao ponto colorido em sua testa
para examin-lo. Era de esperar que o animal estendesse a
mo para tocar o ponto na imagem, onde a via. Tais resultados
levaram a pensar que poderiam ser indicaes de que existe,
ao menos entre os gorilas e outros primatas superiores, uma
certa possibilidade de auto-imagem e portanto de reflexo.
Quais seriam os mecanismos recursivos que lhes permitiriam
tal reflexo est longe de ser claro, se que existem de todo. E,
se existirem, talvez tenham uma forma muito limitada e par-
cial. Tal no ocorre com o homem, pois nele a linguagem torna
a capacidade de reflexo inseparvel de sua identidade.
Uma janela muito ampla, que permite entrever o papel do
acoplamento lingstico na gerao do mental nos humanos, foi
aberta por alguns experimentos feitos com pacientes submetidos
LAUVi JI1TACOA
,
DI ' /( , I
II
II ft 'ir ,
II
Figura 70. Ataque de epilepsia
do rei inca, segundo gravu-
ra da poca (sculo XVII) .
a tratamentos neurocirrgicos.
Os mais notveis so uma s-
rie de estudos de um grande
nmero de pessoas que so-
frem de epilepsia - uma sn-
drome que, em sua pior ma-
nifestao, produz epicentros
de . atividades eltricas que se
expandem por todo o crtex,
sem nenhuma regulao (Fi-
gura 70). Como conseqn-
cia, a pessoa sofre convulses
e perda de conscincia, alm
de toda uma srie de outros
sintomas bastante incapaci-
tadores. Tentou-se h alguns
anos, em casos extremos de
epilepsia, evitar a invaso m
m R. W. Sperry, The Harvey Lectures 62:293, 1968.
246 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Figura 71. Desconexo inter-hemisfrica no tratamento da epi-
lepsia: o corpo caloso seccionado aparece em vermelho.
transcor tical da atividade epilptica cortando-se a conexo
II<W mais importante entre os hemisfrios cerebrais: <> corpo caloso
(Figura 71). O resultado foi que a epilepsia do indivduo melho-
rou, mas seus hemisfrios haviam deixado de funcionar como
uma unidade, como acontece com uma pessoa normal.
J mencionamos que certas zonas do crtex precisam
estar intactas para que a fala seja possvel. Em quase todos os
seres humanos, basta que tais reas estejam ntegras num s
lado preferencial - geralmente o esquerdo. Por isso se diz que
h uma lateralizao na linguagem. O que ocorre, ento, com a
interao lingstica desses sujeitos que perderam a conexo
entre seus hemisfrios?
Em situaes cotidianas, no se nota aparentemente
nenhuma diferena. Os pacientes operados podem retomar
suas atividades normais, e no poderiamos distingui-los de
outros convidados de um coquetel. Mas h maneiras de gerar,
num laboratrio, uma interao preferencial com o hemisfrio
esquerdo ou com o direito separadamente. Tal experimento se
\
I
A rvore do conhecimento
Figura 72. Geometria da projeo da retina sobre o crtex. Per-
turbaes situadas no lado esquerdo afetam exclusivamente o
crtex do lado direito.
247
baseia na anatomia do sistema visual, que faz com que tudo o
que vejamos no lado esquerdo de nosso campo visual perturbe
neurnios que se encontram no hemisfrio direito, e vice-versa
(ver diagrama da Figura 72). Assim, fIxando o olhar de um su-
jeito e controlando a localizao em seu campo visual das ima-
gens de teste, podemos escolher interagir preferencialmente
com o crtex direito ou com o crtex esquerdo.
Essa situao experimental revela condutas distintas
na pessoa, caso a interao se d pela direita ou pela esquer-
da. Por exemplo: o sujeito senta-se na frente de uma tela de
projees com a instruo de escolher, dentre os vrios objetos
ocultos sua frente, aquele que corresponde imagem proje-
tada (Figura 73). Se esquerda do ponto de fIxao (portanto
sobre o hemisfrio direito) projetada a imagem de uma co-
lher, o sujeito no tem problema em encontrar a colher pelo
tato e exibi-la. Mas se, em vez da imagem de uma colher, pro-
jetar-se a palavra "colher", o sujeito fIca sem ao. Quando
questionado, confessa que no viu nada. Interaes faladas ou
248
Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Figura 73. Situao experimental para o estudo da conduta de
pessoas com seco do corpo caloso. Posicionado de modo a
no ver as mos nem os objetos a serem manipulados, o sujei-
to v imagens projetadas direita ou esquerda de seu campo
visual e deve identific-las com as mos ou com a fala.
escritas envolvendo apenas o crtex direito so to inintelig-
veis para uma pessoa que teve seu corpo caloso seccionado,
no podendo mais interagir com o crtex esquerdo com a lin-
guagem escrita, como para um beb ou um macaco. No entan-
to, tal pessoa perfeitamente capaz de participar, com o cam-
po visual esquerdo, de outros domnios lingsticos, como de-
monstram esses mesmos experimentos.
Em vez de mostrar ao sujeito uma colher do lado direi-
to do campo visual, mostramos uma linda .modelo nua. Ele fica
vermelho e embaraado. Quando lhe perguntamos o que hou-
ve, ele responde: "Mas que mquina engraada essa sua, dou-
tor." Ou seja, a pessoa capaz de empregara linguagem falada
em interaes que s envolvem o hemisfrio esquerdo, mas
simplesmente no tem acesso a fazer descries orais das inte-
raes que ocorreram com seu hemisfrio direito, do qual o he-
misfrio esquerdo foi desconectado. No h recursividade so-
bre aquilo a que no se tem acesso. O sujeito acoplou-se
I
I
\
\
\
A rvore do conhecimento 249
nossa linguagem, mas no viu a mulher nua. S lhe aconteceu
uma mudana em nvel emocional, certamente relacionada
com as conectividades de ambos os hemisfrios com outras zo-
nas do sistema nervoso conservadas intactas. Diante dessa
mudana emocional, o hemisfrio lingstico constri uma his-
tria assim: "Mas que mquina engraada essa sua, doutor."
Podemos ir mais alm. H uma porcentagem pequena
de seres humanos em que a destruio de qualquer dos hemis-
frios no interfere com a linguagem. Ou seja, neles existe ape-
m nas uma leve lateralizao. Para nossa sorte, uma dessas ra-
ras pessoas foi um paciente submetido a uma comissurotomia
e voluntrio do mesmo tipo de experimento que descrevemos.
A diferena que com ele era possvel interagir tanto pelo cam-
po visual esquerdo como pelo direito e pedir respostas que exi-
giam reflexo lingstica. Paul, um nova-iorquino de 15 anos,
era capaz, por exemplo, de selecionar a colher, quando a solici-
tavam por meio da palavra escrita, em ambos os hemisfrios.
Conseqentemente, criou-se para Paul uma nova estra-
tgia experimental. O pesquisador comeava com uma pergun-
ta oralcomo: "Quem ... ?", e os espaos em branco eram comple-
tados por uma imagem projet da num dos campos visuais, por
exemplo, as palavras " voc?". Tal pergunta, projetada dos
dois lados, recebeu a mesma resposta: "Pau1." Diante da per-
gunta: "Que dia amanh?", o menino deu a resposta adequa-
da: "Domingo." Quando foi dirigida ao hemisfrio esquerdo a
pergunta: "O que voc quer ser quando crescer?", a resposta
foi: "Piloto de automve1." Isso fascinante, pois a mesma per-
gunta apresentada ao lado direito recebeu como resposta: "De-
senhista."
As observaes indicam que, nesse caso, a interao
com ambos os hemisfrios provoca condutas que habitualmen-
te identificamos como as de uma mente consciente, capaz de
reflexo. Isso muito importante. A diferena entre Paul e os
outros pacientes, que so incapazes dessa duplicao na capa-
m M. S. Gazzaniga e J. E. LeDoux, The integrated mind, Comell University
Press, Nova Iorque, 1978.
250 Humberto MaturW1a R./Francisco Varela G.
cidade lingstica oral, com a participao independente de
ambos os hemisfrios na reflexo lingstica falada, mostra
que sem a recursividade lingstica no teria aparecido a lin-
guagem nem a mente (ou algo assim identificvel) em nosso
domnio de distines.
O caso de Paul nos revela mais ainda. No curso de uma
interao lingstica oral, parecia que o hemisfrio esquerdo
era.o predominante. Por exemplo, quando projetavam uma or-
dem escrita ao hemisfrio direito, tal como "ria", Paul efetiva-
mente fmgia uma risada. Quando perguntavam ao hemisfrio
esquerdo por que o riso, o menino replicava algo como: " que
vocs so gozados." Quando apareceu a ordem "Coce-se", a
resposta de qual era o motivo da ao foi: "Estou com coceira."
Ou seja, o hemisfrio predominante no teve problemas em in-
ventar alguma coerncia descritiva para dar conta das aes
que viu ocorrer, mas que esto fora de sua experincia direta
devido desconexo com o outro hemisfrio.
o mental e a conscincia
Todos esses experimentos nos dizem algo fundamental
sobre a maneira como diariamente organizamos e damos coern-
cia continua concatenao de reflexes que chamamos cons-
cincia e que associamos nossa identidade. Por um lado, nos
mostram que o operar recursivo da linguagem condio sine
qua non para a experincia que associamos ao mental. Por outro,
essas experincias, fundadas no lingstico, se organizam com
base numa variedade de estados de nosso sistema nervoso.
Como observadores, no temos necessariamente um acesso dire-
to a tais estados, mas estes ocorrem sempre de maneira a man-
ter a coerncia de nossa deriva ontognica. No domnio lingsti-
co de Paul, no possvel que este ria sem uma explicao coe-
rente de tal ao. Portanto, sua vivncia lhe imputa alguma cau-
sa, tal como: " que vocs so gozados", conservando com essa
reflexo a coerncia descritiva de sua histria.
O caso de Paul revela, at certo ponto, como conscin-
cias desconexas operam dentro de um mesmo organismo, e as-
A rvore do conhecimento 251
sim tambm revela um mecanismo que opera dentro de ns
constantemente. Ou seja, mostra-nos que, na rede de intera-
es lingsticas em que nos movemos, mantemos uma cont-
nua recurso descritiva que chamamos de eu ", e que nos per-
mite conservar nossa coerncia operacional lingstica e nossa
adaptao ao domnio da linguagem.
Isso no deve surpreender a essa altura de nossa apre-
sentao. Vimos que um ser vivo se conserva como unidade
sob contnuas perturbaes do meio e de seu prprio operar.
Vimos em seguida que o sistema nervoso produz uma dinmi-
ca comportamental ao gerar relaes internas de atividade
neural em sua clausura operacional. O sistema vivo, em todos
os nveis, organiza-se de forma a gerar regularidades internas.
No domnio do acoplamento social e da comunicao - na
"trofolaxes" lingstica - produz-se o mesmo fenmeno. Mas a
coerncia e estabilizao da sociedade como unidade depende-
r nesse caso de mecanismos tornados possibilitados pelo ope-
rar lingstico e sua ampliao na linguagem. Essa nova di-
menso de coerncia operacional de nosso linguajar o que
experimentamos como conscincia e como "nossa" mente.
As palavras, como sabemos, so aes, e no coisas
que passam de l para c. nossa histria de interaes re-
correntes que nos permite um acoplamento estrutural inter-
pessoal efetivo. Descobrimos que compartilhamos um mundo
que especificamos em conjunto por meio de nossas aes. Isso
to evidente a ponto de nos ser literalmente invisvel. S
quando nosso acoplamento estrutural fracassa em alguma di-
menso de nosso existir que refletimos e nos damos conta de
at que ponto a trama de nossas coordenaes comportamen-
tais na manipulao do nosso mundo e a comunicao so in-
separveis de nossa experincia. Tais fracassos circunstanciais
em alguma dimenso de nosso acoplamento estrutural so co-
muns em nossa vida cotidiana, desde a compra de um po at
a educao de um filho. So a motivao para novas maneiras
de acoplamento e novas descries. E assim, ad infinitum. Ge-
ralmente no nos damos conta da textura histrica J?or trs
das coerncias lingsticas e biolgicas envolvidas nas aes
mais simples de nossa vida social. Por exemplo: o leitor j
252 Hwnberto Marurana R./Francisco Varela G.
prestou ateno na incrvel textura que subjaz conversa mais
banal, aos variados tons de voz, s seqncias de uso das pa-
lavras, s superposies de aes entre os interlocutores? H
tanto tempo que nos acoplamos assim que nossa ontogenia
nos parece simples e direta. Na verdade, a vida ordinria, a
vida de todos os dias, uma refinada coreografia de coordena-
es comportamentais.
Portanto, o surgimento da linguagem humana, bem
como todo contexto social em que esta aparece, gera o fenme-
no indito - at onde sabemos - do mental e da conscincia
de si como a experincia mais ntima do homem. Sem o desen-
volvimento histrico das estruturas adequadas impossvel
entrar no domnio humano - como ocorreu menina-lobo. Ao
mesmo tempo, como fenmeno do linguajar na rede de acopla-
mento social e lingstico, o mental no algo que est dentro
de meu crnio, no um fluido de meu crebro: a conscincia
e o mental pertencem ao domnio do acoplamento social, e
neste que se d sua dinmica. tambm nesse domnio que o
mental e a conscincia operam como seletores do caminho que
segue nossa deriva estrutural ontognica. Alm disso, j que
pertencemos a um domnio de acoplamento humano, podemos
tratar a ns mesmos como fontes de interaes lingsticas se-
letoras de nosso vir-a-ser. Mas, como Robinson Cruso enten-
deu muito bem ao manter um calendrio, ler a Bblia todas as
tardes e se vestir para o jantar, comportando-se como se exis-
tissem outros ao seu redor, a rede de interaes lingsticas
que nos torna o que somos. Ns, que dizemos tudo isso como
cientistas, no somos diferentes.
A estrutura compromete. Ns humanos, como huma-
nos, somos inseparveis da trama de acoplamentos estruturais
tecida pela nossa "trofolaxes" lingstica permanente. A lingua-
gem nunca foi inventada por um sujeito isolado na apreenso
de um mundo externo e, portanto, no pode ser usada como
ferramenta para revelar um tal mundo. Ao contrrio, dentro
do linguajar mesmo que o ato de conhecer, na coordenao
comportamental que a linguagem, produz um mundo. Reali-
zamos a ns mesmos em mtuo acoplamento lingstico, no
porque a linguagem nos permita dizer o que somos, mas por-
A roore do conhecimento 253
que somos na linguagem, num contnuo existir nos mundos
lingsticos e semnticos que produzimos com os outros. En-
contramos a ns mesmos nesse acoplamento, no como a ori-
gem de uma "referncia, nem em referncia a uma origem, mas
sim em contnua transformao no vir-a-ser do mundo lings-
tico que construmos com os outros seres humanos.
I
l
l
1
\
/'
I
t
l
\'
[
j
t
\
. ~
\
t
\
t
\
1\
\
10
Conhecer o
r--ii--- conhecer---t-i
I E 0 0 d
o
"----T- xpenencla cOtl lana
[> I
....---- Fenmeno do conhecer
I
1--+---Ittica
I I
Explicao Obsero_i-
cientifica vador
I I
2
I Unidade
L Organizao-EslrutLa
L AutoPoieseJ
I o
Fenomenologia
9
f-
Domnios
ri---r-l----,Iingsticos----+..,
o I
Lmguagem_
C
Lo o
onsclencla
1--i--1i-- reflexiva
I Fen=enos
rrr-== culturais -
i-:- Fenmenos sociais-
Unidades de
r-r-- terceira
I I
Conservao-Variao
I I
4
Perturbaes--H ..,
I I I
T
I I eSlrrUral jema
Unidades de
I
segunda ordem '
I o
r-!--.:....+-Clausura operacional 1
\1
Atos CO:OSCitiVOS
f-+ - COjlael inte tf a
5
rFilOgenia-r-- -t-!-'
de....;r--I
natural interaes
,-i-Ampliao do
domnio de
interaes
L P1uticidado Jl
I
6
Conduta - Sistema--
nervoso
I
Contabilidade lgicai-
R
I ..
epresentaao-
Solipsismo -----:
Co
I .. SI I ..
e eao-' r--
da adaptao estrutural
I I
Determinao
estrutural
/
J
1
I
'I
:,
!
I
I
J
I
li
J
I
I
J
'[
I
I
'1
I
'J
)
10
A RVORE DO
CONHECIMENTO
Figura 74. Desenho de Humberto R. Maturana.
258 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
o conhecer e o conhecedor
Como as mos da gravura de Escher (Figura 7), este li-
vro tambm seguiu um itinerrio circular. Partimos das quali-
dades de nossa experincia, comuns a nossa vida social con-
junta, e desse ponto de partida flzemos um longo percurso
pela autopoiese celular, a organizao dos metacelulares e
seus domnios condutuais, a clausura operacional do sistema
nervoso, os domnios lingsticos e a linguagem. Aos poucos
fomos armando com peas simples um sistema explicativo ca-
paz de mostrar como surgem os fenmenos prprios dos seres
vivos. Assim, acabamos por mostrar como os fenmenos so-
ciais, fundados num acoplamento lingstico, do origem lin-
guagem, e como a linguagem, a partir de nossa experincia co-
tidiana do conhecer, nos permite gerar a explicao de sua ori-
gem. O comeo o flnal.
Cumprimos assim a tarefa que nos propusemos no in-
cio, qual seja, que a teoria do conhecimento deveria mostrar
como o fenmeno do conhecer gera a explicao do conhecer.
uma situao muito diferente das que normalmente encon-
tramos, em que o fenmeno do explicar e o fenmeno explicado
pertencem a domnios djstintos.
Pois bem, se o leitor seguiu com seriedade o que foi
dito nestas pginas, talvez se sinta motivado a ver todo o seu
fazer no mundo que produz - ver, saborear, preferir, rejeitar
ou conversar - como produto dos mecanismos que descreve-
mos. Se conseguimos seduzir o leitor a ver em si a mesma na-
tureza desses fenmenos, este livro ter cumprido seu primeiro
objetivo.
Mas esse projeto nos coloca numa situao inteiramen-
te circular, que produz uma certa vertigem parecida com o
efeito da gravura de Escher. A sensao de no termos um
ponto de referncia fixo e absoluto, onde ancorar nossas des-
cries e assim aflrmar e defender sua validez. Com efeito, a
suposio de um mundo objetivo, independente de ns como
observadores e acessvel ao nosso conhecimento por meio de
nosso sistema nervoso, no permite entender como este fun-
I
!
I
I
I
}
I
!
'I
(
I
)
\
'I
1
I
{
li
I
A rvore do conhecimento
259
ciona em sua dinmica estrutural, pois exige que o meio espe-
cifique seu operar. Mas, se no afirmamos a objetividade do
mundo, parece que estamos propondo que tudo pura relativi-
dade, que tudo possvel, que negamos toda legalidade. Sendo
assim, ficamos diante do problema de entender como nossa
experincia est acoplada a um mundo que vivenciamos como
contendo regularidades que resultam de nossa histria biosso-
cial.
Novamente temos de caminhar sobre o fio da navalha,
evitando os extremos representacional (ou objetivista) e solip-
sista (ou idealista). Nessa linha mediana, encontramos a regu-
laridade do mundo que experimentamos a cada momento, mas
sem nenhum ponto de referncia independente de ns mesmos
que garantisse a estabilidade absoluta de nossas descries.
Na verdade, todo mecanismo de gerao de ns prprios como
agentes de descries e observaes nos explica que nosso
mundo, bem como o mundo que produzimos em nosso ser com
outros, sempre ser precisamente essa mescla de regularidade
e mutabilidade, essa combinao de solidez e de areias move-
dias, to prpria da experincia humana quando examinada
de perto.
Todavia, evidente que no podemos sair desse crculo
e nos evadir do nosso domnio cognitivo. Seria como mudar,
por um fiat divino, a natureza do crebro, a natureza da lin-
guagem, a natureza do vir-a-ser - ou seja, a natureza da na-
tureza. Estamos continuamente imersos nesse passar de uma
interao a outra, cujos resultados dependem da histria.
Todo fazer leva a um novo fazer: o crculo cognitivo que ca-
racteriza o nosso ser, num processo cuja realizao est imer-
sa no modo de ser autnomo do ser vivo.
Por meio dessa contnua recursividade, todos os mun-
dos produzidos necessariamente ocultam suas origens. Biolo-
gicamente, no h meio de desvendar como ocorreram as regu-
laridades do mundo a que estamos acostumados, desde os va-
lores ou preferncias at as tonalidades das cores ou os odo-
res. O mecanismo biolgico nos indica que uma estabilizao
operacional na dinmica do organismo no incorpora a manei-
260 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
ra como este se ongmou. Nossas Vlsoes do mundo e de ns
mesmos no conservam registros de suas origens. As palavras
da linguagem (na reflexo lingstica) passam a ser objetos que
ocultam as coordenaes comportamentais que as constituem
operacionalmente no domnio lingstico. Da que tenhamos
tantos e renovados "pontos cegos" cognitivos, que no vejamos
que no vemos, que no percebamos que ignoramos. S quan-
do alguma interao nos tira do bvio - por exemplo, ao ser-
mos bruscamente transportados a um meio cultural diferente
- e nos permitimos refletir, que nos damos conta da imensa
quantidade de relaes que tomamos como garantidas.
A bagagem de regularidades prprias ao acoplamento
de um grupo social sua tradio biolgica e cultural. A tradi-
o uma maneira de ver e atuar, mas tambm um modo de
ocultar. Toda tradio se baseia no que uma histria estrutu-
ral acumulou como bvio, como regular, como estvel, e a re-
flexo que permite ver o bvio opera somente com aquilo que
perturba essa regularidade.
Tudo o que temos em comum como seres humanos
uma tradio biolgica que comeou com a origem da vida e
que se estende at hoje, nas variadas histrias dos seres hu-
manos deste planeta. devido a nossa herana biolgica co-
mum que temos os fundamentos de um mundo comum e no
estranhamos que, para todos os seres humanos, o cu seja
azul e o sol raie a cada manh. De nossas heranas lingsti-
cas diferentes surgem todas as diferenas de mundos culturais
que podemos viver como seres humanos e que, dentro dos li-
mites biolgicos, podem ser to diversas como se queira.
Todo conhecer humano pertence a um desses mundos,
e sempre vivido dentro de uma tradio cultural. A explica-
o dos fenmenos cognitivos que apresentamos neste livro se
situa dentro da tradio da cincia e se valida por critrios
cientficos. No entanto, uma explicao singular dentro dessa
tradio ao mostrar como, ao tentar conhecer o conhecer, aca-
bamospor nos encontrar com nosso prprio ser. O conhecer
do conhecer no se ergue como uma rvore com um ponto de
partida slido, que cresce gradualmente at esgotar tudo o que
1,
I
!
I
1
\
I
I
~
I
I
I
'I
l
\
t
i
l
1
I
\
A roore do conhecimento 261
Figura 75. A galeria de quadros, de M. C. Escher.
h para conhecer. Parece-se mais com a situao do rapaz na
Galeria dos quadros, de Escher (Figura 75), que admira um
quadro que, de modo gradual e imperceptvel, se transforma
na cidade e na galeria onde ele prprio se encontra. No sabe-
mos onde situar o ponto de partida: fora ou dentro? A cidade
ou a mente do rapaz? O reconhecimento dessa circularidade
cognitiva, no entanto, no constitui um problema para a com-
preenso do fenmeno do conhecer, j que funda o ponto de
partida que permite sua explicao cientifica.
o conhecimento do conhecimento co.mpromete
Diz o texto bblico que, quando Ado e Eva comeram do
fruto da rvore do conhecimento do bem e do mal, foram
262 Humberto Maturana R. / Francisco Varela G.
transformados em seres diferentes e nunca mais voltaram
antiga inocncia. Antes, seu conhecimento do mundo se ex-
pressava em sua nudez. Viviam nessa nudez na inocncia do
mero saber. Depois, quando souberam que estavam nus, sou-
beram que sabiam.
Ao longo deste livro, percorremos a "rvore do conheci-
mento", vendo-a como o estudo cientfico dos processos que
subjazem ao conhecimento. E, se seguimos seus argumentos e
intemalizamos suas conseqncias, percebemos tambm que
so inescapveis. O conhecimento do conhecimento comprome-
te. Compromete-nos a tomar uma atitude de permanente vigi-
lncia contra a tentao da certeza, a reconhecer que nossas
certezas no so provas da verdade, como se o mundo que
cada um de ns v fosse o mundo, e no um mundo, que pro-
duzimos com outros. Compromete-nos porque, ao saber que
sabemos, no podemos negar o que sabemos. .
por isso que tudo o que dissemos aqui, esse saber
que sabemos, conduz a uma tica inescapvel, que no pode-
mos desprezar. Uma tica que emerge da conscincia da estru-
tura biolgica e social dos seres humanos, que brota da refle-
xo humana e a coloca no centro como fenmeno social consti-
tutivo. Equivale a buscar as circunstncias que permitem to-
mar conscincia da situao em que estamos - qualquer que
seja - e olh-la de uma perspectiva mais abrangente e distan-
ciada. Se sabemos que nosso mundo sempre o mundo que
construmos com outros, toda vez que nos encontrarmos em
contradio ou oposio a outro ser humano com quem deseja-
mos conviver, nossa atitude no poder ser a de reafirmar o
que vemos do nosso prprio ponto de vista, e sim a de conside-
rar que nosso ponto de vista resultado de um acoplamento
estrutural dentro de um domnio experiencial to vlido como o
de nosso oponente, ainda que o dele nos parea menos desej-
vel. Caber, portanto, buscar uma perspectiva mais abrangen-
te, de um domnio experiencial em que o outro tambm tenha
lugar e no qual possamos, com ele, construir um mundo. O
que a biologia est mostrando, se o que dissemos neste livro
est correto, que a unicidade do ser humano, seu patrimnio
exclusivo, encontra-se nessa percepo de um acoplamento so-
I
'J
i
I
f
11
L
1
i
I
I
I
j
l
t
(
(
I
/,
t
~
I
I
\
\
A rvore do conhecimento
TICA
Todo ato humano ocorre na lin-
guagem. Todo ato na linguagem
produz o mundo que se cria
com outros no ato de convivn-
cia que d origem ao humano:
por isso, todo ato humano tem
sentido tico. Esse vnculo do
humano com o humano , em
ltima anlise, o fundamento de
toda tica como reflexo sobre
a legitimidade da presena do
outro.
263
cioestrutural em que a linguagem tem um papel duplo: por um
lado, o de gerar as regularidades prprias do acoplamento es-
trutural social humano, que inclui, entre outros fenmenos, a
identidade pessoal de cada um de ns; por outro, o de consti-
tuir a dinmica recursiva do acoplamento socioestrutural.
Esse acoplamento produz a reflexividade que permite o ato de
mirar a partir de uma perspectiva mais abrangente, o ato de
sair do que at este momento era invisvel ou intransponvel
para ver que, como seres humanos, s temos o mundo que
criamos com outros. A esse ato de ampliar nosso domnio cog-
nitivo reflexivo, que sempre implica uma experincia nova, s
podemos chegar pelo raciocnio motivado pelo encontro com o
outro, pela possibilidade de olhar o outro como um igual, num
ato que habitualmente chamamos de amor - ou, se no qui-
sermos usar uma palavra to forte, a aceitao do outro ao nos-
so lado na convivncia. Esse o fundamento biolgico do fen-
meno social: sem amor, sem a aceitao do outro ao nosso
lado, no h socializao, e sem socializao no h humanida-
de. Tudo o que limite a aceitao do outro - seja a competio,
a posse da verdade ou a certeza ideolgica - destri ou restrin-
ge a ocorrncia do fenmeno social e, portanto, tambm o hu-
mano, porque destri o processo biolgico que o gera. No se
trata de moralizar - no estamos pregando o amor, mas apenas
264 Humberto Maturana R./Francisco Varela G.
destacando o fato de que biologicamente, sem amor, sem a acei-
tao do outro, no h fenmeno social. Se ainda se convive as-
sim, hipocritamente, na indiferena ou ativa negao.
Descartar o amor como fundamento biolgico do so-
cial, assim como as implicaes ticas do amor, seria negar
tudo o que nossa histria de seres vivos, de mais de trs bi-
lhes e meio de idade, nos legou. No prestar ateno no fato
de que todo conhecer fazer, no ver a identidade entre ao
e conhecimento, no ver que todo ato humano, ao construir o
mundo pelo linguajar, tem um carter tico porque se d no
domnio social, equivale a no se permitir ver que as mas
despencam ao cho. Agir assim, sabendo que sabemos, seria
um auto-engano e uma negao intencional. Para ns, por-
tanto, este livro tem no apenas o propsito de ser uma pes-
quisa cientfica, mas tambm o de nos oferecer uma com-
preenso do ser humano na dinmica social e nos libertar de
uma cegueira fundamental: a de no nos darmos conta de que
s temos o mundo que criamos com o outro, e que s o amor
nos permite criar esse mundo em comum. Se conseguimos se-
duzir o leitor a fazer essa reflexo, o livro cumpriu seu segun-
do objetivo.
Afirmamos que no cerne das dificuldades do homem mo-
demo est seu desconhecimento do conhecer.
No o conhecimento, mas o conhecimento do conhe-
cimento o que nos compromete. No saber que a bomba
mata, e sim o que queremos fazer com a bomba que determina
se a usaremos ou no. Isso geralmente se ignora ou se finge
desconhecer para evitar a responsabilidade que nos cabe em
todos os nossos atos cotidianos, j que todos os nossos atos,
sem exceo, contribuem para formar o mundo em que existi-
mos e que legitimamos precisamente por meio desses atos,
num processo que configura nosso vir-a-ser. Cegos diante da
transcendncia de nossos atos, fingimos que o mundo tem um
vir-a-ser independente de ns, justificando assim nossairres-
ponsabilidade e confundindo a imagem que buscamos proje-
tar, o papel que representamos, com o ser que verdadeiramen-
te construmos em nosso viver dirio.
I
I
I
I
J
'/
i
'I
I
,
I
II
I
A rvore do conhecimento 265
Chegamos ao final. Que o leitor no busque aqui recei-
tas para seu fazer concreto. A inteno deste livro foi convid-
lo a uma reflexo que o leve a conhecer seu conhecer. A res-
ponsabilidade de fazer de tal conhecimento a substncia de
sua ao est em suas mos.
Era uma vez uma ilha que ficava em Algum Lugar, cujos
habitantes desejavam intensamente ir para outra regio e fundar
W um mundo mais saudvel e digno. O problema, todavia, era que
a arte e a cincia de natao e da navegao nunca haviam sido
desenvoividas, ou talvez tivessem sido esquecidas. Por isso, havia
habitantes que nem sequer pensavam em alternativas vida na
ilha, enquanto outros procuravam encontrar solues para seus
problemas, sem contudo pensar em cruzar as guas. De vez em
quando, alguns nativos reinventavam a arte de nadar e navegar.
Tambm de vez em quando, algum estudante ia at eles e enta-
bulavam um dilogo mais ou menos assim:
- O que est disposto a fazer para consegui-lo?
- Nada. S desejo levar comigo minha tonelada de re-
polho.
- Que repolho?
- A comida que precisarei do outro lado, ou seja l
onde for.
- Mas h outros alimentos do outro lado.
- No sei o que est dizendo. No estou seguro. Tenho
de levar meu repolho.
- Mas no poder nadar com uma tonelada de repo-
lho. muito peso.
- Ento no posso aprender. Chama meu repolho de
carga, mas eu o chamo de meu alimento essencial.
- Suponhamos que, em vez de repolhos, digamos
idias adquiridas, ou pressuposies, ou certezas?
m I Shah, The sufis, Anchor Books, Nova Iorque, 1964, PIl. 2-15.
266 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
- Hum ... Vou levar meus repolhos para algum que
entenda minhas necessidades.
'r
1
I
!
I
,
j
I
;1
I
I
I
I
l
GLOSSRIO
Acidos nuclicos: cadeias de nucleotideos (veja DNA e RNA).
Aminocidos: molculas orgnicas que compem as protenas. Cada
aminocido formado por um grupo amino, um grupo cido e de
um resduo molecular prprio a cada tipo de aminocido.
Antropides: grupo dos primatas superiores que inclui os gorilas, os
chipanzs, os gibes e os orangotangos.
Ano-luz: unidade de distncia astronmica que corresponde distn-
cia percorrida por um raio de luz em um ano. A velocidade da luz
de aproximadamente 300.000 quilmetros por segundo.
Axnio: extenso protoplsmica neural nica, capaz de conduzir um
impulso nervoso.
Bactrias: seres vivos unicelulares sem compartimentalizao interna
(procariontes).
Cerebelo: lbulo da poro ceflica do sistema nervoso dos vertebra-
dos que tem participao ativa na regulao fina da atividade mus-
cular.
Ciclo estral: sexualidade peridica, sazonal ou mensal, nos mamfe-
ros de sexo feminino.
268 Humberto Maturana. R./Francisco Varela G.
Comprimento de onda: grandeza que caracteriza a freqncia das vi-
braes das diferentes cores do espectro luminoso e, em geral, das
diferentes radiaes eletromagnticas.
Cromossomos: componentes do ncleo celular formados por cidos
nuclicos altamente comprimidos e protenas. So facilmente vis-
veis durante a diviso celular e seu nmero fixo em cada esp-
cie.
Corpo caloso: conjunto de axnios que interconectam os crtices ce-
rebrais de ambos os hemisfrios.
Crtex: sistema de camadas de neurnios que cobrem os hemisfrios
cerebrais.
Dendrites: extenses protoplsmicas neurais, de nmero e formato
variados, que conduzem impulsos nervosos.
DNA (cido desoxirribonuclico): principal cido nuclico que consti-
tui os cromossomos. Tem participao crucial na sntese das pro-
tenas celulares ao especificar a seqncia de aminocidos por in-
termdio do RNA.
Esporos: clulas cobertas por uma resistente camada exterior.
Eucariontes: clulas com compartimentos citoplsmicos e outros, tais
como as mitocndrias e os cloroplastos.
Fenomenologia: conjunto de fenmenos associados s interaes de
uma classe de unidades.
Flagelo: organela celular em forma de ftlamento mvel.
Fssil: restos ou vestgios deixados por um ser vivo.
Gametas: clulas que se fundem durante a reproduo sexuada, tais
como o e o vulo.
Gene: unidade descritiva hereditria na gentica dos cidos nuclicos
e que corresponde a um segmento de DNA.
Hemisfrios cerebrais: cada uma 'das pores ceflicas simtricas do
sistema nervoso dos vertebrados.
Homindeos: conjunto da espcie dos primatas que inclui o homem
atual e seus ancestrais diretos.
L
1
1
f
)
\
I
!
A roore do conhecimento
269
Insulina: hormnio secretado pelo pncreas que ajuda a regular a ab-
soro de glicose.
Metabolismo celular: conjunto dos processos de tranfornaes qu-
micas dos componentes celulares_que ocorrem permanentemente
no interior da clula.
Mitose: processo de descompartimentalizao celular que leva re-
produo da clula. ,
MiXomicetos: grupo de organismos ecariontes cujo ciclo de vida-per-
corre fases com indivduos amebides dispersos e fases de agrega-
o celular com ou sem fuso.
Nervo_ ptico: feixe de fibras nervosas 9ue ligam a retina ao crebro.
Neurnios: clulas que constituem o sistema nervoso e que possuem
um axnio e uma dendrite.
Neurotransmissor: substncia secretada nos terminais sinpticos
que desencadeia mudanas eltricas no neurnio receptor.
Nucleotdeos: molculas orgnicas que compem os cidos nuclicos.
Cada nucleotdeo formado pela unio de uma molcula de acar
(ribose ou desoxirribose), um cido fosfrico e uma base nitrogena-
da (purinas ou pirimidinas).
Ontogenia: histria das transformaes de uma unidade como resul-
tado de uma histria de interaes a partir de sua estrutura ini-
cial.
Plasmdio: unidade multinuclear resultante da fuso de vrios indiv-
duos unicelulares.
Procariontes: clulas sem compartimento nuclear.
Protenas: molculas orgnicas formadas pela unio em cadeia de
numerosos aminocidos. Essa cadeia se dobra em formas tridi-
mensionais dependendo da composio dos aminocidos.
Protozorios: clulas eucariontes vivas e livres.
Quiloparsec: unidade de distncia astronmica, que corresponde
aproximadamente a 3.260 anos-luz.
Pseudpodes: extenses protoplsmicas de clulas amebides.
270 Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Reaes termonuc1eares:. transformaes de partculas elementares
que ocorrem sob condies de temperaturas altssimas (da ordem
de 10.000 graus).
Recursivo: recorrente, que se volta sobre si mesmo.
RNA (cido ribonuc1ico): cido nuc1ico que participa da sntese de
protenas no citoplasma celular.
Sinapse: ponto de contato estreito de dois neurnios, geralmente en-
tre o axnio de um neurnio e as dentrites ou corpo celular de.ou-
troo
Trofolaxes: literalmente do grego: fluxo de alimentos.
Zigoto: clula resultante da fuso de dois gametas (clulas sexuais)
que o ponto de partida no desenvolvimento de um metace1ular
com reproduo sexuada.
1 .
_.
I
!
J
}
---:
~
1
' I
i
-}
I
(
Fontes das ilustraes
Figura 1: Cristo coroado de espinhos, de Hieronimus Bosch, Museu
do Prado, Madri.
Figura 7: Mos qUe desenham, de M.C. Escher, 1948 (28,5 x 34 cm),
litografia, reproduzido de The graphic work of M.C., Escher, Nova
Iorque: Meredith Press, 1967.
Figura 8: Reproduo da fotografia de unia galxia. Cortesia de Hale
Observatories.
Figura 9: Extrado de F. Hoyle, Astronomy and cosmogony, Freeman,
San Francisco, 1975, p. 276.
Figura 11: Adaptado de R. Dickerson e I. Geis, The structure and dc-
tion ofproteins, Harper & Row, Nova Iorque, 1969.
Figura 12: Extrado de L. Margulis, Symbiosis in cell evolution, Free-
man, San Francisco, 1981 ,p. 117.
Figura 14: Microfotografia de um embrio de sanguessuga. Cortesia
do Dr. Juan Femndez, Depto de Biologia, Fac. de Cincias Bsi-
cas, Universidade do Chile.
Figura 15: Primeira diviso de um embrio de rato. Microscopia de
varredura. Cortesia dos Drs. Carlos Doggenweiler e Luis Izquierdo,
272 Humberto MaturanaR.jFrancisco Varela G.
Depto. de Biologia, Faculdade de Cincias Bsicas, Universidade
do Chile.
Figura 20: gua, leo de G. Arcimboldo.
Figura 21: Extrado de J.T. Bonner, The evolution of cu/ture in ani-
maIs, Princeton University Press, 1980, p. 79.
Figura 22: Adaptado de J. T. Bonner, ScientificAmerican, 1959.
Figura 23: Extrado de J.T. Bonner, Size and cyc/e, Princeton Univer-
sity Press, 1965, lminas 6, 18, 25, 26.
Figura 24: Adaptado de J.T. Bonner, Size and cyc/e, op. cit., p. 17.
Figura 25: Retrato de C. Darwin, The Bettman Archives.
Figura 27: Adaptado de J. Valentine, Scientific American, setembro,
1979, p. 140.
Figura 28: Extrado de S. Stanley, Macroevolution, Freeman, San
Francisco, 1979, p. 68, segundo o . trabalho de C. Teichert
(1967).
i-o
Figura 31: Adaptado de R Lewontin, Scientijir;. fl."!ericm, setembro,
1979, p. 212.
Figura 32: Orangotango roubando um rato de um gatd: Extrado de
Birut Galdikos. Br}ndamour, l'{.ational Geographic, vol.. oc.t. 1975,
p.468.
Figura 34: Fotografias reproduzidas MacLear:! The wolf chil-
dren, Penguin Books, Nova Iorque, 1977, Figuras 14, 15, 16,35.
Figura 35: Adaptado de F.. Kahn, EI hombre; vol. ii, p. 235, Ed. Losa-
da, Buenos Aires, 1944.
Figura 37: Extrado de Santiago y-: Cajal, Histologie du syste-
me nerveux, vol. 1, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas,
Madri, 1952, Figura 340.
Figura 38: Adaptado de"J .T. Bonner, The evolutionofculture in ani-
mais, op. cit., p. 61.
Figura 39: Adaptado de R. Buchsbaum, Animais without backbones,
The University of Chicago Press, Chicago, 1948, Figura 14-1.
)
J
(
i
I
I
I
A vore do conhecimento '
273
Figura 40: Extrado de J.T. Bonner, The evolution of culture in ani-
mais, op: cit., p. 59.
Figura 41: Adaptado de G. Horridge, Intemeurons, Freeman, San
Francisco, 1969, p. 36.
Figura 43. Extrado de R. Buchsbann, op. cit., Figura 84-1.
Figura 44: Adaptado de R. Buchsbaum, op. cit., p. 73.
Figura 46: Adaptado de uma reconstruo serial ao microscpio ele-
trnico de R. Poritsky, J. Comp. Neurol. 135: 423, 1969.
Figura 47: Extrad de S. Kumer e J. Nichols. From neuron to brain,
Sinauer Associates, Sunderland, Mass., 1976, p. 9.
Figura 48: Extr8Jdo de T. Bullock e G. Horridge, The structure and
function of tlle nervous system of invertebrates, Freeman, San
Francisco, voI. I, 1965, Figura 10.1; segundo original de O. Brger
(1891).
Figura 50: Adaptado de D. Hubel, Scienti.ficAmerican, 241: 47,1979.
Figura 51: Desenho original de Juste de Juste.
Figura 53: Adaptado de N. Tinbergen, Social behaviour ofanimais,
Methuen Coo Londres, 1953, p. 10.
Figura 54: Extrado de E. Wilson, Insect societies, Harvard University
Press, Cambridge, 1971, Figura 8-1, segUndo original de M. Wheeler
(1910).
Figura 55: Adaptado de E. Wilson, op. cit., Figura 14-9.
Figura 56: Adaptado de J.T. Bonner,The evolution of culture in ani-
mais, op. cit., p. 93.
Figura 57: Adaptado de E. Wilson, SOclobiology, Harvard University
Press, Cambridge, 1978, I?igura 25-3, segundo original de L.D.
Mech (1970).
Figura 58: Extrado de I. DeVore e K. Hall, em Primate Behavior, Holt,
Reinhart and Winston, Nova Iorque, 1965, p. 70.
Figura 59: Extrado de V. Reynolds, The biology of human action,
Freeman, San Francisco, 1976, p. 53.
274
Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G,
Figura 60: Extrado de J.T. Bonner, The evolution of animaIs culture,
op. cit., p. 121, segundo sonograma original de T. Hooker e B. Hoo-
ker (1969).
Figura 61: Extrado de J. Frisch, em Primates, Holt, Reinha,rt e Wins-
ton, Nova Iorque, 1968, p, 250, segundo fotografia original de M,
Sato.
Figura 62: Extrado de C. Blakenmore, op. cit., p. 129.
Figura 63: Extrado de F. Patterson, em National Geographic 154:
441, 1978.
Figura 64: Extrado de C. Blakenmore, op. cit., p. 125, de uma foto-
grafia do Institute for Primate Studies, University of Oklahoma.
Figura 65: Adaptado de E. Savage-Rumbaugh, D. Rumbaughs, S.
Smith e J. Lawson, Science 210: 923, 1981.
Figura 66: Adaptado de J. Pfeiffer, The emergence of man, Harper &
Row, Nova Iorque, 1969, p. 8.
Figura 67: Extrado de V. Reynolds, op. cit., p; 59.
Figura 68: Extrado de J. Pfeiffer, op. cit., p. 311.
Figura 69: Desenho original de Luis Gratiolet(1854), em seu Memoi-
res sur les plis crbraux de l'homme et des primates, Lmina I, Fi-
gura 1.
Figura 70: Extrado de C. Blakenmore, op. cit., p. 158, segundo o li-
vro de Guamn Poma de Ayala, Nueva Crnica y Buen Gobiemo,
1613.
Figura 73: Adaptado de M. Gazzaniga, Scientific American, 217: 27,
1967.
Figura 75: A galeria de quadros, de M.C. Escher, 1956 (30 x 23,5
cm), litografia, reproduzido de The Graphic Work ofM.C. Escher, op.
cito
J
j
I
I
I
I
I
J
Sobre os autores
HUMbERTO MATURANA R.: Chileno (1928), bilogo, Ph.D. Harvard
(1958). Estudou medicina (Universidade do Chile), bloiogia na Ingla-
terra e Estados Unidos. No Chile, Maturana reconhece Gustavo Hoec-
ker como mestre, de quem aprendeu a seriedade na ao e a amplitu-
de de interesses; na Inglaterra, J. Z. Young, de quem aprendeu a ou-
sadia especulativa e o respeito pelo erro. Como bilogo, seu interesse
se orienta para a compreenso da organizao do ser vivo e do fun-
cionamento do sistema nervoso, bem como para os desdobramentos
que tal compreenso tem no mbito social humano. Seu pensamento
se expressa inicialmente ao longo de sua atividade docente na Uni-
versidade do Chile, de 1960 em diante, particularmente a partir do
curso "Biologia do conhecimento" (1972), que ele estruturou como
conseqncia de sua obra fundamental, Biology of cognition (1969-
1970), acrescentando, a partir de 1979, o curso "Evoluo: deriva na-
tural".
FRANcisco VARElA G.: Chileno, (1946), bilogo, Ph.D. Harvard (1970).
Comea como estudante de medicina e depois de biologia (Universi-
dade do Chile). Seu interesse se centra nas bases biolgicas e ciber-
nticas do conhecimento e da conscincia, herdando essa linhagem
de seu principal mestre, Humberto Maturana Romedn. Em cibernti-
ca, Varela reconhece Heinz von Foerster como mestre, assim como
Keith R. Porter em biologia. Seu pensamento se expressa em vrios li-
vros e mais de cinqenta trabalhos cientificos nas reas de neurobio-
276 Hwnberto Maturana R./Francisco Varela G.
logia, biologia celular, epistemologia, ciberntica e matemticas apli-
cadas. Recebeu prmios e distines acadmicas internacionais e
atualmente professor da Faculdade de Cincias Bsicas da Univer-
sidade do Chile.
Rolf B E ~ N C k E C.: Chileno (1947), engenheiro civil de minas, Universi-
dade do Chile. Ps-graduao; Universidade Catlica, Instituto de
Cincias Biolgicas: ecologia - Hernst Hayek; evoluo - Patricio Sn-
chez; neurofisiologia - Joaqun Luco. Universidade do Chile, Faculda-
de de Medicina: neurobiologia - Carlos Martinoya, Hugo Adrin; Fa-
culdade de Cincias; biologia do conhecimento - Humberto Matura-
na. Atividade profissional: chefe da mina subterrnea EI Salvador
(Atacam a, Chile); estruturao de programas para o desenvolvimento
social: meio ambiente, populao, cultur, famlia, comunicao. O
que o levou do interesse inicial pelos fenmenos fisico-estruturais ao
campo da biologia do prprio conhecimento foi a seguinte questo: A
inteligncia humana, em sua mxima expresso, e o amor seriam fe-
nmenos biologicamente convergentes? A perspectiva cientfica res-
ponderia a esse questionamento? Trabalhando com Humberto Matu-
rana, ele encontrou o que buscava.
J
}
J
j
I
J
ndice remissivo
Abelhas, "linguagem" das, 232
Ao:
e experincia, 69
cognio como,72
Acasalamento, 207 (Ver tambm
Reproduo)
Aceitao, 263
cidos desoxirribonuclicos (DNA),
103, 108
cidos nuclicos, 108, 267
(Ver tambm cido
desoxirribonuclico)
Acoplamento:
estrutural, 112, 133, 137, 145,
156, 159, 167,206,251
terceira ordem (social), 206,
230, 251, 252, 262
entre os insetos, 209, 211
entre os vertebrados, 213
entre os primatas, 214
recproco, 216
lingstico, 243, 245
Adaptao, 137, 140, 146, 148
conservao da, 142, 145, 146,
147, 194,220,223
Altrusmo, 220
Ambiente, 113, 131, 165
perturbao do, 131
seleo pelo, 136, 137
impresso causada pelo, 162
Ameba, 172, 176, 177
Aminocidos, 267
Amor, 263
Analogia submarina, 166
Anamorfose, 100
Anos-luz, 67
Antlopes, 213, 220
Antropides, 267
Aprendizagem proporcional, 198
Aprendizagem, 198
(Ver tambm Conhecimento)
Atividade neural, 65
Atos cognitivos, 200
Auto-reproduo, 105
Autoconscincia, 202, 249, 252
Autonomia, 88
Autopoiese, 88, 92, 148
celular, 104, 113, 114
conservao da, 136, 137,
140, 147
Avestruz, 207
Axnio, 184, 267
Babunos, 214, 215
Bactria, 119, 177, 178, 179,
267
fsseis, 81
Baleia azul, 119, 123
Berg, H., 177
Berris, Raul, 144
Bipedalismo, 240
Bonner, J. T., 115, 174
278
Hwnberto Maturana R. / Francisco Varela G.
Caadores-colheiteiros, 242
Cadeias de carbono (molculas
orgnicas), 79
Carneiro, sistema nervoso do, 158
Caulobacter, 179
Celenterado, 180
Clulas quimiorreceptoras, 193
Clulas, 89, 92
replicao das, 98
reproduo das, 96, 103
ciclos de vida das, 116
agregao das, 116
Cerebelo, 267
Crebro, 195
humano, 185, 187
com corpo caloso dividido, 246
hemisfrios esquerdo / direito,
246
Certeza, tentao da, 60, 67, 262
Chipanzs, 215, 234
Ciclos de vida, 114, 116
celular, 118
tempo dos, 118
Ciclos estrais, 240, 267
Classe, definio de, 83
(Ver tambm Domnio)
Clausura operacional, 124, 191,
192, 193, 195,201
Coerncia e harmonia, 224
Coexistncia, 262
200, 260
e ao, 72
Comportamentos sexuais e
educacionais, 207
Comprimento de onda, 65, 268
Computador, 195,237
Comunicao, 216, 217
metfora do tubo, 219
(Ver tambm Linguagem)
Concentrao cef,lica, 192
Conduta (comportamento), 156,
162, 167
e sistema nervoso, 157, 166,
172,191
inato (instintivo) e aprendido
(adquirido), 198, 217, 225, 230
cultural, 217,225,226
altrustico, 220
comunicativo, 231
Conflito (contradio), 262, 263
Conhecimento, 67,69,76, 258
e sistema nervoso, 199
do conhecimento, 261
Conscincia, 233, 243, 250
Conservao:
reprodutiva, 107
da autopoiese, 147
da adaptao, 194, 220, 223
Contabilidade lgica, 165, 199,
230
Cooperao, 241, 243
Coordenao sensrio-motora:
em organismos unicelulares,
176
em organismos multicelulares,
179
Cpia (de unidade), 99, 105
Cor, 63, 64
Corpo caloso, 246, 268
efeitos da separao, 246
Correlao interna, 177
Crtex, 188, 268
Cromossomos, 268
Darwin, Charles; 135, 147,220
Dendrites, 184, 186, 268
Deriva, 138
histrica, 100
natural, 114, 141, 147, 172,
176,220,234
fliogentica, 145, 195
estrutural, 137, 147,206,
243, 251
Descries semnticas, 230
Determinao estrutural, .131
Determinismo, 154
Distino lingstica, 232, 251
Distino, critrio de, 83
Diversidade neural, 187
Diviso das clulas, 96, 103
DNA (cido desoxirribonuclico),
103, 108, 268
Domnios, 133, 165
especificados pela estrutura
de uma unidade, 133
comportamentos, 155
lingsticos, 223, 231
Dycostelium, 115
!
I
I
I
1
J
\
I
I
!
-I
J
A rvore do conhecimento
Egosmo, 220
Epilepsia, 245, 246
Escher, M.C., 67, 261
Esgana-gata, 208
Espectograma, 218
Esporos, 114, 268
Estrelas, transformao das, 77
Estrutura neuronial, 182
Estrutura, 132
tica, 262, 263
"Eu", 251
Eucariontes, 103, 114, 268
Evoluo, 130, 135, 137, 141-149
Experincia de sombras coloridas,
63,64,69
Experincia do ponto cego, 62
Experincia, ao e, 69
Explicao cientifica, 70
Extino, 139, 141
Fala, 247 (Ver tambm
Linguagem)
Fenomenologia, 268
Fenmenos culturais, 217
Fenmenos histricos, 96
Fenmenos sociais, 216, 217
Fentipo, 143
Filhotes de lobo (meninas-lobo),
159, 198
Filogenia, 114, 118, 130
e evoluo, 130, 137
Flagelo, 175, 177,268
Formigas, 210
Fsseis, 140, 147,268
homindeos, 239, 268
Fotossntese, 176
Fratura, reproduo por, 100,
102, 106, 118
Fronteira, 85
Galxia M104, 76
Gallup, G., 244
Gametas, 207, 268
Gardner, R.A. e B.T., 235
Gazzaniga, M.S., 249
Generalizaes, 236
Genes, 268
Gentica populacional, 147
Gorila, 244
279
Hlice dupla, 103
Hemisfrio cerebral, 246, 268
perda da coordenao no, 246
Hemisfrios esquerdo/direito, 246
Hereditariedade, 106
reprodutiva, 105, 118
(Ver tambm Evoluo)
Hidra, 179, 181, 184, 192
Homindeos, 268
Identidade de classe, 159
Identidade, conservao de, 145
Imitao, 219
Informao gentica, 107
Insetos, 197
sociais, 209, 211, 234
Insulina, 269
Interaes, 135, 137, 158
destrutivas, 136
Interneurnios, 185
Jaan, 208
Kawamura, S., 222
LeDoux, 249
Linguagem, 69, 199
das abelhas, 232, domnio da,
232 (Ver tambm Domnios,
lingsticos)
humana, 232, 233, 234, 251,
252
histria natural da, 234
Linguagem por sinais, 235
Lobos, 213
Luz, cor e, 65
Macacos, 221, 234
MacLean, C., 159
Magia versus cincia, 70
Mamferos
sistema nervoso dos, 192
papel da nutrio nos, 207
Margulis, L., 124
Maturana, Humberto R., 257
Membrana celular, 89, 113, 186
Membranas, 85
Memria, 199
280
Humberto Maturana R./FranciscO Vrela G.
Mente (conscincia), 243, 250
Metabolismo celular, 85, 269
Metablitos, 186
Metazorios, 176, 187
Miller, S. L., 86
Mitose, 269
estgio interfsico, 103
Mixomicetos, 114, 119, 269
Molculas orgnicas:
origem das, 86
Molculas, 90, 92
Movimento, 172, 188
Nervo ptico, 156, 269
Neurnios motores, 185, 188
Neurnios, 183, 191, 198,269
rede interneural, 185
Neurotransmissores, 186, 269
Ncleo geniculado lateral (Lateral
geniculate nucleus - LGN), 190
Nucleotdeos, 269
Observao, 71, 233
Olho, surpresas do, 61
Ontogenia, 107, 112, 113, 115,
130, 135, 159, 269
definida, 131
do sistema metacelular, 117
e seleo, 134
Organismos e sociedades, 223
Organismos metacelulares:
ciclo de vida dos, 116
e sistema nervoso, 123
organizao dos, 123
simbiose e, 123, 124
correlao sensrio-motora nos,
179
e as sociedades, 223
Organismos unicelulares:
coordenao sen.srio-motora
em, 114, 176
Organizao, 87
autopoitica, 85
e histria, 97
Origem das espcies (Darwin), 135
Oxignio, 136, 193
Palavras, 232, 251 (Ver tambm
Linguagem)
Papel nutricional, 207
Pssaros, 207
canto dos, 218
Peixe, 208
Percepo visual, 61, 190,247
Perturbaes, 135, 136, 189,
193,251
recprocas, 113
Physarum, 114, 115
Pingins, 208
Plantas, 172, 176, 179
Plasmdio, 11"4, 269
Plasticidade, 194
estrutural, 158
Poliandria, 207, 209
Poliginia, 207, 209
Pontos cegos, cognitivos,
63, 260
Previsibilidade, sistema nervoso
e, 154
Primatas, 66, 215, 244
linguagem dos, 234
Privao materna, 158
Procariontes, 103, 125, 269
Protenas, 91, 269
produo de, 98, 108
Protozorios, 172, 176, 177, 269
Psetidpodes, 172, 175, 177, 269
Quiloparsecs, 77
Quimiotaxia, 178
R, 119
Rato, 196
Reaes termonucleares, 270
Recursivo, 270
Rede interneural, 185
Reflexo, 66, 67
Rplica, 98
Representacionismo (objetivismo),
164, 259
Reproduo sexuada, 118, 207
Reproduo, 96, 100, 41
por fratura, 100
das clulas, 107
e hereditariedade, 106
sexuada, 118
Retina (olho), 62, 190
RNA (cido ribonuclico), 270
I
1
I
I
j
1
I
~
I
1
I
A rvore do conhecimento
Sagitria sagitifoliada, 172, 173,
179
Sapo:
experincia do olho virado, 156
Savage-Rumbaugh, E.S., et ai., 237
Schwartz, K., 124
Seleo, 136
ontogenia e, 134
"natural", 135, 147
Sequia, 119
Seres vivos, 131
aparecimento dos, 80
c"ritrios para, 82
organizao dos, 82, 88
autonomia dos, 88
histria dos, 137 (Ver tambm
Evoluo)
Sexualidade no-sazonal, 240
Shah,I.,265
Simbiose, 125
Sinapse, 186, 196, 270
Sistema nervoso, 162, 176
metacelularidade e, 123
previsibilidade e, 154
conduta (comportamento) e,
157, 166, 172, 191
na hidra, 181
em animais, 185
humano, 185
clausura operacional, 124, 191,
192, 193, 195,201
histria natural do, 192
plasticidade do, 194
conhecimento e, 199
Sistemas autopoiticos de
primeira e segunda ordem, 124,
126
Sistemas multicelulares, 114, 118
correlao sensrio-motora nos,
179 (Ver tambm Organismos
metacelulares)
Sistemas sociais, 223
Sistemas unicelulares, 119
Sociedades, organismos e, 223
Sol,77
Solipsismo (idealismo), 164, 259
Sperry, R. W., 156, 245
Supernova, 78
Tamanho, 119
e ciclo de vida, 118
e velocidade, 174
281
Tempo de reproduo, tamanho e,
119, 120, 121
Terra, histria da, 76, 91
Tradio, 260
Transformao, 131, 194
estrutural, 116, 133, 136
Transformaes, 158, 197
qumicas, 85
ontognicas, 130
tempo de, 119
Transporte inico, 113
Trilobites, 139, 145
Trocas eltricas, 184, 186
Trofolaxes, 211, 234, 270
lingstica, 234, 239, 252
Unidade de segunda ordem, 124,
183
Unidade social, 234
Unidades, 82, 83, 165, 172
autopoitica, 89,97, 104, 112,
113
modos de gerar, 98
fratura das, 100
segunda ordem, 115, 207
estruturalmente determinadas,
132
domnios especificados pela
estrutura, 133
sistema nervoso como, 195
terceira odem, 206, 216
Validao, 132
Variaes:
reprodutivas, 106
estruturais, 106, 140
ambientais, 145, 147
casuais, 141
Velocidade, tamanho e, 174
Vermes, 185, 192
Vertebrados, 197, 213, 219
Via Lctea, 77
von Guericke, Otto, 64
Zigoto, 117, 118, 194,270
You might also like
- Rizoma II: Saúde Coletiva & InstituiçõesFrom EverandRizoma II: Saúde Coletiva & InstituiçõesNo ratings yet
- O Método 5 - A análise da identidade humana segundo Edgar MorinDocument36 pagesO Método 5 - A análise da identidade humana segundo Edgar MorinBia Deroide0% (1)
- Cuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultFrom EverandCuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultNo ratings yet
- Maturana, HumbertoDocument172 pagesMaturana, Humbertoapi-3797798100% (15)
- Amar e Brincar - Fundamentos Esquecidos Do Humano (Humberto Maturana & Gerda Verden-Zoller)Document243 pagesAmar e Brincar - Fundamentos Esquecidos Do Humano (Humberto Maturana & Gerda Verden-Zoller)Gabriel Fagundes100% (5)
- Duas Éticas em Questão: Cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e FoucaultFrom EverandDuas Éticas em Questão: Cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e FoucaultNo ratings yet
- Humberto Maturana - Emoções e Linguagem Na Educação e Na Política PDFDocument95 pagesHumberto Maturana - Emoções e Linguagem Na Educação e Na Política PDFRafael Rossignoli100% (3)
- O Paradigma Perdido Edgar MorinDocument27 pagesO Paradigma Perdido Edgar MorinLiliana Sofia Silva80% (5)
- (Livro) Felix Guattari - Caosmose. Um Novo Paradigma EsteticoDocument107 pages(Livro) Felix Guattari - Caosmose. Um Novo Paradigma EsteticoIsabelle Belle100% (1)
- Projeto Mestrado Rayza - Lido Por Virgínia 11.03.21Document8 pagesProjeto Mestrado Rayza - Lido Por Virgínia 11.03.21Rayza Couto LelisNo ratings yet
- DELEUZE, G GUATARRI, F. Capitalismo e Esquizofrenia, VOL 04, Mil Platôs PDFDocument151 pagesDELEUZE, G GUATARRI, F. Capitalismo e Esquizofrenia, VOL 04, Mil Platôs PDFGabrielle Taver de Jesus100% (4)
- LIBRETO - Peter SloterdijkDocument17 pagesLIBRETO - Peter Sloterdijkjose.costajunior100% (5)
- Jacques Derrida amava as mulheres: sobre o esquecimento de Simone de BeauvoirFrom EverandJacques Derrida amava as mulheres: sobre o esquecimento de Simone de BeauvoirNo ratings yet
- Humberto Maturana-O Que É EducarDocument6 pagesHumberto Maturana-O Que É Educaralume3100% (1)
- Fritjof Capra - A Teia Da Vida PDFDocument249 pagesFritjof Capra - A Teia Da Vida PDFEstrela Maris100% (12)
- Geofilosofia e Geopolítica em Mil Platos PDFDocument214 pagesGeofilosofia e Geopolítica em Mil Platos PDFIFab Ufes100% (2)
- Gilles Deleuze & Félix Guattari - Mil Platôs Vol. 3Document110 pagesGilles Deleuze & Félix Guattari - Mil Platôs Vol. 3Aline Andr100% (2)
- Psicanálise Existencial e o Método Progressivo-Regressivo: Experiência Psicopatológica em Jean-Paul SartreFrom EverandPsicanálise Existencial e o Método Progressivo-Regressivo: Experiência Psicopatológica em Jean-Paul SartreNo ratings yet
- Mil Platôs Vol. 1 PDFDocument94 pagesMil Platôs Vol. 1 PDFTitosantis100% (1)
- Contra o Juízo: Deleuze e os Herdeiros de SpinozaFrom EverandContra o Juízo: Deleuze e os Herdeiros de SpinozaNo ratings yet
- CULTURA CIENTÍFICA Carlos VogtDocument5 pagesCULTURA CIENTÍFICA Carlos VogtLudmila Nogueira0% (1)
- O PODER EM FOUCAULTDocument361 pagesO PODER EM FOUCAULTSofia Amorim100% (1)
- O Sexto Sentido O Homem e o Encantamento Do MundoDocument150 pagesO Sexto Sentido O Homem e o Encantamento Do Mundoadrielecsilvas100% (5)
- O que pensam os filósofos contemporâneos: um diálogo com Singer, Dennett, Searle, Putnam e BaumanFrom EverandO que pensam os filósofos contemporâneos: um diálogo com Singer, Dennett, Searle, Putnam e BaumanNo ratings yet
- MORIN, Edgar - Introdução Ao Pensamento ComplexoDocument61 pagesMORIN, Edgar - Introdução Ao Pensamento ComplexoLucas Soares100% (8)
- Humberto Maturana-Um Problema de DesejoDocument2 pagesHumberto Maturana-Um Problema de Desejoalume3No ratings yet
- A utilidade vital da Filosofia aos maiores problemas da existênciaFrom EverandA utilidade vital da Filosofia aos maiores problemas da existênciaNo ratings yet
- Dossier Deleuze Carlos Henrique de EscobarDocument87 pagesDossier Deleuze Carlos Henrique de EscobarMurilo Dos AnjosNo ratings yet
- Resumo o Metodo 2 A Vida Da Vida Edgar MorinDocument2 pagesResumo o Metodo 2 A Vida Da Vida Edgar MorinTacyane L. Menezes100% (1)
- Tomar A Vida Nas Próprias Maos PDFDocument163 pagesTomar A Vida Nas Próprias Maos PDFCarolina Arteman100% (10)
- (Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesFrom Everand(Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- DELEUZE, G GUATTARI, F. Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia, Vol. 2 PDFDocument96 pagesDELEUZE, G GUATTARI, F. Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia, Vol. 2 PDFAna Carolina100% (2)
- O manifesto das espécies companheiras: Cachorros, pessoas e alteridade significativaFrom EverandO manifesto das espécies companheiras: Cachorros, pessoas e alteridade significativaRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Da Produção de Subjetividade - GuattariDocument18 pagesDa Produção de Subjetividade - GuattariJessica GonçalvesNo ratings yet
- O aluno mudou e eu nem percebi: ensino técnico, mercado de trabalho e estudo de perfisFrom EverandO aluno mudou e eu nem percebi: ensino técnico, mercado de trabalho e estudo de perfisNo ratings yet
- A neurose de classe: trajetória social e conflitos de identidadeDocument180 pagesA neurose de classe: trajetória social e conflitos de identidadeAndre100% (2)
- Pedagogia profana: Danças, piruetas e mascaradasFrom EverandPedagogia profana: Danças, piruetas e mascaradasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Foucault - Nietzsche, Freud e MarxDocument8 pagesFoucault - Nietzsche, Freud e MarxCarlos LinharesNo ratings yet
- Relações entre Afetividade e Cognição: de Moreno a Piaget Do Construtivismo Piagetiano à Sistêmica Construtivista - Da Clínica Privada à Clínica SocialFrom EverandRelações entre Afetividade e Cognição: de Moreno a Piaget Do Construtivismo Piagetiano à Sistêmica Construtivista - Da Clínica Privada à Clínica SocialNo ratings yet
- Foucault:As Formações HistóricasDocument40 pagesFoucault:As Formações HistóricasJoão Vianna100% (3)
- GUATTARI, Félix. Revolução MolecularDocument116 pagesGUATTARI, Félix. Revolução MolecularGuilherme Malo Maschke100% (15)
- A Ontologia Da Realidade Humberto MaturanaDocument14 pagesA Ontologia Da Realidade Humberto Maturanasamarazuanny40% (5)
- Saturação. Michel MaffesoliDocument112 pagesSaturação. Michel MaffesoliAdriana Corrêa100% (1)