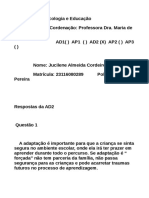Professional Documents
Culture Documents
Sobre Ornamento e Delito
Uploaded by
Denis JoelsonsCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sobre Ornamento e Delito
Uploaded by
Denis JoelsonsCopyright:
Available Formats
n.3 / 2010 A E . . .
R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
47
Joo Borges da Cunha / Arquitecto pela Faculdade de Arquitectura da U niversidade Tcnica de Lisboa; Estudos de M estrado
em Cincias da Com unicao na F.C.S.H. da Universidade N ova de Lisboa; Doutorando em Estudos de Cultura na
Universidade Catlica Portuguesa; Professor Assistente Estagirio do M estrado Integrado em Arquitectura da U niversidade
Lusfona de Hum anidades e Tecnologias; Prm io Branquinho da Fonseca Expresso/FC Gulbenkian 2003.
M etfora e crim e: a continuao do delito no centenrio do libelo anti-ornam ento de Adolf Loos
Metaphornament and crime: the sequel to the delict of the
centenary of Adolf Loos anti-ornament indictment
Resum o:
Ornam ento: h cem anos, de que crim e se tratava? Ser ainda perseguido? Ser ainda
castigado? Ser ainda um crim e? No ano do centenrio do ensaio Ornam ento e Crim e
de Adolf Loos, um a digresso sim ultaneam ente histrica, terica, cultural e
fenom enolgica s razes do ornam ento, e a sua transform ao, do dealbar do
M ovim ento M oderno at hoje, em algo insondvel e inesperado: a m etfora.
palavras-chave: ornam ento; rasura; tectnica; clean and cool; m etfora; aura; culto;
exposio.
Abstract:
Ornam ent: w hat crim e w as it one hundred years ago? Is it still being persecuted? Is it
still being punished? Is it still being a crim e? On the year of Adolf Loosessay Orna-
m ent and Crim ecentenary, a one-tim e historical, theoretical, cultural and phenom e-
nological questioning about the origins of ornam ent, and its changing into som ething
fathom less and unexpected by the turning of the M odern M ovem ent until today: m e-
taphor.
keyw ords: ornam ent; erasure; techtonics; clean and cool; m etaphor; aura; cult; expo-
sure.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
48
E agora, cem anos que passam sobre a publicao de Ornam ento e Crim e
(Ornam ent und Verbrechen
4
, Viena 1908), e se a questo ornam ental letra m orta,
debate de curiosidade histrica ou causa de pitoresco artstico, a crim inalidade, pelo
contrrio, est bem e recom enda-se. Fiquem os certos de que quando se nos tirar o
retrato, a ns e aos nossos tem pos, ser a retrica crim inal a alim entar o discurso. Da
delinquncia juvenil aos confrontos suburbanos, do trfico de droga ao trfico de carne
branca, do rapto de m enores pedofilia, do crim e de colarinho branco ao assalto m o
arm ada, do crim e de estado ao crim e contra a hum anidade, da burla fiscal ao esbulho
econm ico, do terrorism o internacional s organizaes crim inosas, do delito de opinio
fraude eleitoral, da corrupo passiva corrupo activa, da pirataria inform tica
contrafaco, do assdio sexual violncia dom stica, da perseguio poltica
discrim inao racial, da infraco rodoviria alcoolem ia, da ofensa corporal violao,
do hom icdio ao genocdio, do bank robbery ao carjacking, do sentido proibidoao
proibido fum ar, vive-se um tal adensam ento na tipificao crim inal - e fazem os notar
que o tom de que isto est m au, est com o nunca, no h-de ser o nosso, nem nos
deixaram os, aqui, cair na arm adilha de sem elhante averiguao, estatsticas leva-as os
vento -; verifica-se, dizam os, um a tal proliferao de figuras discursivas em torno do
ilcito, que a preocupao com o crim e faz dele, hoje, o que o pecado foi para os antigos
e o erro de juzo para os m odernos: o grande revs. Pelo que se queles som ente a
salvao im portava, e a estes apenas a razo, a ns, s a segurana obceca. Depois de
ultrapassada a religio, depois de espoliados pela cincia, eis o reino m oral. E passe-se
o nietzscheanism o. Tendo-nos refeito da orfandade em que nos deixou a m orte de
Deus, tendo sobrevivido a toda a investida da razo cientfica, h algo de que, filiados
no progresso, no conseguim os, falhadam ente, libertar-nos nunca, do pavor do crim e. E
da sua vergonha. No ento de estranhar que se tenha instaurado um processo no
qual quanto m aior o nm ero de crim es tipificados, m ais especioso h-de ser o traado
das m edidas securitrias. Quanto m elhor se descreverem e circunscreverem os
4 H edio portuguesa (Loos, [1908] 2004); porm , utilizarem os a edio em castelhano (LOOS, [1908] 1972).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
49
com portam entos e os sucessos do foro crim inal, m ais rigoroso h-de ser o desenho do
cordo sanitrio. evidente que com isto querem os denunciar um a dialctica do
interdito e do perm itido, que, nunca superada (crim inalidade, grande ou pequena,
em ergente ou erradicada, encoberta ou despenalizada, sem pre a houve e continuar a
haver), trar-nos- perm anentem ente a pisar o risco que o da norm a de cautela, o da
m edida profiltica, ser j de si um rotundo crim e, de que o exem plo m ais sinistro,
tem os visto, a guerra preventiva. no m bito deste ltim o expediente que vale a
pena interpelar, cem anos depois, o pensam ento de Adolf Loos, e perguntar se a luta
contra o ornam ento no se ter revelado tam bm ela danosa. Um crim e contra um
crim e, ou, pelo m enos, um a luta frustrada, em que um crim e banido das sociedades
contem porneas se ter m etam orfoseado num a outra transgresso. Ou se, com o diz o
ditado, o que saiu pela porta no ter entrado pela janela. Loos entendia o ornam ento
com o um sintom a de delinquncia. Um hom em tatuado um degenerado, um
crim inoso em potncia. Oitenta por cento dos detidos prisionais, diz-nos, exibem
tatuagens
5
. Hoje, as personas dos m aiores crim inosos so, pelo contrrio, figuras da
discrio, da austeridade, do ascetism o e da abnegao. O patro da m fia um
custom er Arm ani, figurao do cool m ilitante
6
. O corretor rapineiro o clean w ise guy,
im agem redonda do low -profile. O fundam entalista islm ico, conquistado pela causa
terrorista, um religioso recolhido e abnegado que circula, indistinto, por entre a
populaa. Os dedos do hacker inform tico so dedos sem anis, e ele, vtim a de
5 Loos chega a incorrer num determ inism o, seno perigoso, pelo m enos arriscado, e s desculpvel se se
reconhecer o carcter panfletrio do seu texto: Os tatuados que no esto detidos so crim inosos latentes
ou aristocratas degenerados. Se um tatuado m orre em liberdade, isso quer dizer que m orreu uns anos antes
de com eter um assassinato(Loos, [1908] 1971, p. 43), traduo do autor.
6 A anlise da indum entria e do aspecto do vesturio introduzida pelo prprio Loos em vrias passagens
do seu texto, fazendo da questo ornam ental no apenas um assunto do m bito do espacial e do objectual,
m as ainda, do pessoal. O ornam ento tam bm um a m odalidade do carcter, um a questo de costum es: A s
sinfonias de Beethoven nunca poderiam ter sido escritas por um hom em que se vestisse de seda, veludos e
rendas. Aquele que, hoje, usa um a casaca de veludo no um artista, antes um palhao ou um pintor de
paredes(Loos, [1908] 1971, p. 50), traduo do autor.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
50
cocooning, um handicap enfiado nuns jeans coados e sob regim e alim entar no lim iar
das doses dirias recom endadas
7
. Se o ornam ento foi crim e que se erradicou, m ais
ainda, o crim inoso personagem que se desadornou, que se em aciou, que se
descarnou. Agora, quem se tatua so os atletas, avatares da regra e da disciplina,
senhores de corpos sos e m entes treinadas na resistncia adversidade e
frustrao.
Ainda que acontecim entos de pendor sazonal o incitem , no cabe aqui a discusso
sobre a m aior ou m enor, m ais prfida ou m ais benfica visibilidade do fenm eno
crim inal no nosso espao pblico, ou sequer se efectivo o fam igerado aum ento dos
respectivos ndices. Aquilo a que, sim , vale a pena tom ar o pulso s diversas foras de
expresso e form as de enunciao com que se discorre e elabora acerca da
crim inalidade. Ou num a frm ula m ais sinttica, com o o crim e pensado. E da,
com unicado, legislado, penalizado e punido; denunciado, investigado, resolvido e
arquivado; fantasiado, ficcionado, assum ido e perpetrado. Acontece que, com todas as
suas variantes de pensam ento, intransigentes ou voluntaristas, intolerantes ou
apologticas, paranicas ou alarm istas, perm issivas ou laxistas, h algo que, de form a
transversal, com anda e conduz o entendim ento de qualquer crim e: a sua feio de
fenm eno no espao. O crim e d-se no espao, m uito m ais do que no tem po. Alis, a
exacta hora do crim e h-de ser sem pre indeterm inada, m otivo de debate, e, no fim ,
indexada ao proverbial provvel intervalo. O crim e de ontem rem etido condio de
fatalidade, e o de am anh, ao de im pondervel. No lim ite, o tem po do crim e pontual,
o do presente instantneo. No m om ento anterior, a inocncia. No instante seguinte,
a ignom nia. Os tem pos do crim e so, bem vistas as coisas, duraes com as quais o
prprio acontecim ento estabelece relaes duvidosas, ao ponto da anulao ou da
7 A hom ologia entre a condio do deficiente protesicam ente aparelhado e o estado de im erso e
dependncia dos dispositivos electrnicos e digitais em que se encontra o hom em contem porneo, com a sua
figura m agna no especialista inform tico rodeado de perifricos, um a das teses de Paul Virilio ([1990] 1993)
sobre as novas sociedades tecnologicam ente tuteladas.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
51
extrapolao. Sabe-se o quanto o prem editado e o congem inado so um a agravante, e
o acidental, um a atenuante. No entanto, quantas prem editaes no ficaram , falta
de tem po, por concretizar, e por isso, im punes? De igual form a, quantos crim es
com etidos ficaram por punir, com o outros, cum pridas todas as penas, perm aneceram ,
apesar disso, em expiao perptua? A dilao, o distender no tem po, no efeito com
que a captao do crim e se d particularm ente bem . Tudo nela aponta para um a
diluio, para um esquecim ento, para a prescrio: nenhum crim inoso h-de ser
perseguido a vida inteira. No m esm o sentido, o crim e continuado um a m odalidade do
consentim ento, logo, um crim e perm itido, um a culpa partilhada. O verdadeiro tem po da
aco crim inal o do flagrante. Crim e inequvoco: o flagrante delito.
O local do crim e, o espao da sua ocorrncia, , por seu lado, um lugar de
reconhecim ento e revelao. Vedado e resguardado, nele, os factos esto
constantem ente a dar-se, tornando-se, m erc da investigao, num palco de
operaes, num teatro de reconstituies, num enredo de pistas: a cena do crim e
8
. E
esta capacidade que o espao tem de reter e recuperar as m anobras do delito,
aprisionando-lhe o esprito, conferem ao local do crim e um a carga fantasm tica que faz
dele um destino de peregrinao a dos curiosos que vo em busca da m ais
deslum brada participao enquanto testem unhas , e de revisitao a do crim inoso
que, to celebrem ente, ali h-de sem pre regressar. Os locais de crim e que se tornaram
pontos notveis no territrio, na paisagem , ou nas m alhas urbanas, so ainda outra
dem onstrao de com o os espaos se im pregnam m uito m ais do efm ero, do
contingente e do representacional, do que, pela sua concretude, partida poderia
parecer, m esm o que nestes casos esteja envolvida um a celebrao pblica de factos,
dos quais h que preservar a m em ria e o nexo histrico: os regicdios, os atentados
8 A literatura policial e o gnero detectivesco do-nos um no acabar de exem plos desta preponderncia do
espao face ao tem po na fixao do fenm eno crim inal, veja-se para isso o ttulo das obras dos autores de
m aior divulgao com o Agatha Christie ou Arthur Conan Doyle, ou esse conto sem inal do gnero, The
M urders in the Rue M orgue de Edgar Allan Poe ([1841] 1989).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
52
polticos, os atentados terroristas, os m assacres, as execues
9
.
Alm deste m odelo dram atrgico, que essencialm ente espacial, o local do crim e
ainda um repositrio de provas m ateriais, um m anancial de objectos que entram no
processo de investigao com o as am ostras de um dado universo constituem o corpus
de estudo de um a qualquer cincia. O m todo cientfico levou sem pre um avano face
especulao m etafsica no que investigao crim inal diz respeito, e por isso, esta hoje
m ais-que-estafada im agem do polcia com o hiper-cientista, e do cientista com o super-
detective. Interessa o corpo do delito, pouco a alm a do crim e. H aqui um fetichism o da
prova m aterial, um a obsesso por arm as, cadveres e sam ples de ADN, que nunca h-
de ser vencida pelo interesse m rbido por perfis psicolgicos, intencionalidades
encobertas e propsitos inconfessados. Posto isto, alm do crim e com o dram a, o seu
local dele, crim e -, transform a o delito num m odelo da explicao cientfica, que
essencialm ente fsica e m aterial. O cientificam ente provado um crim e que se
deslindou. Assim , o espao o dom nio de um crim e cientificizado, e o tem po a sua
nem sis, um a superstio. O tem po corre sem pre a favor do crim inoso. O local do crim e
- o espao -, atraioa-o.
Com o que o ornam ento, enquanto crim e, se inscreve nesta analtica crim inal, vai
perm itir-nos questionar m elhor o texto de Adolf Loos e com preender as suas
repercusses. E com estas, no querem os significar nenhum tipo de epigonism o
histrico, aquilo que a historiografia denom ina com o as heranas e as influncias, e que
no m bito que nos afim , o do facto arquitectnico e de outra produo artstica, a
Histria da Arte e da Arquitectura se apressaram a instituir, a partir do pensam ento de
Loos, com o m ovim entos: anti-revivalista, funcionalista, nacionalista, construtivista,
m ecanicista, organicista, essencialista, m inim alista, purista, regionalista, poverista,
technicista, e por a fora. Im porta antes, m aneira fenom enolgica, fazer os artefactos
9 Cum e m xim o desta geografia do crim e o Glgota, onde o assassnio foi assinalado com um a cruz, e o
tem po se deteve.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
53
regressar a um estdio reduzido de sentido, fora de qualquer grelha de interpretao
com que a ganga do progresso secular tenta explic-los. Ao ornam ento h que voltar a
traz-lo para o seu local e o seu tem po. Ora, alm doutros pecadilhos que a
argum entao de Loos apresenta contradies grosseiras
10
, confuso de planos
11
, m -
f
12
-, o seu pensam ento sobre o espao e o tem po do fenm eno ornam ental m antm -
se, cem anos depois, da m ais surpreendente ingenuidade.
Para Loos o ornam ento um a m anifestao prim itiva. A sua genealogia rem onta aos
tem pos sem m em ria, transportando consigo tanto o que tem de prim evo quanto o
que tem de atvico, entre a m arca rupestre e o rgo obsoleto. E por isso, o seu tem po
o de um a filognese, de um a evoluo da espcie, um tem po biolgico que, recuado
ou vislum brado, aponta no hom em para horizontes de perpetuidade. , alis,
eloquente, a m eno com que inicia o prim eiro pargrafo do seu artigo. Ao equiparar as
fases evolutivas do em brio no seio m aterno, com as fases de evoluo de todo o reino
anim al, est precisam ente a apontar no sentido desse tem po que m ais do que
hum ano, para im ediatam ente a seguir, inscrever esse m esm o tem po j no na
10 A contradio entre a durabilidade e resistncia do objecto ornam entado e a suposta incapacidade do
ornam ento em m anter a sua frescura e actualidade, apenas um a delas, que denota bem as lim itaes de
Adolf Loos em com preender as diferenas entre m oda e cnone (regra). Veja-se o exem plo que d do
m obilirio que tem de ser trocado (Loos, [1908] 1972, p. 47).
11 Ainda ligado ao exem plo anterior, note-se a confuso entre valor econm ico, ou de uso, e valor (est)tico,
sobretudo, no exem plo que nos d dos sapatos sem nenhum tipo de adorno, que se valorizam com o tem po
porque no passam de m oda, quando, sabido, o m elhor e m ais belo sapato o que m ais dura, o que se
m antm com o novo, com o se no tivesse sido usado, e que se deixa m atizar pela passagem do tem po no seu
aspecto form al e no m aterial. Para que querem os uns sapatos gastos m as sem pre la m ode?
12 Vim os j o determ inism o antropolgico, m as h ainda um elim inacionism o, e um certo tom de
superioridade m oral e cultural em expresses com o: A evoluo cultural equivale elim inao do ornam ento
do objecto de uso(Loos, [1908] 1972, p. 44); ou O ornam ento que se cria no presente j no tem nenhum a
relao connosco nem com nada hum ano [?!]*, quer dizer, no tem relao algum a com a actual ordenao
do m undoidem , p. 47; ou ainda A falta de ornam ento um signo de fora espiritual idem , p. 50; em todos
os casos, traduo do autor. * Exclam ao do autor.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
54
evoluo da espcie, m as na evoluo do prprio indivduo, com o to falacioso
paralelism o entre a digresso filogentica e a ontognese:
Quando um ser hum ano nasce, as suas im presses sensoriais so
iguais s de um co recm -nascido. Na sua infncia passa por todas
as transform aes que correspondem quelas pelas quais passou a
histria do gnero hum ano. Aos dois anos, v tudo com o se fosse um
papua. Aos quatro, com o um germ nico. Aos seis, com o Scrates e
aos oito com o Voltaire (Loos, [1908] 1972, p. 43).
Logo no pargrafo seguinte, o tem po do ornam ento ainda assim ilado a um tem po
etnolgico, pr-civilizacional, e ento que surge a clebre sequncia que pe a criana,
o papua e o delinquente todos a descoberto na am oralidade que a propenso para o
ornam ento. Este tem po um tem po insupervel, que s ao hom em m oderno cabe pr
cobro. Ao contrrio do que anteriorm ente vim os a respeito da fenom enologia do crim e,
neste, o tem po no o do indeterm inado, nem o do transitrio, do sbito, o do
flagrante. antes o pesado tem po ancestral, o das origens, o de sem pre.
Quanto ao espao do crim e ornam ental, a viso de Loos ainda m ais extensiva. O
ornam ento est em todo o lado, delito dissem inado e de lugar incerto, a contrapelo
com o que tido com o um verdadeiro crim e, com local. E, m ais grave, nada lhe est a
salvo. Recorre-se m esm o de um a frm ula clnica, e chega a falar de epidem ia
ornam ental para ilustrar o quanto o ornam ento tem vasto m ato para alim entar a sua
voragem .
Assim encarado, com o um crim e eterno e ubiquitrio, espanta que Loos no tivesse
concludo pelo carcter divino do ornam ento, um a ordem de Deus; ou, enviesadam ente,
pelo seu aspecto dem onaco, obra do diabo. Loos era dem asiado pragm tico para to
obscurantista concluso. De qualquer form a, concluiria m al. Com o alis, concluiu. Nem
o tem po do ornam ento o longnquo da evoluo biolgica e das razes pr-fnticas, o
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
55
tem po da criao, nem o seu lugar um espao aberto, com o que havendo um ter
csm ico do ornam ento, em que ele tivesse existido ou dele houvesse um eco, ainda -,
por todo o lado e em toda a parte. O tem po do ornam ento um tem po do hum ano,
desde a altura em que o hom em se reconhece enquanto tal hum ano -, sendo esse o
tem po da linguagem e da histria. O ornam ento fala, testem unha e discursa tanto
quanto qualquer lngua, o que, todavia, no o deixou ao abrigo do desaparecim ento,
com o as lnguas m ortas, ao fim e ao cabo. E falando, no quer ainda dizer que o
ornam ento o tenha feito sem pre m oderadam ente, os excessos so inevitveis. Incitar
ao seu exterm nio e declarar a sua extino que foi de um caricato excesso de zelo. O
ornam ento m orreu por si e j verem os em que claras circunstncias. De igual m odo, o
espao do crim e ornam ental, tam bm ele , afinal, localizado. Objectos
desparam entados, despojados, despidos, nus, sem pre os houve. Artefactos m udos da
linguagem do ornam ento, sem pre estiveram a. Eram os que no estavam votados a
prestar testem unho. Os que no engrossariam o esplio da herana. Os que no se
queria guardar. O ornam ento sem pre foi restrito e precioso. Ornam entava-se o
duradouro. Em sum a, punham -se a falar os objectos que se sabia irem falar durante
m ais tem po. E esses eram os que beneficiavam dos m ais nobres m ateriais, das
m atrias m ais valiosas, pois que o ouro resiste m ais do que o estanho, a pedra m ais do
que a argam assa, o carvalho m ais do que o pinho. Da o ornam ento surgir com o um
irm o gm eo da riqueza, um sequestrado da ostentao. Aquilo em que o texto de
Loos bastante espirituoso na form ulao de um a quase luta de classes entre
objectos ornam entados e desornam entados, entre protegidos e olvidados, entre
conservados e destrudos
13
. Esta luta no um a m era fora de expresso, e
artisticam ente a rebelio vingou. Hoje, os desornam entados so a classe dirigente, o
m odelo dom inante. Os ornam entados so lum penaristokratie, so kitsch. E assim se
13 No possum os bancos de carpintaria da poca carolngia, m as o m ais pequeno objecto desprovido de valor
que estivesse ornam entado, conservou-se, lim pou-se cuidadosam ente e edificaram -se pom posos palcios
para o albergar (LOOS, [1908] 1972, p. 44).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
56
logrou, graas s legies de sbditos, fabricados em srie pela produo industrial. Foi
este proletariado objectual que operou a revoluo esttica. De facto, a indstria
neutralizou o ornam ento. E f-lo, no porque os objectos tivessem deixado de ser
produzidos nos m elhores m ateriais, perdido a sua durabilidade, e da, a capacidade de
com unicar, ingressando num consum o surdo-m udo (e cego tam bm ). M as antes,
porque a cada m om ento, a preciso da m quina e o esquem a de m ontagem perm itiram
que todo e qualquer objecto fosse reproduzido nas m esm as exactas condies em que
fora produzido num tem po anterior, fosse ele m ais recente ou m ais recuado. Logo,
perdeu-se a necessidade de um objecto do passado vir falar no presente. Cada tem po
h-de ter os seus prprios objectos a falar, e o objecto industrial fala sem pre de novo.
M elhor: o objecto industrial sem pre novo. Um testem unho do passado ruidoso:
ornam ento rudo. Um crim e acstico. H que com bat-lo. H que extirp-lo. O kitsch,
que no nos abalanarem os, aqui, a aprofundar, surge precisam ente com o um sintom a
secundrio, um dano colateral, um a dor reflexa dessa am putao ornam ental a que
foram sujeitos no s os objectos de uso, m as tam bm os da classe opressora, os
objectos artsticos. Com o aquele balbuceio num a lngua m orta, de que j se perdeu
quer o sentido, quer a pronncia. isso o kitsch
14
. No obstante, h algo m ais profundo
e oculto que im porta exposio das causas que levaram elim inao do ornam ento
enquanto eco perturbador, enquanto excrescncia poluidora. E, num a form ulao de
tom heideggeriano, tal est estreitam ente ligado ao esquecim ento do ser do
ornam ento, que, vim os j, um ser da linguagem .
Ornam ento, de que usam os ornam entar, deriva do verbo ornar, que em latim ,
ornare, um a corruptela, por sncope, de ordinare, ornare, pr em ordem , preparar,
aparelhar, com por. Este ordenarburilado pelo uso, um ordenar quotidiano, um
term o gasto fora da necessidade. No o ordenar im positivo da regra, da norm a, do
regulam ento, na palavra latina regla, nem o ordenar da rectido, da correco, e da
14 Para um a introduo s questes do kitsch ver As estratificaes do gosto e o problem a do kitsch
(Dorfles, [1969] 1989, p. 27-33).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
57
ideia de cam inho a direito expressas pelo orths grego. um pr em ordem , no um
pr ordem em . um ordenar m ais prxim o do arrum arno sentido de
em belezam ento que lhe d a variante brasileira do portugus, quando se diz de algum
que est arrum ado, aprum ado, bem arranjado. Tam bm de ornare conhecem os a
derivao adornar, ad-ornare, que exprim e a reiterao, e a totalidade, de um ornar
pletrico; e ainda o subornar, sotto ornare, que aclara o significado com que deve
encarar-se o sim ples ornar, atentando na ideia de degradao fsica e m oral subjacente
ao suborno. Sendo subornarum m odo corrom pido e rebaixado de ornar, ento este
s poder querer significar que atravs dele se confere dignidade ao que se orna-
m enta. Fica aqui claro que ornam entoe ordenam entoso um a gem inao. Porm ,
e fazem os eco do pensam ento de M artin Heidegger, enquanto este ltim o releva do
construir, do aedificare, aquele um a aco do habitar, do collere, da cultura, do
cultivare, e ainda do cuidar, do cogitare, daquilo que nos traz cativo o pensam ento, e
com que nos preocupam os
15
. Ornam ento , pois, o que pom os naquilo de que cuidam os
e que ocupam os, e, por conseguinte, habitam os; aquilo que trazem os sob guarda e
custdia (ao cuidado, o Sorge heideggeriano, que um a orientao no sentido do ser, e
que ser, por seu lado, um m odo de construir, de ajudar a crescer, habitando
16
).
Ordenam ento, por sua vez, o que pom os naquilo que construm os. Ordenam os a
construo, ornam entam os a habitao. Assim , a disposio das rvores num pom ar
alvo de um ordenam ento. Um a vez plantadas, e construdas as fileiras, depois de
cuidadas, flores e frutos aparecero nas rvores com o ornam entos. O ornam ento com o
15 O habitar , antes, um residir sem pre junto das coisas. O habitar com o cuidado, guarda (custodia) a
Quaternidade [o cu, a terra, o hom em , os deuses] naquilo junto ao qual os m ortais residem : as coisas. ()
Desta m aneira: os m ortais abrigam e cuidam das coisas que crescem , erigem na realidade as coisas que no
crescem . O cuidar e o erigir o construir no sentido estrito. O habitar, na m edida em que guarda (custodia) a
Quaternidade nas coisas, , na m edida deste guardar (custodiar), um construir.in Construir, habitar,
pensar Heidegger, M artin trad. em castelhano, Eustaquio Barjau, verso nossa;
http://w w w .heideggeriana.com .ar/textos/construir_habitar_pensar.htm .
16 Para um a introduo ao pensam ento de M artin Heidegger ver Steiner ([1978] 1990).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
58
fruto de um cuidado talvez o m ais desviante dos sentidos para quem o tom a com o
um pedantism o, um a superficialidade, um excesso. Crim e e cuidado, hubris e salvatio.
Dicotom ia ante-loosiana.
Se em vez do ornam entar, nos assom arm os ao term o decorar(no sentido de
decorao), dam os um passo m ais inopinado ainda na questo do ornam ento com o um
ser da linguagem . Decorar trazer no corao, transportar o que se decora para um a
regio de um cuidado exacerbado, onde j a custdia, sozinha, no basta, exige-se
m ais: o envolvim ento am oroso. Convoca-se a ateno alheia. Por isso, h um abism o
original entre o que ornam ento e o que decorao, abism o que os usos correntes se
encarregaram de aterrar e iludir, aproxim ando os dois term os. Um um procedim ento
quotidiano, continuado num a praxis solidria e com passiva. O outro um estado de
alm a, com toda a oscilao de processos passivos (da paixo) e activos (da em oo) que
ele acarreta. No ornam ento h lugar a um a criao de sentidos em torno do objecto,
com o se fala de criao de seres vivos quando deles se cuida, e que um ajud-los a
crescer. Na decorao h antes sentidos im postos, e que se querem perform antes no
intuito de assinalar as coisas com o objectos am orosos. O ornam ento um a equipagem .
A decorao, um a asfixia. H que no esquecer tam bm que decorar um verbo
dissm ico. Alm de enfeitar, significa aprender de cor. Reter na m em ria, que no caso
um a m em ria do afecto, do cor, in il cuore, do corao, m as que de facto quer dizer um
m ero autom atism o, por vezes, vazio de intencionalidade, e no poucas, exaurido de
qualquer senso (e sentim ento). S se aprende de cor repetindo. S se decora ancorado
num a repetio. Toda a decorao um a cadeia estereogrfica de tipos sobre tipos. O
ornam ento um corpo m onogrfico de tem as sobre tem as. A repetio por trs do
decoraresconde o pior dos perigos. O do esvaziam ento de sentido e do esquecim ento
do ser do ornam ento. Um verdadeiro crim e, esse sim .
Ora, acontece que o cuidado que gera o ornam ento, com o cuidado hum ano que , e que
se im plica no seio das coisas e dos objectos, no solicita som ente o desencadear de
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
59
processos psicolgicos, cognitivos e intencionais, m as envolve tam bm a corporalidade
do hom em , e de um m odo m uito particular, a esfera do estar m o(o Vorhanden de
Heidegger). O ornam ento foi sem pre, tam bm , um resultado dos objectos pertencerem
a esse crculo de proxim idade em que a m o os alcana. Ornam entar um objecto ainda
afirm ar que m os hum anas passaram por ele, e que essas m os lhe deixaram a sua
signatura, um dos m odos do indivduo desocultar a sua individualidade e com ela
distinguir as coisas em que tocou. Um ornam ento um toque hum ano sobre as coisas.
O que sucedeu com os objectos fabricados industrialm ente, foi que passaram a escapar
esfera da m o. A escala da linha de m ontagem e as dim enses do volum e de
produo, no os pode j ela abarcar, e os objectos produzem -se, e reproduzem -se,
intocados por m o hum ana. Qualquer vestgio dessa m o um a pista falsa, um a
m ancha equvoca. Por isso, ao que produzido industrialm ente no se perm ite a
m nim a desconfiana de haver sido tocado e m exido antes de se ter encetado o seu
uso, o que constituiria um a irrecupervel perda de valor tais objectos transform am -
se, deste m odo, em objectos literalm ente in-tactos, com os quais no se usou de tacto,
da que tenham ficado m erc de um a retrica higinica que os incensa com o puros,
purificados, escorreitos, inteiros, coesos, inconsum ptos, inconsteis, em bruto, em
bloco, em cru, etc. O ornam ento, claro est, foi aplainado e tornou-se, inclusive,
econom icam ente afrontoso. Nisto Adolf Loos no desprim orou em argcia, e de facto,
a falta de ornam ento dos objectos da era industrial - cham em os-lhes, por convenincia,
m odernos -, no trai a incapacidade deles em com unicar a sua historicidade, antes
denota o silncio que guardam sobre as condies em que so produzidos, e de que a
m ais m arcante o baixo custo.
O que espanta na denncia do crim e ornam ental o m odo com o se tornou, ainda que
na escum a de um a ilustrada corrente avant-garde, em causa m agna no seio da
arquitectura, disciplina que perm anecia, todavia, im une aos sobressaltos em torno da
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
60
obra de arte na era da sua reprodutibilidade tcnica
17
. E apesar de, at bem entrados
pelo sculo XX, galgados os m eados m esm o, se continuar a praticar, por esse m undo
fora, m uita arquitectura Beaux Arts, com pilastra e balastre, e m uito exotism o, quer
pr-colom biano, quer levantino, M ies, Gropius, F. L. W right e Le Corbusier, havia m uito
que trabalhavam libertos de qualquer inquietao ornam ental. Aparentem ente. Na
realidade, o desgnio do ornam ento, o toque de m o hum ana, m anteve-se inaltervel.
Sim plesm ente, plasm ou-se por outra via. Vejam os qual.
Antes de nos internarm os por vias que nos levem ao desvelo daquilo que restou do af
ornam ental nestes cem anos ps-Loos, cum pre, porm , ir um pouco m ais em frente na
orientao para o ser do ornam ento. Agora, j no enquanto ser da linguagem , m as
enquanto elem ento do corpus arquitectnico. O tropism o de um a prospeco
arqueolgica no tom ada de balano que se deva desdenhar, e assim , recuem os aos
edifcios da Antiguidade de que nos ficaram alguns testem unhos. H neles algo que
no deixa de intrigar: de quase nenhum nos restam as coberturas. De alguns, nem
m esm o se sabe exactam ente com o seriam , ainda que deles subsistam outras seces
de vulto bem conservadas. No nos m over, aqui, nenhum tipo de explicao fsica,
nem do m bito da esttica, nem das atribuies da resistncia dos m ateriais. To-
pouco um a curiosidade sobre o episdio acidental, aquele que se fala de sinistros e
outros infortnios. Im porta, sim , a questo iconogrfica. Que razo levou a tam anha
assim etria na perenidade das diferentes partes de um corpo que, nalgum m om ento,
h-de ter sido encarado com o indiviso? A resposta s poder estar no m aior ou m enor
alcance da percepo a que cada um a dessas partes se encontrava. E as coberturas: no
17 Nunca em pintura, por exem plo, a questo sobre o ornam ento e o decorativism o foi um debate central,
ainda que possa ser assim ilado ao confronto entre figurativistas e abstraccionistas, de que no se
reconheceram vencedores. Na realidade, o que preocupava os pintores era o assassinato da aura que a
im agem fotogrfica vinha perpetrar s obras de arte que captava e reproduzia. E os arquitectos com o
estavam afastados da possibilidade de os seus objectos poderem ser reproduzidos tecnicam ente, nunca
suspeitaram que o ornam ento tam bm pudesse ser um a questo de aura. Cf. A obra de arte na era da sua
reprodutibilidade tcnica(Benjam in, [1939] 1992, p. 70-114).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
61
se viam . No se percebiam . To-pouco se lhes tocava. Escapavam m o hum ana. Se
no de facto, pelo m enos enquanto m odelo perceptivo. Eis porque no se ergueram
para que resistissem , posto que no se elaboraram para serem ornam entadas
18
. Pelo
contrrio, em obscuros peristilos interiores, em criptas e catacum bas, onde quer que a
m o chegasse, a estava a im presso tctil. Nem s ao que estava vista se atribua
qualidades sensoriais. E so estas qualidades que denotam o cuidado posto nos
edifcios pela m o e pelo olhar. Qualidades que com eam , antes de m ais, por pr em
evidncia os atributos dos prprios m ateriais de construo, e num segundo m om ento,
por em ular as particularidades dos elem entos naturais: a fenda na rocha, o gro na
areia, o brilho na gua, o veio na rvore, a pele no corpo, as nuvens no cu. Estas
qualidades intrnsecas construo, e que faziam do edifcio um pequeno-m undo de
resposta natureza, ou um espelho dela, so o estado prim eiro do fenm eno
ornam ental, e tm o nom e de tectnica. Tam bm o tectnicofoi um a vtim a do
esquecim ento. A estria na coluna, a nervura na abbada, o em basam ento rusticado e a
voluta no capitel, so expresses tectnicas. Hoje, andam a ser estudados nos
captulos sobre ornam ento e decorao.
Preciosa ilustrao do tectnico, podem os encontr-la na descrio bblica das obras no
Tem plo de Salom o, passagem em que o texto adquire um tom alcandorado a um tal
nvel de abstraco, que com o se se tivesse aberto o m anual de um a prtica
18 Um exem plo desta problem tica da cobertura enquanto fenm eno do inefvel, do intocvel, lugar de
excluso, m anifestao do inatingvel, encontra-se no episdio da construo, pelo im perador Adriano, do
Panteo de Rom a. Quando o povo se apercebeu de que o edifcio com portava um a cobertura com
sem elhantes dim enses, destinada a ser vista, e com seu oculus zenital, quem saberia, talvez tam bm a
vigiar - um olho csm ico -, m ostrou-se im ensam ente chocado e intim idado pela m agnificncia e perfeio
tcnica da cpula. Era obra que im punha respeito e obedincia, valores de tirania sem pre m alquistos
tradio republicana de Rom a, m esm o sob o Im prio. Deste e doutros sucessos, nos fala Richard Sennett
([1994] 1997, p. 100-101) no seu Flesh and Stone. The Body and the City in W estern Civilization, obra
indispensvel sobre a relao entre as expresses arquitectnicas e urbanas, e as prticas do corpo e as
experincia corporal, e cuja recepo est, em Portugal, ainda por fazer.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
62
desconhecida, posto que ali no se descrevem espaos, nem figuras, nem
com partim entos, nem adornos.
E enviou o rei Salom o, e m andou trazer a Hiro de Tiro.() E fora seu
pai um hom em de Tiro, que trabalhava em cobre; e era cheio de
sabedoria, e de entendim ento, e de cincia, para fazer toda a obra de
cobre: este veio ao rei Salom o, e fez toda a sua obra; Porque form ou
duas colunas de cobre: a altura de cada coluna era de dezoito cvados,
e um fio de doze cvados cercava cada um a das colunas. Tam bm fez
dois capitis de fundio, de cobre, para pr sobre as cabeas das
colunas: de cinco cvados era a altura de um capitel, e de cinco
cvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as
cintas de obra de cadeia, para os capitis que estavam sobre a cabea
das colunas, sete para um capitel e sete para o outro capitel. Assim
fez as colunas, juntam ente com duas fileiras em redor, sobre um a
rede, para cobrir os capitis que estavam sobre a cabea das rom s;
assim , tam bm , fez com o outro capitel. E os capitis, que estavam
sobre a cabea das colunas, eram de obra de lrios, no prtico, de
quatro cvados. Os capitis, pois, sobre as duas colunas, estavam ,
tam bm , defronte, em cim a do bojo que estava junto rede; e
duzentas rom s em fileiras, em redor, estavam tam bm sobre o
outro capitel (Antigo Testam ento: I Reis 7, 13-20. Trad. Joo Ferreira
de Alm eida).
O m aior dano causado a um a arquitectura que esqueceu as virtudes da tectnica, no
o do desaproveitam ento das caractersticas dos m ateriais, de agora ou de antanho -
suas propriedades e aplicaes -, posto que cada um com o , e -o em sua poca e
em seu lugar. M as o de viver sob a tirania do efeito visual que se est nas tintas para a
adequao da form a ao m aterial (isso decorativism o!), e que ao denso substitui pelo
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
63
liso, ao pesado transform a em lum inoso, ao opaco confunde-o com branco, e ao
saliente tom a por cintilante, culm inando num a arquitectura de enganos, erguida a
carro-de-linhas e papelo, na qual, finalm ente, tudo o que slido se dissolve no ar. Ou
na expresso do contem porneo, e conterrneo, de Loos, o escritor austraco Robert
M usil (1930, p. 127), e que um a definio do kitsch: com o po em que se tivesse
deitado perfum e.
Arquitecto que exibiu um a sensibilidade fina para com os aspectos tectnicos da
concepo em arquitectura, e um a intuio avisada acerca das propriedades e da
postura (colocao) dos m ateriais, foi, talvez no to surpreendentem ente quanto isso
- ou no tivesse recebido form ao de pedreiro
19
-, o m esm o Adolf Loos de Ornam ento
e Crim e. sua obra construda, assinalaram -se recuos e profundas contradies com o
pensam ento e os escritos publicados. Fizeram -no sobretudo atentando na qualidade,
por vezes opulenta e sofisticada, dos seus interiores
20
, m as tam bm nos ltim os
projectos, cujo m ais em blem tico o do edifcio Chicago Tribune Colum n, a torre-
coluna-drica de 400 ps, proposta ao concurso para a sede daquele jornal norte-
am ericano, e que foi tom ada com o um devaneio de irredim vel decorativism o urbano.
No entanto, a sua clareza enquanto exerccio im agtico, icnico e sim blico,
antecipando em quase m eio sculo o debate sem itico sobre a im agem da cidade,
conferem -lhe, ainda hoje, um a pertinncia e um a frescura que provocam espanto. E se
neste caso, o esquecim ento glauco da tectnica construtiva foi ainda m otivo flagrante
para a incom preenso dos propsitos estticos (um a coluna um a coluna, em pedra,
que pedra, com estrias, que so estrias penosa evidncia); no caso dos espaos
habitacionais, as lim itaes ao entendim ento vm do prprio Loos, j que o seu m odelo
explicativo da correco m aterial, do ortoplasm a, assenta no, teoreticam ente
rudim entar, princpio do revestim ento, ttulo de outro dos seus textos m ais
19 Num a tirada clebre, Adolf Loos ([1908] 1972, p. 9) declarou: O arquitecto um pedreiro com
conhecim entos de latim . Traduo do autor.
20 Vejam -se, a ttulo de exem plo, a Casa Steiner (Viena, 1910) e a Casa Rufer (Viena, 1922).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
64
revisitados
21
. Para Adolf Loos a aplicao dos m ateriais em arquitectura do foro
epidrm ico. Antes de m ais, os m ateriais cobrem . Cobrir, revestir, diz-nos, anterior ao
construir. Segundo Loos, a cobertura, os telhados, so m atriciais, o exem plo do que um
revestim ento deve ser; so arquetpicos, o gesto prim evo de proteco; no so
catalep-tipos, m aterial deriva, seres em derrocada, com o observm os atrs, acerca
das coberturas na Antiguidade. Os m ateriais andam superfcie segundo um a norm a
de convenincia que se assem elha aplicao de um a pele a ser m ais ou m enos
resistente consoante o lugar de utilizao. Nesta lgica, tal com o o ornam ento,
tam bm o revestim ento superficial. Ao fim e ao cabo, o revestim ento no passa de
um ornam ento perm itido. Um consentim ento, se no m esm o, um a concesso. Este
raciocnio no resiste m enos experim entada das fenom enologias. O m aterial que
est-a, antes sequer de tapar, de encobrir, de iludir, im pregna e m agnetiza o espao
para o qual est voltado, com o o avesso de um tecido em contacto com a carne viva.
Nunca se est a coberto de nenhum m aterial, to-pouco ele encobre. Est-se-lhe
exposto, tal com o ele expe. Se h algo que o revestim ento reveste a am pola de
espao de que ele pelcula, no a estrutura que o suporta. Assum indo este aspecto de
dobra sobre o reverso do construdo - e seu negativo, que espao -, o revestim ento
antes um forro. Posto isto, o m aterial vistano percute o olhar tanto quanto
condiciona o corpo, m olda a carne, conduz o toque e atrai a m o. O revestim ento no ,
com o se usa design-lo, um acabam ento, um principiam ento, o prim eiro dos
m ateriais de construo. Est no dealbar da sensao e do sentido tectnicos. Em
arquitectura, s h princpio do revestim ento na m edida em que houver um des-
revestim ento, um desvelam ento. S quando os espaos se descarnam que se
descobre o que lhes exterior, e que o interior das paredes dos edifcios. Costum a
acontecer quando h runa. Quando h abandono. Quando aos lugares, se deixou de
cuid-los. Volta pois a ser preciosa a form ulao heiddegeriana que distingue entre o
21 El principio del revestim ento (4 de septiem bre de 1898)(LOOS, [1908] 1972, p. 216-220).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
65
construir que edifica e o habitar que constri
22
. A estrutura releva das estratgias
congem inadas pelo prim eiro; o revestim ento, dos cuidados prestados pelo ltim o. A
estrutura secundria: se no aquela, outra, e haver, de qualquer form a, edifcio. O
revestim ento prim icial: se no este, nenhum outro, pois o espao transfigura-se. Ter
sido um a retrica platonista das essncias e das estruturas a responsvel pela inverso
de sentido do ser da construo. A estrutura no estrutural, pretextual. Serve a
finalidade de sustentar e agarrar as vesculas de espao. Faz tanto sentido tom -la
com o essncia, quanto procurar o esprito nos ossos. Por isso ela que exterior
construo, habitao. O revestim ento no est voltado para fora, est antes virado
para dentro do ser do espao. Eis porque em lugar de revestim ento deveria, m elhor,
falar-se de um derm am ento, de um encorpam ento, de um encarnecim ento dos
edifcios: dar derm e, fazer corpo, criar carne
23
. Um a prim azia da concepo espacial -
enquanto corporeidade -, em detrim ento de um a ancoragem na construo - enquanto
estrutura -, o resultado desta reversibilidade do revestim ento. E Adolf Loos no lhe
era alheio. O Raum plan, conceito que form ulou, de pisos a variar de cota ao longo da
sua extenso, m odelando espaos de diferentes ps-direitos conform e os graus de
exposio e intim idade, um a resposta, se bem que elem entar, a tal desgnio.
Quando as ordens arquitectnicas se tipificaram e instituram se helenizaram -, tendo
cada um a passado a narrar a sua m undividncia, os atributos tectnicos entraram no
cnone e deixaram de ser fonte de inovao. Para que deles se tirasse o devido partido,
havia que respeitar-lhes cuidadosam ente o lugar de ocorrncia, o que os diferenciava
ao longo da coluna. Havia, literalm ente, que orden-los os do fuste, os do baco e os
22 V. Supra, nota 13.
23 Cf. o conceito de carne, chair, em M erleu-Ponty ([1964] 1984) que tenta fazer a sntese entre um tocvel
que sim ultaneam ente tocante, e superar todas as dualidades de percebente e percebido, de ser e aparncia,
de visvel e invisvel. Neste sentido, o revestim ento carne, um visvel de que o invisvel no aquilo que ele
esconde, m as a sua dobra, o que designm os por forro. O revestim ento acaba por ser invisvel para aquilo que
ele reveste, pois est-lhe de costas voltadas.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
66
do capitel. Havia que p-los em ordem , ordinare, ornare [cf. supra], ornar. Assim
nasceu o ornam ento. E com ele a arquitectura erudita. Ficou aberto o cam inho para o
estilo
24
.
O encadeam ento anterior, entre o que podem os considerar com o os trs nveis de
contedos enunciados pela iconografia de Erw in Panofsky
25
, o prim rio ou natural que
identificam os com o as qualidades tectnicas e m ateriais -, o secundrio ou
convencional as ordens e o ornam ento -, e o intrnseco a m undividncia e o estilo -,
ocorreu em arquitectura com tal antecipao e sentido unificador, que m uito antes de
outras expresses plsticas, passou ela de um a linguagem especular com que
reproduzir e reflectir o real, a natureza e o universo, a um a linguagem irrevogavelm ente
codificada e abstracta. Desde m uito cedo que a arquitectura se ps a falar sobre si
m esm a consigo m esm a, dela prpria para ela prpria, com o a pintura, por exem plo,
talvez s o tenha ensaiado com o m odernism o novecentista. Os signos desse cdigo
ficaram logo estabelecidos para um perodo de dois m il anos, e no houve m udana de
paradigm a naquela sutura iconogrfica entre tectnica, ordem e estilo, entre pedra,
coluna e viso. As nicas actualizaes adm itidas foram geom tricas e de grandeza, o
que poder ter induzido a inovaes tecnolgicas. Os propsitos foram sem pre os
24 Term o que, alis, surge decantado precisam ente de um a figura da tectnica, o stylos grego, e que na raiz
significa cana, vara, tronco (de rvore), tendo passado a designar coluna. D origem em portugus, e
referindo-nos som ente a objectos, ao estilete (instrum ento alongado), ao estilado (figura filiform e), e em
francs, ao stylo (caneta).
25 Contedo Tem tico Natural ou Prim rio () apreendido pela identificao de form as puras, ou seja,
certas configuraes de linha e cor, ou certas m assas de bronze ou pedra de form a caracterstica, de
representaes de objectos naturais tais com o seres hum anos, anim ais, plantas, casas, instrum entos, etc;
Contedo Secundrio ou Convencional: () para entender este significado [deve estar-se] fam iliarizado no
s com o m undo quotidiano dos objectos e das aces m as tam bm com o m undo, m enos im ediato, dos
costum es e das tradies culturais prprias de um a determ inada civilizao. Ao Significado Intrnseco
percebem o-lo analisando os pressupostos que revelam a atitude bsica de um a nao, um a poca, um a
classe, um a crena religiosa ou filosfica assum idos inconscientem ente por um indivduo e condensados
num a obra (Panofsky, E. [1939] 1986, p. 20-22).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
67
m esm os e de um a constncia inquebrantvel. Cham -los vitruvianos no passa de
convenincia erudizante. S o olhar vicioso e ciclotm ico de um m aterialism o histrico
(subsidirio da Histria de Arte, essa disciplina que a desvirtuao de qualquer olhar
situado - o olhar dela bem o do anjo da histriana IX das Teses sobre a Filosofia da
Histria de W alter Benjam in, figura que cam inha para o futuro, de rosto voltado para o
passado e deixa no presente um tum ulto de runas de sentido
26
), que pde ver
naquela perenidade, processos retro-alim entados com o nom e vazio de revivalism os,
historicism os, passadism os, neo-ism os, com que pensava estar a descrever fenm enos
dialcticos de progresso e m udana, e afinal apenas iludia o fundam ento da linguagem
arquitectnica. Quando no quinto m ilnio, os historiadores da ps-histria, ou da ultra-
histria, ou da fini-histria, olharem para trs, h-de ser tudo o m esm o, o Prtenon de
Atenas e a Central Station em Nova Iorque. M as talvez j no a arquitectura destes
cem anos ps-Loos.
Assim que se desferiu um golpe num daqueles nveis de sentido, e no caso a vtim a foi
o ornam ento, perigou-se o cdigo da linguagem arquitectnica. A arquitectura pareceu
em udecer. A perseguio ao crim e ornam ental, e o seu com bate m ilitante,
assem elhou-se a um a censura da fala, ou a um a auto-censura discursiva, em que
quela voz treinada de um tem po experim entado, se tivesse acom etido com um sonoro
silncio!. Esse silncio, m ais do que corresponder a um estado de castidade
contem plativa, era antes um padecim ento afnico aps castrao fsica (no Freud
26 Existe um quadro de Klee que se intitula Angelus N ovus. Representa um anjo que parece preparar-se para
se afastar do local em que se m antm im vel. Os seus olhos esto escancarados, a boca est aberta, as asas
desfraldadas. Tal o aspecto que necessariam ente deve ter o anjo da histria. O seu rosto est voltado para
o passado. Ali onde para ns parece haver um a cadeia de acontecim entos, ele v apenas um a nica e s
catstrofe, que no pra de am ontoar runas sobre runas e as lana a seus ps. Ele quereria ficar, despertar
os m ortos e reunir os vencidos. M as do Paraso sopra um a tem pestade que se apodera das suas asas, e to
forte que o anjo no capaz de voltar a fech-las. Esta tem pestade im pele-o incessantem ente para o futuro
ao qual volta as costas, enquanto diante dele e at ao cu se acum ulam runas. Esta tem pestade aquilo a
que ns cham am os progresso (Benjam in, [1940] 1992, p. 162).
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
68
allow ed). Os edifcios em vez de parecerem votados a um a serenidade de esprito,
surgiam enferm ios, engessados em alvssim a m assa correctora, corrigidos por talas e
dispositivos ortopdicos. No entanto, o silncio era de gaze. O toque de m o hum ana,
banido pela erradicao do ornam ento, logo rasgou o vu de silncio. Num gesto
relapso, intelectualizou-se, e a arquitectura recuperou im ediatam ente a faculdade da
fala sob a form a de m etfora. Um a m etaforizao tagarela assolou, com som e fria,
todo e qualquer discurso sobre a arquitectura - do crtico ao conceptual. Esta queda na
m etfora ainda hoje vigente, e a grande consequncia do pensam ento anti-
ornam entalista de Adolf Loos.
Le Corbusier e a m quina de habitar. Gropius e a produo fabril. W right e a orgnica
naturalista. M ies e o diagram a m atem tico. A m etfora foi a m o com que se
recuperou para a arquitectura um a narratividade prpria, de que o ornam ento havia
sido um a das form as sintagm ticas, e que substituiu a histria form al pela petite-
histoire conceptualista. A narrativa, pela anedota.
M erc da im brincada codificao iconogrfica de que j dem os conta, a nenhum
arquitecto anterior ao M ovim ento M oderno ocorreria socorrer-se de qualidades e
realidades estranhas ao universo da prpria arquitectura para fazer da sua obra um
objecto com unicante27. Isto no significa que aos edifcios deixasse de se lhes exigir
propsitos 1) alegricos que punham em representao factos do m undo e da vida no
seio da arquitectura, 2) sim blicos em que se encarnavam ideias e conceitos afins
form a, ou na form a convencionados, 3) m etonm icos em que se exploravam inverses
na ordem e no sentido natural das coisas, 4) hiperblicos em que se destacavam
qualidades e significados, e 5) im agticos em que a obra reflectia a capacidade de
27 Talvez a excepo seja Paxton, com o seu Palcio de Cristal (1851) em Londres e a inspirao botnica. De
qualquer form a, no era arquitecto, era um jardineiro de estufas. E o edifcio no deixou de exibir o seu
classicism o regency, bem aprendido por outras paragens.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
69
criar im agens a partir do dom da im aginao. M as o transporte artificioso28 de um
m odelo explicativo, ou processo criativo, alheio arquitectura, para vir auxiliar e
legitim ar a concepo arquitectnica e isto a m etfora -, foi um a novidade
disciplinar. Este processo aristotlico A m etfora consiste no transportar para um a
coisa o nom e de outra(Aristteles, [c.335 a.C.] 1990, p. 134), e note-se que esse
transporte surge da intuio de um a analogia entre coisas dissem elhantes -, na m enos
aristotlica de todas as m anifestaes artsticas, j que, ao contrrio de outras, cedo a
arquitectura se libertou das m alhas da m im esis ela sem pre se im itou a si m esm a ,
no pode deixar de tem er-se com o um sintom a regressivo. Nem que seja no m ero
quadro da interpretao, e descuram os aqui a anlise form al, este pendor m etafrico
o claro sinal de que um a autonom ia de linguagem se perdeu ou desm oronou. Por
m etforas, falam os cientistas que tm um a desnudada m -conscincia sobre o seu
objecto de estudo. Por m etforas, falam os especialistas que tm um total descrdito
nas capacidades dos outros os entenderem a eles. M ais grave: por m etforas,
expressam -se os polticos com um desavergonhado desconhecim ento acerca daquilo
que falam . A m etfora, porque procura o entendim ento rpido e visual, preguiosa. A
m etfora, porque prom ete a explicao sinttica, dem aggica. A m etfora, porque
intelectualiza e m ediatiza as im agens, enganosa. A m etfora, porque se aproveita
das qualidades do outro, para m atizar o que do foro do m esm o, insultuosa. A
m etfora im oral.
Que o facto arquitectnico em si, se constitua com o um dos m ais profcuos m ananciais
de m etforas inoculadas na linguagem corrente, acaba por ser de um a ironia
28 Na Atenas de hoje, os transportes colectivos cham am -se m etaphorai. Para ir para o trabalho ou regressar
a casa, tom a-se um a m etfora - um autocarro ou um com boio.Este e m uitos outros exem plos de figuras
retricas relacionados com os lugares e o espao, sob a designao de Pratiques despacee Rcits
despace, podem os encontrar em M ichel de Certeau ([1974] 1990, p. 170), antroplogo francs, cuja obra
m par e inestim vel para as disciplinas do arco da arquitectura, do urbanism o e do espao, aguarda ainda
m elhor recepo em Portugal. Contm um captulo dedicado exclusivam ente a m etforas espaciais. Em
portugus, h apenas edio brasileira. Tradues do autor.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
70
descorooante a praa pblica, os castelos no ar, a torre de m arfim , a cpula
partidria, o arco poltico-ideolgico, as janelas de oportunidade, a abbada
celeste, o patam ar social, a plataform a de entendim ento, o tecto salarial, o
nicho de m ercado, a m oldura penal, o quadro legal, a pedra de toque, a casa de
Deus, o am or e um a cabana, eis algum as, s quais podem os acrescentar outras
afins, de raiz geom trica, com o a esfera da vida privada, o plano da vida pblica, o
crculo eleitoral, a pirm ide hierrquica, o tringulo am oroso, o horizonte
econm ico, a perspectiva interior, o ponto de no retorno, o ngulo de m anobra,
a vitria tangencial. Se atentarm os nelas, afronta-nos aquele que o reverso artstico
do processo m etafrico: o chavo. E se Adolf Loos, em relao ao delito ornam ental,
lanou m o de um a im agem epidem iolgica para falar de um a contam inao
generalizada, a m etfora, respondem os ns, do foro da alergologia e com porta-se
com o doena auto-im une. As suas m anifestaes so atpicas. Nunca se sabe m uito
bem onde iro ocorrer. Certo que sero cada vez m ais adversas.
Projecto m ental de traduo do intraduzvel, qualquer m etfora aspira condio de
frm ula, de dito de esprito. A sua utilizao est na razo directa da sua adequao,
que funo da analogia e da sem elhana, m as tam bm do inesperado que resulta do
que ela observa
29
. Porm , se o alcance for obscuro, a m etfora transform a-se em
29 Este florescim ento da m etfora faz recuar a arquitectura aos sistem as de interpretao do sculo XVI, o
ltim o grande paradigm a interpretativo antes do paradigm a iniciado no sculo XIX e que se m anteve vigente
por todo o sculo XX, tal com o descrito por Foucault ([1964] 1975, p. 7-8): Para entender que o sistem a de
interpretao tenha fundam entado o sculo XIX, e com o consequncia, a que sistem a de interpretao
pertencem os todavia, parece-m e que seria necessrio acudir-nos de um a referncia passada, por exem plo,
que tipo de tcnica pde existir no sculo XVI. N aquela poca, o que dava lugar interpretao, o que
constitua sim ultaneam ente o seu planeam ento geral e a unidade m nim a que a interpretao tinha para
trabalhar, era a sem elhana. A onde as coisas se assem elhavam , aquilo com que isto se parecia, algo
desejava ser dito, e que podia ser decifrado; sabe-se o suficiente do im portante papel que a sem elhana
desem penhou e todas as noes que giram com o satlites sua volta, na cosm ologia, na botnica e na
filosofia do sculo XVI. A falar verdade, diante dos nossos olhos, hom ens do sculo XX, toda esta rede de
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
71
zeugm a e torna-se restrita, secreta
30
. A boa m etfora a que se vulgariza. Da que o
destino dela seja passar a clich. E quando assim for, o seu sentido ter-se- gasto ao
ponto de se esvaziar. A m etfora um ser para a m orte, serve m al as aspiraes da
arte em atingir o eterno e o intem poral. Assim que sintetizada, com ea a m orrer. Bem
com o m uita arquitectura que sobreviveu ao m ais desbragado ornam ento, tam bm
outra resistiu s m ais desastradas - e por vezes sinistras m etforas, cuja
aplicabilidade, afortunadam ente, se dissipou. Por isso, o prim eiro m om ento na
aprendizagem das coisas da arquitectura, da geom etria e do espao, deve ser um
trabalho de desm etaforizao. Um exerccio de trazer de novo para os seus significados
m ais rasos um a srie de nexos de sentido que andam calcificados em esteretipos e
lugares-com uns, configurando um jargo inform al, quando no m esm o disform e.
Exem plo: a) as rectas devem regressar ao conceito de direco e deixar de ser linhas
direitas; b) um a unidade de habitao deve ser rem etida para o lugar geom trico
sem elhanas nos parece algo um tanto confuso e enredado. Porm de facto, este corpus da sem elhana no
sc. XVI, estava perfeitam ente organizado. Tinha pelo m enos, [quatro] noes perfeitam ente definidas.
A noo da convenincia, a convenentia, que significava o ajuste (por exem plo da alm a e do corpo, e da
srie anim al e vegetal).
- A noo de em ulatio, que era o curiosssim o paralelism o dos atributos em substncias ou seres distintos, de
tal form a que os atributos eram com o o reflexo de uns e outros, num a ou noutra substncia. (Assim Porta
explicava que o rosto hum ano, com as sete partes que nele se distinguiam eram um a em ulao do cu com
os seus sete planetas).
- A noo de signatura, a assinatura que era entre as propriedades visveis de um indivduo, a im agem de
um a propriedade invisvel e oculta.
- E a seguir, por suposio, a noo de analogia, que era a identidade das relaes entre duas ou m ais
substncias distintas.
certo que a m etfora, m erc de um processo m ais intelectualizado, pode apresentar-se com outra
sofisticao. M as no restam dvidas de est filiada no anteriorm ente citado, no atingindo a sublim ao da
im agem ou da alegoria.
30 Exem plo de m etforas que se obscureceram , as kenningar da poesia da Islndia, considera-as Jorge Lus
Borges ([1936] 2001, p. 49) um a das m ais frias aberraes que as histrias literrias registam , m enes
enigm ticas: () o tecto da baleia [m ar], a espada da boca [lngua], drago dos cadveres [lana], trigo dos
lobos [m orto] . Traduo do autor.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
72
estela, e no para o conceito difuso bloco; c) a esquina no um a ponta, um a
aresta, o canto no um a extrem idade um vrtice. isto um aturado e cuidadoso
recentram ento sobre os signos. Considerem o-lo um acerto de linguagem . No a
veiculao de um a linguagem certa. Essa, a existir, descoberta pessoal, e tem de ser
aprendida no apenas a partir de um a tcnica e de um a esttica. M as tam bm de um a
tica que no m etaforize a qualquer preo, com o das palavras se no faz qualquer uso.
Evidentem ente, h m etforas lum inosas e operantes - que em ergem das construes
poticas e filosficas, as quais podem ser trazidas para refutao da fragilidade
artstica e m oral do processo m etaforizante
31
. Das que relevam do espao e da
arquitectura, o palcio da m em riade Santo Agostinho, todo o cais um a saudade
de pedrade Fernando Pessoa, o iceberg do id, do ego e do superegona tpica
freudiana, so m etforas respeitveis
32
. Contudo, m eia dzia de boas actualizaes de
um a figura de m m em ria, no so suficientes para lhe dissipar a m em ria de um a
m figura. E essa feio som bria que lhe vem de um jogo ardiloso de encobrim ento e
desvelam ento dos propsitos, a um s tem po, e que prerrogativa da m etfora, tem
sido a tnica do discurso sobre as questes que envolvem o espao no sculo XX, e
31 Grande conhecedor dos ardis da m etfora, era Bachelard, que na sua Potica do Espao ([1958] 1993, p. 89-
90) com ps, segundo um a abordagem fenom enolgica, um extenso repositrio de im agens poticas de
fenm enos espaciais, elevando-as acim a das apropriaes apressadas das m etforas funcionais: () quando
se pressente um a m etfora, porque a im aginao est fora de questo(). Um a m etfora no deveria ser
m ais do que um acidente da expresso e () perigoso transform -la em pensam ento. A m etfora um a
falsa im agem , j que no tem a virtude direta de um a im agem produtora de expresso, form ada no devaneio
falado.
32 M etfora poderosa a de Joo de Salisbria que relaciona os edifcios da cidade e o corpo hum ano,
docum entada por Richard Sennet ([1994] 1997, p. 26-27) em Carne y Piedra: Joo de Salisbria ()
relacionou a configurao do corpo hum ano com a de um a cidade: considerava assim o palcio ou a catedral
da cidade com o a sua cabea, o m ercado central com o o seu estm ago, as casas com o as suas m os e o seu
ps. Por isso, as pessoas deviam m over-se com lentido num a catedral porque o crebro um rgo de
reflexo, e com rapidez num m ercado porque a digesto produz-se com um fogo que arde com celeridade no
estm ago. Traduo do autor.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
73
nestes cem anos de arquitectura depois de Ornam ento e Crim e. Das trincheiras aos
labirintos borgesianos
33
, da teoria das cordas realidade virtual, do ciberespao
globalizao
34
, podem os estar certos de no vir a encontrar ornam ento algum , tanto
quanto de andar a frequentar espaos engendrados pelo m esm o esprito m etafrico
que instalou duches em Auschw itz. Depois de um duche em Auschw itz - m etfora para
cm ara de gs -, no sem um arrepio que se ouve falar de estdios olm picos que so
ninhos de pssaros, de estdios de futebol pensados com o estdios de televiso, de
m useus que so com o barcos ao vento, de pavilhes de feira que so com o palcios
venezianos, de casas de m sica que so com o m eteoritos. O princpio intelectual o
m esm o. Resta a dvida se no ser tam bm o m esm o toque de m o hum ana.
Referncias:
ARISTTELES ([c.335 a.c.] 1990) Potica. Lisboa: Im prensa Nacional Casa da M oeda.
BACHELARD, G. ([1958] 1993). A potica do espao. So Paulo: M artins Fontes.
BENJAM IN, W . (1992). Sobre arte, tcnica, linguagem e poltica. Lisboa: Relgio d'gua.
BORGES, J. L. ([1936] 2001). Historia de la eternidad. M adrid: Alianza Editorial.
CERTEAU, M . ([1974] 1990). Linvention du quotidien: 1.arts de faire. Paris: Gallim ard.
DORFLES, G. ([1969] 1989). As Oscilaes do gosto. Lisboa: Livros Horizonte.
FOUCAU LT, M . ([1964] 1975). Nietzsche, Freud e M arx. Porto: Edies Rs.
LOOS, A. ([1908] 1972). Ornam ento y delito y otros escritos. Barcelona: Gustavo Gili.
33 Escritor afam ado entre os arquitectos, Jorge Lus Borges era um m ago do discurso m etafrico e construiu
a sua obra em torno de duas ou trs m etforas espaciais recorrentes, o que talvez explique aquela fam a: os
labirintos, os espelhos e as bibliotecas.
34 A globalizao a m ais intrincada das construes m etafricas associada a um a form a geom trica, o
globo. a m etfora a exigir toda um a explorao explicativa que convoque geom etria, geografia, geopoltica,
econom ia, histria e filosofia. M as num reparo sum rio, h a dizer que j a designao releva do m etafrico
para nom ear a form a da Terra, que no de todo um globo m as um geide, por sinal, um a curiosa tautologia
a form a da Geo (Terra) um geide. Pelo que se a m etfora se quisesse radicalizar no seu falsrio
propsito, deveria com ear por se corrigir no sentido de um a geodizao.
n.3 / 2010 A E . . . R e v i st a L u s f o n a d e A r q u i t e ct u r a e E d u ca o
Architecture & Education Journal
74
LOOS, A. ([1908] 2004). Ornam ento e crim e. Lisboa: Cotovia.
M ERLEAU-PONTY, M . ([1964] 1984). O visvel e o invisvel. So Paulo: Perspectiva.
POE, E. A. ([1841] 1989). Os crim es da rua M orgue e outras histrias. Lisboa: Crculo de Leitores.
M USIL, R. ([1930] 1995). The m an w ithout qualities. London: Picador.
PAN OFSKY, E. ([1939] 1986) Estudos de iconologia: tem as hum ansticos na arte do Renascim ento. Lisboa:
Estam pa.
STEINER, G. ([1978] 1990). Heidegger. Lisboa: Dom Quixote.
VIRILIO, P. ([1990] 1993) A inrcia polar. Lisboa: Dom Quixote.
SENNETT, R. ([1994] 1997). Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilizacin occidental. M adrid: Alianza
Editorial.
You might also like
- Diretrizes ABNT dissertações teses USPDocument102 pagesDiretrizes ABNT dissertações teses USPAndressa AntunesNo ratings yet
- BONDÍA, Jorge Larrosa - Notas Sobre A Experiência e o Saber de ExperiênciaDocument9 pagesBONDÍA, Jorge Larrosa - Notas Sobre A Experiência e o Saber de ExperiênciaElisa_frickNo ratings yet
- Premio Ebramem WWF - Regulamento 2016-01-15Document7 pagesPremio Ebramem WWF - Regulamento 2016-01-15Denis JoelsonsNo ratings yet
- Bolsa de Incentivo Técnico Acadêmico - Monitoria: Programa de Apoio Ao Estudante - PAEDocument5 pagesBolsa de Incentivo Técnico Acadêmico - Monitoria: Programa de Apoio Ao Estudante - PAEDenis JoelsonsNo ratings yet
- 02 PlantaDocument1 page02 PlantaDenis JoelsonsNo ratings yet
- BACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioDocument209 pagesBACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioCarlos Regis100% (11)
- Bolsa de Incentivo Técnico Acadêmico - Monitoria: Programa de Apoio Ao Estudante - PAEDocument5 pagesBolsa de Incentivo Técnico Acadêmico - Monitoria: Programa de Apoio Ao Estudante - PAEDenis JoelsonsNo ratings yet
- Mia Antonio Andre DissertacaoDocument228 pagesMia Antonio Andre DissertacaoDenis JoelsonsNo ratings yet
- Procedimentos para entrega de projetos SESCDocument21 pagesProcedimentos para entrega de projetos SESCDenis JoelsonsNo ratings yet
- BESSE - Vapores No CéuDocument2 pagesBESSE - Vapores No CéuDenis JoelsonsNo ratings yet
- Instrucoes Memorial2015mDocument2 pagesInstrucoes Memorial2015mDenis JoelsonsNo ratings yet
- BESSE - Vapores No CéuDocument2 pagesBESSE - Vapores No CéuDenis JoelsonsNo ratings yet
- Memorial Lum 1Document2 pagesMemorial Lum 1Denis JoelsonsNo ratings yet
- O Eliseu de Júlia: um refúgio encantado na naturezaDocument19 pagesO Eliseu de Júlia: um refúgio encantado na naturezaDenis JoelsonsNo ratings yet
- O Eliseu de Júlia: um refúgio encantado na naturezaDocument19 pagesO Eliseu de Júlia: um refúgio encantado na naturezaDenis JoelsonsNo ratings yet
- Sumario Com Roteiro e Cap 3Document29 pagesSumario Com Roteiro e Cap 3Denis JoelsonsNo ratings yet
- 03 IARA Simmel Versao FinalDocument21 pages03 IARA Simmel Versao FinalLarissa AlmadaNo ratings yet
- Estac 2Document1 pageEstac 2Denis JoelsonsNo ratings yet
- LOOS, Adolf Pobre Homem RicoDocument11 pagesLOOS, Adolf Pobre Homem RicoDenis JoelsonsNo ratings yet
- 03 IARA Simmel Versao FinalDocument21 pages03 IARA Simmel Versao FinalLarissa AlmadaNo ratings yet
- Imp - Faixa IDocument1 pageImp - Faixa IDenis JoelsonsNo ratings yet
- Imp - Faixa IDocument1 pageImp - Faixa IDenis JoelsonsNo ratings yet
- Processo de Seleção de Candidatos Folder - 2015Document5 pagesProcesso de Seleção de Candidatos Folder - 2015convers3No ratings yet
- Estac 2Document1 pageEstac 2Denis JoelsonsNo ratings yet
- Estac 3Document1 pageEstac 3Denis JoelsonsNo ratings yet
- De Simmel Ao Cotidiano Na Metrópole Pós-UrbanaDocument12 pagesDe Simmel Ao Cotidiano Na Metrópole Pós-UrbanaCláudio SmalleyNo ratings yet
- Georg Simmel e As Ambiguidades Da ModernidadeDocument11 pagesGeorg Simmel e As Ambiguidades Da ModernidadeRui MestreNo ratings yet
- ATIV EXPL 14 - CPSN - Fundamentação TeóricaDocument4 pagesATIV EXPL 14 - CPSN - Fundamentação Teóricadébora_christina_6No ratings yet
- Fundamentos e Práticas Da Fisioterapia 4 - E-book-Fisioterapia-4Document228 pagesFundamentos e Práticas Da Fisioterapia 4 - E-book-Fisioterapia-4Yuldash100% (1)
- Responsabilidade Social Das EmpresasDocument62 pagesResponsabilidade Social Das EmpresasNhaueleque Júnior100% (7)
- RGPD EscolasDocument7 pagesRGPD EscolasmartadocNo ratings yet
- Exames de Matemática 12 Classe.Document61 pagesExames de Matemática 12 Classe.Paulo Elias Sitoe0% (1)
- Betao45 - APEBDocument72 pagesBetao45 - APEBBrum ConstroiNo ratings yet
- PDM Ponta Do Sol 2001.05Document9 pagesPDM Ponta Do Sol 2001.05Fernando OliveiraNo ratings yet
- Introdução Ao Pentest Mobile PT-1Document52 pagesIntrodução Ao Pentest Mobile PT-1Felipe RodriguesNo ratings yet
- ArquitetoDocument9 pagesArquitetoJean NascimentoNo ratings yet
- Timbrado de Exercícios - OdtDocument4 pagesTimbrado de Exercícios - OdtAntonio Martinho CamiloNo ratings yet
- Cooperação com DeusDocument65 pagesCooperação com DeusFatima4BretzNo ratings yet
- ATOS OFICIAIS TRIBUNAL MINASDocument12 pagesATOS OFICIAIS TRIBUNAL MINASGustavo PereiraNo ratings yet
- ResMédica - Aprovados e Classific - (Publicar)Document246 pagesResMédica - Aprovados e Classific - (Publicar)Biih FialhoNo ratings yet
- Ed 78 2023 CP Prof 10dvzDocument38 pagesEd 78 2023 CP Prof 10dvzLola MarconNo ratings yet
- Acentuação de PalavrasDocument44 pagesAcentuação de PalavrasEvandro RibeiroNo ratings yet
- 11º Ano - Teste Geografia ErtDocument5 pages11º Ano - Teste Geografia ErtTobiasKnight100% (2)
- Resposta Da Prova de Psicologia em PDFDocument7 pagesResposta Da Prova de Psicologia em PDFjucileneNo ratings yet
- Cronograma de Estudos BNB Pos Edital Semanas 1 A 3Document34 pagesCronograma de Estudos BNB Pos Edital Semanas 1 A 3joao marcosNo ratings yet
- Comparação Teorias Clássica x Relações HumanasDocument13 pagesComparação Teorias Clássica x Relações HumanasWagner CruzNo ratings yet
- DIRETRIZ CNBC 01-2012 Codigo Ética Bombeiro Civil e Pessoal de Serviços de Emergências - 4a EdDocument15 pagesDIRETRIZ CNBC 01-2012 Codigo Ética Bombeiro Civil e Pessoal de Serviços de Emergências - 4a Edivan pesquisaNo ratings yet
- Gro Ghe 2 SHFDocument1 pageGro Ghe 2 SHFLeandro DecioNo ratings yet
- ACETILCOLINADocument18 pagesACETILCOLINAErick SaraivaNo ratings yet
- RELATÓRIO DE PROJETO FUNDIÇÃO - FinalDocument13 pagesRELATÓRIO DE PROJETO FUNDIÇÃO - FinalVinicius CamposNo ratings yet
- Manual Técnico VMK6Document5 pagesManual Técnico VMK6TV Web CLDFNo ratings yet
- Princípios e sistemas de treinamento resistidoDocument45 pagesPrincípios e sistemas de treinamento resistidoDanielBCNo ratings yet
- Deus criou os números inteirosDocument23 pagesDeus criou os números inteirosEdicleyto SantanaNo ratings yet
- Laboratório de Física Geral 3Document78 pagesLaboratório de Física Geral 3José Lucas Decote de Carvalho LirioNo ratings yet
- Semicondutores de Potência para Conversores EstáticosDocument59 pagesSemicondutores de Potência para Conversores EstáticosÍcaro AndréNo ratings yet
- Manual Aluno PDFDocument20 pagesManual Aluno PDFRose OliveiraNo ratings yet