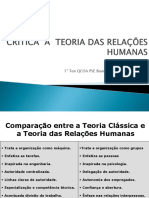Professional Documents
Culture Documents
Manual Didatico de Ferrovias 2012
Uploaded by
Julio Roberto Uszacki JuniorCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Manual Didatico de Ferrovias 2012
Uploaded by
Julio Roberto Uszacki JuniorCopyright:
Available Formats
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN
SETOR DE TECNOLOGIA
DEP. DE TRANSPORTES
MANUAL DIDTICO DE
FERROVIAS
- 2012 -
Eng Civil Camilo Borges Neto, M.Sc.
SUMRIO
FERROVIAS
I. APRESENTAO ............................................................. 01
II. BILIOGRAFIA .................................................................. 01
1. INTRODUO .................................................................. 02
1.1. DEFINIES ..................................................................... 02
1.2. CONCEITUAO COMPARATIVA ENTRE OS
PRINCIPAIS MODAIS TERRESTRES ..........................
02
2. A FERROVIA E SUA INSERSO NO SISTEMA DE
TRANSPORTES DO BRASIL .........................................
04
2.1. HISTRIA DA FERROVIA ............................................. 04
2.2. A FERROVIA NO BRASIL .............................................. 08
2.3. A ESTRADA DE FERRO NO PARAN ........................ 10
2.3.1. Os Caminhos Primitivos .................................................... 10
2.3.2. A Estrada de Ferro ............................................................. 12
2.4. OUTRAS FERROVIAS REGIONAIS ............................. 14
2.5. A EVOLUO DAS CONSTRUES
FERROVIRIAS NO BRASIL ........................................
15
2.5.1. Crescimento das Estradas de Ferro no Brasil ................. 15
2.5.2 Panorama Ferrovirio nas Amricas ............................... 17
2.5.3. Sistema Ferrovirio Nacional ............................................ 17
2.6. SETORES DE ATUAO DA FERROVIA .................. 24
2.6.1. Transporte de Passageiros ................................................. 24
2.6.2. Transporte de Cargas ........................................................ 26
2.6.2.1. Distribuio do Transporte por Via Frrea no Brasil
(2008) ...................................................................................
27
2.6.2.2. Matriz de Transporte de Cargas no Brasil ..................... 28
2.6.3. Anlise Comparativa de Consumo de leo Diesel .......... 28
2.6.3.1. Equipamento ...................................................................... 28
2.6.3.2 Consumo .............................................................................. 29
2.6.4. Consumo de leo Diesel no Transporte de Cargas no
Brasil ...................................................................................
29
2.6.5. Anlise do Consumo de Energia em Transportes no
Brasil ....................................................................................
30
3. A VIA FRREA ................................................................. 31
3.1. INTRODUO 31
3.2. INFRA-ESTRUTURA FERROVIRIA ......................... 31
3.3. SUPERESTRUTURA FERROVIRIA .......................... 33
3.3.1. Plataforma Ferroviria ...................................................... 33
3.3.1.1. Bitolas .................................................................................. 34
3.3.1.2. Gabarito da Via Frrea ..................................................... 37
3.3.1.3. Caractersticas Geomtricas da Plataforma .................... 38
3.3.1.4. Influncia das Obras de Terraplenagem na Largura da
Plataforma ..........................................................................
40
3.3.2. Via Permanente .................................................................. 41
3.3.2.1. Sub-lastro ............................................................................ 41
3.3.2.2. Lastro .................................................................................. 43
3.3.2.3. Dormentes ........................................................................... 53
3.3.2.4. Trilhos ................................................................................. 80
3.3.2.5. Aparelhos de Via ................................................................ 126
3.4.
ASSENTAMENTO DA LINHA .......................................................
131
3.4.1. Caractersticas do Assentamento de Linha ..................... 131
3.4.2. Processos de Assentamento de Linha .............................. 135
3.5. ESFOROS ATUANTES NA VIA .................................. 138
3.5.1. Classificao dos Esforos Atuantes ................................ 138
3.5.1.1. Esforos Verticais ............................................................... 138
3.5.1.2. Esforos Longitudinais ...................................................... 139
3.5.1.3. Esforos Transversais ........................................................ 140
3.5.2. Fora Centrfuga ................................................................ 140
3.5.3. Momentos Fletores ............................................................. 141
3.5.3.1. Clculo dos Momentos Fletores nos Trilhos ................... 141
3.5.4. Escolha do Perfil de Trilho ................................................ 144
3.5.5. Exemplo de aplicao ......................................................... 144
3.5.6. Tenso no Contato Roda Trilho ....................................... 145
3.6. MTODOS MODERNOS DE CONSTRUO ............. 146
3.6.1. Introduo ........................................................................... 146
3.6.2. Superestrutura Vinculada Infra-Estrutura ................. 146
3.6.3. Influncia dos Tipos de Veculos em Circulao ............ 146
3.6.4. Elementos Constituintes da Superestrutura Moderna ... 146
3.6.5. Condies Geomtricas ..................................................... 147
3.6.6. Processos Modernos de Construo ................................. 148
4. CONSERVAO DA VIA ............................................... 149
4.1. INTRODUO .................................................................. 149
4.2. MANUTENO DA VIA ................................................. 149
4.3. MTODOS DE CONSERVA DA VIA ............................ 150
4.4. ORGANIZAO DA CONSERVA CCLICA
PROGRAMADA ................................................................
151
4.5. VALOR RELATIVO OU PESOS DOS GRUPOS ......... 151
4.6. PROGRAMAO DA CCP ............................................. 153
5. GEOMETRIA DA VIA: CORREO DE
GEOMETRIA E SUPERELEVAO ............................
154
5.1. INTRODUO .................................................................. 154
5.2. ESTUDO DOS PUXAMENTOS ....................................... 155
5.3. MTODO DAS FLEXAS PARA CORREO DAS
CURVAS .............................................................................
156
5.4. GRFICO DE FLEXAS LEVANTADAS ....................... 157
5.5. MTODO GRFICO COM CALCULADORES
MECNICOS .....................................................................
158
5.6. QUANTO AO NIVELAMENTO ..................................... 159
5.7. ESTUDO DA SUPERELEVAO .................................. 160
5.7.1. Superelevao Terica ....................................................... 160
5.7.2. Superelevao Prtica ........................................................ 161
5.7.3. Limites da Superelevao .................................................. 163
5.7.4. Superelevao nas Curvas de Concordncia .................. 163
5.7.5. Execuo da Superelevao .............................................. 163
5.7.6. Velocidade Limite ............................................................... 164
6. ESTAES, PTIOS E TERMINAIS ............................ 164
6.1. INTRODUO .................................................................. 164
6.2. CONCEITUAO E CLASSIFICAO ...................... 165
6.2.1. Conceituao ....................................................................... 165
6.2.2. Classificao ....................................................................... 166
6.3. ESTAES ........................................................................ 166
6.3.1. Classificao ....................................................................... 166
6.4. PTIOS ............................................................................... 167
6.4.1. Definio .............................................................................. 167
6.4.2. Tipos Bsicos de Ptios ...................................................... 167
6.4.3. Partes Componentes de um Ptio ..................................... 168
6.4.4. Lay-Out dos Ptios ............................................................. 169
6.4.5. Ptio de Classificao por Gravidade .............................. 171
6.5. TERMINAIS ....................................................................... 172
6.5.1. Descrio e Organizao ................................................... 172
6.5.2. Tipos de Terminais ............................................................. 172
6.6. LOCALIZAO DOS PTIOS E TERMINAIS ........... 174
6.7. PROJETOS DE PTIOS E TERMINAIS ...................... 174
6.7.1. Fatores Condicionantes ..................................................... 174
6.7.2. Dimensionamento ............................................................... 176
7. MATERIAL RODANTE ................................................... 177
7.1. INTRODUO .................................................................. 177
7.1.1. Definio .............................................................................. 177
7.1.2. Classificao do Material Rodante em Funo de sua
Finalidade Principal ...........................................................
177
7.2. CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DO MATERIAL
RODANTE ..........................................................................
178
7.3. PARTES FUNDAMENTAIS DO MATERIAL
RODANTE ..........................................................................
178
7.3.1. Rodas ................................................................................... 178
7.3.2. Eixos .................................................................................... 180
7.3.3. Mancais ............................................................................... 182
7.3.4. Suspenso ............................................................................ 183
7.3.5. Estrado ................................................................................ 183
7.3.6. Truques ............................................................................... 183
7.3.7. Engates Aparelhos de Trao e Choque ....................... 184
7.3.8. Caixa ................................................................................... 185
7.4. LOCOMOTIVAS ............................................................... 185
7.4.1. Definio .............................................................................. 185
7.4.2. Classificao das Locomotivas ......................................... 185
7.4.3. Locomotivas Diesel ............................................................ 186
III. ANEXOS ............................................................................. 189
III.1. APARELHOS DE MUDANA ........................................ 189
III.2. TIPOS DE VAGES ......................................................... 190
III.3. TERMINOLOGIA BSICA ............................................. 192
1
FERROVIAS
MANUAL DIDTICO
I. APRESENTAO
Este trabalho consiste em uma coletnea de informaes sobre
Ferrovias abrangendo, principalmente, tpicos relacionados Via Frrea
propriamente dita e ao Material Rodante Ferrovirio, precedidos em sua
exposio, pela conceituao e por um rpido Histrico do Modal
Ferrovirio, para melhor entendimento de sua insero no atual sistema
de transporte de cargas e passageiros.
II. BIBLIOGRAFIA
1. BRINA, H. L. (1983) Estradas de Ferro Vol. 1 e 2 Livros
Tcnicos e Cientficos Editora S/A Rio de Janeiro/RJ;
2. TOGNO, F.M. (1968) Ferrocarriles; Representaciones e Servicios
de Ingenieria S.A.; Mxico;
3. SCHECHTEL, R. (1996) Notas de Aulas de Ferrovias
Departamento do Livro Texto Diretrio Acadmico de Engenharia
Civil da Universidade Federal do Paran DLT/DAEP- Curitiba/PR;
4. FURTADO NETO, A. (1999) Notas de Aulas de Ferrovias
Originais do Autor; Curitiba/PR;
5. SEMCHECHEM, R. 1972) Manual do Trabalhador de Via
Permanente; RFFSA-SENAI;
6. DNEF/MT/CFN (1969) Normas Tcnicas para Estradas de Ferro
Brasileiras ; DNEF;
7. HABITZREUTER, R. R. (2000) A Conquista da Serra do Mar;
Editora Pinha; Curitiba/PR.
2
1. INTRODUO
1.1. DEFINIES
Do Pequeno dicionrio da Lngua Portuguesa, extramos:
a) Transportar, vb. tr. Conduzir; levar de um lugar para outro; por em
comunicao; (...); passar de um lugar para outro.
b) Transporte, s.m. Transportao; conduo; veculo de carga; (...);
ato ou efeito de transportar.
c) Veculo, s.m. Qualquer meio de transporte; carro; tudo o que
transmite ou conduz; aquilo que auxilia ou promove; - espacial:
(Astronut.) engenho tripulado ou no que lanado no espao
extraterrestre para misses de diversas naturezas.
d) Ferrovia, s.f. Via frrea; estrada de ferro.
e) Ferrovirio, adj. Relativo ferrovia; empregado em estrada de ferro.
f) Modal, adj. 2 gn. Relativo modalidade; relativo ao modo particular
de execuo de alguma coisa;
Assim, podemos inferir que o transporte, entendido como conduo ou
ato de transportar, exige de modo geral, a utilizao de veculos ou
meios de transporte, para sua consecuo. Mas, os veculos, para bem
cumprirem suas funes devem deslocar-se sobre suportes fsicos, em
ambiente terrestre, hdrico, areo e mesmo no vcuo extraterrestre,
atravs de rotas pr-estabelecidas, isto , as vias de transporte. Assim
sendo, podemos tambm dizer que a cada um destes diferentes
ambientes corresponde um modo particular de execuo do transporte,
isto , um diferente modal de transporte. Em ambiente terrestre, nos
dias atuais, prevalecem os modais rodovirio e ferrovirio sobre o
tubovirio, por exemplo.
1.2. CONCEITUAO COMPARATIVA ENTRE OS PRINCIPAIS
MODAIS TERRESTRES
Como se sabe, o transporte de cargas e passageiros entre localidades
necessrio para a atividade econmica e pode ser efetuado por
ambiente terrestre, hdrico, areo e at extraterrestre.
normal traarmos um paralelo entre as funes especficas das
rodovias e das ferrovias, entendidas neste contexto, como suportes
fsicos dos modais rodovirio e ferrovirio, no transporte de cargas e
passageiros. Entretanto, a semelhana entre estes dois modais, vai
3
apenas at o ponto em que ambos so capazes de prestar servios
semelhantes e que de sua utilizao obtm-se resultados at certo
ponto idnticos, apenas que com menor ou maior economia de recursos.
A diferena fundamental entre os dois principais modais de transporte
terrestre, que:
- no modal rodovirio, o suporte fsico que lhe serve como apoio, isto ,
a RODOVIA, um bem pblico ou privado, de utilizao extensiva,
qual o usurio pode ter acesso individual ou coletivo, de forma
irrestrita, desde que atenda a determinados regulamentos e leis
gerais, atinentes ao trnsito de veculos;
- no modal ferrovirio, o suporte fsico, isto , a FERROVIA, pelo
contrrio, apesar de poder ser tambm, um bem pblico ou privado,
de utilizao intensiva, gerido por empresas especializadas,
com direito exclusivo de explorao, obtido por concesso do
poder pblico e cujo funcionamento assemelha-se ao de uma
prestadora de servios de transporte especializado, em escala
industrial.
Assim sendo, a Via Frrea ou Ferrovia apenas uma das partes que
compe o patrimnio de uma empresa prestadora de servios de
transporte ferrovirio de cargas e passageiros.
O patrimnio destas empresas ferrovirias constitudo, basicamente,
por:
- Capital Social;
- Patrimnio Imobilirio - (edificaes administrativas, estaes, faixa
de domnio da via, oficinas, residncias, etc.);
- Patrimnio Mobilirio Fsico - (mveis e equipamentos de escritrio,
equipamentos de controle de trfego, etc.);
- Patrimnio Mobilirio Financeiro (direitos e patrimnio acionrio
aplicado em outras empresas de capital aberto, etc.);
- Via Frrea (infra-estrutura e superestrutura);
- Material Rodante (locomotivas, vages, etc.);
- Recursos Humanos (pessoal de nvel superior, mdio e bsico).
Neste manual didtico, ocupar-nos-emos da anlise de apenas duas
destas partes, ou seja:
- Via Frrea;
- Material Rodante.
4
2. A FERROVIA E SUA INSERO NO MODERNO SISTEMA DE
TRANSPORTES DO BRASIL
2.1. HISTRIA DA FERROVIA
Conforme nos mostra a Enciclopdia Delta Universal (1985), diversos
pases europeus serviam-se de vias sobre trilhos desde o incio do
sculo XVI. Essas vias destinavam-se, principalmente, ao transporte de
carvo e minrios extrados de minas subterrneas. As vias de
minerao eram constitudas por dois trilhos de madeira que
penetravam at o interior das minas. Homens ou animais de trao
movimentavam os vages equipados com rodas dotadas de frisos, ao
longo dos trilhos. Os vages, logicamente, moviam-se com mais
facilidade sobre estes trilhos do que sobre o cho irregular e mido das
minas.
No incio do sculo XVII, as companhias mineradoras de carvo da
Inglaterra iniciaram a construo de pequenas vias de trilhos de
madeira, para transportar carvo na superfcie e no subsolo. Cavalos
eram utilizados para tracionar uma certa quantidade de vages sobre
estes trilhos. Em meados do sculo XVIII, os mineiros comearam a
revestir os trilhos de madeira com tiras de ferro para torn-los mais
resistentes e durveis. Mais ou menos na mesma poca, os ferreiros
ingleses deram incio a fabricao de trilhos, inteiramente, de ferro. Os
trilhos eram munidos de bordas para conduzirem os vages com rodas
comuns de carroes. No final do sculo XVIII, os ferreiros estavam
produzindo trilhos, inteiramente, de ferro, sem bordas que eram
utilizados para conduzir vages dotados de rodas com bordas
ressaltadas.
Neste perodo os inventores j desenvolviam a mquina a vapor (James
Watt, 1770). No incio do sculo XIX, o inventor ingls Richard
Trevithick, construiu a primeira mquina capaz de aproveitar altas
presses de vapor, para girar um eixo trator. Montou-a sobre um chassis
de quatro rodas, projetado para deslocar-se sobre trilhos.
Em 1804, Trevithick fez uma experincia com este veculo, puxando um
vago carregado com 9 toneladas de carvo, por uma via de trilhos com
15 km de extenso. Esta foi a primeira locomotiva bem sucedida do
mundo. Outros inventores logo seguiram seu exemplo, visando
desenvolver e aperfeioar aquela ideia.
5
Fig. 1 Primeira locomotiva a vapor (Fonte: WWW.pt.sikipedia.org/wiki/trem)
George Stephenson, um construtor ingls de locomotivas a vapor,
construiu a primeira ferrovia pblica do mundo, ligando Stockton a
Darligton e que foi inaugurada em 1825. Cobria uma distncia de 32 km.
Tornou-se a primeira ferrovia, no mundo, a conduzir trens de carga, em
horrios regulares. Um ano antes, em 1824, Stephenson j havia
vencido um concurso de velocidade para locomotivas, patrocinado pela
companhia de transporte ferrovirio Liverpool and Manchester Railway,
com uma locomotiva chamada The Rocket.
Foi Stephenson quem primeiro identificou a necessidade de que as
ferrovias de um pas possussem uma bitola padronizada. A bitola
adotada nas ferrovias por ele construdas (1,435 m), correspondia ao
comprimento dos eixos das diligncias hipotracionadas existentes na
poca (4 8 ), no havendo, ao que se saiba, outra justificativa
tcnica, para sua adoo. Em 1907, na Conferncia Internacional de
Berna (Suia), esta bitola foi consagrada como Bitola Internacional e
hoje adotada na maioria das ferrovias europeias, norte-americanas e
canadenses.
A construo de ferrovias difundiu-se rapidamente da Inglaterra, para
todo o continente europeu. Por volta de 1870, a espinha dorsal da atual
rede ferroviria da Europa, j havia sido construda. As linhas principais
e auxiliares adicionais foram construdas durante o final do sculo XIX e
princpio do sculo XX. Algumas destas linhas exigiram a construo de
tneis atravs dos Alpes, para ligarem a Frana Itlia. O Tnel
Simplon que une a Itlia Suia foi concludo em 1906 e com 20 km de
extenso, ainda um dos maiores tneis ferrovirios do mundo.
Recentemente, em 2010, foi concluda a escavao do Tnel So
Gotardo, tambm nos Alpes, com 57 km de extenso, ligando Erstfeld e
6
Bodio, na Suia. Este tnel supera o Tnel de Seikan, com 54 km que
liga as cidades japonesas de Hokaido e Honshu sendo 7 km mais longo
que o Eurotnel, no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a Frana. O
Tnel So Gotardo foi iniciado em 1998 e entrar em operao em
2017, consumindo ao final, a quantia de 7,5 bilhes de Euros. Est
prevista, em 2020, a passagem de 8 milhes de passageiros e 40
milhes de toneladas de carga, por este tnel. As rotas transalpinas so
compostas ainda, por um tnel de 34,6 km a leste, o de Ltchberg,
concludo em 2007, entre Frutigen e Raron e outro ao sul, com 15,4 km,
entre Vigana e Vezia que dever ficar pronto em 2019.
interessante lembrar que no Brasil, o Tnel da Mantiqueira, na
Ferrovia do Ao, trecho Jeceaba Itutinga Volta Redonda, no
Municpio de Bom Jardim de Minas, ao sul de Minas Gerais, com 8.645
m, o maior tnel da Ferrovia do Ao e da Amrica Latina.
No final do sculo XIX, Frana e Alemanha construram ferrovias em
suas colnias africanas e asiticas. A Inglaterra, tambm, promoveu a
construo de quase 40.200 km de linhas frreas na ndia, no final do
sculo XIX. A Rssia, que mais tarde, por algum tempo, fez parte da
extinta Unio Sovitica, iniciou em 1891, a construo dos 9.000 km de
linhas da Ferrovia Transiberiana, concluda em 1916. A Transiberiana,
ainda hoje, a linha frrea contnua, mais extensa do mundo. A
Austrlia deu incio aos trabalhos de construo de uma ferrovia atravs
das plancies do sul do pas, em 1912. A linha, concluda em 1917,
estendeu-se por 1.783 km, ligando Port Pirie, na Austrlia do Sul, a
Kalgoorlie, na Austrlia Ocidental.
Gradativamente, os engenheiros foram aumentando a potncia e a
velocidade das locomotivas a vapor. No final do sculo XIX, muitos trens
j desenvolviam, com facilidade, 80 a 100 km/h. Neste perodo, j eram
projetadas locomotivas eltricas. Em 1895, a Baltimore & Ohio Railroad,
colocou em operao um trem eltrico, atravs de um tnel de 5.600 m,
por baixo da cidade de Baltimore. Esta foi ento a primeira empresa
ferroviria a empregar a locomotiva eltrica em servios ferrovirios.
Muitas ferrovias europeias eletrificaram suas linhas principais, a partir do
sculo XX.
Depois da metade do sculo XIX, as Ferrovias foram introduzindo o uso
do ao na fabricao de trilhos e vages. Os trilhos de ao, se
descobriu, tinham durabilidade 20 vezes superior dos trilhos de ferro e
assim, foram aos poucos, substituindo estes ltimos. Os primeiros
vages de carga ou de passageiros tinham estruturas frgeis,
7
basicamente, de madeira. Os vages de passageiros, fabricados,
inteiramente, de ao, entraram em servio regular, em 1907 e logo
substituram a maioria dos carros de madeira. Os primeiros vages de
carga, totalmente, de ao entraram em circulao mais cedo em 1896.
No final da dcada de 1920, eles j haviam substitudo, quase que
totalmente, os vages de madeira.
As primeiras ferrovias apresentavam ndices de acidentes,
extremamente, elevados. Em meados do sculo XIX, porm,
importantes inovaes melhoram o grau de segurana das estradas de
ferro. Em 1869, o inventor norte-americano George Westighouse,
patenteou o Freio a Ar. Com estes freios, os trens poderiam reduzir a
velocidade ou parar, muito mais rapidamente, do que com os freios
manuais, at ento utilizados. Em 1873, outro inventor norte-americano,
Ely Janney, patenteou um Dispositivo de Engate de Vages,
automtico. Antes da inveno de Janney, a operao de engate era
realizada manualmente. Muitos empregados, encarregados da operao
dos freios e chaves perderam dedos e mos, enquanto engatavam
vages.
A construo de linhas de telgrafos eltricos, na metade do sculo XIX,
tornou possvel o Sistema de Sinalizao por Zona. Os sistemas
manuais tornaram-se comuns antes do final do sculo. Em 1872, o
engenheiro norte-americano William Robinson, patenteou o Circuito de
Linha, usado em sistemas de sinalizao automticos. Os circuitos de
linha, porm s foram, amplamente, empregados depois de 1900.
Enquanto isso, um nmero crescente de pessoas viajava de trem. As
prprias ferrovias procuravam atrair os passageiros. Em 1867, um
inventor e homem de negcios norte-americano, George Pullman,
comeou a fabricar um Vago Dormitrio que inventara no final da
dcada de 1850. Outros vages dormitrio j se encontravam em uso
antes do de Pullman entrar em servio, mas este obteve uma aceitao
muito maior que a dos demais. Por volta de 1875, cerca de 700 vages
dormitrios Pullman, circulavam nos Estados Unidos da Amrica e em
outros pases. As ferrovias introduziram, tambm, luxuosos vages
restaurante e vages salo, para atendimento aos viajantes.
A medida que distncias maiores passaram a ser cobertas por redes de
ferrovias e a competio com outros meios de transporte (hoje,
chamados de modais), tornou-se mais acirrada, recrudesceu a
necessidade de conseguirem-se maiores velocidades para as
composies. Assim foi que comearam a ser desenvolvidos projetos de
8
linhas e composies capazes de superar os 200 km/h, em meados do
sculo XX. Hoje, existem exemplos de Trens de Alta Velocidade em,
praticamente, todos os pases que usam, extensivamente, o transporte
ferrovirio:
- ICE (Alemanha): 250 km/h;
- TGV - Train a Grande Vitesse (Frana): 320 km/h;
- THALIS - Trem Europeu (Internacional): 250 km/h;
- EUROSTAR (Reino Unido): 300 km/h;
- AVE Alta Velocidade Espanhol (Espanha): 300 km/h;
- TALGO (Espanha): 220 km/h;
- SHINKANSEN Trem Bala (Japo): > 300 km/h;
- MAGLEV Transrapid de Xangai (China): 430 km/h.
2.2. A FERROVIA NO BRASIL
No Brasil, a primeira tentativa de implantao de uma ferrovia deu-se
em 1835, quando o Regente Diogo Antnio Feij, promulgou uma Lei,
concedendo favores a quem quisesse construir e explorar uma estrada
de ferro ligando o Rio de Janeiro, capital do Imprio, s capitais das
Provncias de Minas Gerais, So Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. No
apareceu, na ocasio, interessado em to arriscada empreitada.
Em 1836, a Provncia de So Paulo (que nesta poca, ainda inclua a
Comarca de Curitiba), estabeleceu um plano de viao, concedendo o
direito de construo e explorao a uma companhia que quisesse
construir ligaes ferrovirias entre suas principais cidades (Sorocaba,
Santos, Curitiba). Foi, tambm, frustrada esta tentativa.
Em 1840, o mdico ingls Thomas Cockrane, obteve concesso para
fazer a ligao entre Rio de Janeiro e So Paulo, com vrios privilgios.
Malogrou tambm esta tentativa, porquanto, os capitalistas ingleses
convidados a participar do empreendimento, no se dispuseram a
investir nesta empresa de xito duvidoso.
Em 1852, Irineu Evangelista de Souza, depois, Baro de Mau, quase
que apenas por sua conta e risco, construiu a ligao entre o Porto de
Mau (interior da Baa da Guanabara) e a Raiz da Serra (Petrpolis).
Assim, em 1854, foi inaugurada a primeira Estrada de Ferro do Brasil,
com 14,5 km de extenso (em bitola de 1,63 m) que foram percorridos
em 23 minutos, a uma velocidade mdia de 38 km/h, por uma
composio tracionada pela locomotiva A Baroneza, nome este, dado
em homenagem esposa do, agora, Baro de Mau.
9
Aps a inaugurao da Estrada de Ferro Mau, sucederam-se as
seguintes ferrovias, todas em bitola de 1,60 m:
Ferrovia Data da Inaugurao
Recife ao So Francisco 08/02/1858
D. Pedro II 29/03/1858
Bahia ao So Francisco 28/06/1860
Santos a Jundia 16/02/1867
Companhia Paulista 11/08/1872
Assim, vemos que a segunda ferrovia inaugurada no Brasil foi a Recife -
So Francisco, no dia 8 de fevereiro de 1858, que mesmo no tendo
atingido seu objetivo o Rio So Francisco, desde Recife contribuiu
para criar e desenvolver as cidades por onde passava e constituiu o
primeiro tronco da futura Great Western Railway.
A Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II foi inaugurada em 29 de
maro de 1858, com trecho inicial de 47,21 km, da Estao da Corte a
Queimados, no Rio de Janeiro. Esta ferrovia se constituiu em uma das
mais importantes obras da engenharia ferroviria do Pas, na
ultrapassagem dos 412 metros de altura da Serra do Mar, com a
realizao de colossais cortes, aterros e perfuraes de tneis, entre os
quais o Tnel Grande com 2.236 m de extenso, na poca o maior do
Brasil, aberto em 1864.
A Estrada de Ferro D. Pedro II foi organizada em 1855, tambm, pelo
prprio Baro de Mau e deu origem em 1889, Estrada de Ferro
Central do Brasil.
Um dos fatos mais importantes na histria do desenvolvimento
ferrovirio no Brasil foi a ligao Rio So Paulo, unindo as duas mais
importantes cidades do pas, no dia 8 de julho de 1877, quando os
trilhos da Estrada de Ferro So Paulo (inaugurada em 1867), uniram-se
com os da E. F. D. Pedro II.
At o final do sculo XIX, outras concesses foram outorgadas, agora
na bitola mtrica, entre elas, destacando-se as seguintes:
Ferrovia Data da Inaugurao
Companhia Mogiana 03/05/1875
Companhia Sorocabana 10/07/1875
Central da Bahia 02/02/1876
10
Santo Amaro 02/12/1880
Porto Alegre a Novo Hamburgo 14/04/1884
Dona Tereza Cristina 04/09/1884
Corcovado 09/10/1884
Paranagu a Curitiba 02/02/1885
2.3. A ESTRADA DE FERRO NO PARAN
2.3.1. Os Caminhos Primitivos
Desde muito antes da emancipao poltica da Provncia do Paran, em
1853, a preocupao com a abertura de caminhos era preponderante,
entre os curitibanos.
Assim era que vrios caminhos foram abertos pelos habitantes da
regio, na procura de estabelecer o contato entre as cidades do litoral e
as do planalto.
O Economista Rubens R. Habitzreuter em seu livro A Conquista da
Serra do Mar, de 2000, mostra que o ancestral e quase mtico, caminho
do Peabiru era trilhado, j, pelos antigos habitantes das terras de
Pindorama e ligava atravs da regio da atual Palmas/PR a regio do
litoral sul do Brasil no Oceano Atlntico (Santo Amaro, So Vicente e
Canania), s montanhas do Peru (riqussimas em ouro e prata,
segundo lendas e histrias, trazidas por aventureiros e exploradores da
poca) e tambm ao Oceano Pacfico. Mas, alm deste, outros
caminhos e trilhas foram descobertos e abertos, com grandes
sacrifcios, pela ento rarefeita populao da regio.
Entre os mais importantes, so lembrados os trs caminhos da Serra do
Mar:
- O Caminho do Arraial, o mais antigo que teve sua picada aberta por
faiscadores e mineradores, segundo alguns relatos, entre 1586 e
1590 existindo, portanto, a mais de 400 anos. Seu nome teria surgido
em razo da existncia do Arraial Grande, dos mineradores que a
partir de uma trilha, abriram o caminho para facilitar seu trnsito entre
a serra e o litoral. Era o caminho preferido das populaes da Vila do
Prncipe (Lapa) e So Jos dos Pinhais para alcanarem as cidades
do litoral, chegando a Morretes, aps a transposio da Serra do Mar,
em um pequeno porto de rio chamado Porto do Padre Veiga, s
margens do Rio do Pinto, nas cercanias do vilarejo.
11
- O Caminho da Graciosa foi aberto a partir de uma trilha primitiva
utilizada pelos ndios, na ligao entre o litoral e o planalto. Relatos
de historiadores do conta que esta trilha foi tambm, descoberta por
faiscadores e mineradores de ouro que passaram a dela se utilizar
para subir a serra e chegar ao planalto. Por ser mais longo que os
outros dois caminhos existentes foi, praticamente, abandonado pelos
viajantes apesar das muitas tentativas de melhorias, feitas para obter-
se um traado que facilitasse o trnsito de muares com carga. Em
1721, o Ouvidor Pardinho em um de seus famosos Provimentos,
determinou melhorias naquela trilha, para permitir o trnsito
permanente de comboios de animais de carga. A abertura definitiva
deste caminho foi ordenada apenas em 1807 pelo Governador Geral
da ento Capitania de So Paulo, o General Antnio Jos da
Fonseca e Horta que obrigou as populaes de Morretes e Antonina
a contriburem com recursos em dinheiro e trabalho braal, na
execuo da obra. Em 1820, novos melhoramentos foram ordenados
por D. Joo VI, atendendo a reclamos das populaes das Vilas de
Paranagu e Curitiba. Em 1853, no dia seguinte a sua posse como
primeiro presidente da recm criada Provncia do Paran, Zacarias
Ges de Vasconcelos determinou o incio dos estudos para melhoria
das ligaes entre o litoral e o planalto, atravs da Serra do Mar, pelo
Engenheiro Militar Henrique Beaurepaire Rohan, o qual concluiu que
entre os trs caminhos existentes, seria o da Graciosa aquele que
melhor se prestaria ao fim pretendido, apesar de que segundo ele
no poderia ser utilizado, como estava, no trecho da serra, por
apresentar rampas, extremamente, ngremes na subida,
impossibilitando o trfego de carros, ao que props um novo traado
para o mesmo. Em 12 de agosto de 1854, atravs da Lei Imperial n
9, D. Pedro II autorizou ao Governo da Provncia o incio das obras
da Estrada da Graciosa. Esta estrada foi entregue ao trfego, apenas
no incio de 1873, sendo a segunda estrada calada do Pas e ficou
sendo, por mais de 100 anos a nica ligao carrovel entre o litoral
e o planalto, no Paran. Romrio Martins registra em seu livro
Histria do Paran que os trabalhos na Graciosa foram conduzidos,
sucessivamente, pelos engenheiros: Henrique Beaurepaire Rohan,
Saturnino Francisco de Freitas Villalva, Marine Chandler, Antonio
Pereira Rebouas Filho, Francisco Antonio Monteiro Tourinho e pelos
ajudantes dos dois ltimos, engenheiros Luis Pereira Dias, Gottlieb
Wieland, Maurcio Schwartz, Luis Azambuja Parigot e Roberto
Ziempsen. interessante comentar que enquanto administrava esta
obra, Antonio Pereira Rebouas Filho, auxiliado por seu irmo Andr
Rebouas, vislumbraram a possibilidade de construir uma estrada de
ferro ligando Antonina a Curitiba. Consta que mais tarde, a ferrovia foi
12
construda, no trecho da serra, sobre o traado por eles,
originalmente, proposto, atravs da garganta do Itupava.
- O Caminho do Itupava que foi aberto, por volta de 1625, nos mais
remotos tempos do Brasil Colonial, foi o mais importante caminho
para o trnsito de comerciantes e aventureiros, entre o planalto e o
litoral. Segundo conta o historiador Vieira dos Santos sua primitiva
trilha teria sido aberta por um caador em perseguio a uma anta
desde a Borda do Campo at a regio de Porto de Cima sendo
depois, cada vez mais procurada por caadores, aventureiros e
faiscadores de ouro. Alm deste nome, j foi chamado de: Caminho
Real; Caminho da Serra; Caminho de Morretes; Caminho de Coritiba;
Caminho dos Jesutas; etc. Eram pssimas as suas condies de
trfego, mas tinha a grande vantagem de ser o percurso mais curto
entre os campos de Curitiba e o litoral. Foi por isso o Itupava, por
mais de 200 anos, o caminho preferido dos viajantes. Se o destino
fosse Morretes ou Porto de Cima, o Itupava tomava apenas dois dias
de caminhada, enquanto que pelo do Arraial levava-se trs dias e
pelo da Graciosa, quatro. Em 1772, quase 150 anos depois da
abertura de sua trilha primitiva, que recebeu o caminho do Itupava
seus primeiros melhoramentos, executados por Afonso Botelho de
Sampaio e Souza, premido pela necessidade que tinha de transportar
canhes e outros equipamentos pesados, para serem utilizados em
suas Expedies aos campos de Guarapuava.
2.3.2. A Estrada de Ferro
Em 1871 - Primeira concesso de estradas de ferro, no Paran, feita a
Antonio Pereira Rebouas Filho, Francisco Antonio Tourinho e Maurcio
Schwartz. Seria a Estrada de Ferro Dona Isabel, partindo de Antonina,
passando por Morretes, seguindo at Curitiba. No chegou a ter sua
construo iniciada, por falta de financiamento. Em 1874, falece Antonio
Rebouas (de maleita), em So Paulo. Neste mesmo ano os direitos de
construo desta estrada de ferro, foram transferidos para o Baro de
Mau.
Em 1872 Segunda concesso de estradas de ferro, no Paran, por Lei
Provincial n 306 e Decreto Imperial n 5.053, a Pedro Aloys Scherer,
Jos Maria da Silva Lemos Junior e Jos Gonalves Pcego Junior, de
um trecho de estrada de ferro ligando Paranagu a Morretes. Este
Trecho teve sua construo iniciada em 02 de dezembro de 1873,
constituindo-se ento na primeira Estrada de Ferro a ter sua construo
13
iniciada no Paran. Foi paralisada poucos meses depois, por falta de
financiamento.
Em 1875 Decreto Imperial n 5.912, determinou que o Ponto Inicial da
Ferrovia ligando Curitiba ao Litoral, fosse o Porto D. Pedro II, em
Paranagu.
Em 1879 - Decreto Imperial n 7.420, autoriza a transferncia dos
direitos de construo da ferrovia empresa francesa, Companhie
General de Chemins de Fer Brsiliens, associada construtora Socyet
Anomnyme de Travaux Dyle e Bacalan, com sede em Louvain/Blgica.
Esta empresa foi que contratou o pessoal tcnico e os engenheiros para
a obra. O primeiro engenheiro a dirigir a obra, a partir de 20 de janeiro
de 1880, foi o Comendador Antonio Ferrucci, de 50 anos, cuja
experincia anterior inclua a construo de diversas ferrovias italianas e
entre elas o trecho ferrovirio Bologna-Ancona-Roma, a ferrovia Port
Said-Suez e a participao na construo do prprio Canal de Suez, no
Egito. Entre os diversos engenheiros, ajudantes de engenheiros,
agrimensores, desenhistas, arquitetos, feitores e trabalhadores
especialistas que com ele vieram da Europa, destacou-se o Mestre de
Obras Antonio Vialle, de 32 anos que participou da construo de,
praticamente, todas as grandes obras executadas na Serra do Mar.
Em 1880 A 02 de fevereiro, foi iniciada a construo. A 05 de junho,
teve lugar o lanamento da Pedra Fundamental da obra, pelo Imperador
D. Pedro II, em visita que fez Provncia do Paran.
Em 17 de novembro de 1883, foi inaugurado para trfego regular, o
trecho Paranagu Morretes.
Em 1885 A 02 de fevereiro, inaugurao da Ferrovia, com a chegada
da primeira composio ferroviria Estao de Curitiba.
Esta ferrovia tem 110 km de comprimento, 420 obras de arte, incluindo
13 tneis e 30 pontes, sendo 20 delas, no trecho entre Paranagu e a
Serra do Mar e ainda, vrios viadutos, estando o ponto mais alto da
linha a 955 m acima do nvel do mar. A ponte sobre o Rio So Joo, a
mais alta, com 55 m de altura acima do leito do rio. O maior viaduto o
Viaduto do Carvalho que tem 84 m de comprimento, com 6 vos de 12 e
16 m, apoiados em 5 pilares de alvenaria de pedra, precisou de 3.253
m
3
de alvenaria e 442 t de ao, para sua construo e foi executado por
empreitada pela empresa do engenheiro portugus Joaquim Condessa.
14
2.4. OUTRAS FERROVIAS REGIONAIS
Em 1884, concluiu-se a Estrada de Ferro dona Tereza Cristina, pioneira
na Provncia de Santa Catarina, com extenso de 112 km, originria de
uma concesso obtida pelo Visconde de Barbacena, com objetivo de
trazer carvo de pedra das minas para o Porto de Imbituba.
No Rio Grande do Sul, construiu-se a primeira via frrea, por Lei
Provincial de 1867 que autorizava o Governo a abrir concorrncia para a
concesso de uma estrada de ferro entre Porto Alegre e So Leopoldo
ou Novo Hamburgo. A empresa concessionria foi autorizada a
funcionar em 23 de novembro de 1871, como Companhia Limitada
Estradas de Ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Em 14 de abril de
1874 foi inaugurada a seo de Porto Alegre a So Leopoldo, com
extenso de 33,75 km.
No nordeste do Pas, salientam-se dois grandes empreendimentos
ferrovirios: a construo as estradas de ferro Recife ao So Francisco,
e Salvador ao So Francisco, posteriormente interligadas e que
passaram a integrar a malha ferroviria desta regio, tendo como uma
de suas finalidades o escoamento da produo da indstria canavieira e
dos produtos manufaturados importados.
Em 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado de Petrpolis, entre
o Brasil e a Bolvia, pelo qual coube ao Brasil a obrigao de construir a
Estrada de Ferro Madeira Mamor para compensar a cesso, pela
Bolvia, da rea do atual estado do Acre.
A funo da ferrovia era permitir o transporte em trecho terrestre
paralelo s corredeiras do Rio Madeira, as quais impediam a
continuidade da navegao utilizada para escoar o ltex de borracha,
produzido na regio norte da Bolvia. O traado da ferrovia, com 344 km
de linha, concluda em 1912, ligava Porto Velho a Guajar-Mirim,
margeando os rios Madeira e Mamor. Sua construo foi uma epopeia
face s dificuldades encontradas na selva, pelos tcnicos e
trabalhadores, milhares deles, dizimados pela malria e febre amarela.
Pode-se destacar tambm, a construo da Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil, iniciada em 16 de julho de 1905, que atingiu Porto Esperana
em 1914. Partindo de Bauru, esta Ferrovia atravessava os Estados de
So Paulo e o atual Mato Grosso do Sul, chegando a Corumb, na
fronteira com a Bolvia, com a construo da Ponte Baro do Rio Branco
15
(hoje, Ponte Eurico Gaspar Dutra), com 2.000 metros de extenso,
sobre o Rio Paraguai, em 1947.
2.5. A EVOLUO DAS CONSTRUES FERROVIRIAS NO
BRASIL
A evoluo das construes ferrovirias no Brasil experimentou trs
fases distintas:
1 Fase Anterior 2 Grande Guerra, caracterizada por ter a maioria
de suas linhas construdas e exploradas por concesses a empresas
estrangeiras e tambm, por serem as construes feitas, manualmente
e com utilizao de galeotas tracionadas por tropas de muares, nos
trabalhos de terraplenagem;
2 Fase Durante a 2 Grande Guerra quando foram introduzidas as
primeiras mquinas de terraplenagem, sendo que os movimentos de
terra mecanizados permitiram a construo de linhas mais adequadas
em termos geomtricos;
3 Fase Aps a 2 Grande Guerra, caracterizada pelo uso
generalizado de mquinas de terraplenagem, introduo da cincia da
Mecnica dos Solos e dos levantamentos aerofotogramtricos, o que
possibilitou a construo de linhas geometricamente mais adequadas e
com plataformas de melhor capacidade de suporte, com melhor opo
de traado e custos mais otimizados.
Geograficamente, verifica-se que seguindo o movimento de
interiorizao, a penetrao ferroviria tambm se deu no sentido leste
para oeste, precisando atravessar regies, altamente, adversas em
termos topogrficos, encontrando como obstculo, em quase todo o
territrio brasileiro (de Santa Catarina ao Esprito Santo), a Serra do Mar
e paralelamente a ela ainda, a Serra da Mantiqueira.
2.5.1. Crescimento das Estradas de Ferro no Brasil
PERODO TOTAL CONSTRUDO ACUMULADO TOTAL
- de 1854 a 1873
498 km 498 km
- de 1874 a 1913
23.485 km 23.983 km
- de 1914 a 1933
8.459 km 32.442 km
- de 1934 a 1943
1.698 km 34.140 km
- de 1944 a 1953
2.248 km 36.388 km
16
OBSERVAES:
- Em 1884, o Pas contava com 6.116 km de ferrovias, alm de 1.650
km em construo. Em dezembro de 1888 existiam 9.200 km em
explorao e 9.000 km em construo ou em estudo.
- Em 1922, ao se celebrar o 1 Centenrio da Independncia do Brasil,
existia no Pas um sistema ferrovirio com, aproximadamente,
29.000 km de extenso, cerca de 2.000 locomotivas a vapor e
30.000 vages em trfego.
- Nota-se que mesmo com a evoluo da tecnologia de construo o
crescimento da malha ferroviria no foi expressivo, mesmo a partir
da 2 Grande Guerra. Isto em grande parte deveu-se ao incio da
concorrncia feita pela Rodovia, para cujo sistema, foram dirigidos os
recursos governamentais, destinados infra-estrutura viria.
Governar, abrir estradas dizia o Presidente Washington Luis,
um poltico da chamada Repblica Velha, perodo anterior ao
Estado Novo (1930), de Getlio Vargas.
- Em 1930, introduzida a trao eltrica no Brasil, para substituir, em
determinados trechos, a trao a vapor;
- Em 1939, iniciou-se a substituio da trao a vapor pela diesel-
eltrica, processo esse interrompido durante a Segunda Guerra
Mundial e intensificado na dcada de 1950;
- Em 1942, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce que absorveu a
Estrada de Ferro Vitria a Minas (construda a partir de 1903). Esta
ferrovia foi ento modernizada com o objetivo de suportar o trfego
pesado dos trens que transportavam minrio de ferro entre as jazidas
de Itabira, em Minas Gerais e o Porto de Vitria, no Estado do
Esprito Santo
- At meados de 1960, a rede ferroviria brasileira chegou a atingir a
marca de 37.200 km, de linhas, tendo ento ficado estacionada nisso,
durante muitos anos. Posteriormente, aps a desativao de vrios
trechos considerados anti-econmicos, chegou a ficar reduzida a
30.550 km, em 1979, caindo ento o Brasil para o 4 lugar, em
extenso ferroviria, nas Amricas e 2 lugar na Amrica do Sul
(atrs da Argentina, com perto de 40.000 km de linhas instaladas).
17
2.5.2. Panorama Ferrovirio nas Amricas
- At 1999, o panorama ferrovirio nas Amricas era,
aproximadamente, o seguinte:
PAIS EXTENSO DE FERROVIAS
1. Estados Unidos da Amrica 240.000 km
2. Canad 78.000 km
3. Argentina 32.694 km
4. Brasil 30.089 km
5. Mxico 26.613 km
6. Chile 8.384 km
2.5.3. Sistema Ferrovirio Nacional
Como citado anteriormente, as primeiras iniciativas nacionais relativas
construo de ferrovias remontam ao ano de 1828, quando o governo
Imperial autorizou por Carta de Lei a construo e explorao de
estradas em geral, tendo como propsito, a interligao das diversas
regies do Pas.
Em 26 de julho de 1852, o Governo Imperial promulgou a Lei n 641, na
qual vantagens do tipo isenes e garantia de juros sobre o capital
investido, foram oferecidas s empresas nacionais ou estrangeiras que
se interessassem em construir e explorar estradas de ferro em qualquer
parte do territrio nacional.
A poltica de incentivos construo de ferrovias, adotada ento pelo
Governo Imperial surtiu de imediato os efeitos desejados,
desencadeando um saudvel surto de empreendimentos em,
praticamente, todas as regies do Pas, a qual trouxe algumas
consequncias ao sistema ferrovirio nacional que perduram at os
nossos dias. Entre elas, podemos citar:
- Grande diversidade de bitolas que vem dificultando a integrao
operacional entre as diversas ferrovias;
- Traados de estradas de ferro, excessivamente sinuosos e
extensos;
- Estradas de ferro distribudas pelo Pas, de forma dispersa e
isolada.
18
Esta fase das empresas ferrovirias privadas e independentes entre si
perdurou at o final da dcada de 1930, quando o Governo ditatorial de
Getlio Vargas iniciou um processo de saneamento e reorganizao das
estradas de ferro e promoo de investimentos, pela encampao de
empresas estrangeiras e nacionais, inclusive estaduais que se
encontravam em m situao financeira. Assim, foram incorporadas ao
patrimnio da Unio vrias estradas de ferro, cuja administrao ficou a
cargo da Inspetoria Federal de Estradas IFE, rgo do Ministrio de
Viao e Obras Pblicas, encarregado de gerir as ferrovias e rodovias
federais.
Esta Inspetoria deu origem, posteriormente, ao Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem DNER e ao Departamento Nacional de
Estradas de Ferro DNEF, sendo este ltimo, criado pelo decreto Lei n
3.155, de 28 de maro de 1941. O DNEF foi extinto em dezembro de
1974 e suas funes foram transferidas para a Secretaria-Geral do
Ministrio dos Transportes e parte para a Rede Ferroviria Federal S. A.
RFFSA.
A encampao das estradas de ferro pela Unio teve como principais
objetivos: evitar a brusca interrupo do trfego ferrovirio, prevenir o
desemprego, propiciar a melhoria operacional, objetivando a
reorganizao administrativa e a recuperao de linhas e material
rodante.
No incio da dcada de 1950, o Governo Federal, com base em amplos
estudos decidiu pela unificao administrativa das 18 empresas
ferrovirias pertencentes Unio que totalizavam 37.000 km de linhas
espalhadas pelo territrio nacional.
Em 16 de maro de 1957 foi criada pela Lei n 3.115 a sociedade
annima Rede Ferroviria Federal S.A. RFFSA, com a finalidade de
administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o trfego
das estradas de ferro da Unio a ela incorporadas, cujos trilhos
atravessavam todo o pas, servindo as regies Nordeste, Sudeste,
Centro-Oeste e Sul, padronizando os procedimentos e visando eliminar
os grandes dficits que o sistema produzia.
Em 1969, as ferrovias que compunham a RFFSA foram agrupadas em
quatro sistemas regionais:
19
- Sistema Regional Nordeste, com sede em Recife;
- Sistema Regional Centro, Com sede no Rio de Janeiro;
- Sistema Regional Centro-Sul, com sede em So Paulo;
- Sistema Regional Sul, com sede em Porto Alegre.
Em novembro de 1971, pela Lei n 10.410/SP, o governo do Estado de
So Paulo, Seguindo o mesmo critrio, decidiu unificar em uma s
empresa, as cinco estradas de ferro de sua propriedade. Naquela
poca, pertenciam ao Estado de So Paulo a Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Sorocabana, Estradas de Ferro
Araraquara, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Estradas de
Ferro So Paulo-Minas. Em decorrncia desta juno, foi criada a
FEPASA Ferrovia Paulista S.A., para gerir, aproximadamente, 5.000
km de vias frreas.
Na dcada de 1970, dentro do programa de saneamento financeiro com
a erradicao dos ramais antieconmicos, a RFFSA, estava contando
com apenas 24.000 km de linhas e a malha brasileira com 30.500 km.
Assim, em menos de 20 anos nossas ferrovias perderam cerca de 7.000
km de linhas.
O perodo ureo da RFFSA, sem qualquer dvida, foi compreendido
entre os anos de 1975 a 1984, quando foi modernizado, principalmente,
o sistema suburbano do Grande Rio que adquirindo material rodante
japons da mais avanada tecnologia para a poca, chegou a
transportar cerca de 1,5 milhes de passageiros/dia.
Tambm, no segmento de cargas o material rodante, quer de trao,
quer de transporte, foi todo modernizado, com aquisio de mais de
30.000 vages e de aproximadamente 1.800 locomotivas, dos mais
variados modelos.
Neste perodo, a via permanente, as obras de arte e os sistemas de
comunicao e sinalizao, tambm passaram por grandes reformas e
atualizao, retrocedendo apenas a eletrificao das linhas.
Em 1976, foi feita nova reestruturao na empresa federal, sendo
criadas pela RFFSA as Superintendncias Regionais SRs, em nmero
de 10, posteriormente, ampliado para 12, com atividades orientadas e
coordenadas por uma Administrao Geral, sediada no Rio de Janeiro.
Entretanto, j a partir de 1980, os sistemas ferrovirios pertencentes
Rede Ferroviria Federal S.A RFFSA e Ferrovia Paulista S.A.
20
FEPASA comearam a ser afetados de forma dramtica, quando os
investimentos reduziram-se substancialmente, atingindo, na RFFSA em
1989, por exemplo, apenas 19% do valor aplicado na dcada de 1980.
Assim, em 1984, a empresa viu-se impossibilitada de gerar recursos
suficientes cobertura dos servios da dvida contrada. A RFFSA
passou a suportar srio desequilbrio tcnico-operacional, decorrente da
degradao da infra e da superestrutura dos seus principais segmentos
de bitola mtrica e da postergao de manuteno de material rodante
que vieram a ocasionar expressiva perda de mercado para o modal
rodovirio.
Medida de ajustamento institucional foi ento tomada pelo Governo
Federal, com afastamento da RFFSA dos transportes urbanos. O
Decreto n 89.396, de 22/02/1984, constituiu a Companhia Brasileira de
Transporte Urbano CBTU, a partir da extinta ENGEFER, antes
encarregada da construo da Ferrovia do Ao, a qual ficou responsvel
pela prestao daqueles servios. Note-se que estes, na maioria dos
casos, so at hoje, altamente deficitrios.
Impossibilitado de gerar os recursos necessrios para continuar
financiando os investimentos, o Governo Federal colocou em prtica
aes voltadas concesso de servios pblicos de transporte de carga
iniciativa privada.
Foi editada, assim, a Lei n 8.031/90 e suas alteraes posteriores que
instituram o Programa Nacional de Desestatizao PND, sendo a
RFFSA includa no referido Programa, em 10/03/92, por meio do
Decreto n 473/92. Neste processo atuou como gestor o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES que nos termos do
Decreto n 1.024/94, elaborou a forma e as condies gerais para
concesso das malhas da RFFSA.
O processo de desestatizao da RFFSA, foi realizado com base na Lei
n 8.987/95, (Lei das Concesses). Esta lei estabeleceu os direitos e
obrigaes para as partes envolvidas no processo de concesso, por
um perodo de 30 anos, prorrogveis por mais 30, definindo ainda, o
princpio da manuteno do equilbrio econmico e financeiro e os
direitos dos usurios. O processo obedeceu a seguinte cronologia:
Malhas
Regionais
Data do
Leilo
Concessionrias Incio de
Operao
Extenso
(km)
Oeste 05.03.1996 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.1996 1.621
Centro-Leste 14.06.1996 Ferrovia Centro-Atlntica
S.A.
01.09.1996 7.080
21
Sudeste 20.06.1996 MRS Logstica S.A. 01.12.1996 1.674
Tereza
Cristina
26.11.1996 Ferrovia Tereza Cristina
S.A.
01.02.1997 164
Nordeste 18.07.1997 Cia Ferroviria do
Nordeste
01.01.1998 4.238
Sul 13.12.1996 Ferrovia Sul-Atlntico S.A.
atualmente ALL-
Amrica Latina Logstica
S.A.
01.03.1997 6.586
Paulista 10.11.1998 Ferrovia Bandeirantes S.A. 01.01.1999 4.236
Com o leilo da Malha Paulista (antiga FEPASA, incorporada RFFSA
pelo Decreto n 2.502/98, em 18/02/1998), concluiu-se o processo de
desestatizao das malhas da RFFSA.
Em 28/06/1997, o Governo Federal outorgou Companhia Vale do Rio
Doce - CVRD, no processo de sua privatizao, a explorao por 30
anos, prorrogveis por mais 30, da Estrada de Ferro Vitria a Minas e da
Estrada de Ferro Carajs, utilizadas, basicamente, no transporte de
minrio de ferro desta companhia.
Em 07/12/1999, o governo Federal, com base na Resoluo n 12, de
11/11/1999, do Conselho Nacional de Desestatizao e por intermdio
do Decreto n 3.277, dissolve, liquida e extingue a Rede Ferroviria
Federal S.A. RFFSA.
Atualmente, cabe Agncia Nacional de Transportes Terrestres
ANTT, a responsabilidade pela fiscalizao e controle das malhas da
antiga RFFSA e das Estradas de Ferro da Companhia Vale do Rio
Doce, hoje Vale S. A., alm, ainda das seguintes concesses menores:
- Ferrovias Norte do Brasil S.A.- FERRONORTE;
- Estrada de Ferro S. J. Del Rey a Tiradentes;
- Estrada de Ferro Jari;
- Estrada de Ferro Trombetas (E. F. Minerao Rio do Norte);
- Estrada de Ferro Votorantin;
- Estrada de Ferro Paran Oeste S.A.- FERROESTE.
De forma abrangente considerando-se as empresas que se dedicam ao
transporte de cargas e passageiros, por via frrea, o panorama do
sistema ferrovirio brasileiro, atualizado at 2008, era o seguinte:
22
Fig. 2 Sistema Ferrovirio Nacional (Fonte: ANTT-2009)
Operadoras Reguladas pela ANTT Origem Bitola
1,60 1,00 1,435 Mista Total
ALLMO - Amrica Latina Logstica Malha
Oeste (NOVOESTE)
RFFSA - 1.945 - - 1.945
FCA Ferrovia Centro Atlntica RFFSA - 7.910 - 156 8.066
MRS MRS Logstica RFFSA 1.632 - - 42 1.674
FTC Ferrovia Tereza Cristina RFFSA - 164 - - 164
ALLMS Amrica Latina Logstica Malha
Sul
RFFSA - 7.293 - 11 7.304
FERROESTE - Estrada de Ferro Paran-
Oeste
- 248 - - 248
EFVM Estrada de Ferro Vitria a Minas - 905 - - 905
EFC Estrada de Ferro Carajs 892 - - - 892
TNL Transnordestina Logstica (CFN) RFFSA - 4.189 - 18 4.207
ALLMP - Amrica Latina Logstica Malha
Paulista (FERROBAN)
RFFSA 1.463 243 - 283 1.989
ALLMN - Amrica Latina Logstica Malha - 500 - - - 500
23
Norte (FERRONORTE)
VALEC/Sub-concesso: Ferrovia Norte-Sul - 420 - - - 420
Subtotal - 4.907 22.897 - 510 28.314
Demais Operadoras Origem Bitola
1,60 1,00 1,435 Mista Total
CBTU RFFSA 63 149 - - 212
CPTM / Supervia / Trensurb / CENTRAL - 537 75 - - 612
Trombetas / Jari / Votorantim - 88 35 - - 123
Corcovado / Campos do Jordo - - 51 - - 51
E. F. Amap - - - 194 - 194
Metro do Rio de Janeiro - 47 - - - 47
Metro de So Paulo - 62 - - - 62
Metro de Braslia - 42 - - - 42
Subtotal - 839 310 194 - 1.343
TOTAL - 5.746 23.207 194 510 29.657
Observaes:
- O Estado do Paran detm a concesso da FERROESTE;
- As Ferrovias Trombetas, Jari e Votorantin, so industriais e locais;
- A Estrada de Ferro S. J. Del Rey a Tiradentes de cunho turstico, tem
13 km e opera em bitola de 762 mm (bitolinha);
- A CBTU e as Ferrovias Corcovado, Campos do Jordo e TRENSURB
s transportam passageiros;
- So operadoras pblicas: CBTU, CENTRAL, CPTM e TRENSURB. As
demais so operadoras privadas;
- A extenso de linhas eletrificadas de 549 km e so utilizadas no
transporte de passageiros em regies metropolitanas;
- Observa-se que a malha mais densa na regio sul;
- Somente nos estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul,
que o Sistema Ferrovirio chega s fronteiras dos pases limtrofes
(Argentina, Bolvia e Uruguai);
- Em 2008, o Brasil possua 29.670 km de ferrovias em estado
operacional, 2.817 locomotivas e 90.708 vages ferrovirios;
- Em 2008, o sistema transportou 426,5 milhes de toneladas teis de
carga e 1,55 milhes de passageiros/ano, de interior e 7,5 milhes de
passageiros/dia, de subrbio;
24
- Sua participao na matriz do transporte de cargas do pas, tem sido,
historicamente, na mdia de 20%, contra 60%, das rodovias, 15%, das
hidrovias e 5% de outros modais.
2.6. SETORES DE ATUAO DA FERROVIA
Os servios de transporte ferrovirio desenvolvem-se em dois setores
principais:
a) Transporte de passageiros;
b) Transporte de cargas.
Por muito tempo, as ferrovias, praticamente, monopolizaram o setor de
servios de transporte terrestre de cargas e passageiros. Isto durou
enquanto foram as mquinas a vapor, a principal forma de motorizao
dos equipamentos de transporte.
Com o surgimento do motor exploso e a construo das primeiras
estradas de rodagem, a ferrovia passou a sofrer a influncia daqueles
que seriam seus mais fortes concorrentes: o nibus e o caminho.
Nos ltimos anos, verifica-se o aumento de movimentao de
mercadorias e reduo da quantidade de passageiros transportados,
nas ferrovias do Brasil.
2.6.1. Transporte de Passageiros
A causa principal da queda do transporte ferrovirio de passageiros foi a
expanso e melhoria do sistema rodovirio, com a canalizao de
grande quantidade de recursos pblicos dos governos Federal, Estadual
e Municipais, para esta rea de investimento.
O transporte ferrovirio de passageiros pode ser dividido em:
a) Transporte de Passageiros de Interior o transporte de
passageiros longa distncia (e que vem se reduzindo,
gradativamente, nos ltimos anos).
b) Transporte de Passageiros de Subrbio um tipo de transporte
de cunho, marcadamente, social e que encontra sua maior demanda
nas regies metropolitanas do Rio de Janeiro e de So Paulo.
25
Nos pases mais desenvolvidos, o transporte de passageiros por
ferrovias aumenta a cada dia, chegando a concorrer com o avio, em
linhas de longas distncias, pois, considerando-se o tempo de
aeroportos, mais o tempo de voo, em muitos casos, a opo ferroviria
chega a ser a mais vantajosa, porquanto as estaes e terminais
ferrovirios costumam ser mais centrais que os aeroportos.
Entre as concessionrias privadas, oriundas dos sistemas operados pela
RFFSA e Cia Vale do Rio Doce CVRD, apenas as concesses da
EFVM e EFC contemplam o Transporte Regular de passageiros de
longa distncia:
- Alguns nmeros sobre o transporte de passageiros por ferrovias, no
Brasil:
a) Passageiros de Interior
Transporte Regular de Passageiros*
Concessionrias 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EFVM 1,10 1,10 1,10 1,14 1,10 1,08 0,78**
EFC 0,40 0,40 0,40 0,34 0,27 0,33 0,28**
Serra Verde Express 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,10***
TOTAL 1,63 1,63 1,63 1,60 1,50 1,55 1,16
* - Em milhes de passageiros/ano;
**- At outubro de 2009 dados em consolidao;
***- At setembro de 2009 dados em consolidao.
b) Passageiros Urbanos e de Subrbio
MDIA DIRIA P/ DIA TIL N DE PASSAGEIROS /DIA
OPERADORA 1993 2002 2009
CBTU (Natal, Salvador, Macei, Joo
Pessoa, Belo Horizonte e Recife)
312.000
Supervia/RJ 400.000 450.000
CPTM/SP* 450.000 1.940.000
Trensurb/Porto Alegre 300.000
METRO/RJ 350.000 420.000 1.100.000
METRO/SP 2.100.000 2.500.000 3.300.000
METRO/DF 145.000 150.000
(*) Trem Metropolitano
26
(**) Em Curitiba, o sistema rodovirio de transporte coletivo
movimenta, atualmente, 2.400.000 passageiros/dia (Wikipedia).
Apesar de que sejam estes dados incompletos para uma correta
atualizao, parece que se confirma a suposio de que o futuro do
transporte de passageiros, por ferrovias estar ligado, fortemente, s
regies metropolitanas dos grandes centros urbanos, para as quais ser
imprescindvel um eficiente transporte de massas, seja nos
deslocamentos urbanos, seja nas ligaes entre grandes centros
populacionais, onde os transportes rodovirios, j do sinais de terem
atingido seu ponto de saturao.
2.6.2. Transporte de Cargas
No Brasil, a grande vocao das ferrovias, o transporte de cargas com
elevada concentrao, principalmente, granis, produtos siderrgicos e
cargas unitizadas (contineres).
Visando a recuperao econmico-financeira, a ferrovia brasileira
passou a incrementar nos ltimos anos, transportes mais rentveis, em
virtude da escala de volumes transportveis.
So cargas ferrovirias tpicas, atualmente, no Brasil:
- minrio de ferro;
- ao;
- carvo mineral;
- ferro gusa;
- coque;
- escria;
- calcrio;
- derivados de petrleo;
- lcool;
- clnker;
- fosfato;
- bauxita;
- soja;
- trigo ;
- milho;
- adubos;
- produtos txicos;
- forragens;
- acar;
27
- madeira;
- cimento.
Outros tipos de mercadoria, tambm encontram boa aceitao, pela
ferrovia:
- automveis (FIAT/MG);
- caminhes (VOLVO/PR);
- movimentao de contineres.
2.6.2.1. Distribuio do Transporte de Cargas por Via Frrea, no
Brasil (2008)
N Concessionria Carga Transportada (em milhes de tu) %
1. EFVM 133,2 31,23%
2. EFC 103,7 24,31%
3. MRS 119,8 28,09%
4. ALLMS 26,8 6,28%
5. FCA 19,3 4,53%
6. Outras 23,6 5.53%
TOTAL 426,5 100,00%
Obs.: A Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S.A. (EFVM e EFC),
responde por mais da metade do transporte ferrovirio de cargas
(minrios com alto peso especfico).
Caractersticas da produo de transporte ferrovirio das
concessionrias, em 2008:
Concessionrias Clientes Principais Produtos Transportados
ALLMO (NOVOESTE) 24 Minrio de ferro, soja e farelo, acar,
mangans, derivados de petrleo e
lcool e celulose
FCA 262 Soja e farelo, calcrio siderrgico,
minrio de ferro, fosfato, acar, milho
e adubos e fertilizantes
MRS 119 Minrio de ferro, carvo mineral,
produtos siderrgicos, ferro gusa,
cimento, soja
FTC 8 Carvo mineral
ALLMS (ALL) 377 Soja e farelo, acar, derivados de
petrleo e lcool, milho, cimento
FERROESTE 29 Soja e farelo, milho, contineres, trigo
28
EFVM 123 Minrio de ferro, carvo mineral,
coque, produtos siderrgicos,ferro
gusa, cimento, soja
EFC 29 Minrio de ferro, ferro gusa,
mangans, coque, produtos
siderrgicos, celulose
TNL S.A. (CFN) 85 Cimento, derivados de petrleo,
alumnio, calcrio, coque
ALLMP (FERROBAN) 119 Acar, cloreto de potssio, adubo,
calcrio, derivados de petrleo e
lcool
ALLMN
(FERRONORTE)
44 Soja e farelo, milho, leo vegetal,
adubo, combustveis
FNS 7 Soja e farelo, areia, fosfato, cloreto de
potssio
2.6.2.2. Matriz de Transporte de Cargas do Brasil
Ao longo dos ltimos anos, o comportamento da Matriz de Transporte de
Cargas no Brasil pode ser resumido pela seguinte tabela:
DISTRIBUIO DE CARGAS ENTRE OS MODAIS (%)
MODAL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Rodovia 56 60,49 61,1 60,5 61,8 63 61,02 60,4 61,1 60,49
Ferrovia 23 20,86 20,7 20,9 19,5 20 20,8 20,9 20,7 20,86
Hidrovia 17 13,86 14,7 14,10 13,8 13 13,5 13,9 13,6 13,86
Outros 4 4,79 3,5 4,5 4,9 4 4,1 4,8 4,6 4,79
(*) Dados de fonte duvidosa (Gabinete da Presidncia da
Repblica- PAC, 2008).
2.6.3. Anlise Comparativa de Consumo de leo Diesel
2.6.3.1. Equipamento
EQUIPAMENTO
LOCOMOTIVA
DIESEL
CAMINHO (TOCO)
POTNCIA (kW)
970 190
CARGA TIL (t)
500 10
CONSUMO (l / km)
3,5 0,5
29
2.6.3.2. Consumo
MODAL RODOVIRIO FERROVIRIO DIFERENA
DISTNCIA
(km)
TOTAL
LITROS
LITROS
P/ TON.
TOTAL
LITROS
LITROS
P/ TON.
TOTAL
LITROS
LITROS
P/ TON.
100 2.500 5 350 0,7 2.150 4,3
400 10.000 20 1.400 2,8 8.600 17,2
4.000 100.000 200 14.000 28,0 8.600 172,0
Obs.: Quanto maiores as distncias, maior a economia proporcionada
pela ferrovia.
2.6.4. Consumo de leo Diesel no Transporte de Cargas, no Brasil
Os relatrios de balano energtico nacional de 1987 a 2008, permitem
fazer o seguinte quadro comparativo:
CONSUMO DE LEO DIESEL (milhes de t)
MODAL Media 1987/1996 % 2008 %
RODOVIRIO 16,53 95,1 32,71 96,6
FERROVIRIO 0,50 2,9 0,69 2,0
HIDROVIRIO 035 2,0 0,48 1,4
TOTAL 17,38 100,0 33,88 100,0
Observaes:
- Em mdia, 95% do leo diesel utilizado em transportes, no Brasil,
at 1997, era consumido no transporte rodovirio (caminho e
nibus) e este panorama agravou-se, considerando-se os dados de
2008, quando chegou a quase 97%;
- Isto indica uma grave distoro estratgica, o chamado paradoxo
do transporte brasileiro, priorizando o transporte rodovirio,
menos eficiente e mais caro para longas distncias, o que s faz
agravar, ao longo dos anos, o que vem sendo, j a algum tempo,
chamado de Custo Brasil, o qual agrega produo nacional
um custo extra de, aproximadamente, 36 %, se comparada com a
chinesa, por exemplo;
- Com isso temos no Brasil um transporte, relativamente, caro;
- Peso excessivo do item transporte no custo dos produtos
movimentados, no territrio nacional;
30
- Diminuio da competitividade dos produtos brasileiros no
mercado internacional (exportaes);
- Aumento do n de acidentes rodovirios, com prejuzos materiais e
em vidas humanas;
- Desgaste prematuro dos pavimentos rodovirios, com maiores
custos de manuteno.
2.6.5. Anlise de Consumo de Energia em Transportes no Brasil
MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGAS X CONSUMO DE DIESEL
(2008)*
MODAL % CARGA
TRANSP
QUANT.
TRANSP
(MILHES DE
tku)**
% LEO
DIESEL
CONSUMIDO
QUANT. DE
LEO DIESEL
CONSUMIDO
(MILHES DE t)
RODOVIAS 61,1% 485,625 96,6% 32,71
FERROVIAS 20,7% 164,809 2,0% 0,69
HIDROVIAS 13,6% 108,000 1,4% 0,48
OUTROS 4,6% 36,469 --- ---
TOTAIS 100,0% 794,903 100,0% 33,88
- RODOVIAS 32,71/ 485,625 = 0,0674 t leo/tku = 67,4 l de leo por
tku (tonelada quilmetro til);
- FERROVIAS 0,69 / 164,809 = 0,0042 t leo/tku = 4,2 l de leo por
tku (tonelada quilmetro til);
- HIDROVIAS 0,48 / 108,000 = 0,0044 x t leo/tku = 4,4 l de leo por
tku (tonelada quilmetro til);
- TOTAIS - 33,88 / 794,903 = 0,0426 t leo/tku = 42,6 l de leo por
tku (tonelada quilmetro til).
Em resumo: em termos de consumo de energia:
Hidrovia e ferrovia so equivalentes em termos de consumo de
energia, sendo 16,3 x (vezes), mais econmicas que a rodovia.
* nmeros de 2008
** ver glossrio de terminologia bsica nos anexos deste manual.
31
3. A VIA FRREA
3.1. INTRODUO
A Via Frrea ou Ferrovia apenas uma das partes que compe o
patrimnio de uma empresa prestadora de servios de transporte
ferrovirio de cargas e passageiros constituindo-se, em ltima anlise,
no suporte fsico para o modal terrestre ferrovirio.
Assim entendida, a Via Frrea ento formada pela infra-estrutura e
pela superestrutura ferrovirias.
3.2. INFRA-ESTRUTURA FERROVIRIA
A Infra-estrutura Ferroviria composta pelas Obras de
Terraplenagem, Obras de Arte Corrente e Obras de Arte Especiais,
situadas, normalmente, abaixo do greide de terraplenagem.
a) Obras de Terraplenagem
a.1) Cortes: em caixo e em meia encosta;
a.2) Aterros.
b) Obras de Arte Corrente
So assim chamadas por que podem obedecer a projetos
padronizados.
b.1) Superficiais:
b.1.1) Sarjetas;
b.1.2) Valetas: de proteo de crista ou de contorno; laterais
ou de captao (montante) e de derivao (jusante);
b.1.3) Descidas dgua ou rpidos;
b.1.4) Bacias de dissipao;
b.1.5) Bueiros: abertos; fechados (tubulares ou celulares); de
greide;
b.1.6) Pontilhes;
b.2) Profundas
b.2.1) Drenos longitudinais de corte;
b.2.2) Espinhas de peixe;
b.2.3) Colcho drenante; etc.
32
b.3) Sub-horizontais: drenos sub-horizontais de taludes;
c) Obras de Arte Especiais
Devem ser objeto de projetos especficos.
c.1) Pontes, pontilhes e viadutos: com estrutura metlica; em
concreto armado ou protendido;
c.2) Tneis: escavados ou falsos;
c.3) Contenes de talude: muros grelhas; cortinas; etc.;
c.4) Passagens: superiores; inferiores; travessias (linhas de
telecomunicao); condutores de energia em baixa ou alta
tenso; tubulaes de lquidos ou gases;
Observaes:
1) No conjunto, as obras de arte da infra-estrutura ferroviria,
praticamente, no diferem das obras de arte rodovirias.
2) A superfcie final de terraplenagem chama-se leito ou plataforma da
estrada de ferro.
Na construo das primeiras ferrovias, pouca importncia era dada ao
estudo da infra-estrutura, quanto aos materiais (solos), em que eram
feitos os cortes ou com que se construam os aterros.
A partir da metade do sculo XX, que comearam a aparecer na
literatura tcnica, destaques importncia do estudo pormenorizado da
plataforma em termos de: forma, constituio e tenses a que estivesse
a mesma sujeita, em funo das exigncias do trfego. Estes estudos
tiveram lugar, inicialmente, em pases de grande desenvolvimento
ferrovirio, como: Alemanha, Frana, Estados Unidos da Amrica,
Inglaterra e Rssia. Nestes pases, destacaram-se, entre outros, os
engenheiros: J. Einsenmann, Talbot, Schram, Lomas, Timoshenko e R.
Soneville.
Pela tcnica moderna de construo das estradas de ferro, o corpo dos
aterros, at 1,0 m abaixo do greide de terraplenagem, compactado em
camadas, devendo obter-se peso especfico aparente correspondente a
95% de peso especfico obtido no ensaio de laboratrio e nas camadas
finais, correspondentes ao ltimo metro, 100% do peso especfico,
acima referido.
33
3.3. SUPERESTRUTURA FERROVIRIA
A Superestrutura das Vias Frreas constituda pela Plataforma
Ferroviria e pela Via Permanente as quais esto sujeitas ao de
desgaste do meio ambiente (intempries) e das rodas dos veculos.
A Superestrutura construda de modo a poder ser restaurada sempre
que seu desgaste atingir o limite de tolerncia definido pelas normas de
segurana e de comodidade de circulao dos veculos ferrovirios,
podendo mesmo vir a ser substituda em seus principais componentes,
quando assim o exigir a intensidade do trfego ou o aumento de peso do
material rodante.
Os trs elementos principais da Superestrutura e que compe a Via
Permanente so: o Lastro, os Dormentes e os Trilhos. Os trilhos
constituem o apoio e ao mesmo tempo a superfcie de rolamento para
os veculos ferrovirios. Estes trs elementos, citados acima, apiam-se
sobre a Plataforma Ferroviria.
3.3.1. Plataforma Ferroviria
Plataforma Ferroviria ou Coroa do Leito Ferrovirio , em princpio, a
superfcie final resultante da terraplenagem que limita a Infra-estrutura.
considerada como suporte da estrutura da via, da qual recebe, atravs
do lastro, as tenses devidas ao trfego e tambm s cargas das
demais instalaes necessrias operao ferroviria (posteamento,
condutores, cabos, sinalizao, etc.).
Fig. 3 Corte esquemtico da via frrea. (Fonte: Brina)
Basicamente, a plataforma ferroviria constituda por solos naturais ou
tratados (sub-lastro), no caso de cortes ou aterros, ou ento, por
estruturas especiais, no caso de obras de arte. Suas dimenses so
34
definidas pelas Normas e em funo de algumas caractersticas tcnicas
do projeto, a saber:
3.3.1.1. Bitolas
Denomina-se Bitola, distncia entre as faces internas das duas filas
de trilhos, medida a 16 mm, abaixo do plano de rodagem (plano
constitudo pela face superior dos trilhos)
Bitola
16 mm
Fig 4 - Representao esquemtica da Bitola da Via (Fonte: Brina)
Stephenson foi o primeiro construtor de vias frreas que na Inglaterra,
identificou a importncia de padronizar as bitolas ferrovirias em um
pas e adotou o comprimento de 1,435 m (4 8 ), nas primeiras
ferrovias que construiu (Stockton a Darligton e Liverpool a Manchester).
Esta bitola correspondia ao comprimento dos eixos das diligncias
inglesas, construdas na poca (1825). Outras ferrovias, construdas
posteriormente, tambm adotaram a mesma bitola.
Em 1907, a Conferncia Internacional de Berna (Suia), consagrou esta
bitola (1,435 m), como Bitola Internacional, sendo, na atualidade a
mesma utilizada pela grande maioria dos pases, apesar de serem
empregadas, tambm, outras medidas como, por exemplo:
PAS BITOLA
Itlia 1,445 m
Frana 1,440 m
Espanha 1,674 m
Portugal 1,665 m
Argentina 1,676 m
Chile 1,676 m
Rssia 1,523 m
Mesmo nestes pases so, tambm, utilizadas outras bitolas, como a
bitola mtrica ou estreita (1,0 m).
Dormente
Trilho
35
No Brasil, pelo Plano Nacional de Viao, a bitola padro, a de 1,60
m (bitola larga), porm a que predomina a bitola estreita (1,0 m).
Existem, entretanto, outras bitolas, diferentes destas duas, sendo ainda
utilizadas:
BITOLA EXTENSO DE VIAS %
1,60 m 5.746 km 19,4
1,435 m (*) 194 km 0,6
1,0 m 23.207 km 78,2
0,762 m (**)13 km 0,1
MISTA 510 km 1,7
TOTAL (***)29.670 km 100,00
Observaes:
(*) Estrada de Ferro do Amap S/A EFA;
(**) _ Estrada de Ferro S. J. Del Rey a Tiradentes;
(***) Atualizado at 2008, incluindo a FERRONORTE e o Metr de
Braslia.
3.3.1.1.1. Discusso sobre Bitolas
A bitola da via uma caracterstica fundamental, tanto do traado, como
da explorao econmica da ferrovia. S um profundo estudo tcnico e
econmico permitir, em cada caso especfico, uma escolha
conveniente.
a) Vantagens e desvantagens da Bitola Mtrica
a.1) Vantagens
- curvas de menor raio;
- menor largura de plataforma, terraplenos e obras de arte;
- economia de lastro, dormentes e trilhos;
- menor resistncia a trao;
- economia nas obras de arte;
- material rodante mais barato.
a.2) Desvantagens
- menor capacidade de trfego;
- menor velocidade.
A despadronizao das bitolas gera inconvenientes tais como, a
necessidade de baldeao de cargas, nos entroncamentos de vias com
bitolas diferentes.
36
Estas vantagens e desvantagens tm, entretanto, carter relativo.
quanto capacidade de trfego. Assim, por exemplo, vemos hoje
estradas de ferro de bitola estreita executando trabalho superior ao de
muitas ferrovias de bitola larga. So os casos da Estrada de Ferro
Vitria a Minas S/A EFVM e do trecho ferrovirio Uvaranas Eng
Bley, no Corredor de Exportao do Paran.
A capacidade de transporte (maiores tonelagens, por trem), mesmo na
bitola larga, fica limitada pela capacidade dos vages e principalmente,
dos trilhos.
Existe uma carga mxima por roda, definida em funo do seu dimetro,
a qual o trilho capaz de suportar, para que a tenso no contato roda-
trilho no ultrapasse o valor compatvel com a resistncia do trilho.
Atendendo a este fator e para tirar o maior proveito possvel de uma
bitola larga (1,60 m), por exemplo, seria necessrio otimizar as
dimenses dos vages, procurando aumentar, se possvel, a relao
lotao/peso total.
Vejamos ento, por esse aspecto, a comparao entre dois vages para
minrio, de bitolas 1,60 m e 1,0 m:
- Bitola de 1,60 m:
LOTAO 95 t
TARA 24 t
TOTAL 119 t
Relao Lotao/Peso Total:
LOTAO/PESO TOTAL= 95 t/119 t = 0,798
- Bitola de 1,0 m:
LOTAO 74 t
TARA 16 t
TOTAL 90 t
Relao Lotao/Peso Total:
LOTAO/PESO TOTAL= 74 t/90 t = 0,822
37
Verifica-se por este confronto que paradoxalmente, h melhor
aproveitamento, na bitola de 1,0 m.
Alm disso, sabemos que o custo inicial, na implantao de uma estrada
de ferro de bitola larga, muito superior ao de uma de bitola mtrica.
Assim sendo, polmico o assunto de escolha de bitola, no caso de
estudos e projetos de implantao de ferrovias.
3.3.1.1.2. Limites Geomtricos de Bitolas
As Normas Brasileiras admitem tolerncias mximas e mnimas para as
bitolas utilizadas no Brasil:
LIMITES DE BITOLAS
MXIMA MNIMA
BITOLA MTRICA (1.000 mm) 1.020 mm 995 mm
BITOLA LARGA (1.600 mm) 1.620 1.595
3.3.1.2. Gabarito da Via Frrea
O gabarito da via frrea um modelo geomtrico que fixa as dimenses
mximas com que o veculo ferrovirio pode ser construdo, as
dimenses mximas da carga e fornece em funo das bitolas
adotadas, a rea da seo transversal, mnima necessria, para a livre
circulao na via.
O Gabarito da Via padronizado pelos rgos reguladores de cada
pas.
No Brasil, as Normas Tcnicas para Estradas de Ferro (Publicao n
1 do DNEF) que fazem parte do Plano Nacional de Viao, fixam as
dimenses mnimas da seo transversal da via.
Os gabaritos para as diversas classificaes de linha singela e dupla,
bitolas de 1,60 m, 1,435 m, 1,0 m e tneis, constam dos desenhos
anexos s Normas Tcnicas das Estradas de Ferro Brasileiras. Assim,
por exemplo, temos na Fig. 5, o gabarito para pontes em tangente, em
linha singela, com bitola de 1,0 m:
38
Fig. 5 Gabarito para pontes em tangente, em linha singela bitola 1,0 m
(Fonte: Norma Brasileira de Estradas de Ferro)
Os gabaritos sero acrescidos em altura e largura, em funo das
respectivas curvas, para a livre circulao dos carros de bitolas de 1,60
m, 1,435 m e 1,0 m, das dimenses indicadas nos desenhos da citada
norma, nos casos mais desfavorveis.
Os gabaritos tambm sero acrescidos das dimenses necessrias
instalao da superelevao mxima e da altura dos trilhos que para
este objetivo, ser considerada de 168 mm, para todas as bitolas.
So previstos, tambm, gabaritos para tneis e de obstculos
adjacentes (como coberturas e plataformas de embarque).
3.3.1.3. Caractersticas Geomtricas da Plataforma
As caractersticas geomtricas da plataforma ferroviria dependem
ento, basicamente, dos seguintes fatores:
39
- Bitola da via;
- Gabarito da via;
- Nmero de linhas;
- Altura do lastro;
- Tipo de dormente.
Estes elementos influem na determinao de sua Largura (L).
Outras caractersticas, tais como, inclinaes de taludes laterais (corte
ou aterro) e inclinao da superfcie superior, tambm precisam ser
levadas em considerao, mas dependem mais dos materiais
empregados e do tipo de drenagem adotada.
Para uma linha singela, teoricamente, a plataforma teria o aspecto
mostrado na figura abaixo, com os valores, em geral, aceitos quando em
tangente.
b/2 v
C E V
d B
h 1: m
A
1: n
H D F
f w
Fig. 6 Semi-corte Ilustrativo de trecho em tangente (Fonte: Schechtel)
b - comprimento do dormente
d - altura do dormente
h - espessura mnima do lastro
w - largura da banqueta
f = [ m (h + d) + 0,5 b + v ] / [ 1 (m/n) ]
L / 2 = f + w
L = 2 ( f + w )
40
O comprimento mnimo de w, segundo preconiza a AREA
(American Railway Engineering Association), de 46 cm e depende
tambm das demais instalaes necessrias operao de ferrovia.
Em relao aos custos de construo, o ideal seria especificar-se o
menor w, possvel, mas vale lembrar a sua grande utilidade para a
movimentao de pessoal e equipamentos, durante as operaes de
manuteno de via.
Para uma seo de linha singela, em curva com superelevao,
teramos o seguinte esquema:
Fig. 7 Linha singela em curva, com superelevao (Fonte: Schechtel)
Onde: 1:10 inclinao mxima de superelevao
h - altura mnima de lastro sob o dormente
b - comprimento do dormente
3.3.1.4. Influncia das Obras de Terraplenagem na Largura da
Plataforma
As obras de terraplenagem necessrias para a construo da via,
tambm devem ser levadas em considerao na determinao da
largura da plataforma.
Conforme a Norma Brasileira para Estradas de Ferro, temos para linhas
simples (singelas) em tangente, as seguintes medidas limite, tendo em
vista a importncia da via e as obras de terraplenagem:
41
LARGURA DE PLATAFORMA PARA LINHAS SIMPLES
LINHA SIMPLES
BITOLA DE 1,60 E 1,435 (m) BITOLA DE 1,00 (m)
ATERRO CORTE ATERRO CORTE
TRONCO 6,1 5,8 7,2 6,9 4,9 4,6 6,0 5,7
SUBSIDIRIA 5,6 5,4 6,7 6,5 4,6 4,4 5,7 5,5
3.3.2. Via Permanente
A Via Permanente constituda pelos seus trs elementos principais:
- lastro;
- dormentes;
- trilhos.
3.3.2.1. Sub-lastro
A camada superior da Infra-estrutura, chamada de sub-lastro, tem
caractersticas especiais, levadas em considerao em sua construo
devendo, por isso, ser considerada como integrante da superestrutura.
O sub-lastro, o elemento da superestrutura, intimamente, ligado
infra-estrutura e tem as seguintes funes:
a) Aumentar a capacidade de suporte da plataforma, permitindo elevar a
taxa de trabalho no terreno, ao serem transmitidas as cargas atravs
do lastro, reduzindo desta forma a sua superfcie de apoio e sua
altura, com consequente economia de material;
b) Evitar a penetrao do lastro na plataforma;
c) Aumentar a resistncia do leito, eroso e penetrao da gua,
concorrendo pois, para uma melhor drenagem da via;
d) Permitir relativa elasticidade ao apoio do lastro, para que a Via
Permanente no seja, excessivamente rgida.
Observa-se que o lastro um material nobre, de grande consumo (cerca
de 1,5m
3
/m), caro e s vezes, de difcil obteno, justificando-se assim,
a racionalizao do seu uso.
A construo do sub-lastro com material mais barato e encontrvel nas
proximidades do local de emprego, traz grande economia
superestrutura ferroviria, alm de melhorar, consideravelmente, o
42
padro tcnico da via permanente e diminuir o seu custo de
manuteno.
3.3.2.1.1. Material para o Sub-lastro
O material a ser selecionado para o sub-lastro deve obedecer,
aproximadamente, s seguintes especificaes:
a) IG (ndice de Grupo) igual a 0 (zero);
b) LL (Limite de Liquidez) mximo de 35;
c) IP (ndice de Plasticidade) Mximo de 6;
d) Classificao pela tabela da HRB (Highway Research Board) grupo
A1;
e) Expanso mxima 1%;
f) CBR (ndice de Suporte Califrnia) mnimo de 30.
3.3.2.1.2. Compactao
O sub-lastro dever ser compactado de modo a obter-se peso especfico
aparente, correspondente a 100% do ensaio de Proctor Normal.
3.3.2.1.3. Materiais Alternativos
No caso em que no se encontre nas proximidades da ferrovia, material
que satisfaa s especificaes acima, pode-se adotar a soluo de
misturarem-se, em usina de solos, dois solos naturais ou um solo
argiloso com areia ou agregado mido, desde que o procedimento no
aumente, demasiadamente, o custo do sub-lastro.
Outra alternativa seria adotar-se um solo melhorado com cimento
utilizando-se, para tanto, as especificaes pertinentes do rgo
nacional rodovirio (DNER-ES-P09-71).
3.3.2.1.4. Espessura do Sub-lastro
A espessura do sub-lastro dever ser tal que a distribuio de presses
atravs do mesmo, acarrete na sua base, uma taxa de trabalho
compatvel com a capacidade de suporte da mesma.
Geralmente, um sub-lastro com 20 cm de espessura, ser suficiente
para atender s citadas exigncias
43
3.3.2.2. Lastro
O Lastro o elemento da superestrutura, situado entre os dormentes e o
sub-lastro e tem como funes especiais:
a) Distribuir, convenientemente, sobre a plataforma (sub-lastro), os
esforos resultantes das cargas dos veculos, produzindo uma taxa
de trabalho compatvel com a capacidade de carga da mesma;
b) Formar um suporte, at certo ponto, elstico, atenuando as
trepidaes resultantes da passagem dos veculos;
c) Sobrepondo-se plataforma, suprimir suas irregularidades, formando
uma superfcie contnua e uniforme, para os dormentes e trilhos;
d) Impedir os deslocamentos dos dormentes quer no sentido
longitudinal, quer no sentido transversal;
e) Facilitar a drenagem da superestrutura.
Para bem desempenhar suas funes, o material do lastro deve ter as
seguintes caractersticas:
a) Suficiente resistncia aos esforos transmitidos;
b) Possuir elasticidade limitada, para abrandar os choques;
c) Ter dimenses que permitam sua interposio entre os dormentes e
o sub-lastro;
d) Ser resistente aos agentes atmosfricos;
e) Ser material no absorvente, no poroso e de gros impermeveis;
f) No deve produzir p (o p, afeta o material rodante e causa mal
estar aos passageiros).
3.3.2.2.1. Materiais para o Lastro
a) Terra - o mais barato mas, tambm, o de pior qualidade.
normalmente, saturvel pela gua, causando
desnivelamento na linha (linha laqueada), o que
a causa mais freqente de descarrilamentos.
b) Areia - - drenante, pouco compressvel, mas facilmente
deslocada pela gua. Tem o inconveniente de
produzir poeira, extremamente, abrasiva que
produz desgaste no material rodante e desconforto
aos passageiros.
c) Cascalho - um bom tipo de lastro que quando britado,
forma arestas vivas. Pode ser utilizado na forma
natural encontrada nas cascalheiras. Deve ser
lavado para ser separado de terra e outras
impurezas.
44
d) Escria - Algumas escrias de usinas siderrgicas tem
dureza e resistncia compatveis com esta
aplicao. So utilizadas em linhas prximas das
usinas.
e) Pedra Britada - o melhor tipo de lastro. resistente, inaltervel
pelos agentes atmosfricos e qumicos.
permevel e permite um perfeito nivelamento
(socaria) do lastro. , limitadamente, elstico e no
produz poeira.
3.3.2.2.2. Especificaes
Ao ser definida a utilizao de pedra britada, como lastro, deve-se optar
pelas rochas de alta resistncia (duras).
As rochas mais apropriadas para utilizao em lastro ferrovirio, so:
- Arenito (*);
- Calcrio (*);
- Mrmore (*);
- Dolomita (*);
- Granito;
- Micaxisto;
- Quartzito;
- Diorito;
- Diabsio;
- Gneiss.
Observao: (*) estas rochas nem sempre atendem s especificaes
atuais, adotadas para a escolha de pedra para lastro.
No Brasil, as especificaes adotadas so muito parecidas com as
especificaes da AREA (American Railway Engineering Association) e
so as seguintes:
a) Peso especfico mnimo: 2,7 tf/m
3
(26,5 kN/m
3
);
b) Resistncia ruptura: 700 kgf/cm
2
(6,87 kN/cm
2
ou 70 Mpa);
c) Solubilidade: Insolvel (ensaio: 7,0 dm
3
de material triturado e
lavado. Em um vaso, a amostra agitada durante 5 minutos, a cada
12 horas, por 48 horas. Se houver descolorao, considerada
solvel e portanto, imprpria.)
d) Absoro: aumento de peso s 8 gf/dm
3
(ensaio: Uma amostra de
230 gf mergulhada em gua durante 48 horas);
45
e) Substncias nocivas: s 1%, em peso, de substncias nocivas e
torres de argila (ensaio: NBR 7218:2010 (antigo MB 8) - ABNT);
f) Granulometria: < d< 2 (2,0 cm< d< 6,0 cm). (Obs.: As pedras
do lastro no devem ter grandes dimenses, para no trabalharem
como cunhas, diminuindo a durabilidade do nivelamento e nem
pequenas dimenses, de modo a facilitarem a colmatao do lastro,
perdendo este, sua funo drenante).
No ensaio de peneiramento que dever ser feito conforme o NBR NM
248 (antigo MB 6) - ABNT, devemos ter:
ABERTURA # ( POL.) ABERTURA # (mm) % PASSANDO
2 63,5 100
2 50,8 90 100
1 38,0 35 70
1 25,4 0 15
19,0 0 10
12,7 0 5
Observao: no caso de ptios e de nivelamento de aparelhos de
mudana de via, so admitidos dimetros menores.
Nos impressos de anlise granulomtrica, trabalha-se com as
percentagens acumuladas retidas. Assim:
# (POLEGADAS) # (mm) % ACUM. RETIDA
2 63,5 0
2 50,8 0 10
1 38,0 30 65
1 25,4 85 100
19,0 90 100
12,7 95 100
0s resultados dos ensaios de peneiramento, feitos em amostras obtidas
segundo a as prescries do NBR NM 248 (antigo MB 6) ABNT, so
lanados em uma curva granulomtrica (Fig. 8), devendo ficar
contidos, inteiramente, na faixa especificada:
46
Fig. 8 Curva granulomtrica, do Ensaio de Peneiramento (Fonte: Brina)
g) Resistncia abraso: Ensaio Los Angeles
O Ensaio de Resistncia Abraso Los Angeles, efetuado para
verificar se a brita , suficientemente, resistente a este tipo de esforo
mecnico (NBR NM 51:2001).
Ensaio Los Angeles: toma-se uma amostra representativa (obtida com o
repartidor de amostras de solo ou conforme as prescries do NBR NM
248 (antigo MB 6) ABNT), com 5 kg e que seja limpa e seca. Coloca-
se esta amostra junto com 12 bolas de ao, pesando cada uma, de 395
a 445 gf, em um tambor. A velocidade do tambor deve ser de 30 a 35
rotaes por minuto (r.p.m.). So dadas 500 rotaes.
Aps isto, passa-se a amostra em uma peneira n 12 (1,68 mm),
pesando-se a quantidade retida. A percentagem de desgaste, em
relao ao peso inicial da amostra ou Coeficiente de Abraso Los
Angeles, dada por:
CLA = [(P Pr)/ P] x 100, onde:
47
P peso da amostra;
Pr peso do material retido na peneira n 12;
Observao: para a pedra de lastro: CLA s 35%
3.3.2.2.3. Altura do Lastro Sob os Dormentes
Para o clculo da altura do lastro sob os dormentes, devem ser
resolvidos dois problemas fundamentais:
- Como se realiza a Distribuio das Presses, transmitidas pelos
dormentes, sobre o lastro?
- Qual a Presso Admissvel ou Taxa de Trabalho, do solo (sub-
lastro)?
a) Distribuio de Presses, transmitidas pelos dormentes, sobre o
Lastro
Vrios estudos j foram realizados, na tentativa de aplicarem-se os
conceitos clssicos da Mecnica dos Solos (Boussinesq, Steinbrenner,
Newmark, etc.), adaptando-os ao caso do lastro de pedra britada. Entre
estes estudos, est o trabalho de Arthur Talbot. Este trabalho, por ter
aproximao suficiente para os fins prticos desejados, tem tido grande
aplicao, no clculo da altura do lastro.
Talbot desenvolveu um diagrama de distribuio de presses no lastro,
na forma de bulbos isobricos (Ver Fig. 10 Curvas de Talbot). Assim,
chamando-se de p
o
, a presso mdia na face inferior dos dormentes
em contato com o lastro, as curvas fornecem os valores esperados (p),
nas diversas profundidades, em porcentagens de p
o
:
k% = (p / p
o
) x 100, onde:
p presso em um ponto qualquer, do perfil;
p
o
presso na face inferior do dormente.
No grfico da Fig. 10, as presses distribuem-se, uniformemente, sendo
que as presses no centro so superiores s presses nas
extremidades dos dormentes (em trs dimenses).
48
A curva de variao das presses mximas no lastro (abaixo do centro
dos dormentes), em funo da altura do lastro, dada por:
p
h
= (16,8 / h
1,25
) x p
o
, onde:
p
h
presso na profundidade h;
p
o
presso na face inferior do dormente;
h altura do lastro, em polegadas.
Em unidades mtricas, teramos:
p
h
= [16,8 / (h
cm
/ 2,54)
1,25
] x p
o
= [(16,8 x 2,54
1,25
) / (h
cm
)
1,25
] x p
o
p
h
= (53,87 / h
1,25
) x p
o
(1), onde:
h em cm;
p
o
e p
h
em kgf/cm
2
.
Determinao da presso (p
o
), na base do dormente:
p
o
= P / (b x c) , onde:
P carga a ser considerada sobre o dormente;
b largura do dormente;
c distncia de apoio, no sentido longitudinal do dormente.
Fig. 9 Apoio longitudinal, do dormente (Fonte: Brina)
Observao: estes valores de c so adotados, em funo do
procedimento de socaria, (compactao do lastro, sob o
dormente) que executado com maior intensidade, sob os
trilhos.
49
Em virtude da distribuio de carga para os dormentes vizinhos, por
causa da rigidez dos trilhos e da deformao elstica da linha, o peso
P, dever ser considerado, como segue:
P = P
c
= (P
r
/ n) x C
d
, onde:
P
r
peso da roda mais pesada, (P
eixo
/ 2);
n coeficiente adimensional. (n = d / a = distncia entre eixos, do
veculo / distncia entre os centros, dos dormentes);
C
d
Coeficiente Dinmico ou de Impacto (aplicado por serem, as
cargas, dinmicas). Existem diversas frmulas deduzidas para a
determinao deste coeficiente e que via de regra, fornecem
valores subestimados. Sendo assim, de praxe utilizar-se um
valor que parece ser mais compatvel com as aplicaes prticas.
Valor recomendado: C
d
= 1,4
O valor de p
h
deve ser compatvel com a capacidade de suporte da
plataforma (sub-lastro):
p
h
s p , onde:
p - presso admissvel, no sub-lastro.
Assim sendo, a altura do lastro pode ser obtida de duas formas:
a) a partir da expresso (1):
h = [(53,87 / p
h
) x p
o
]
(1/1,25)
b) Pelo Diagrama de Talbot, que fornece os valores de h, em funo
de
k% = (p /p
o
) x 100
50
Fig10 - Diagrama de Talbot (Fonte: Brina)
Determinao do Valor da Presso Admissvel, na plataforma (p ):
O valor poder ser obtido, por uma das seguintes maneiras:
- Provas de carga, in-situ;
- Teorias da Mecnica dos Solos:
- Procedimento prtico.
Por estes mtodos, obtemos um valor de p
r
, com o qual se calcula
p :
p = p
r
/ n, onde:
p
r
presso de ruptura do solo;
n coeficiente de segurana, (variando entre 2 e 3).
Na falta de dados mais precisos sobre p pode ser adotado o seguinte
procedimento emprico, perfeitamente satisfatrio, para fins prticos:
Sendo conhecido o valor do CBR (utilizado na construo do sub-lastro):
51
CBR = (p / 70) x 100 , logo:
p = (70 x CBR) / 100
Adota-se, ento:
p = p / N , onde 5 < N < 6
3.3.2.2.4. Exemplo de Dimensionamento
Dimensionar a altura do lastro, quando:
- peso por eixo: 20 t;
- dimenses do dormente: 2,0 x 0,20 x 0,16 (m);
- coeficiente de impacto: 1,4;
- faixa de socaria: 70 cm;
- distncia entre eixos, da locomotiva: 2,2 m;
- taxa de dormentao: 1.750 p/km;
- CBR do sub-lastro: 20%.
Soluo:
a) a = 1000 / 1750 = 0,57 m
b) n = d / a = 2,20 / 0,57 = 3,86
c) P
c
= (P
r
/ n) x C
d
= (10.000 kg / 3,86) x 1,4 = 3.627 kgf
d) p
o
= P
c
/ (b x c) = 3.627 / (20 x 70) = 2,591 kgf/cm
2
e) p = (CBR x 70) / 100 = (20 x 70) / 100 = 14 kgf/cm
2
f) p = p / N = 14 / 5,5 = 2,55 kgf/cm
2
g) p = (53,87 / h
1,25
) x p
o
2,55 = (53,87 / h
1,25
) x 2,591
h = [(53,87 / 2,55) x 2,591]
(1 / 1,25)
= 24,5 cm ~ 25 cm
h = 25 cm
52
- Graficamente:
k% = (p / p
o
) x 100 = (2,55 / 2,591) x 100 = 98,42%
Fig. 11 Grfico para determinao de h, em funo de k% (Fonte: Brina)
- entrando no grfico da Fig. 11, pela coluna da esquerda at a curva
e descendo at a linha inferior, onde obtemos o valor:
h = 250 mm
- Presso na base do sub-lastro (leito):
h = 25 cm + 20 cm = 45 cm, (onde: 20 cm altura do sub-lastro)
p
h
= (53,87 / h
1,25
) x p
o
= (53,87 / h
1,25
) x 2,591 = 1,2 kgf/cm
2
Observaes:
1) O valor obtido razovel, se considerarmos que a plataforma
compactada a 100% PN (Proctor Normal);
2) Considerou-se a mesma lei de distribuio de cargas, tambm, para
o subleito.
53
3.3.2.3. Dormentes
3.3.2.3.1. Introduo
Segundo Brina (1979), o dormente o elemento da superestrutura
ferroviria que tem por funo, receber e transmitir ao lastro os esforos
produzidos pelas cargas dos veculos, servindo de suporte dos trilhos,
permitindo sua fixao e mantendo invarivel a distncia entre eles
(bitola).
Para cumprir essa finalidade, ser necessrio ao dormente que:
a) suas dimenses, no comprimento e na largura, forneam uma
superfcie de apoio suficiente para que a taxa de trabalho no lastro
no ultrapasse os limites relativos a este material;
b) sua espessura lhe d a necessria rigidez, permitindo entretanto
alguma elasticidade;
c) tenha suficiente resistncia aos esforos solicitantes;
d) tenha durabilidade;
e) permita, com relativa facilidade, o nivelamento do lastro (socaria), na
sua base;
f) oponha-se, eficazmente, aos deslocamentos longitudinais e
transversais da via;
g) permita uma boa fixao do trilho, isto , uma fixao firme, sem ser,
excessivamente, rgida.
3.3.2.3.2. Tipos de Dormentes
Quanto ao material de que so feitos, os dormentes empregados,
atualmente, so de trs tipos:
- Madeira;
- Ao;
- Concreto.
3.3.2.3.2.1. Dormentes de Madeira
A madeira rene quase todas as qualidades exigidas ao bom dormente
e continua a ser, at o presente, o principal material utilizado em sua
fabricao.
Na atualidade, entretanto, devido a escassez de florestas naturais e de
reflorestamentos dirigidos a esta finalidade, as madeiras de boa
54
qualidade, utilizveis na fabricao de dormentes tm sido utilizadas
para finalidades mais nobres, alcanando assim melhores preos no
mercado, o que de certa forma inviabiliza, economicamente, esta
aplicao ferroviria.
Assim sendo, madeiras menos nobres que podem ser obtidas a preos
menores, tm sido empregadas na fabricao de dormentes, exigindo
para tanto, tratamento com produtos qumicos conservantes e
procedimentos de manuteno mais onerosos.
Alm disso, pesquisas vm sendo feitas no sentido de obterem-se
outros materiais (ao, concreto, etc.) que possam vir a substituir,
economicamente, este tradicional tipo de dormente.
3.3.2.3.2.1.1. Especificaes para os dormentes de madeira
As empresas ferrovirias estabelecem normas e especificaes a serem
observadas nos procedimentos de licitao para aquisio de dormentes
fixando, detalhadamente, as qualidades da madeira, dimenses,
tolerncias, etc.
No Brasil, as principais Normas concernentes ao emprego de dormentes
de madeira, so:
NBR 6966:1994 - Dormentes (Terminologia) ABNT;
NBR 7522:1982 Dormentes de Madeira ABNT;
IVR-11 - Nomenclatura da Via Permanente RFFSA (DNIT);
IVR-12 - Emprego de Dormentes Rolios - RFFSA (DNIT);
EVR-8 - Substituio de Dormentes RFFSA (DNIT);
NV-3-250 - Especificaes Tcnicas para Fornecimento de Dormentes
de Madeira RFFSA (DNIT);
NBR 7190:1997- Ensaios de Resistncia - ABNT.
Quanto s dimenses, por exemplo, as normas brasileiras, estabelecem,
para comprimento(c), largura(b) e altura(h), respectivamente:
a) bitola de 1,60 m: 2,80 x 0,24 x 0,17 (m);
b) bitola de 1,00 m: 2,00 x 0,22 x 0,16 (m).
So permitidas as seguintes tolerncias, no recebimento:
- Comprimento: 5,0 cm;
- Largura: 2,0 cm;
- Espessura: 1,0 cm.
55
Observaes:
1) Podem ser especificados dormentes com dimenses especiais para
emprego em Pontes e em Aparelhos de Mudana de Via (AMVs);
2) Quanto espcie da madeira (essncia), os dormentes so, ainda,
classificados em classes:
1 Classe aroeira; sucupira; jacarand; amoreira; angico; ip;
pereira; blsamo; etc.
2 Classe angelim; ararib; amarelinho; brana; carvalho do Brasil;
canela-preta; guarabu; jatob; massaranduba; peroba; pau-brasil;
baru; eucalipto(citriodora, paniculata, rostrata, etc.).
3 e 4 Classes madeiras identificadas com as de 1 e 2 Classes,
mas com defeitos tolerveis.
3) Madeiras utilizadas na Europa e no Japo (pases de pequena
extenso territorial e de escassas reservas florestais): carvalho
(chne); faia (htre); pinho europeu (pin); larico (larice, pinus larix).
4) Madeiras usadas nos Estados Unidos da Amrica: carvalho (oak);
castanheira (chestnut); pinheiro do sul (white pine); abeto (fir); bordo
(hard maple); btula (birch); cedro (cedar); freixo (ash); nogueira
americana (hickory); choupo (lamo); olmo (elm); nogueira comum
(walnut); pinho (aspen).
5) Alm das categorias acima designadas, so tambm especificadas
as madeiras para dormentes a serem previamente tratados com
conservantes qumicos.
6) O melhor dormente de madeira, no Brasil, o de sucupira que d
tima fixao ao trilho, possui dureza e peso especficos elevados e
grande resistncia ao apodrecimento, podendo durar mais de 30
anos na linha.
3.3.2.3.2.1.2. Durabilidade dos dormentes de madeira
Alm da qualidade da madeira, outros fatores tm influncia na
durabilidade dos dormentes. Entre eles podemos citar:
- clima;
- drenagem da via;
- peso e velocidade dos trens;
- poca do ano em que a madeira foi cortada;
- grau de secagem;
- tipo de fixao do trilho;
- tipo de lastro;
- tipo de placa de apoio do trilho, no dormente.
56
Quanto durabilidade do dormente, dois fatores distintos devem ser
considerados:
- resistncia ao apodrecimento;
- resistncia ao desgaste mecnico.
Assim: Vida til = f(apodrecimento, desgaste mecnico).
Com relao a estes dois fatores, o ponto mais vulnervel do dormente,
o local da fixao do trilho. Neste ponto, devido penetrao da
umidade e aos esforos mecnicos, que ocorre a deteriorao mais
perniciosa ao dormente.
Assim, apesar de poder ser a pregao substituda, fazendo-se outro
furo ao lado do anterior, comum, no resistir o dormente, nova
pregao e ento considerado inutilizado, devendo ser, portanto,
substitudo quando a madeira, quase sempre, em seu conjunto, ainda
est em regular estado.
Em vista disso, a escolha do dormente de madeira fica, de maneira
geral, condicionada aos seguintes fatores:
a) Resistncia mecnica destruio causada pelos esforos devidos
passagem dos trens, isto , dureza e coeso da madeira;
b) Resistncia ao apodrecimento ( ao dos fungos);
c) Facilidade de obteno (abundncia, disponibilidade);
d) Viabilidade econmico-financeira.
3.3.2.3.2.1.3. Resistncia mecnica da madeira
Para se conhecer a resistncia de determinada madeira, a ser utilizada
na fabricao de dormentes, deve-se submet-la aos ensaios
padronizados pela ABNT (NBR 7190:1997, antigo MB-26). Esses
ensaios prestam-se determinao das caractersticas fsicas (umidade,
retratibilidade e peso especfico) e mecnicas (compresso
perpendicular e paralela s fibras, flexo, trao, fendilhamento, dureza
e cisalhamento), da madeira.
A variao da resistncia da madeira est relacionada com a sua micro-
estrutura. Os diferentes tipos de clulas existentes na madeira
influenciam diretamente as propriedades mecnicas do material,
entretanto, a densidade determinante para sua resistncia mecnica.
57
Geralmente, essa densidade refere-se madeira seca ao ar. A
madeira, normalmente exposta ao meio ambiente, contem cerca de 10 a
15% de umidade, a qual conhecida como umidade de equilbrio.
Quando se fala em madeira verde, geralmente, o seu teor de umidade
est acima de 35 a 40%.
Assim, a resistncia da madeira condicionada pela substncia lenhosa
que a compe e aumenta, quase sempre, exponencialmente, com sua
densidade e varia inversamente com o seu teor de umidade.
No caso da utilizao da madeira, para fabricao de dormentes, tm
fundamental importncia, as propriedades de compresso paralela e
perpendicular s fibras e de dureza de topo.
Em termos de densidade, entre as madeiras nacionais, podemos
relacionar a paineira, com 0,26 kgf/dm
3
, entre as mais leves e a aroeira,
com 1,21 kgf/dm
3
, entre as mais pesadas.
Como a resistncia mecnica depende da densidade da madeira, no
Brasil onde ainda existe madeira de boa qualidade, disponvel para
utilizao na fabricao de dormentes, adota-se 0,70 kgf/dm
3
, como
densidade mnima de aceitao. Entretanto, em outros pases, em que
mais escassa a madeira, j so utilizadas madeiras de densidades muito
inferiores a essa.
3.3.2.3.2.1.4. Apodrecimento da madeira
O apodrecimento da madeira causado por agentes biolgicos como
fungos e insetos (formigas e trmitas) que se alimentam de tecido
vegetal morto ou vivo.
Os fungos constituem uma classe parte, no reino vegetal; diferem dos
demais por serem desprovidos de razes e da capacidade de fixar o
carbono do ar, o que caracteriza as plantas superiores; so destitudos
de clorofila, sendo assim obrigados a viverem, ou parasitando os seres
vivos ou custa de matria orgnica morta.
O desenvolvimento do fungo ser tanto mais vigoroso, quanto mais
favorveis, forem as condies do meio sendo suas exigncias
fundamentais:
58
a) Material Nutritivo No podendo, como as plantas superiores,
retirar da atmosfera, o carbono necessrio ao seu metabolismo, os
fungos necessitam aurir do material que os hospeda, os elementos
carbonados indispensveis sua sobrevivncia. Na madeira,
encontram com relativa abundncia, materiais amilceos e
sacardeos e na sua falta, os fungos segregam enzimas e fermentos
que desintegram a lignina e celulose que so transformadas em
produtos assimilveis. nessa operao de desmontagem que
consiste o ataque do fungo madeira.
b) Umidade A umidade um dos requisitos essenciais para a
germinao dos esporos, que em condies favorveis emitem um
filamento chamado hifa, o qual se ramifica, formando o miclio que
constitui o corpo vegetativo do fungo. Praticamente, nenhum fungo
apodrecedor, pode desenvolver-se, enquanto o teor de umidade for
inferior a 20 %, pois abaixo desta umidade, toda a gua presente
absorvida pela madeira, no restando umidade suficiente para o
desenvolvimento do fungo.
c) Temperatura Para a maioria dos fungos quase no h crescimento
abaixo de 2 C, sendo que a temperatura tima , para
desenvolvimento, encontra-se entre 25 e 30 C. Nas baixas
temperaturas, apesar de no haver crescimento, o fungo continua
vivo, morrendo apenas quando exposto a temperaturas
extremamente baixas durante perodos muito longos. Em geral, os
fungos no resistem a temperaturas acima de 55 C, com tempo de
exposio prolongado.
d) Aerao O fungo necessita de oxignio, ou seja, de certa
quantidade de ar atmosfrico para as reaes de seu metabolismo.
Em geral, pode-se afirmar que se deve ter 20 % do volume da
madeira ocupado por ar, afim de que o fungo se desenvolva
normalmente.
Observando-se a seo transversal do tronco de uma rvore, nota-se
uma parte central mais escura que se chama cerne e uma parte, de
colorao mais clara, envolvendo o cerne que se denomina alburno.
O cerne mais escuro, devido s resinas, tanino e outros materiais de
tecido lenhoso. Nesta regio, a clula no tem funo vegetativa, mas
apenas mecnica. Em geral, o cerne pouco permevel aos agentes
59
preservativos qumicos, mas tem maior durabilidade do que o alburno
que o envolve, pois as resinas e o tanino repelem os fungos.
A A
Fig. 12 Corte Esquemtico de um Tronco
O alburno mais claro e possui as clulas que tm a funo de conduzir
a seiva e armazenar as reservas nutritivas da planta sendo, portanto,
propenso ao ataque de fungos e insetos.
Geralmente, denominam-se madeiras brancas, aquelas em que
predomina o alburno, apresentando lenho varivel na cor, na estrutura e
nas propriedades fsicas e mecnicas e com baixa resistncia
deteriorao, quando expostas ao tempo. Mesmo algumas madeiras de
lei, incluem-se nesta categoria. Assim, a denominao madeira
alburno
cerne
60
branca deve-se mais sua pouca resistncia ao apodrecimento do que
sua cor.
Com a progressiva escassez de madeiras com predominncia de cerne,
passou-se a utilizar, na fabricao de dormentes, algumas madeiras
brancas que, entretanto, exigem um tratamento com preservativos
qumicos, para evitar seu rpido apodrecimento.
O tratamento qumico da madeira aumenta sua resistncia ao
apodrecimento, mas no altera suas propriedades mecnicas.
Nenhum dormente de madeira aplicado sem algum tipo de tratamento,
entretanto, devem ser selecionadas as madeiras a serem tratadas de
modo que apresentem um mnimo de resistncia mecnica, para que o
dormente no seja inutilizado por desgaste mecnico antes mesmo do
seu apodrecimento, no sendo assim, conveniente, o tratamento
qumico de madeiras com peso especfico menor do que 0,70 kgf/dm
3
.
recomendvel, tambm, selecionar dormentes de madeira branca,
para tratamento qumico que apresentem o mximo de alburno
distribudo uniformemente, em todas as faces da seo transversal, pois
o alburno, mais permevel penetrao do preservativo. Dormentes
de madeiras com predominncia de cerne so pouco indicados para a
prtica da preservao qumica, por serem impermeveis.
Fig. 13 Sees tpicas de dormentes em funo de sua posio na tora (Fonte: BRINA)
3.3.2.3.2.1.5. Tratamento qumico para dormentes de madeira
61
O tratamento qumico da madeira consiste em tornar txico aos fungos e
insetos, atravs de sua impregnao com antisspticos, os alimentos
procurados pelos mesmos.
Os antisspticos mais utilizados podem ser classificados em dois
grupos:
- Preservativos oleosos;
- Preservativos hidrossolveis.
a) Preservativos oleosos Os principais so: o creosoto e o
pentaclorofenol.
a.1) Creosoto
O creosoto um subproduto da hulha.
Hulha s.f. Carvo fssil, muito empregado na indstria com o nome de
carvo de pedra; coque; derivado de restos de vegetais
alterados em seus constituintes volteis, pela presso,
movimentos geolgicos e diversos processos qumicos.
Assim, a destilao da hulha produz: guas amoniacais; gases; resduos
slidos e alcatro (da hulha).
Por sua vez, a destilao do alcatro fornece: leos leves; leos mdios
e leos pesados.
O creosoto um destes leos pesados assim obtidos e apresenta cor
escura e odor caracterstico. Os compostos integrantes do creosoto
variam conforme a origem do alcatro e conforme o mtodo de
destilao. Os hidrocarbonetos formam 90% do volume do creosoto.
Menos de 5% correspondem aos cidos de alcatro (naftal, fenol, cresol,
xilenol) e 3 a 5%, so representados pelas bases do alcatro.
As especificaes do creosoto definem: peso especfico, % de gua; %
de resduos slidos; % de materiais insolveis; etc. Estas especificaes
so determinadas por organizaes como a AWPA - American Wood
Preservation Association.
Observaes:
- A AWPA recomenda que a reteno do creosoto, seja de 128 kgf, de
creosoto, por m
3
, de madeira tratada.
62
- A absoro funo da relao entre as quantidades de alburno e
cerne, presentes na amostra.
- Por economia, costume adicionar-se petrleo bruto ao creosoto,
como solvente.
- O tratamento com produtos oleosos , especialmente, recomendado
para dormentes que estaro em permanente contato com o solo
(umidade).
a.2) Pentaclorofenol
um dos mais poderosos fungicidas existentes. , extremamente,
txico para todos os agentes biolgicos destruidores da madeira,
excetuando-se os de origem marinha (teredo, por exemplo). produzido
base de P da China que , comprovadamente, cancergeno, sendo
por isso de utilizao, rigorosamente, proibida no Brasil.
b) Preservativos Hidrossolveis
A maioria dos preservativos hidrossolveis modernos contm em sua
frmula, mais de uma substncia qumica, normalmente, na forma de
sais. O objetivo disso a precipitao de um composto insolvel na
madeira, a partir da reao entre os componentes originais, composto
esse que deve ter toxidez contra os agentes de deteriorao.
Os preservativos hidrossolveis mais usados no Brasil so:
- Boliden K-33;
- Sais Boliden (Arseniato de zinco cromatado - CZA);
- Tanalith ( base de fluoretos, cromo, arsnico e dinitrofenol);
- Sal de Wolman UAR;
- Wolmanit CB ( base de cobre, cromo e boro);
- CCA ( base de cobre, cromo, arsnico).
A concentrao mnima dever ser de 4% a 5%, de sal. imprescindvel
que a madeira seja saturada com a soluo, para que a imunizao seja
eficiente (Mtodo da Clula Cheia).
O teor de umidade da madeira a ser tratada de fundamental
importncia para o xito do tratamento, pois, a presena de certa
quantidade de gua nas clulas pode dificultar a penetrao do
63
preservativo sob presso. Em geral, a madeira considerada,
suficientemente, seca para receber o tratamento salino quando o teor de
umidade estiver abaixo do ponto de saturao (30%, aproximadamente).
3.3.2.3.2.1.6. A escolha do preservativo
Para os dormentes que esto em contato, quase que direto com o solo e
expostos s intempries, o melhor tipo de tratamento oleoso
(creosoto).
Entretanto, deve-se tambm, atentar para o fator Resistncia Mecnica
da madeira. Se o dormente for de tima resistncia mecnica e sob este
aspecto protegido por uma boa fixao do trilho e dotado de placa de
apoio bem dimensionada, poder vir a ter que ser substitudo por
apodrecimento. Neste caso deve-se utilizar um preservativo mais
eficiente (mais caro). Mas, se a retirada do dormente vai dar-se por
desgaste mecnico, o ideal ser adotar um tipo de tratamento mais
econmico, mesmo que menos eficiente. Assim, via de regra, se deve
adotar um preservativo que proporcione uma vida til ao dormente, igual
ao perodo de vida til permitido pela sua resistncia mecnica.
Para linhas de maior densidade de trfego e trens pesados, os
dormentes de madeira, em geral, so retirados da linha por desgaste
mecnico, antes do seu apodrecimento.
Vida til do dormente, em funo do tipo de tratamento adotado:
VIDA TIL DO DORMENTE, EM FUNO DO TIPO DE TRATAMENTO
PRESERVATIVO VIDA TIL (ANOS)
Creosoto 30 a 40 anos
Pentaclorofenol (proibido no Brasil) 25 a 30 anos
Sais Hidrossolveis 15 a 20 anos
3.3.2.3.2.1.7. Mtodos de tratamento de dormentes
Existem dezenas de mtodos de tratamento de dormentes, em
utilizao, atualmente. De modo geral, podem ser classificados, em:
a) Processos sem presso:
- Pintura ou asperso;
- Imerso a quente ou a frio;
- Difuso;
64
b) Processos com presso e vcuo:
- Processos de clula cheia (full cell);
- Processos com clula vazia (empty cell);
- Processos com gs liqefeito;
Dentre todos, os que produzem resultados mais eficientes e garantidos,
so os do segundo tipo sendo, portanto, descritos a seguir. Estes
mtodos procuram atingir os seguintes objetivos:
a) Distribuir o preservativo, uniformemente, na pea tratada;
b) Promover a absoro da quantidade mnima especificada, de
preservativo, pela madeira;
Os mtodos de presso e vcuo, so aplicados em duas fases, como
segue:
a) Trabalhos preliminares:
- corte da madeira;
- secagem;
- furao e entalhao;
- incisamento.
Observaes:
- as rvores devem ser abatidas no inverno, para que estejam
armazenando a menor quantidade de seiva, possvel;
- o descascamento e corte devem ser feitos imediatamente aps o
corte para evitar a coagulao da seiva (que dificultaria a absoro
do preservativo);
- o processo deve ser aplicado quando o teor de umidade da madeira
for menor que 30% (seca ao ar ou em estufa);
- a secagem ao ar exige cerca de 4 a 6 meses de espera;
- devem ser tomadas providncias para evitarem-se as rachaduras
(instalao de abraadeiras, grampos, etc.). Ver Fig. 14;
- a contaminao por fungos, deve ser evitada com aplicao de
conservantes apropriados (pulverizaes);
- as operaes de entalhao, furao e incisamento, devem ser
efetuadas antes do incio do tratamento;
- incisamento: operao que deve ser feita quando o cerne for
superficial, em uma ou mais faces da pea tratada. ( feito pela
65
passagem da pea, entre rolos dotados de pequenas pontas que
causam incises em suas superfcies). Ver Fig. 15.
Fig. 14 Dispositivos anti-rachantes (Fonte: Furtado Neto)
Fig. 15 Incisamento (Fonte: Furtado Neto)
b) Impregnao da Madeira, com o preservativo:
A impregnao da madeira feita, basicamente por dois processos:
- Processo da Clula Cheia;
- Processo da Clula Vazia.
b.1) Mtodo da Clula Cheia (tratamento com presso e vcuo) ou Mtodo de
Bethel
Este mtodo caracteriza-se por produzir vcuo no interior das clulas do
tecido lenhoso, para posterior preenchimento das mesmas com o
preservativo (clula cheia) e aplicado em etapas, como segue:
a) Introduo das peas no cilindro de autoclave, o qual fechado,
hermeticamente;
b) Produo de vcuo, no autoclave;
c) Introduo, sem quebra do vcuo, do preservativo, at o completo
enchimento do cilindro;
66
d) Aps o completo enchimento do cilindro, injeta-se uma quantidade
suplementar de preservativo, com uma bomba de presso, at que
esta presso atinja, progressivamente, 8 a 12 kgf/cm
2
;
e) Reduz-se, gradativamente, a presso e escoando-se o preservativo
que restou no cilindro;
f) Aplica-se vcuo, novamente, para retirar da madeira o excesso de
antissptico, abreviando assim, a permanncia dos dormentes no
cilindro;
g) Reintroduzindo-se o ar, abre-se a autoclave retirando-se os
dormentes.
A durao total do processo de tratamento de 6 a 7 horas. O vcuo
mximo aplicado, de 620 a 630 mmHg. Ver Fig. 16.
Fig 16 Processo Bethel (fonte: Furtado Neto)
b.2) Tratamento pelo Mtodo da Clula Vazia
Existem duas variantes deste mtodo:
- Processo Rueping;
- Processo Lowry.
67
b.2.1) Processo Rueping
Este processo aplicado conforme as seguintes etapas:
a) Introduzem-se dos dormentes no cilindro e em vez de aplicar-se o
vcuo, como no processo anterior, aplica-se uma presso de ar de 4
a 5 kgf/cm
2
. Esta presso tem por finalidade abrir os canais e clulas
da madeira, enchendo-os de ar comprimido;
b) Mantendo-se a presso inicial, injeta-se o preservativo que no caso
do creosoto tornado mais fludo por aquecimento prvio (80 C).
c) Comprime-se o preservativo a uma presso que deve ser maior que o
dobro da anterior (10 a 12 kgf/cm
2
). Nesta fase, o ar que enche os
canais da madeira fortemente comprimido, seu volume diminui e o
preservativo penetra nos canais e clulas. A presso mantida por
longo perodo, para assegurar uma penetrao completa do
antissptico.
d) Volta-se presso inicial e esvazia-se o cilindro do excesso de
preservativo;
e) Aplica-se o vcuo final, de modo a facilitar a exsudao do produto
antissptico;
f) Readmite-se o ar, abre-se o cilindro e retiram-se os dormentes.
H uma considervel economia de preservativo neste processo, em
comparao com o Processo Bethel. Ver Fig. 17.
Fig. 17 Processo Rueping (Fonte: Furtado Neto)
68
b.2.2) Processo Lowry
No processo Lowry, o preservativo injetado na madeira contra o ar j
existente nas clulas, portanto, presso atmosfrica. As demais
etapas do processo so idnticas s do Processo Rueping. Ver Fig. 18.
Fig. 18 Processo Lowry (Fonte: Furtado Neto)
Observao: estima-se em 60% a 100%, o acrscimo no custo inicial do
dormente, com o tratamento, o que considerado satisfatrio, tendo em
vista o aumento de sua vida til.
3.3.2.3.2.2. Dormentes de Ao
Diversos tipos de dormentes de ao j foram projetados e patenteados,
ao longo dos ltimos anos, diferindo muitos deles por simples detalhes
ou pela fixao dos trilhos.
De modo geral, estes dormentes consistem em uma chapa de ao
laminado, em forma de U invertido, curvada em suas extremidades a
fim de formar garras que se introduzem no lastro e se ope ao
deslocamento transversal da via.
69
O dormente metlico , relativamente, leve (70 kgf) e de fcil manuseio
e assentamento. Essa leveza, entretanto, indesejvel para linhas de
trfego pesado.
Fig. 19 Dormente de Ao (tpico) (Fonte: Brina)
O ao , tambm, grande propagador dos rudos devidos s vibraes
do trfego e sendo bom condutor de eletricidade, dificulta o isolamento
entre as duas filas de trilhos que necessrio para os circuitos de
sinalizao da linha.
O dormente de ao apresenta maior rigidez e fixao do trilho mais
difcil. Esta fixao feita, geralmente, por intermdio de parafusos e
castanhas, tende ao afrouxamento, necessitando constante
manuteno. Os furos, para passagem dos parafusos, tendem a
enfraquecer o dormente, originando fissuras que ao se estenderem,
inutilizam a pea. Esse inconveniente pode ser contornado, adotando-se
um tipo de dormente que tem a chapa de nervuras soldada na posio
de apoio do patim do trilho e fixao do tipo GEO. um dormente mais
caro e apresenta o inconveniente de ser especfico para um
determinado perfil de trilho, no podendo ser aproveitado, no caso de
sua substituio por outro perfil. (Fig. 20).
A socaria do lastro , tambm, mais complicada devido a sua forma.
No Brasil, at pouco tempo, o dormente de ao seria de preo proibitivo,
em relao aos demais tipos (madeira e concreto). Hoje, aps a
privatizao das siderrgicas e devido ao alto preo alcanado pela
madeira e pelo concreto, a situao j no e a mesma sendo seu custo
competitivo, para grandes quantidades.
70
Fig. 20 Fixao tipo GEO, com chapa soldada (Fonte: Brina)
3.3.2.3.2.3. Dormente de Concreto
Os dormentes de concreto passaram a ser desenvolvidos, como
alternativa, aos altos custos atingidos pelo dormente de madeira, em
vista da escassez de matria prima e ainda pelos inconvenientes
apresentados quando da utilizao dos dormentes de ao.
Os primeiros dormentes deste tipo eram de concreto armado e imitavam
na sua concepo a forma dos dormentes de madeira, sendo
constitudos como um bloco monoltico de seo constante.
Os resultados no foram satisfatrios, pois os choques e vibraes
produzidas pelas cargas dinmicas dos veculos causavam trincas ou
fissuras, apesar da armao metlica colocada para resistir aos esforos
de trao. Essas fissuras degeneravam, freqentemente, em
verdadeiras rupturas, devido grande rigidez desses dormentes e
apareciam, geralmente, na parte mdia do dormente, em conseqncia
do apoio irregular do dormente, sobre o lastro.
Devido a uma instalao defeituosa, ou mesmo a recalque do lastro na
regio, imediatamente abaixo dos trilhos, o dormente passa a se apoiar
na sua parte mdia e ter que suportar momentos fletores muito mais
elevados do que aqueles previstos em projeto.
Aps experimentaes em diversos pases (Frana, Alemanha, Blgica,
etc.), surgiram os trs principais tipos de dormentes de concreto:
- concreto protendido (monobloco);
- misto ou bi-bloco (concreto e ao);
- poli-bloco;
71
a) Dormente de Concreto Monobloco Protendido
Os primeiros dormentes de concreto monobloco protendidos acabavam,
tambm, fissurando na parte mdia, provavelmente, devido ao fator j
apontado, de apoio no lastro, em sua parte mdia.
Com o desenvolvimento da tecnologia do concreto protendido e com o
aperfeioamento do seu desenho, quando ento a face inferior central
ficou mais alta e com protenso mais reforada, foram obtidos
dormentes de concreto protendido, de alta qualidade e que tm se
portado, satisfatoriamente, sob condies severas de servio. Podemos
citar como exemplo o dormente DYWIDAG, fabricado na Alemanha que
reforado e capaz de resistir a fortes impactos. (Fig. 21).
Fig. 21 Dormente DYWIDAG (Sistema KARIG) (Fonte:Brina)
b) Dormente Misto ou Bi-bloco
um dormente constitudo por dois blocos de concreto, ligados por uma
barra de ao. Foi criado na Frana, sendo o dormente Vagneux, o
prottipo do dormente misto moderno, o chamado Dormente RS,
projetado por Roger Soneville, da SNCF (Societ Nacionale de Chemins
de Fer Franais).
O dormente RS constitudo por dois blocos de concreto armado,
ligados por uma viga metlica; esta viga desempenha um papel
preponderante, porque tem um comprimento quase igual ao do
72
dormente e constitui a robusta armadura principal dos blocos de
concreto. Figs. 22, 23 e 24.
O dormente RS pesa, aproximadamente, 180 kgf, para linhas de bitola
internacional; as armaduras frouxas dos blocos tem por funo ligar,
rigidamente os blocos com a viga metlica e cintar o concreto em torno
dela; contm apenas 7 kgf de ao, alm da prpria viga; graas
elasticidade desta, o dormente de concreto, no absorve esforos do
lastro, no meio do vo e os dois blocos de concreto, muito robustos,
resistem maioria dos esforos de flexo esttica e flexo alternada,
aos quais so muito sensveis, os dormentes monobloco, de concreto
protendido.
De acordo com Soneville, os dormentes RS foram os nicos a
suportarem trfego de mais de 100 milhes de toneladas, nas piores
condies (juntas em mau estado), sem apresentarem qualquer fissura
ou sinal de fadiga.
Fig. 22 Dormente RS (Fonte: Brina)
Fig. 23 Dormente RS Seo Longitudinal do Bloco (Fonte: Brina)
A resistncia transversal 40% superior da linha clssica sobre
dormentes de madeira, cujos tirefonds estejam, rigidamente,
apertados.
73
Com este tipo de dormente, a linha passa a apresentar duas qualidades
primordiais, aparentemente, contraditrias: resistncia e elasticidade.
A fixao do trilho feita por um parafuso ancorado diretamente na viga
metlica, introduzido por furos deixados no bloco de concreto e por um
grampo de ao doce que aperta o patim do trilho. Este grampo torna a
fixao elstica; alm disso, coloca-se entre o patim e o bloco, uma
almofada de borracha de neoprene, ranhurada que aumenta, ainda
mais, a elasticidade da linha. Esse tipo de fixao, patenteada pela
SNCF, chamada de fixao duplamente elstica RN.
Fig. 24 Dormente RS - Fixao Duplamente Elstica RN (Fonte: Brina)
c) Dormente Poli-bloco
O mais conhecido Dormente Poli-bloco, o chamado Dormente FB,
projetado pelo engenheiro belga Franki-Bagon. Esse dormente
constitudo por dois blocos de extremidade de concreto armado,
ligados, elasticamente, por um bloco intermedirio de concreto (viga),
atravs de cordoalhas de ao tensionadas, com at 15 tf. A elasticidade
entre os blocos garantida por coxins, de um material elstico especial
(pag-wood), inseridos entre as peas. Fig. 25.
Fig. 25 Dormente Polibloco FB (Fonte: Brina)
Esse dormente, segundo afirma seu inventor, foi projetado para possuir
as mesmas caractersticas de deformabilidade e resistncia da madeira,
74
com a durabilidade do concreto, no devendo, portanto, alterar o carter
elstico da via permanente e nem devendo ser assemelhado a um
dormente de concreto protendido.
O dormente FB pode ser empregado com os sistemas de fixao
elstica, por meio de parafuso fixado ao concreto e uma castanha que
se aperta contra o patim do trilho, atravs de uma porca. (Fig. 26).
Fig. 26 Dormente Poli-bloco FB - Fixao do trilho (Fonte: Brina)
d) Fixao dos trilhos ao dormente de concreto
A fixao do trilho ao dormente de concreto no deve ser rgida para
no danificar o concreto em seus pontos de contato. Nessa fixao
utilizada uma placa de apoio, fixada ao dormente por meio de parafusos
ou tirefonds. costume deixar-se no concreto um dispositivo metlico,
ao qual vai aparafusado o tirefond.
A fixao do trilho placa feita de vrias formas. As mais comuns,
atualmente, so: por meio de castanha e porca, guarnecidas por uma
arruela de presso; fixao do tipo Pandrol (grampo elstico), Fig. 27;
RN Soneville (chapa elstica dobrada, com parafuso ancorado ao
perfil metlico de ligao), Fig. 24.
Fig. 27 Fixao tipo PANDROL (Fonte: Brina)
3.3.2.3.2.4. Comparao entre os Tipos de Dormentes
- Vantagens e Desvantagens:
75
a) Dormentes de Madeira
a.1) Vantagens
- menor custo inicial;
- resistem a grandes cargas por eixo;
- grande flexibilidade;
- rolamento suave;
- elasticidade;
- fcil manuseio;
- bom isolamento eltrico;
- permite instalao nas juntas;
- aceita Trilho Longo Soldado (TLS) ou Trilho Contnuo Soldado (TCS);
- absorve melhor as conseqncias de um descarrilamento;
- permite o uso de bitola mista;
- aceita reutilizao em outras bitolas diferentes;
- permite o uso de todos os tipos de fixao;
- possibilita a mudana do perfil do trilho sem troca do dormente.
a.2) Desvantagens
- necessita de tratamento;
- inflamvel;
- necessita de grandes reas e de mobilizao de razovel capital,
para secagem e tratamento;
- necessita de um poltica de reflorestamento consistente e constante;
- Perda gradativa de resistncia ao deslocamento das fixaes rgidas;
- maior interferncia com manuteno de via;
- vida til decrescente;
- crescente escassez da matria prima.
b) Dormentes de Ao
b.1) Vantagens
- vida til elevada;
- maior estabilidade lateral da via;
- possibilidade de emprego de diversos tipos de fixao;
- manuteno rgida da bitola, mesmo em curvas com raios apertados;
- permite utilizao em qualquer traado;
76
- facilidade de manuseio devido ao pequeno peso;
- permite reutilizao, aps acidente na linha.
b.2) Desvantagens
- grande propagador de rudos;
- dificuldade de isolamento eltrico (entre as filas de trilhos);
- alto custo inicial;
- possibilidade de corroso qumica e galvnica;
- pouca tradio de uso acarreta desconhecimento prtico;
c) Dormente de Concreto
c.1) Concreto Monobloco
c.1.1) Vantagens
- vida til prevista elevada;
- confere grande estabilidade via;
- invulnerabilidade ao fogo;
- invulnerabilidade a insetos e fungos;
- possibilidade de fabricao prximo ao local de uso;
- possibilidade de produo ilimitada;
- manuteno rgida da bitola;
- facilidade de controle de qualidade de fabricao;
- facilidade de inspeo;
- menor taxa de aplicao, por km (menor quantidade por km);
- admite diversas opes de fixaes elsticas de trilhos;
c.1.2) Desvantagens
- alto custo do investimento inicial;
- dificuldade de manuseio devido ao peso;
- maior destruio, em caso de descarrilamento;
- insuficincia de dados sobre vida til;
- no pode ser aplicado em juntas de trilhos;
- exige maior cuidado na distribuio do lastro, para evitar apoio na
parte central;
- exige maior cuidado na socaria , para no danificar bordas;
- exige boa infra-estrutura;
77
- no permite aproveitamento com cargas acima das projetadas;
- necessita maior volume de lastro;
c.2) Concreto Bi-bloco
c.2.1) Vantagens
- vida til prevista elevada;
- confere grande estabilidade via;
- invulnerabilidade ao fogo;
- invulnerabilidade a insetos e fungos;
- possibilidade de fabricao prximo ao local de uso;
- possibilidade de produo ilimitada;
- manuteno rgida da bitola;
- facilidade de controle de qualidade de fabricao;
- facilidade de inspeo;
- relativa facilidade de manuseio, por ter menor peso;
- maior possibilidade de reaproveitamento aps acidentes na via;
c.1.2) Desvantagens
- alto custo do investimento inicial;
- fixaes RN e S-75 no resistem bem a esforos laterais elevados;
- no suporta impacto nas juntas;
- insuficincia de dados sobre vida til;
- no pode ser aplicado em juntas de trilhos;
- no permite utilizao em AMVs, cruzamentos e pontes;
- exige maior cuidado na socaria , para no danificar bordas;
- exige boa infra-estrutura;
- maior vulnerabilidade em caso de acidentes;
- necessita maior volume de lastro;
- no permite aproveitamento com cargas acima das projetadas;
3.3.2.3.2.5. Dormentes deformaes e reflexos sobre a bitola
O procedimento de soca ou socaria consiste na manipulao do
lastro, com alavancas ou agulhas vibratrias, de modo a obter sua
aglomerao e compactao em torno da regio mais solicitada pelos
esforos verticais oriundos da linha frrea, isto , sob os dormentes e
imediatamente abaixo dos trilhos. Essa a chamada soca normal.
78
Por diversos motivos de ordem prtica, nem sempre isso possvel e
freqentemente, o lastro resulta mais concentrado (mais compacto), na
regio central do dormente soca central, ou em suas extremidades
soca terminal.
Estando o dormente apoiado sobre o lastro, quando o mesmo
solicitado pelos esforos normais via, oriundos da passagem dos
veculos ferrovirios, aparecem deformaes no seu eixo que se
refletem na bitola da via.
Assim, para soca normal, a bitola permanece constante, pois os apoios
do dormente permanecem sob os trilhos; para soca central, o apoio
intermedirio promove o recalque das extremidades do dormente
(momento negativo) e por isso os boletos dos trilhos se afastam e a
bitola aumenta; no caso da soca terminal, o apoio est nas
extremidades, ocorre o recalque do centro do dormente (momento
positivo), os boletos dos trilhos aproximam-se e a bitola diminui.
O Diagrama de Webb mostra como deveria se comportar a linha
elstica de um dormente no caso da soca normal, durante a passagem
de um veculo ferrovirio.
Assim, medies feitas com extensmetros instalados na face superior
dos dormentes, podem, em comparao com este diagrama, permitir a
avaliao do estado de compactao do lastro, subsidiando os
procedimentos de manuteno da via. Ver Fig. 28.
Fig. 28 Deformaes dos Dormentes Diagrama de Webb (Fonte: Furtado Neto)
79
3.3.2.3.2.6. Clculo dos Esforos nos Dormentes
a) Momento Fletor
M = (q
o
/ 8) x (L b
t
y)
b) Mdulo Resistente
W = (b x t
2
) / 6
c) Tenso Flexo
o = M / W
d) Mxima Tenso Admissvel Flexo, em dormentes de madeira
o ~ 1.100 psi ~ 77 kgf / cm
2
e) Nomenclatura
- q
o
- carga mxima num apoio de trilho sobre o dormente;
- L - comprimento do dormente;
- b
t
- espaamento entre eixos de trilhos;
- y - largura da placa de apoio que recebe o trilho;
- M - mximo momento fletor, no dormente;
- W - mdulo resistente, do dormente;
- o - mxima tenso de flexo, no dormente;
- b - largura do dormente;
- t - espessura do dormente;
- o - tenso admissvel, flexo.
f) Exemplo Numrico
Verificar as condies de trabalho dos dormentes de madeira, em um
dado trecho ferrovirio, onde prevalecem as seguintes condies:
- dimenses do dormente: 2,00 x 0,22 x 0,16 (m);
- distncia entre eixos de trilhos: 1,05 (m);
- largura da placa de apoio dos trilhos: 25 (cm);
- comprimento efetivo de suporte dormente lastro: 70 (cm);
- espessura mdia de lastro: 40 (cm);
- peso por eixo: 23 (t);
- coeficiente de impacto dinmico: 1,4;
80
- distncia entre eixos: 2,2 (m);
- taxa de dormentao: 1.800 p/km.
- Soluo:
a) a = 1.000 / 1.800 = 0,56
b) n = d / a = 2,2 / 0,56 = 3,93
c) q
o
= P
c
= (P
r
/ n) x C
d
= [(23.000 / 2) / 3,93] x 1,4 = 4.096,69 kgf
d) M = (q
o
/ 8) x (L b
t
y) = (4.096,69 / 8) x (200 105 25) =
= 35.846,06 kgf.cm
e) W = (b x t
2
) / 6 = (22 x 16
2
) / 6 = 938,67 cm
3
f) o = M / W = 35.846,06 / 938,67 = 38,19 kgf/cm
2
g) o ~ 77 kgf/cm
2
> 38,19 kgf/cm
2
- Concluso: Os esforos existentes, nas condies fornecidas, no
superam a capacidade de trabalho admissvel do
dormente de madeira, flexo.
3.3.2.4. Trilhos
3.3.2.4.1. Introduo
Trilho o elemento da superestrutura que constitui a superfcie de
rolamento para as rodas dos veculos ferrovirios servindo-lhes, ao
mesmo tempo, de apoio e guia.
Os trilhos sofreram grande evoluo ao longo da histria do transporte
ferrovirio, tendo em vista o desenvolvimento da tecnologia do ao.
A forma e o comprimento das peas evoluram, gradativamente, at
alcanarem as modernas sees e pesos por metro, suportando as
grandes cargas por eixos, dos trens modernos.
81
Fig. 29 Evoluo do Perfil dos Trilhos Perfis de Ao Chato, para apoio contnuo.
(Fonte: Furtado Neto)
Fig. 30 Evoluo do Perfil dos Trilhos Perfis com capacidade de carga para apoios isolados
(Fonte: Furtado Neto)
Por ser mais econmica e eficiente, estruturalmente, a seo em duplo
T, foi adotada desde o incio do desenvolvimento do transporte
ferrovirio. Devido ao grande desgaste a que est sujeito pelo atrito com
as rodas, o perfil do trilho evoluiu para uma seo em que a mesa
superior passou a ter espessura, consideravelmente, maior que a da
alma, para permitir seu uso continuado, mesmo aps longo tempo de
servio. Foi essa a constatao que levou Stephenson a desenvolver o
chamado Trilho de Duas Cabeas.
Fig. 31 Trilho de Duas Cabeas Stephenson (Fonte: Brina)
82
As dificuldades encontradas para fixao desse perfil fizeram com que
fosse o mesmo abandonado, em favor do perfil idealizado,
anteriormente, pelo engenheiro ingls Vignole (1836) que basicamente,
compunha-se de trs partes: boleto, alma e patim.
Fig. 32 Perfil Vignole moderno (Fonte: Brina)
Nos transportes urbanos por bondes, era utilizado o chamado trilho de
fenda, cuja forma permitia que o calamento das ruas envolvesse o
trilho, sem impedir que a roda ferroviria se apoiasse, convenientemente
e fosse por ele guiada. Os frisos das rodas corriam na fenda.
Fig. 33 Trilho de Fenda (Forte: Brina)
3.3.2.4.2. Composio do Ao para os Trilhos
As caractersticas necessrias para que o trilho exera suas funes,
so:
- Dureza;
- Tenacidade;
- Elasticidade;
- Resistncia flexo.
Entre os materiais disponveis, atualmente, o ao o que atende
melhor, a estas exigncias.
83
Os principais componentes do ao e as influncias em suas principais
caractersticas so:
a) Ferro - 98% da composio do trilho. o elemento bsico do ao e
determina suas principais qualidades (dureza, ductilidade,
maleabilidade, tenacidade, resistncia flexo, etc.);
b) Carbono Proporciona dureza ao ao. Em grandes porcentagens
torna-o quebradio, principalmente, em presena de altos teores de
fsforo;
c) Mangans - Proporciona maior dureza ao ao mas, elevados teores
de mangans, tornam o ao de difcil trabalhabilidade e tambm, frgil
em presena de altos teores de carbono. Encarece o custo do trilho.
empregado em trilhos de ao-liga, peas especiais e em Aparelhos de
Mudana de Via (AMVs);
d) Silcio - Era considerado inerte no ao. Sabe-se, hoje que aumenta
a resistncia ruptura, sem afetar a ductilidade e a tenacidade;
e) Fsforo - um elemento indesejvel. Torna o ao quebradio. Essa
ao diminui medida que diminui o teor de carbono;
f) Enxofre - um elemento indesejvel. Ao combinar-se com o ferro,
retira-lhe as principais qualidades, formando aquilo que chamado de
segregao.
A maior parte dos trilhos fabricados no mundo de ao-carbono. Em
vrios pases, so tambm fabricados trilhos de aos-liga, sobre cuja
aplicao discorrer-se , adiante.
3.3.2.4.3. Fabricao dos Trilhos
O produto da fundio, nos altos fornos siderrgicos, uma liga de ferro
com alto teor de carbono, duro frgil e no malevel. A sua
transformao em ao se d ao mesmo tempo em que se abaixa o teor
de carbono e se eliminam as impurezas existentes, tais como: fsforo e
enxofre.
Da concha de fundio o ao vertido em moldes tronco-piramidais de
fundo mvel, chamados de lingoteiras. Sua seo mdia de,
aproximadamente, 50 cm x 50 cm, contendo, por volta de 5 toneladas de
ao.
84
Os trilhos so laminados quente, a partir de segmentos dos lingotes,
chamados de blocos.
A seo do trilho obtida pela passagem sucessiva do bloco ainda
aquecido a altas temperaturas, atravs de uma srie de cilindros de
laminao que em uma seqncia de 9 (nove) passos, lhe do a forma
caracterstica.
Fig. 34 Representao esquemtica da seqncia de laminao. (Fonte: Schechtel)
As operaes so projetadas de modo que a seo trapezoidal do bloco
vai, gradativamente, sendo transformada na seo do perfil de trilho tipo
Vignole.
Esta operao requer preciso no desenho dos contornos dos cilindros
de laminao e estreita superviso em todas as fases do processo, at a
obteno da seo desejada.
3.3.2.4.4. Especificaes e Ensaios de Recebimento
Existem, ao redor do mundo, especificaes tratando deste assunto,
elaboradas pelas mais diversas organizaes tcnicas e ferrovirias:
- UIC Unio Internacional das Estradas de Ferro;
- ASTM American Society for Testing and Materials;
- AREA American Railway Engineering Association;
- ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas.
Estas especificaes tratam, especificamente, dos ensaios a serem
efetuados no recebimento dos trilhos, sendo tanto mais rigorosas,
quanto mais evoluda a tecnologia de fabricao do ao.
No Brasil, os trilhos eram fabricados unicamente pela Companhia
Siderrgica Nacional CSN, de Volta Redonda/RJ, at 1995 e
obedeciam s especificaes oriundas da ASTM, da AREA e da ABNT.
85
Sua produo foi suspensa por ausncia de demanda. Atualmente, todo
o trilho consumido no pas (cerca de 80.000 toneladas/ano),
importado, principalmente, da China e da Polnia.
Assim, de acordo com as normas vigentes da ABNT, temos:
a) Dimenses e Peso:
Os trilhos eram fabricados no Brasil, nos comprimentos padro de 12 m
e 18 m. Os trilhos chineses podem ser encomendados com at 100 m
de comprimento, exigindo, entretanto, equipamentos especiais para o
seu manuseio.
Tolerncias:
- Comprimento: 3 mm;
- Dimenses da seo transversal: 0,5 mm;
- Peso: at 2%, na pesagem dos lotes de 50 p, desde que na
totalidade da encomenda, seja s 1%.
b) Prova de Choque:
um ensaio efetuado em uma mquina (padro AREA) que deixa cair
um peso de 2.000 libras (907,2 kgf), de uma altura padronizada
conforme o peso do perfil ensaiado, em queda livre no meio do vo, de
uma amostra de trilho apoiada em suportes ajustveis, vo este que
pode variar de 91 a 142 cm. A altura de queda varia de 4,88 a 6,10 m,
dependendo da seo do trilho ensaiado. O comprimento do corpo de
prova varia entre 120 e 180 cm e sua temperatura no deve exceder a
38 C.
Fig. 35 Esquema de Prova de Choque (Fonte: Schechtel)
So ensaiadas amostras de todas as corridas, (uma por lingote).
86
PESO DO TRILHO (kgf/m) ALTURA DE QUEDA DO MARTELO (m)
24,8 a 29,8 4,88
29,8 a 39,7 5,18
39,8 a 44,6 5,49
44,7 a 49,6 5,79
49,7 a 59,5 6,10
Cada corrida produz diversos lingotes que divididos em blocos, so
laminados quente, para fabricao dos trilhos. Os corpos de prova so
tirados do topo dos trilhos selecionados e testados na seguinte
seqncia:
- Trilho A (1 trilho), dos lingotes n 1, n 2 e n 3 (em algumas normas
escolhe-se o 2, o intermedirio e o ltimo lingote);
- Trilho B (2 trilho), do lingote n 2;
- Trilho C (3 trilho), do lingote n 3.
Assim, so testados os Trilhos A, de cada corrida. Se todos os C.P.
passarem no ensaio, todos os trilhos da corrida sero aceitos e sero
ainda sujeitos a uma inspeo quanto superfcie, seo e acabamento.
Se um dos corpos de prova no passar, sero rejeitados todos os trilhos
da corrida.
Sero, ento, ento retirados C.P. dos trilhos B. se houver alguma falha,
todos os trilhos B, da corrida, tambm sero rejeitados.
Trs corpos de prova adicionais so ento retirados dos trilhos C, dos
mesmos lingotes. No havendo falha, todo o restante da corrida ser
aceito. Se algum destes no passar no ensaio, toda a corrida ser
sucateada.
c) Ensaio de Trao
Do boleto dos trilhos j ensaiados ao choque, so retirados C.P. que
sero levados mquina de trao. Os resultados deste ensaio de
trao devero enquadrar-se, como segue:
- Carga de ruptura: 70 a 80 kgf;
- Limite de elasticidade: 35 a 40 kgf/mm
2
;
- Alongamento, em 200 mm: 10 a 12%.
Observao: se 10% do material, no atender s especificaes, toda a
corrida dever ser rejeitada.
87
d) Ensaio de Dureza Brinnel
Utiliza-se uma esfera de 10 mm de dimetro, a qual comprimida contra
o C.P., com um esforo de 3 000 kgf, durante um determinado intervalo
de tempo. O ndice de Dureza Brinnel ser dado, por:
DB = P / S = 3 000 / S, onde:
S rea da depresso impressa na superfcie do trilho;
S = (t . D) / (D
2
d
2
)
1/2
P
D
d
Fig. 36 Esquema do Ensaio de Dureza Brinnel. (Fonte: Brina)
Neste ensaio: DB > 210 kgf/mm
2
, para trilhos comuns de ao carbono.
Observaes:
1) Da Dureza Brinnel pode-se obter um valor aproximado para a
resistncia ruptura, por trao, com a expresso:
R = 0,35 DB (kgf/mm
2
);
2) A dureza do trilho determina sua resistncia ao desgaste provocado
pelo atrito das rodas, principalmente, nas curvas;
3) Os recursos utilizados para aumentar a dureza dos trilhos sero
vistos, posteriormente.
e) Ensaio de Resilincia
aplicado em 2% dos trilhos e determina o ndice de fragilidade do ao,
em funo de sua estrutura cristalina.
88
efetuado em C.Ps. de 55 x 10 x 10 mm, nos quais se faz um entalhe
com ferro redondo de 2 mm. Os C.Ps. so submetidos a sucessivos
choques, at a fratura. No se obtm resultados conclusivos sendo este,
portanto, um ensaio de avaliao qualitativa.
f) Ensaio Microgrfico
Ataca-se a superfcie de um corpo de prova (C.P.) com iodo, em soluo
alcolica, submetendo-se aps, a seo a um exame em microscpio.
Este ensaio permite caracterizar:
- Incluses (matria estranha);
- Zonas de diferentes concentraes de carbono;
- Estruturas de gros muito grossos;
- Fissuras superficiais;
- Etc.
um ensaio facultativo e tem carter qualitativo.
g) Ensaio Macrogrfico
Ataca-se a superfcie de uma amostra, com um reativo cuja velocidade
de corroso depende da composio do mesmo. Os mais utilizados so:
- Reativo de Heyn (cloreto duplo de cobre e amnio, em H
2
O);
- Reativo de Baumann (brometo de prata).
Estes reativos reagem de forma diferente com os diversos componentes
do ao, revelando segregaes, incluses, etc.
Destina-se, ento, o ensaio a mostrar, qualitativamente, sua estrutura
macroscpica (homogeneidade qumica), a olho nu.
h) Composio Qumica
So feitas anlises qumicas em limalhas (aparas), retiradas das
amostras das formas correspondentes a um dos trs primeiros e um dos
trs ltimos lingotes de uma corrida determinado-se as percentagens de
carbono e mangans. Percentagens de fsforo, enxofre e silcio, so
determinadas em aparas misturadas, uniformemente.
A mdia dos valores encontrados deve corresponder aos limites
estabelecidos para a composio qumica do trilho.
89
i) Ensaio de Entalhe e Fratura
Um corpo de prova que tenha passado no ensaio de choque entalhado
e fraturado. Se a face da fratura de qualquer destes C.Ps. exibir trincas,
esfoliaes, cavidades, matria estranha incrustrada, ou ainda, uma
estrutura brilhante e de granulometria, excessivamente, fina o trilho de
topo do lingote, representado pela amostra, passa a ser classificado
como TRILHO X.
3.3.2.4.5. Classificao dos Trilhos
O critrio da ASTM (American Society for Testing Materials) estabelece
o seguinte critrio de classificao, para os trilhos:
a) Trilho n 1 isento de qualquer defeito;
b) Trilho X aquele que no Ensaio de Entalhe e Fratura, apresentou
trincas esfoliaes, cavidades, matria estranha incrustrada ou
estrutura brilhante e de granulao fina;
c) Trilho n 2 trilho que no contm imperfeies de superfcie em tal
nmero ou de carter tal que no julgamento do inspetor encarregado,
no o tornam imprprio para o uso.
3.3.2.4.6. Marcas de Classificao
So feitas para permitir a identificao dos trilhos, quanto s suas
qualidades e caractersticas e comparao das possveis avarias, com
as qualidades reveladas nos ensaios de recebimento. As marcas podem
ser de dois tipos:
a) Estampadas na Alma
a.1) De um dos lados:
Exemplo: CSN BRAZIL RC SM TR 45 1975 IV
Significado: Marca da usina Pas de procedncia resfriamento
controlado tipo de forno utilizado [T Thomas; B Bessemer; M
Martin; E Eltrico; SM Siemens/Martin] tipo de trilho [quanto ao
peso por metro] ano da fabricao ms da fabricao [abril];
90
a.2) Do outro lado:
Exemplo: 380195 C 15
Significado: n da corrida posio do trilho no lingote n de ordem do
lingote indicao da extremidade correspondente cabea (topo), do
lingote;
b) Cor
As cores que aparecem nos trilhos novos correspondem classificao
da ASTM e indicam qual o tipo de uso preferencial a que ele deve ser
destinado.
Exemplo:
- Cor azul, em ambas as pontas: corresponde a um trilho n 1, com o
comprimento padro encomendado, cujo teor de carbono encontra-se
nos 5 pontos superiores da percentagem da faixa especificada. Deve
ser utilizado, preferencialmente, em curvas.
As cores utilizadas pela classificao da ASTM so:
- Sem cor; topo azul; topo verde; topo amarelo; topo branco; topo
marrom.
91
3.3.2.4.1. Defeitos nos Trilhos
As fraturas dos trilhos ocorrem em conseqncia, ou no mais das vezes,
esto relacionadas com os defeitos neles observados, constituindo-se
estes defeitos, em assunto de grande relevncia na operao ferroviria,
por afetarem no s a segurana como tambm, drasticamente, seu
aspecto econmico-financeiro. Assim:
- Segurana a fratura pode causar acidentes de graves propores
sociais, econmicas e ambientais;
- Econmico-Financeiro desgaste dos trilhos ou avarias prematuras
afetam, pesadamente, o equilbrio financeiro do sistema ferrovirio.
importante conhecer e identificar estes defeitos, para que se possa
evit-los ou s suas possveis conseqncias.
Os defeitos podem ser de dois tipos:
- defeitos de fabricao;
- defeitos originados em servio.
a) Defeitos de Fabricao
a.1) Vazio (bolsa de contrao)
Ocorre durante o processo de solidificao do lingote, aparecendo em
sua parte superior, variando em tamanho, conforme o volume do lingote.
um defeito grave, porque durante a laminao as paredes do vazio
no se soldam, resultando em uma trinca ou fenda que reduz a
resistncia da pea.
a.2) Segregaes
Consistem em concentraes de impurezas localizadas, principalmente,
no centro do lingote, nelas predominando os compostos de fsforo e
enxofre (que so duros e quebradios), afetando as propriedades
mecnicas e a homogeneidade da pea. Via de regra estas
segregaes vo localizar-se, aps o processo de laminao, nos
miolos dos patins, almas e boletos dos trilhos. Podero ser causas de
fissuras ou fendas. Podem ser identificadas a olho nu ou por
macrografias.
92
Fig. 37 Aparncia da segregao (Fonte: Brina)
a.3) Incluses
Incluses no metlicas surgem no ao, sendo provenientes de fontes
diversas. As mais comuns so Si O
2
e Al
2
O
3
que so insolveis no ao.
Podem ser provenientes tambm da escria do forno, do revestimento
da soleira ou do revestimento da panela. So, particularmente,
perigosas por serem de difcil deteco. So fonte potencial de
enfraquecimento, pois a sua presena, quebra a homogeneidade do
metal. Podem, tambm, ser de natureza gasosa.
A presena das incluses pode ser, em grande parte, eliminada por
uma desoxidao e pela prtica de lingoteamento, conveniente.
a.4) Fissuras Transversais
So pequenas cavidades formadas no final da laminao que podem
dar origem, posteriormente, a uma fratura, quando o trilho estiver sob
carregamento.
De acordo com a AREA fissuras transversais so fissuras progressivas
que tm incio em um centro cristalino ou ncleo, localizado na parte
interna do boleto, do qual, se propagam para o exterior com uma
superfcie arredondada ou oval, brilhante ou escura, lisa,
substancialmente em ngulo reto ao comprimento do trilho.
Quando aparece no boleto, a fissura pode dar origem a uma escamao
ou a uma ruptura em forma de concha (shelling).
Tendo em vista a importncia deste defeito e o grande perigo que
oferece ao trfego dos trens, foram desenvolvidas pesquisas que
93
resultaram na inveno de diversos aparelhos capazes de detectar sua
presena no interior dos trilhos. Entre estes aparelhos podemos citar:
- Detector Sperry: permite localizar uma fissura transversal e outros
defeitos. Funciona com a gerao de um campo magntico;
- Sonirail (Matisa-Suia): Funciona por emisso de um feixe sonoro
vertical de freqncia modulada.
a.5) Defeitos de Laminao
So perceptveis a olho nu, ao fim do processo de laminao e no tm
influncia na segurana do trfego. Consistem em: ondulaes,
rebarbas, pregas, etc.
b) Avarias Originadas em Servio
b.1) Deformao das Pontas
Ela ocorre devido ao desnivelamento dos dormentes nas pontas dos
trilhos, fadiga do metal e fraturas junto aos furos dos parafusos das talas
de juno. Para evit-la a manuteno da via deve manter nivelados os
dormentes das juntas.
b.2) Auto-Tmpera Superficial
um fenmeno provocado pela patinao das rodas de trao ou pela
frenagem. Consiste em uma camada, superficialmente, endurecida
(tmpera) que produz pequenas fissuras superficiais que podem
propagar-se para o interior do trilho.
b.3) Escoamento do Metal na Superfcie do Boleto
uma deformao permanente, produzida por trabalho mecnico a frio,
devido ao martelamento das rodas. Acarreta um alargamento na
dimenso do boleto e rebarbas em suas extremidades.
b.4) Desgaste da Alma e do Patim, por Ao Qumica
provocado pelo ataque qumico causado por determinados produtos
transportados pela ferrovia. Exemplo: enxofre, sal, salitre, carvo
mineral com alta percentagem de enxofre, etc.
94
Em regies litorneas, a maresia costuma atacar os trilhos, assim
como, em tneis que so, normalmente, midos, comum a ocorrncia
de oxidao.
b.5) Desgaste dos Trilhos por Atrito
Ocorre, principalmente, nas curvas e ainda mais, naquelas de menor
raio.
b.6) Desgaste Ondulatrio
originado por vibraes produzidas nos trilhos que fazem variar a
aderncia e presso nos pontos de contato das rodas de trao,
gerando uma seqncia de deslizamentos elementares, produzindo um
desgaste de aparncia ondulatria.
No acarreta perigo ao trfego, mas aumenta o rudo e provoca
desconforto aos passageiros e aos vizinhos das linhas frreas.
b.7) Fraturas nos Trilhos
So originadas, normalmente, por defeitos internos (principalmente,
fissuras), mas tambm, podem ocorrer em virtude do envelhecimento do
trilho, por fadiga do metal.
3.3.2.4.2. Trilhos Especiais
As altas tonelagens (locomotivas de 180 t e vages de 120 t), trens de
trao mltipla e grandes composies (100 a 200 vages), passaram a
exigir trilhos com maior resistncia ao desgaste, onerando em muito a
operao das ferrovias.
Duas tcnicas so utilizadas para ampliar a vida til dos trilhos, quanto
ao fator desgaste:
- Tratamento trmico dos trilhos;
- Utilizao de trilhos fabricados com aos especiais (aos-liga).
a) Tratamento Trmico dos Trilhos
A quantidade de carbono presente na liga influi sobre a estrutura
cristalina do ao, mas a temperatura mxima e a velocidade do
95
resfriamento determinam esta estrutura cristalina e as caractersticas
mecnicas finais dos aos.
O tratamento trmico do ao consiste, basicamente, em fazer-se-lhe a
tmpera mergulhando-o, bruscamente, em lquido frio, aps t-lo
aquecido a altas temperaturas.
O estgio seguinte consiste em dar-se um recozimento ao ao, aps a
tmpera.
Desta forma, o tratamento trmico fornece superfcie do trilho, uma
estrutura sorbtica que atravs da tmpera, proporciona grande dureza
e tenacidade. O recozimento, utilizando o calor residual, atenua o efeito
da tmpera, criando o efeito chamado de revenido, devolvendo parte
de sua elasticidade inicial.
Os trilhos assim tratados acusam em seu boleto, um acrscimo de
resistncia trao da ordem de 15 kgf/mm
2
e de 40 a 60 pontos, no n
de Dureza Brinnel, tendo assim, a sua vida til ampliada, sensivelmente.
O tratamento trmico pode ser aplicado de trs formas, a saber:
- por imerso (todo o trilho);
- por chama (s o boleto);
- por induo energia eltrica (s o boleto).
b) Trilhos de Aos-Liga
Aos-Liga so aqueles que tm em sua composio elementos qumicos
que por sua quantidade, contribuem para melhorar, consideravelmente,
as suas propriedades mecnicas.
Os principais elementos que contribuem para aumentar a resistncia
mecnica do ao so o mangans e o cromo. (O silcio tambm tem sido
empregado, pois contribui para o aumento da resistncia).
No Brasil, a CSN fabricava, antes de sua privatizao, trilhos de ao-
cromo-mangans, com a seguinte composio qumica:
- carbono: ....0,65 a 0,86 %;
- mangans: 0,80 a 1,30 %;
- cromo: .......0,70 a 1,20 %;
- fsforo: ......< 0,035 %.
96
Os ensaios de resistncia mecnica efetuados em trilhos deste material
revelavam os seguintes ndices:
- limite de resistncia trao: ......................... 100 kgf/mm
2
;
- limite de escoamento: ......................................58 kgf/mm
2
;
- alongamento percentual, em 50 mm: ...............8 %;
- dureza Brinnel (na superfcie de rolamento): 300 a 348 (com mdia
de 315 e mnimo de 290).
Outro tipo de ao-liga, tambm era produzido pela CSN e vinha
apresentando excelentes resultados, em trilhos. Era conhecido pelo
nome comercial NIOBRAS 200, sendo composto por: nibio; mangans
e silcio. Sua dureza Brinnel atingia os 200 pontos.
3.3.2.4.3. A Seo Transversal dos Trilhos
Os perfis do boleto do trilho e do aro da roda foram desenvolvidos de
modo a proporcionarem, em conjunto, as melhores condies de
rolamento e assegurarem ao friso, a funo de guia para a roda.
O trilho instalado com uma inclinao de 1:20, em relao vertical e
oferece uma superfcie de rolamento, levemente, arredondada
reduzindo, assim, o desgaste de trilho e aro, ao mesmo tempo.
O ngulo |, do friso da roda , geralmente, de 60(Fig. 37). Constatou-
se, na prtica que se | > 60, h mais facilidade de, a roda subir nas
juntas, se houver discordncia de alinhamento das pontas de trilhos e se
| < 60, facilita-se a subida do friso no boleto (acavalamento),
provocando-se descarrilamentos.
Fig. 38 Apoio de roda sobre trilho (Fonte: Brina)
97
3.3.2.4.3.1. Relaes entre as Dimenses da Seo Transversal do
Trilho
Vimos, anteriormente que a definio da seo de trilho que hoje
conhecemos (perfil Vignole), com a forma de um I deformado, (ou
duplo T), resultou assim, por ser a mais conveniente, em vista dos
esforos a que a mesma estaria sujeita, quando em servio na via.
Entretanto, para otimizar-se economicamente esta seo foram
necessrios vrios anos de pesquisas e experimentos no sentido de ser
obtida a melhor distribuio de massa entre suas partes componentes
(boleto, alma e patim).
O boleto est sujeito a severos desgastes nos sentidos lateral e vertical,
assim sendo, sua largura C e sua altura e, so dimensionadas para
resistirem durante maior tempo a estes desgastes.
O desgaste lateral mais acentuado nas curvas e se desenvolve,
normalmente, por desbaste lateral do boleto segundo um ngulo u,
com a vertical.
O desgaste vertical desenvolve-se por desbaste do boleto em sua
superfcie horizontal superior. A altura do boleto deve ser maior que o
exigido pelas condies de segurana, a fim de compensar com folga ao
desgaste vertical que se admite atingir at 12 mm, em vias principais e
15 mm, em vias secundrias.
Fig. 39 Desgastes Lateral e Vertical do Boleto. (Fonte: Brina)
Largura e altura do boleto devem guardar, entre si, uma relao tal que
o desgaste lateral no determine a substituio do trilho, antes que o
mesmo tenha atingido o limite estipulado, para o desgaste vertical.
Por este aspecto, a relao C/e fica, aproximadamente, entre 1,6 e 1,8.
98
A quantidade de metal (massa), do perfil deve ser tal que o desgaste do
boleto seja atingido, concomitantemente, com o desgaste das outras
partes (alma e patim). Alm disso, para maior facilidade de laminao e
para se evitar defeitos devidos ao desigual resfriamento das suas
diversas partes, procura-se obter uma distribuio de massa metlica,
to uniforme quanto possvel, entre as mesmas.
A proporo entre as massas das partes do perfil, em relao massa
total, deve ser a seguinte:
a) boleto: 40 a 42 %;
b) alma: 22 a 18 %;
c) patim: 38 a 40 %
Fig. 40 Perfil Vignole. Distribuio de massas na seo. Principais esforos atuantes.
(Fonte: Brina)
A altura h deve ser sempre suficiente para que o trilho suporte,
elasticamente, as cargas previstas, mesmo aps o desgaste mximo
previsto para o boleto.
A proporo ideal entre h e L, est entre 1,0 e 1,1:
h / L ~ 1,0 e 1,1
Observao:
- Todos os perfis do ASCE tm h / L = 1,0;
3.3.2.4.3.2. Esforos Atuantes no Perfil
O perfil do trilho estar submetido a dois esforos principais:
- P peso da roda;
- F
t
- esforo lateral.
99
Estes esforos causam momentos, na seo:
- M
t
= F
t
x h (que causa o tombamento reviramento - do trilho na
direo do esforo e combatido pela fixao e
resistido, internamente, pela ligao entre alma e
patim e equilibrado pelo M
P
);
- M
P
= P x L / 2 (que atua, favoravelmente, estabilidade do trilho).
3.3.2.4.3.3. Momento de Inrcia e Coeficiente de Utilidade
O momento de inrcia das sees dos trilhos fornecido nos catlogos
dos fabricantes, alm de aparecer na maioria dos livros de Resistncia
dos Materiais.
O momento de inrcia tambm pode ser calculado, aplicando-se a
Equao do Teorema dos Eixos Paralelos (Teorema de Huyghens-
Steiner), em que se divide a seo em figuras geomtricas de
momentos de inrcia conhecidos:
I = I
0
+ z
2
. S
Em valores aproximados, o Momento de Inrcia e o Mdulo de
Resistncia Flexo, podem ser obtidos pelas expresses empricas:
I = h
2
. S
onde:
- S rea da seo transversal do perfil;
- h altura do perfil.
W = 0,25 a 0,27 h . S
onde:
- W mdulo resistente.
Coeficiente de Utilidade (C) um ndice que permite comparar dois
perfis diferentes, em relao a uma dada aplicao. O que apresentar o
maior valor para C, ser o mais econmico.
C = W / P
onde:
- W mdulo resistente;
- P peso do trilho, em kgf/m.
100
3.3.2.4.4. Durabilidade dos Trilhos e Limite de Uso
importante para o gerenciamento de manuteno de uma linha,
estabelecer critrios que definam as tolerncias para o desgaste dos
trilhos, sem afetar a segurana de circulao na via, estabelecendo
assim, seu Limite de Utilizao, j que isto afeta criticamente a
economia da explorao ferroviria, em vista do custo direto do material
e da mo de obra empregada para sua substituio.
Os alguns dos critrios mais usados so:
a) Desgaste Vertical do Boleto:
- linhas principais: < 12 mm;
- linhas secundrias: 12 a 15 mm.
b) Desgaste Lateral do Boleto:
- ngulo de Desgaste (u): mximo de 32 a 34;
c) Perda de Peso:
- Perfis at 45kgf/m: at 10%;
- Perfis maiores que 45 kgf/m: no mximo 15 a 20 %.
d) Perda de rea do Boleto:
- Limite de Desgaste: 25% da rea.
Existem tambm critrios de controle de desgaste dos trilhos que se
baseiam na relao estatstica existente entre a perda de peso do trilho
e a quantidade de toneladas que sobre ele circularam em um
determinado intervalo de tempo. Como exemplo, podemos citar dois
deles:
a) Critrio de Wellington (EUA):
b) Critrio da AREA (1962).
Observaes:
1) O problema de desgaste de trilhos , especialmente crtico para
ferrovias de trfego pesado (como de trens de minrio);
2) A resistncia ao desgaste de uma linha pode ser ampliada pela
utilizao de trilhos de aos-liga ou de trilhos tratados termicamente
(custo elevado);
101
3) Para a reduo do desgaste, aconselhada a lubrificao dos trilhos,
principalmente nas curvas de pequeno raio, ou ainda a lubrificao
dos frisos das rodas;
4) A inscrio correta dos truques dos veculos, nas curvas, obtida
com a perfeita lubrificao dos pratos dos pees, tambm, de
grande importncia no combate ao desgaste dos trilhos;
5) Os aros das rodas devem ter dureza um pouco inferior dos trilhos
porquanto, menos onerosa a retificao dos aros, do que a
substituio dos trilhos.
3.3.2.4.5. Tipos de Trilhos Fabricados no Brasil
No Brasil, at 1995, os trilhos eram fabricados pela Companhia
Siderrgica Nacional CSN, de Volta Redonda/RJ e padronizados pela
Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT/PB-12 (atual NBR
12320:1965). Na Fig. 41, apresentamos um quadro resumo das
caractersticas dos trilhos fabricados pela CSN.
Fig. 41 Quadro resumo das caractersticas dos trilhos da CSN (Fonte: Brina)
102
3.3.2.4.6. Dilatao dos Trilhos
Os trilhos variam de comprimento com a variao da temperatura.
Para garantir a continuidade da linha, as extremidades dos trilhos so
conectadas atravs de acessrios chamados de talas de juno. Os
trilhos tm suas pontas furadas, nos locais onde se adaptam as talas de
juno. Estes furos so circulares e devem ter dimetro um pouco maior
do que o dimetro dos parafusos de fixao, para permitirem a livre
dilatao dos trilhos.
a) Clculo da folga das juntas de dilatao
Definindo-se como folga (j), a distncia necessria para que o
comprimento dos trilhos varie, livremente, com a temperatura sem haver
no entanto, transmisso de esforos axiais entre trilhos justapostos,
teremos:
j = o l( t
m
t
c
) + 0,002
onde:
j folga da junta de dilatao;
o - coeficiente de dilatao dos trilhos (o = 0,00000115);
t
m
temperatura mxima a que estar sujeito o trilho;
t
c
temperatura de assentamento;
l comprimento do trilho.
b) Clculo do dimetro do orifcio
O dimetro do orifcio do trilho ser dado, por:
d = b + j
mx
onde:
d dimetro do orifcio;
b dimetro do parafuso;
j
mx
folga calculada para a mxima variao prevista de temperatura.
c) Clculo da distncia do primeiro furo extremidade do trilho
Sendo, conforme a Fig.41:
d - o dimetro do furo do trilho;
b - o dimetro do parafuso;
a - a distncia dos furos das talas (igual distncia dos centros dos
parafusos);
e - a distncia que se procura (centro do primeiro furo extremidade do
trilho) e
103
x - a distncia entre o centro do furo do trilho ao centro do parafuso.
Tem-se:
e = ( a / 2 ) x
x = ( d / 2 ) ( b / 2 ) = ( d b )
e = ( a / 2 ) ( d b )
e = ( a + b - d )
Fig. 42 Posicionamento dos furos (Fonte: Brina)
3.3.2.4.7. Acessrios dos Trilhos
3.3.2.4.7.1. Acessrios de Ligao
a) Talas de Juno
So duas peas de ao, posicionadas em ambos os lados do trilho,
apertadas contra a parte inferior do boleto e a parte superior do patim,
visando estabelecer a continuidade dos trilhos.
So dois, os tipos principais de talas de juno (Fig. 42):
- lisa ou nervurada;
- cantoneira.
104
Fig. 43 Talas de Juno (Fonte: Brina)
Existem talas de 4 (quatro) e de 6 (seis) furos, sendo que estas ltimas
tm melhor funcionamento e adaptam-se melhor s curvas.
No Brasil, as talas de juno fabricadas pela Companhia Siderrgica
Nacional CSN obedeciam as especificaes americanas da ASCE
(American Society of Civil Engineers) e da AREA (American Railway
Engineers Association) e eram designadas, convencionalmente, pela
sigla TJ, seguida do n que indica o peso por metro do trilho
correspondente (TJ 25, TJ 37, TJ 45, ..., ).
As talas de juno so fabricadas por laminao a quente, da mesma
forma que os trilhos.
So feitos, um ensaio de trao e um de dobramento para cada corrida.
b) Parafusos
As talas de juno so apertadas contra a alma dos trilhos, por
parafusos comuns, com porcas dotadas de uma "gola" oval que se
encaixa na tala e tem por finalidade, evitar que o parafuso gire, ao ser
apertado pela porca, sem que seja necessrio prend-lo com uma
contra-ferramenta.
O dimetro do parafuso varia com o tipo de trilho.
c) Arruelas
So utilizadas para evitar que o parafuso afrouxe com a trepidao da
linha.
105
A mais utilizada, a do tipo GROWER que um tipo de arruela de
presso, feita para absorver as vibraes e manter o aperto desejado,
mesmo aps um ligeiro afrouxamento da porca.
Fig. 44 Arruela de Presso Tipo GROWER (Fonte: Brina)
3.3.2.4.7.2. Placas de Apoio
So chapas de ao dotadas de furos para a passagem dos elementos
de fixao, introduzidas entre o trilho e o dormente para aumentar a
rea de apoio entre eles.
Os furos no so alinhados para no determinarem o aparecimento de
rachaduras nos dormentes de madeira.
Fig. 45 Placa de apoio (Fonte: Brina)
A placa de apoio prolonga a vida til do dormente, evitando seu
cisalhamento pela ao das bordas dos patins.
Como o patim encosta nas nervuras, todo o esforo transversal
existente na via, transmitido ao dormente por via da pregao.
106
Aplaca de apoio projetada com uma inclinao de 1:20, em relao
vertical, para o lado interno dos trilhos, dispensando-se assim que isto
seja efetuado no entalhe dos dormentes, simplificando o procedimento
de entalhao. Isto faz com que o trilho que nela apoiado, adquira a
mesma inclinao. A inclinao dos trilhos tem a propriedade de reduzir
os desgastes dos boletos dos trilhos, bem como, dos aros e dos frisos
das rodas.
As dimenses das placas de apoio variam com as dimenses dos
trilhos.
So acessrios designados pelas letras PA, seguidas do nmero que
caracteriza o peso por metro do trilho correspondente. (Ex.: PA 37).
3.3.2.4.7.3. Acessrios de Fixao
a) Fixaes Rgidas
So os acessrios necessrios fixao do trilho ao dormente ou
placa de apoio. Podem ser de dois tipos:
- Prego ou grampo de linha;
- Tirefond (tirefo).
a.1) Prego de Linha ou Grampo de Linha
Tem seo retangular e terminado em forma de cunha. Deve ser
cravado a golpes de marreta em um pr-furo. Apresenta a,
inconveniente, tendncia, de rachar o dormente, (Fig. 46, a).
Oferece pouca resistncia ao arrancamento (2 200 kgf) e a eventual
folga entre ele e o patim permite a movimentao longitudinal dos
trilhos.
a.2) Tirefond (Tirefo)
uma espcie de parafuso de rosca soberba, em cuja cabea adapta-
se uma chave especial ou cabeote de uma mquina chamada
tirefonadeira, utilizada para aparafus-lo ao dormente, (Fig. 46, b).
Esta fixao fica mais solidria com a madeira, sacrifica menos as fibras
da madeira e oferece maior resistncia ao arrancamento (7 000 kgf).
107
A cabea do tirefond tem uma base alargada, em forma de aba de
chapu que na face inferior tem a mesma inclinao do patim do trilho,
de modo a adaptar-se ao mesmo. A forma de sua cabea fecha,
hermeticamente, o furo impedindo a penetrao de gua, evitando,
desta forma o apodrecimento.
Fig. 46 Fixaes Rgidas (Fonte: Brina)
)
Para um melhor aproveitamento do dormente, em seguidas operaes
de manuteno, usual fazer-se a pregao cruzada que consiste em
colocarem-se os pregos ou tirefonds deslocados do centro do dormente,
em posio diagonal, em lados opostos do eixo do trilho, para permitir
nova pregao, em posio simtrica, quando a primeira afrouxar-se.
Fig. 47 Pregao Cruzada (Fonte: Brina)
b) Fixaes Elsticas
As fixaes elsticas so dispositivos de ao doce que oferecem
desempenho muito superior ao das rgidas existindo vrios tipos
disposio no mercado, os quais adaptam-se a qualquer tipo de
dormente.
108
Para este tipo de fixao a presso nos trilhos de, no mnimo, 1 000
kgf, por unidade. Os principais tipos so:
b.1) Fixao tipo GEO ou K
Consiste em uma placa de ao, fixada ao dormente com tirefonds,
possuindo nervuras nas quais se encaixam as cabeas dos parafusos
que fixam fortemente uma espcie de castanha, contra o patim do
trilho. Estes parafusos so ajustados com arruelas de presso que
tornam esta ligao elstica.
Fig. 48 Fixao Elstica Tipo GEO ou K. (Fonte: Brina).
b.2) Grampo Elstico Simples
um tipo de grampo fabricado com ao de mola (ao doce), tendo uma
haste de seo quadrada que penetra na madeira e a parte superior
formando uma mola que fixa o patim do trilho tensionando-o aps os
ltimos golpes de marreta.
A parte superior, quando tensionada, proporciona uma presso de,
aproximadamente, 400 kgf sobre o patim. Essa presso suficiente
para impedir os deslocamentos longitudinais do trilho, funcionando
assim, como um retensor.
Fig. 49 Grampo Elstico Simples. (Fonte: Brina)
109
b.3) Grampo Elstico Duplo
Em uso, principalmente, na Alemanha e em linhas de trfego mdio.
Possui duas hastes cravadas no dormente ou encaixadas na placa de
apoio.
Fig. 50 Grampo Elstico Duplo (Fonte: Brina)
b.4) Fixao Pandrol
um tipo de fixao de procedncia inglesa que consiste em um
grampo de ao temperado e revenido que se encaixa nos furos de um
tipo especial de placa de apoio.
Fig. 51 Fixao Elstica Pandrol. ( Fonte: Brina)
b.5) Fixao Deenik
uma fixao elstica que permite pequenos deslocamentos ao trilho.
utilizada em dormentes de concreto ou de madeira.
Fig. 52 Fixao Tipo Deenik. (Fonte: Furtado Neto)
110
b.6) Fixao RN
De procedncia francesa, patenteada pelo SNCF. Consiste em um
grampo de ao doce que pressiona, elasticamente, o patim. Entre a
sapata do trilho e o dormente, colocada uma almofada de borracha
ranhurada que aumenta a elasticidade do conjunto sendo por isso, esta
fixao, chamada de Fixao Duplamente e Elstica.
Fig. 53 Fixao Tipo RN. ( Fonte: Brina)
b.7) Fixao Tipo Fist.
um tipo de fixao usada em dormentes de concreto. indicada em
trechos onde h corroso nas fixaes, como por exemplo, em linhas de
transporte de carvo mineral.
Fig. 54 Fixao Tipo FIST. (Fonte: Furtado Neto)
3.3.2.4.7.4. Retensores de Trilhos
Para impedir o deslocamento dos trilhos no sentido longitudinal
(caminhamento), utilizado o acessrio chamado de retensor que tem
por finalidade transferir para o dormente, o esforo longitudinal que
tende a deslocar o trilho.
111
O retensor preso por presso ao patim do trilho e fica encostado
face lateral do dormente, transmitindo-lhe assim os esforos
longitudinais que so, atravs deste, transmitidos ao lastro.
Como as fixaes elsticas, praticamente, impedem o deslocamento
longitudinal dos trilhos, neste caso o retensor tem papel complementar
para a pregao das placas, sendo, no entanto, indispensvel no caso
das fixaes rgidas.
Segundo Brina (1979), o tipo de retensor mais eficiente o tipo FAIR
que apresentado sob duas variaes: FAIR T e FAIR V, (Fig. 55).
a) Retensor FAIR T b) Retensor FAIR V
Fig. 55 Retensores Tipo FAIR (Fonte: Brina)
Um bom retensor deve atender aos seguintes requisitos:
a) Ter poder de retenso superior resistncia ao deslocamento do
dormente no lastro;
b) Deve ser eficiente em aplicaes sucessivas, permitindo vrias
reutilizaes sem perda do poder de retenso;
c) Deve ser fabricado em uma nica pea;
d) Deve ser de fcil aplicao.
Existem especificaes para o recebimento desse acessrio, devendo
ser feitos testes mecnicos de laboratrio que comprovem sua
qualidade quanto ao material (ao) e quanto ao poder de retenso, em
aplicaes sucessivas.
112
3.3.2.4.14. Arrastamento dos Trilhos
Arrastamento ou caminhamento dos trilhos o seu deslocamento
longitudinal, intermitente, na via frrea:
- Ocorre, principalmente, no sentido de deslocamento dos trens. Nas
vias de linha dupla, com trfego unidirecional, em cada via, o
arrastamento toma apenas uma direo.
- Em vias de dois sentidos ele ocorre nas duas direes e
compensando-se, torna-se imperceptvel.
- Os pregos de linha marcam os trilhos, testemunhando a ocorrncia
do arrastamento.
- Em casos em que as fixaes oferecem resistncia maior que a do
lastro, os dormentes deslocam-se, saindo de posio, alterando as
distncias e tornando-se oblquos, j que as filas de trilhos tm
caminhamento desigual. (Fig. 56).
- As juntas tm suas folgas alteradas, perdendo-as ou tendo-as
aumentadas, conforme o caso.
Fig. 56 Deslocamento de dormentes com arrastamento dos trilhos. (Fonte:Semchechem)
Causas do arrastamento:
a) Movimento de reptao (movimento ondular vertical): devido
passagem das rodas. Como a roda causa uma depresso no trilho, a
parte logo a frente dela apresenta um pequeno aclive, sendo ento
empurrada no sentido do movimento da composio;
b) Atrito do friso das rodas: tendncia de arrastamento no sentido do
movimento;
c) Ao dos freios: componente horizontal, no sentido do movimento;
d) Choque das rodas nas extremidades dos trilhos: martelamento nas
juntas, com deslocamento no sentido da marcha;
113
e) Esforo de trao da locomotiva: componente horizontal, para trs,
por atrito. Nas rampas, descendente e soma-se ao esforo de
frenagem. (Podem deslocar-se no sentido ascendente, no caso
particular de rampas curtas, localizadas aps descidas longas, por
exemplo.);
f) Dilatao trmica dos trilhos: produz movimentos independentes do
deslocamento dos trens.
O arrastamento ou caminhamento produz defeitos nos trilhos que
aumentam os custos de conservao devendo, portanto, ser combatido.
3.3.2.4.15. Retensionamento dos Trilhos
A utilizao dos retensores o processo usado para combater o
caminhamento dos trilhos.
O retensor evita o arrastamento transferindo ao lastro, atravs dos
dormentes, os esforos causadores.
As extremidades dos trilhos longos soldados so retensionadas, para
combater-se a movimentao decorrente da dilatao trmica. Entre as
extremidades, na parte fixa, deve ser feito um retensionamento
adicional, para proteger o trilho contra uma eventual fratura em estado
de trao.
3.3.2.4.16. Soldagem de Trilhos
3.3.2.4.16.1. Consideraes Iniciais
As juntas so os pontos fracos das vias, pontos iniciais dos defeitos
mais graves e ocasionam ou esto relacionadas ao maior nmero de
acidentes.
O emprego de trilhos longos, ento, oferece vantagens de ordem tcnica
e econmica, porquanto, reduz o nmero de juntas, economiza material
e reduz o gasto com a conservao das mesmas. (A prtica mostra que
40% das despesas com manuteno de vias comuns, so feitas no
reparo das juntas).
A soldagem das juntas tambm proporciona um movimento mais suave
dos trens, maios conforto e maior velocidade. Como, 18 m o limite de
114
comprimento de fabricao de trilhos, recorre-se soldagem das
pontas.
A soldagem de trilhos era um recurso utilizado h muito tempo, nas
linhas ferrovirias urbanas (bondes). Devido ao engaste dos trilhos no
pavimento, as variaes de temperatura eram menores e no podiam
causar deformaes, devido ao confinamento no pavimento o qual,
absorvia a maior parte dos esforos, por elas originado.
Nas linhas ferrovirias normais, a dilatao dos trilhos por variao de
temperatura acarreta problemas que devem ser analisados, verificando-
se, se a via resiste vertical e lateralmente aos esforos que aparecem no
caso em que no possa dilatar-se, livremente.
Uma via robusta e bem construda resiste bem aos esforos originados
pela dilatao, no havendo necessidade de dispositivos especiais de
dilatao. So, entretanto, necessrias precaues especiais em sua
conservao.
Demonstra-se que o material dos trilhos resiste, facilmente, aos esforos
internos (tenses de trao e compresso), originados pelas variaes
de temperatura (retrao e dilatao trmicas), somados ainda aos
esforos originados do trfego das composies. O problema, ento,
fica restrito resistncia da via, flambagem, no caso do aumento da
temperatura e distribuio dos esforos de contrao, ao longo do
trilho, de modo que no cisalhem-se os parafusos das juntas, nem se
frature o trilho, no caso da concentrao de esforos.
3.3.2.4.16.2. Caracterizao dos Trilhos, quanto ao Comprimento
Em funo do comprimento de utilizao, os trilhos podem ser
classificados em trs categorias:
a) Trilho Curto: todo aquele que ao ser submetido a uma elevao de
temperatura, no transmite nenhum tipo de esforo sobre os trilhos,
antecedente e seqente, da mesma fila. Sempre devero existir
folgas para absorver as variaes de comprimento, em trilhos da
mesma fila;
b) Trilho Longo: todo aquele trilho em que as folgas so inexistentes
ou insuficientes para permitir a total dilatao, sem que sejam
115
transmitidos os esforos decorrentes da mesma, entre trilhos
sucessivos;
c) Trilho Contnuo: todo aquele trilho que atendendo definio de
trilho longo, tem comprimento tal que em sua parte intermediria
existe uma extenso fixa que no sofre deformao, em estado de
tenso mxima.
Costuma-se designar como T.L.S. (Trilho Longo Soldado), quele trilho
que atende s especificaes de trilho contnuo.
3.3.2.4.16.3. Condies de Emprego do T.L.S.
a) Condies de Traado
O emprego do T.L.S. aconselhvel nas tangentes e nas curvas de raio
maior que 500 m, para bitola larga e raio maior que 400 m, para bitola
estreita.
Nos casos particulares e utilizando-se dormentes de concreto, pode-se
utilizar T.L.S. em curvas de raios menores, mediante estudo especfico.
b) Condies de Plataforma
O T.L.S. no deve ser aplicado em regies de plataforma instvel, onde
sejam freqentes as intervenes de nivelamento e puxamento.
c) Condies Relativas a Materiais
c.1) Fixaes: devero assegurar aperto eficaz e duradouro do trilho ao
dormente. O sistema dever ser elstico e capaz de obter esforo
de fixao, superior resistncia de atrito do dormente no lastro;
c.2) Dormentes: podem ser utilizados dormentes de madeira, sendo
entretanto, recomendvel a utilizao de dormentes de concreto.
Quando forem necessrias as juntas, recomenda-se que sejam
colocadas entre estas e o 1 dormente de concreto, quatro
dormentes de madeira;
c.3) Lastro: o lastro dever ser selecionado e constitudo por pedra
dimensionada de acordo com as especificaes padronizadas. O
perfil regulamentar do lastro requer nestes casos, banqueta com
L > 35 cm e cota superior de arrasamento, rigorosamente,
coincidente com a cota da face superior do dormente.
116
d) Condies Relativas Temperatura
Todas as temperaturas definidas referem-se ao trilho e devem ser
medidas no trilho considerado ou em uma amostra de trilho exposta s
mesmas condies de trabalho do T.L.S..
d.1) Temperatura de Fixao de um T.L.S.: a mdia aritmtica das
temperaturas do trilho, observadas durante o aperto e fixao, em
todo o seu comprimento;
d.2) Temperatura Neutra: aquela em que as tenses trmicas so
nulas em um determinado ponto;
d.3) Temperatura de Colocao: a temperatura dos trilhos quando
os mesmos so fixados aos dormentes sem tenses e apertados
s talas de juno. Corresponde, na prtica, temperatura neutra.
3.3.2.4.16.4. Faixa de Temperatura Neutra para Instalao de T.L.S.
Na utilizao do T.L.S., necessrio que sua fixao seja feita a uma
temperatura (no trilho), cujos desvios em relao aos valores mximos e
mnimos no gerem esforos capazes de causar flambagem (na
temperatura mxima) ou ruptura de trilhos, soldas ou parafusos (na
temperatura mnima).
Tal condio satisfeita, dentro de certo limite, com a fixao aplicada
temperatura mdia, de acordo com o que prescrevem as Normas de
Alvio de Tenses Trmicas (ATT).
Na prtica, admite-se que existe uma faixa de temperaturas em que
mesmo no sendo nulas, as tenses internas so, suficientemente,
baixas para que as correspondentes deformaes possam ser
absorvidas pelo sistema.
Como, prefervel que se submetam os trilhos a maiores tenses de
trao do que de compresso, (por ser mais perigosa a flambagem do
que a ruptura, j que esta ltima pode ser detectada pelos instrumentos
dos painis de controle da via), praxe adotar-se a neutralizao das
temperaturas com a mnima, um pouco acima da mdia natural. Assim,
por exemplo, pelos critrios da RFFSA:
117
FTN = TN 5
TN = t
med
+ 5
t
med
= (t
max
+ t
min
) / 2
Onde:
- FTN Faixa de Temperatura Neutra;
- TN Temperatura Neutra;
- t
med
temperatura mdia natural
- t
max
temperatura mxima verificada no trilho;
- t
min
temperatura mnima verificada no trilho.
Observaes:
- Esta frmula fixa a temperatura mnima de assentamento igual t
med
(temperatura mdia) e fixa a variao de temperatura (At), em 10 C;
- Na prtica tambm se confirma a convenincia de adotar-se a FTN
com amplitude de 10 C;
- No existe consenso, entre os estudiosos do assunto, quanto a
definio de frmulas para o clculo da FTN. Assim, temos como
exemplo:
PROPOSITOR
Schramm
EFVM (atual)
AREA
p/ At = 48C
At = t
max
- t
min
EXPRESSO
PROPOSTA
[(t
max
+ t
min
)/2] + 5 3
de [(t
max
+ t
min
)/2] - 4
a [(t
max
+ t
min
)/2] + 6 (TLS)
[(t
max
+ t
min
)/2] + 5 5 (TCS)
t
med
+ [0,5 At (300/9)] 3
- Os desvios de temperatura, em relao a TN, tm valores que vo de
At = 5 a At = 13 C, conforme a empresa ferroviria em questo;
Exemplo:
Determinar a Faixa de Temperatura Neutra para um trilho a ser instalado
nas seguintes condies:
- t
min
= 0 C;
- t
max
= 52 C.
118
Soluo:
t
med
= (t
min
+ t
max
) / 2 = (0 + 52) / 2 = 26
FTN = t
med
+ 5 5 C FTN = 26 + 5 5 C = 31 5 C
36 > TN > 26 C At = 10 C TN = t
med
+ 5 C = 31 C
3.3.2.4.16.5. Distribuio das Foras de Compresso e Trao
Causadas por Variao Uniforme de Temperatura
Clculo do Comprimento dos Trilhos
a) Caso de trilho curto
Seja um trilho qualquer, de comprimento L, sujeito a uma variao At,
de temperatura. A variao AL, de comprimento ser:
AL = o . L . At
Havendo um bloqueio ao livre desenvolvimento desta AL, surgir um
esforo longitudinal, nos trilhos, dado por:
N = E . S . o . At
Onde:
- N pode ser trao ou compresso;
- E mdulo de elasticidade do trilho;
- S seo reta do trilho;
- o - coeficiente de dilatao do ao do trilho, (o = 0,0000115).
x
N = E.S. o. At
N y
Fig. 57 Esforos longitudinais em trilho curto.
119
Observaes:
1. A dilatao de um trilho livre, seria de 1 mm, por 100 m, por grau de
temperatura;
2. Para encurtar 3 cm no comprimento de 100 m de trilho, necessria
uma variao de temperatura da ordem de 30 C (para menor);
3. Para a mesma At, o esforo axial aumenta com o peso do perfil de
trilho (aumento da seo reta), mas a tenso permanece constante.
b) Caso de trilhos longos soldados
Neste caso, aplica-se a Teoria da Dilatao Limitada, pela qual se
considera existirem resistncias no conjunto trilhos/dormentes/lastro que
se opem ao deslocamento dos mesmos por efeito da dilatao. Assim:
y
R
o
R
o
N
x
= R
o
.x N=ESoA
x x
L
d
L
d
L
Fig. 58 Esforos Longitudinais em Trilhos Longos.
L
d
= (S.E. o. At R) / r
Onde:
- R resistncia oferecida pelas talas de juno, aplicadas;
- r resistncia, por metro de linha, do conjunto trilho/dormente/lastro;
- L
d
- comprimento da extremidade que se dilata e se contrai (zona de
respirao);
- Condio de Trilho Longo:
120
A condio de trilho longo ser satisfeita, se:
L > 2 L
d
Onde:
- (L 2 L
d
) trecho fixo, sem dilatao.
Observao:
- os valores de R e r, devem ser pesquisados experimentalmente, para
cada tipo de superestrutura da via.
Exemplos:
1) Ferrovias Alems (Schramm):
- R = 5 000 kgf (valor mdio para superestrutura GEO);
- r = 4 kgf/cm (trilho/dormente de madeira);
- r = 5 kgf/cm (trilho/dormente de concreto);
- r = 6 kgf/cm (trilho/dormente de ao);
Obs.: resistncias em cada fila de trilho.
2) Nos EUA (AREA):
- r = 680 a 907 kgf/dormente (dormentes de madeira com
retensionamento alternado);
- r = 317 a 544 kgf/dormente (dormentes de madeira com
retensionamento consecutivo).
Obs.: resistncias em cada fila de trilho.
3) Na Itlia (Corini):
- r = 307 kgf/m (por metro de trilho);
3) Na Espanha (Garcia Lomas);
- r = 600 kgf/m (por metro de via) ou
- r = 300 kgf/m (por metro de trilho, com dormente de madeira).
4) No Brasil (Sofrerail):
- r = 300 a 700 kgf/dormente (para a via e conforme o estado do lastro)
ou
- r = 150 a 350 kgf/dormente (por trilho).
121
- Trao e Compresso:
No caso em que sejam consideradas trao e compresso, conforme a
variao da temperatura, temos:
- Compresso:
L
dc
= [S.E.o (t
max
t
c
) R] / r
- Trao:
L
dt
= [S.E.o (t
c
t
min
) R] / r
Onde:
- t
max
temperatura mxima do trilho;
- t
min
temperatura mnima do trilho;
- t
c
temperatura mnima de colocao;
- t
c
temperatura mxima de colocao;
- R resistncia das talas de juno;
- r resistncia por unidade de comprimento de linha trilho/
dormente e dormente/lastro;
- L
d
zona de respirao;
- S rea da seo do trilho (cm
2
);
- E mdulo de elasticidade do ao (E = 21 x 10
5
kgf/cm
2
);
- o - coeficiente de dilatao trmica do ao (o = 1,15 x 10
-5
C
-1
).
- Exemplo Numrico:
Calcular o comprimento mnimo de um Trilho Longo Soldado (TLS),
sendo dados:
- TR 57 (S = 72,58 cm
2
);
- r = 400 kgf/m, de trilho;
- E = 2,1 x 10
6
kgf/cm
2
;
- o = 115 x 10
-7
C
-1
;
- t
max
= 52 C;
- t
min
= 3 C;
- TN = 32,5 C;
- R = 0 (talas frouxas);
- t
c
= 27,5 C (temperatura mnima de colocao);
- t
c
= 37,5 C (temperatura mxima de colocao).
122
Soluo:
a) Compresso:
L
dc
= [S.E.o (t
max
t
c
) R] / r
L
dc
= [72,5 . 2,1 x 10
6
. 115 x 10
-7 .
(52-27,5)] / 400
L
dc
= 108,0 m
b) Trao:
L
dt
= [S.E.o (t
c
t
min
) R] / r
L
dt
= [72,5 . 2,1 x 10
6
. 115 x 10
-7 .
(37,5- 3)] / 400
L
dt
= 151 m
Assim sendo, o comprimento mnimo para trilho longo :
L
min
= 2 x L
dt
= 2 x 151 L
min
= 302 m
- Consideraes sobre o Comprimento Mximo dos Trilhos
Estudos feitos demonstraram que no h limite para o comprimento de
trilhos longos soldados.
Nada impede que se construa uma linha com trilhos soldados, em toda a
sua extenso, desde que sejam tomados os cuidados necessrios para
que seja impedida a flambagem da linha.
A flambagem pode ocorrer no plano horizontal e no plano vertical de
uma linha, sendo esta ltima, menos freqente. A flambagem
combatida com lastros bem dimensionados e bem conservados, com
banquetas (ombreiras), de comprimento suficiente e com um correto
dimensionamento do nmero de retensores a serem aplicados aos
dormentes.
Mesmo assim, existem pontos singulares na via, como aparelhos de
mudana de via (AMV), obras de arte, etc. que exigem juntas de
dilatao.
A definio do comprimento mximo dos trilhos soldados de uma linha
pode ser feita por critrios de natureza econmica. O custo de soldagem
123
e transporte de trilhos cresce com o comprimento das barras. Pode-se
estabelecer um comprimento mximo tal que este custo seja
compensado pela economia feita na conservao das juntas de
dilatao.
Clculos feitos indicaram que este comprimento situa-se em torno de
216 m. Comprimentos maiores do que este, ento, podem ser obtidos
utilizando-se solda aluminotrmica in-situ.
A prtica mostra no ser conveniente a utilizao de comprimentos de
trilhos prximos do mnimo (L
min
), pois, neste caso no seriam
aproveitadas, totalmente, as vantagens do TLS, tendo-se maiores
extenses de linha a retensionar, maiores trechos instveis, maior
nmero de juntas e possibilidade de distribuio de tenses de modo
assimtrico, na linha.
3.3.2.4.16.6. Conservao da Linha com TLS
Temperatura de referncia (tr), aquela em que se fez a fixao do
trilho, dentro da faixa de temperatura neutra.
Esta temperatura fundamental e deve ser do conhecimento do
encarregado de conservao do trecho.
Todos os trabalhos que diminuam a estabilidade da via s podero ser
efetuados no intervalo de temperatura de segurana:
(tr 25) a (tr + 5)
Operaes que no acarretem qualquer deslocamento nos dormentes e
no desguarneam, de lastro, a via podem ser executadas com qualquer
temperatura.
Nos casos em que a socaria e o puxamento da via sejam executados
com mquinas, os limites de temperatura de segurana podem ir at:
(tr 25) a (tr + 15)
Aps a execuo dos trabalhos que causem reduo da estabilidade da
via (levante, deslocamento ou desguarnecimento da via), s se pode
considerar a linha, novamente, estabilizada aps a passagem de uma
determinada quantidade de carga, sobre ela. Exemplo:
124
Na Frana -
- 20 000 t (dormente de concreto);
- 100 000 t (dormentes de madeira).
O defeito mais grave que pode ocorrer em um trecho com TLS, a
deformao do plano horizontal, por flambagem.
Ao ser constatado este defeito, o trecho em questo deve sofrer
imediata restrio de velocidade ou supresso do trfego.
3.3.2.4.16.7. Mtodos de Soldagem
Os trilhos podem ser soldados em estaleiros ou in-situ.
a) Soldagem em Estaleiro
De forma geral, em estaleiro a soldagem de trilhos pode ser feita por
dois processos:
- Processo eltrico;
- Processo oxiacetilnico.
a.1) Soldagem Eltrica de Topo
um processo, totalmente, automatizado e independe da percia do
operador.
Consiste em elevar-se a temperatura das pontas dos trilhos,
empregando-se neste aquecimento corrente de baixa tenso e alta
intensidade (12 000 a 60 000 A), produzida por um transformador
especial.
Aps o aquecimento ao rubro, as pontas so comprimidas, uma contra
a outra, com presso variando entre 500 e 600 kgf/cm
2
, de modo que se
forma um bulbo de metal fundido. Aps a fundio, feito um
tratamento trmico da solda e um acabamento, por esmerilhamento,
para garantir-se a continuidade geomtrica do trilho.
a.2) Soldagem Oxiacetilnica
125
um processo no qual a soldagem se processa na fase solidus do
material, no havendo fuso das bordas em soldagem. Por isso
tambm chamado de Soldagem Unifsica.
Neste processo, o aquecimento das pontas produzido por bicos
perifricos de chamas oxiacetilnicas, atingindo uma temperatura,
relativamente, baixa de no mximo 1 150 C (que est muito abaixo da
linha do solidus).
As pontas dos trilhos so ento comprimidas uma contra a outra, com
uma presso superior a 200 kgf/cm
2
e assim mantidas por algum tempo
at que a soldagem se verifique.
Aps o resfriamento a solda submetida a um tratamento trmico de
normalizao.
b) Soldagem in-situ
b.1) Soldagem Aluminotrmica
Baseia-se na propriedade que tem o alumnio de combinar-se,
rapidamente, com o oxignio dos xidos metlicos, formando xido de
alumnio e liberando o metal envolvido.
A reao ocorre em alta temperatura, acima de 3 000 C, necessitando
calor inicial de 800 a 1 000 C, evoluindo depois, rapidamente, at a
combinao total do alumnio com o oxignio e liberando o ferro.
Neste processo, as pontas dos trilhos so preparadas para a soldagem
e ligadas por uma forma que envolve a junta. Sobre a forma instalado
um cadinho, dentro do qual se processar a reao qumica entre uma
mistura de xido de ferro granular e p de alumnio, que produzida em
propores correspondentes s dimenses da solda a ser executada.
Aps a reao aluminotrmica o ao lquido resultante despejado na
forma pelo fundo do cadinho ficando no mesmo, o xido de alumnio
sobrenadante (por ter menor densidade).
Em seguida efetuado o tratamento da solda com rebarbamento e
esmerilhamento, para garantir-se a continuidade geomtrica do trilho.
126
Todo o processo pode ser executado in-situ em apenas 26 minutos,
com um consumo de mo de obra de, aproximadamente, 4 Hh/solda,
em servio bem organizado.
O processo tem a desvantagem de ter custo unitrio bastante alto.
3.3.2.5. Aparelhos de Via
3.3.2.5.1. Classificao dos Aparelhos de Via
Didaticamente, os aparelhos de via podem ser assim classificados:
- Aparelhos de mudana de via comuns;
- Aparelhos de mudana de via especiais;
- Tringulos de reverso;
- Cruzamentos;
- Para-choques.
3.3.2.5.1.1. Aparelhos de Mudana de Via Comuns
A sujeio do veculo ferrovirio aos trilhos e a existncia do friso nas
rodas criam problemas, quando preciso passar os veculos de uma
linha para outra ou para um desvio.
Para que o friso da roda tenha passagem livre, torna-se necessrio
introduzir uma aparelhagem que permita a interrupo do trilho,
formando canais por onde passam os frisos.
Surge a a necessidade do chamado aparelho de mudana de via.
Os aparelhos de mudana de via correntes ou comuns, s vezes
chamados, impropriamente, de chaves, compem-se das seguintes
partes principais:
127
Fig. 59 Desenho Esquemtico do Aparelho de Mudana de Via. (Fonte: Brina)
O ngulo (|), formado pela agulha com a contra-agulha chamado de
ngulo de desvio.
Trs elementos caracterizam o AMV comum:
- abertura do corao;
- comprimento das agulhas;
- folga no talo de agulhas.
A partir destes elementos so deduzidas todas as grandezas
necessrias ao dimensionamento de um desvio ferrovirio, sendo que a
principal delas a abertura do corao, a qual definida por um de trs
processos diferentes:
- pelo nmero do corao;
- pela tangente do ngulo do corao;
- pelo processo prtico dos mestres de linha.
Os AMVs, compostos pelos conjuntos metlicos e os conjuntos dos
dormentes formam o Conjunto Geral do AMV, o qual subdividido em
quatro grades:
- grade das agulhas;
- grade intermediria;
- grade do jacar;
- grade final.
Observao:
- Grade a unio do conjunto metlico com o conjunto dos dormentes.
3.3.2.5.1.2. Aparelhos de Mudana de Via Especiais
So aparelhos de mudana de via especiais:
- Giradores;
- Carretes.
128
a) Giradores
Estes aparelhos no s permitem mudar o sentido da marcha da
locomotiva, como tambm dos veculos de linha, principalmente, em
reas de espao restrito, como oficinas, postos de reviso, ptios, etc..
Trata-se de uma espcie de bandeja rotatria apoiada sobre uma
estrutura em trelia que gira sobre um eixo central (pivot). Pode
direcionar o veculo para linhas convergentes ao eixo do aparelho.
Fig 60 . Girador (Fonte: Brina)
b) Carreto
, tambm, um aparelho destinado a promover a transferncia de
veculos entre linhas diversas, paralelas entre si e perpendiculares ao
eixo do aparelho.
Trata-se de uma espcie de prancha montada sobre trilhos que se
deslocando lateralmente, permite alinhar-se o veculo com uma dentre
as diversas linhas perpendiculares ao seu deslocamento.
129
Fig. 61 - Carreto . (Fonte: Brina)
3.3.2.5.1.3. Tringulo de Reverso
O Tringulo de Reverso destina-se a inverter o sentido de trfego de
uma composio, sem que seja necessrio lanar mo de uma estrutura
onerosa como o girador.
Trata-se de um conjunto de trs desvios interligados, em forma de
tringulo, tendo um prolongamento em um dos vrtices que chamado
de chicote do tringulo.
Fig. 62 Tringulo de Reverso. (Fonte: Brina)
Assim, por exemplo, vindo a composio do ramo CD (chicote),
dirigida para o ramo B, volta em marcha r, para o ramo A e depois
dirigida de A para C, em marcha frente, estando j dirigindo-se em
sentido contrrio ao inicial, sobre o chicote.
130
3.3.2.5.1.4. Cruzamentos
So aparelhos que permitem a ultrapassagem da composio, em nvel,
por outra linha que cruze seu trajeto. Isto s acontece nos ptios de
oficinas ou de postos de reviso e excepcionalmente, em ptios de
triagem. Os cruzamentos podem ser retos (a 90), ou oblquos.
Fig. 63 Cruzamentos em Nvel. (Fonte: Brina)
3.3.2.5.1.5. Para-choques de Via (Gigantes)
So peas feitas com trilhos curvados, ligados por uma pea de
madeira, aparafusada aos mesmos, no centro da qual existe uma mola
adaptada.
So colocados nas extremidades dos desvios mortos (aqueles que
permitem a sada apenas para um lado), evitando o descarrilamento dos
veculos, na ponta do desvio. Existem tambm, peas de ferro fundido,
com a forma de circunferncia da roda que so aparafusadas nos trilhos
e substituem o tipo de para-choque anterior.
Fig. 64 Para-choques de Via ou Gigantes (Fonte: Brina)
131
3.4. ASSENTAMENTO DA LINHA
3.4.1. Caractersticas do Assentamento da Linha
a) Bitola
A bitola normal adotada na via aplicada, rigorosamente, nos
alinhamentos retos (em tangente). Nas curvas, aumentada,
ligeiramente, chamando-se este acrscimo de super-largura.
Os trilhos so assentados com uma inclinao de 1;20, em relao
vertical (5%). (Algumas ferrovias inglesas e americanas adotam 1:40 ou
menos). O assentamento vertical acarreta desgaste oblquo da
superfcie de rodagem e desgaste anormal nos aros das rodas.
Tambm, proporciona maior risco de tombamento dos trilhos externos,
nas curvas.
b) Tolerncia na bitola
Com a utilizao continuada, a via adquire defeitos que alteram a bitola,
com alargamentos e estreitamentos, o que obriga a Ferrovia a manter
uma conservao permanente, de modo a impedir que os defeitos
ultrapassem determinados limites de tolerncia.
A bitola da via medida a 16 mm abaixo do plano de rodagem.
As tolerncias na bitola variam entre 3 e +6 mm, nos alinhamentos
retos e podem atingir at +10 mm, nas curvas.
c) Jogo da Via
a diferena entre a bitola da via, em tangente e a distncia entre as
faces externas dos frisos das rodas, sendo esta, medida a 10 mm,
abaixo do plano de rodagem. Temos, assim:
j = b d
Onde:
- j jogo da via;
- b bitola;
- d bitola do material rodante.
132
Fig. 5 Jogo da Via (Fonte: Brina)
O jogo da via depende do material rodante e foi fixado entre 9 mm e 15
mm, pela Conferncia de Berna, para o caso de frisos novos.
Reduzindo-se o Jogo da Via, obtm-se maior suavidade no
deslocamento sendo, entretanto, maior o desgaste dos trilhos e dos
frisos das rodas.
Nas curvas, a folga total aceitvel, a soma da super-largura com o
jogo da via.
d) Distribuio de Dormentes
Os dormentes devem ser assentados, perpendicularmente, aos trilhos
tanto em tangente como nas curvas.
O espaamento entre dormentes depende de fatores tais, como:
- Cargas dos veculos;
- Velocidade dos trens;
- Densidade do trfego;
- Natureza da plataforma da via (qualidade);
- Raio das curvas.
Chama-se densidade de dormentao ou taxa de dormentao,
quantidade de dormentes distribudos por quilmetro de via.
Esta taxa de distribuio dos dormentes funo do peso mdio das
composies que trafegam na via. Assim:
- Europa (trens mais leves) 1 500 a 1 700 p/km;
- EUA e Brasil (trens mais pesados) 1 600 a 1 850 p/km.
133
Se for maior que 2 000 p/km, a socaria do lastro dever ser feita,
obrigatoriamente, por meios mecnicos j que os mtodos manuais
ficam inviveis.
Nas juntas de trilhos, os dormentes so aproximados, gradativamente,
para garantir melhor sustentao s mesmas.
e) Juntas
Juntas entre os trilhos so necessrias para compensar a variao do
comprimento dos trilhos em funo da variao da temperatura. Podem
ser situadas de duas formas:
- Concordantes ou paralelas (situam-se na mesma normal aos trilhos);
- Alternadas (quando no coincidentes com a mesma normal).
As juntas paralelas so mais utilizadas na Europa e causam o
movimento de galope da composio.
As juntas alternadas so utilizadas no Brasil e EUA e causam o
movimento de balano da composio.
As juntas alternadas so dispostas de modo a coincidirem com o ponto
mdio do trilho oposto ao da junta.
A prtica mostra que o movimento de galope da composio, mais
prejudicial, por estar associado maior quantidade de acidentes.
As juntas podem ainda ser classificadas em:
- Apoiadas;
- Em balano (Ver Fig. 66).
Fig. 66 Apoio das Juntas (Fonte: Brina)
134
f) Preparo dos Dormentes e Distribuio do Material
No caso de utilizao de dormentes de madeira de cerne, em que no
obrigatrio o tratamento qumico, a entalhao e furao devem ser
feitas antes da distribuio dos mesmos ao longo da via.
A entalhao consiste na preparao dos dois entalhes, onde sero
adaptadas as placas de apoio, na face superior do dormente. Pode ser
feita, manualmente, com enxs de cabo longo ou mecanicamente, com
entalhadeiras mecnicas, fixas ou portteis. (As mecnicas do muito
maior produtividade sendo hoje, de uso corrente).
A furao dos dormentes, para passagem dos elementos de fixao,
tambm pode ser feita manual ou mecanicamente.
No caso de dormentes de madeira tratada quimicamente, entalhao e
furao devem ser efetuadas antes do tratamento, por mquinas fixas,
de alta produtividade, instaladas junto s usinas de tratamento.
O material de via permanente transportado para o local de
assentamento da via em vages apropriados, no caso de prolongamento
de uma linha ou ramal ferrovirio ou ento em carretas, no caso de linha
frrea, inteiramente, nova, onde so distribudos na faixa da ferrovia.
g) Locao e Implantao dos Marcos de Alinhamento e
Nivelamento
Antes de iniciar-se o processo de assentamento da superestrutura
ferroviria (via permanente), procede-se uma locao do eixo da via,
chamada locao para trilhos.
Aps a locao do eixo, na qual so implantados piquetes nos pontos
singulares (TE, EC, CE e ET), feito o nivelamento do eixo, projetando-
se o greide final dos trilhos que estar o mais prximo possvel do
greide projetado, quanto mais bem feita tenha sido executada a
regularizao do leito (sub-lastro). Qualquer irregularidade final da
plataforma ser suprimida por pequenas variaes na altura do lastro.
A locao do eixo, ento, transferida para a margem da plataforma,
para off sets, onde so marcadas as cotas do lastro, dormente e do
135
trilho. So tambm marcadas em tocos de trilhos distribudos ao longo
da plataforma, as posies finais das cabeas dos trilhos.
Nas curvas, ser includo tambm, na altura indicada pelos marcos de
referncia de alinhamento e nivelamento, o valor da superelevao a
ser dada ao trilho externo da curva.
Observao: Pontos Singulares ou Pontos de Transio, so
aqueles em que a diretriz da via inicia uma mudana de direo:
TE tangente / espiral;
EC espiral / circular;
CE circular / espiral;
ET espiral / tangente.
3.4.2. Processos de Assentamento de Linhas
O assentamento da linha poder ser feito por dois processos:
a) Processo Clssico
O Processo Clssico consiste no assentamento da linha a partir de uma
s frente de servio. O procedimento adotado , basicamente, o
seguinte:
- Distribuio dos dormentes, com a distncia especificada em projeto;
- Colocao dos trilhos, manualmente ou com guindastes de linha, que
progridem sobre a linha recm lanada;
- Execuo das operaes de puxamento, nivelamento e acabamento.
As placas de apoio so colocadas aps a distribuio dos dormentes,
nos entalhes, previamente, preparados. Os trilhos so posicionados com
auxlio de um gabarito de bitola (Fig. 67).
Fig. 67 Gabarito de Bitola (Fonte: Brina)
Os dormentes so fixados aos trilhos, alternadamente (linha ponteada
ou pontilhada), para que composies de servio possam trafegar (trem
de lastro). medida que os trilhos avanam so executadas as
operaes de puxamento, nivelamento e acabamento. Assim:
136
- O puxamento consiste em deslocar a linha (grade formada por
dormentes e trilhos, fixados provisoriamente), por meio de alavancas,
at coloc-los na posio indicada pelos marcos, at obter-se um
perfeito alinhamento. Aps o alinhamento distribudo o lastro entre
os dormentes.
- O nivelamento consiste no encaixe de uma determinada quantidade
de lastro sob os dormentes, quando ento, necessrio suspender-
se a grade (com guindastes ou macacos), para posterior
socamento do mesmo de modo a atingir-se o greide final,
projetado para os trilhos. (Esta operao conhecida como socaria).
- O acabamento feito aps o nivelamento e o puxamento final. (
quando se corrige alguma distoro havida durante o nivelamento).
Consiste no enchimento do intervalo existente entre os dormentes,
com lastro, at o nvel de sua face superior e composio dos taludes
do lastro, conforme o projeto. Este servio , normalmente,
mecanizado.
b) Processo Moderno
O lastro lanado em uma primeira camada que permita o nivelamento
e previamente, compactado. Isso pode ser feito, inclusive, em vrias
frentes de servio, concomitantemente.
Os dormentes e os trilhos so lanados e assentados sobre esta
camada inicial de lastro, executando-se as operaes de finalizao, j
descritas.
137
Fig. 68 Sistemas de transporte e lanamento de grades. ( Fonte: Togno)
A compactao final, para dar linha o nivelamento projetado pode ser
feita, inclusive, aps o incio do trfego.
Com esse processo o tempo de assentamento da via pode ser,
drasticamente, reduzido. Pode-se assentar cerca de 1 000 m ou mais de
linhas, por dia de trabalho.
138
Em alguns pases, j foi utilizada com xito a montagem prvia da
grade, em estaleiros, com transporte posterior, sobre composies
adequadas, at o local de utilizao, onde ento as grades so lanadas
por intermdio de guindastes especiais ou sistemas de trelias
lanadoras, embarcadas em composies de servio.
3.5. ESFOROS ATUANTES NA VIA
3.5.1. Classificao dos Esforos Atuantes na Via
Teoricamente, a via frrea s deveria ter que suportar os esforos
normais, resultantes dos pesos dos veculos e a fora centrfuga
exercida por estes, nas curvas. Na prtica, porm, a ao dos esforos
normais modificada pelos esforos no normais que desempenham
importante papel na solicitao da via e derivam das caractersticas
inerentes mesma e tm relao com as peculiaridades construtivas da
prpria via e do material rodante.
De modo geral, os esforos atuantes derivam da ao das cargas
estticas e dinmicas e nesse caso dos diversos movimentos a que
esto sujeitos os veculos em seu deslocamento sobre a linha. De uma
forma mais objetiva podemos agrupar os esforos atuantes na via em
trs categorias principais:
- Esforos Verticais;
- Esforos Longitudinais e
- Esforos Transversais.
3.5.1.1. Esforos Verticais
So os que tm a direo normal ao plano dos trilhos:
a) Carga Esttica - a carga originada pelo peso dos veculos quando
os mesmos estiverem parados sobre a via;
b) Fora centrfuga vertical qualquer massa excntrica do material
rodante e dotada de movimento de rotao vai gerar uma fora
centrfuga vertical que variando de posio aumenta e reduz a carga
do veculo, alternadamente, causando choques cuja intensidade
proporcional ao quadrado da velocidade;
c) Movimento de galope movimento que existe em virtude de
irregularidades na via, como no caso das juntas paralelas e de juntas
defeituosas. um movimento em plano vertical, paralelo aos trilhos
139
que sobrecarrega ora um eixo traseiro, ora um eixo dianteiro da
composio;
d) Movimento de trepidao um movimento semelhante ao anterior,
tambm causado por irregularidades da via e no qual as molas do
truque dianteiro e do truque traseiro de um vago so comprimidas
ao mesmo tempo, ocasionando trepidao que sobrecarrega todos
os eixos;
e) Movimento de balano ou roulis um movimento causado pelas
irregularidades da via (como as juntas alternadas,por exemplo) e que
se desenvolve no sentido perpendicular via, sobrecarregando,
alternadamente, as rodas de um dos lados do veculo;
f) Repartio desigual do peso nas curvas como a superelevao do
trilho externo, em uma curva, calculada para uma determinada
velocidade, ao passarem os trens com velocidade diferente daquela,
a resultante das foras deixa de passar pelo centro da via,
aproximando-se mais de um dos trilhos, o qual recebe ento uma
sobrecarga;
g) Defeitos da linha qualquer defeito na linha gera uma sobrecarga na
distribuio das cargas verticais;
h) Defeitos no material rodante material rodante defeituoso ocasiona
choques na via que aumentam a carga dinmica. Por exemplo:
calos nas rodas (geram martelamento nos trilhos).
3.5.1.2. Esforos Longitudinais
So esforos paralelos ao eixo dos trilhos e cujas causas principais, so
as seguintes:
a) Dilatao e retrao trmicas - causam compresso e trao
paralelas ao eixo dos trilhos, em funo da aplicao dos acessrios
de fixao dos trilhos;
b) Movimento de reptao um movimento ondular vertical causado
pela passagem da roda em virtude de uma flexo localizada no trilho.
Esta flexo gera esforos de compresso no boleto e de trao no
patim, ambos paralelos ao eixo do trilho;
c) Golpes das rodas no topo dos trilhos ocorre nas juntas de dilatao,
causa esforo no sentido do deslocamento dos trens;
d) Esforo trator gera uma fora de atrito no sentido contrrio ao
deslocamento do trem;
e) Frenagem gera por atrito, uma fora no sentido do movimento;
f) Contato dos frisos das rodas com os trilhos gera por atrito, esforos
no sentido do deslocamento dos trens.
140
3.5.1.3. Esforos Transversais
a) Fora centrifuga nas curvas a fora centrfuga no compensada
pela superelevao do trilho externo, produz esforo transversal
neste trilho;
b) Movimento de lacet - um movimento causado pelo prprio jogo da
via ou por alguma irregularidade do alinhamento ou do material
rodante e que faz com que as rodas choquem-se, alternadamente,
com os trilhos no sentido de provocarem alargamento da bitola;
c) Vento como a rea batida da lateral dos veculos considervel,
um vento forte pode criar um esforo transversal razovel nos trilhos,
atravs dos frisos das rodas.
3.5.2. Fora Centrfuga
A existncia da curva no traado ferrovirio acarreta problemas para a
circulao dos veculos que devem ser analisados, para que a via seja
projetada e construda, de modo a proporcionar as melhores condies
possveis de segurana e conforto.
A fora centrfuga como j foi visto, um esforo transversal, paralelo ao
plano de rolamento e que provoca por causar atrito, desgaste das rodas
e frisos e dos trilhos externos das curvas, alm de criar uma indesejvel
tendncia de tombamento dos trilhos a qual sobrecarrega as fixaes e
reduz a vida til dos dormentes. Se esta fora exceder certos limites,
poder provocar o tombamento da composio ferroviria.
Na Mecnica Geral aprendemos que todo corpo rgido ao percorrer uma
trajetria curva, est sujeito a uma componente da fora horizontal
atuante, perpendicular tangente trajetria e dirigida no sentido
contrrio ao centro de curvatura e que chamada de fora centrfuga e
expressa por:
F
c
= m . o = m . ( v
2
/ )
Onde:
- m massa;
- v velocidade;
- - raio de curvatura.
No caso de trajetria circular de raio R, teremos:
F
c
= m . (v
2
/ R)
141
Os efeitos da fora centrfuga so minimizados elevando-se o trilho
externo das curvas, criando-se com isso uma superelevao que gera
uma componente de equilbrio quela fora.
3.5.3. Momentos Fletores
No clculo dos momentos fletores os trilhos so, em princpio,
considerados como vigas contnuas sendo, entretanto, bastante
variveis as condies reais de vinculao e de carregamento a que
esto sujeitos. Desta forma, na busca da melhor formulao
matemtica, so empregadas hipteses simplificadoras de
carregamento.
Devido natureza dos esforos atuantes nos trilhos os momentos
atuantes estaro sempre em um plano ortogonal ao eixo dos trilhos.
3.5.3.1. Clculo dos Momentos Fletores nos Trilhos
a) Mtodo dos Apoios Fixos ou de Winkler
- Hiptese de Winkler:
Considera um carregamento alternado. uma hiptese pouco realista e
deve ser usada como caso limite. Sua aplicao prtica restringe-se ao
caso de vias assentadas sobre obras metlicas (pontes sem estrado
contnuo) e algumas obras de concreto.
- Esquema de Carregamento:
P P P
a a a a a a
Fig. 69 Esquema de Carregamento de Winkler. (Fonte: Brina)
Neste caso, o trilho considerado como viga contnua com um nmero
infinito de vos. A expresso dos momentos fletores obtida aplicando-
se a equao dos trs momentos:
142
M
max
= 0,1875 P. C
d
. a
Onde:
- P carga esttica, por roda;
- C
d
coeficiente dinmico ( adotar 1,4);
- a distncia entre os eixos dos dormentes.
b) Mtodo de Zimmermann
o mtodo que mais se aproxima da realidade, pois considera,
inicialmente, os dormentes como apoios elsticos entrando depois com
a hiptese de elasticidade da via. Fornece resultados em torno de 10%
acima daqueles obtidos pelos mtodos ditos exatos sendo, portanto,
conservadores e plenamente satisfatrios para fins prticos.
Aplicando ento as hipteses de carregamento de Schwedler, adotadas
por Zimmermann, teremos:
- 1 Hiptese considerando-se a flexibilidade da linha:
P
a a a
Fig. 70 Esquema de Carregamento de Schwedler, 1 Hiptese . (Fonte: Brina)
M
max
= [(7 + 8) / 8 . (5 + 2)] . P . C
d
. a
- 2 Hiptese - considerando-se a plataforma elstica:
P
a a a a
Fig. 71 Esquema de carregamento de Schwedler, 2 Hiptese. (Fonte: Brina)
143
M
max
= [ / (2 + 3)] . P . C
d
.a
Onde:
= ( 6 . E . I ) / ( D . a
3
) ;
D = 0,9 . C . b . c ;
- - coeficiente de superestrutura;
- C coeficiente de lastro (kgf/cm
3
);
- P carga por roda (kgf);
- b largura do dormente (cm);
- c comprimento efetivo de suporte (faixa de socaria).
Calculados os momentos mximos, pelas duas hipteses de
carregamento, opta-se pelo maior dos dois valores obtidos que
representaria o valor mximo maximorum.
- Consideraes sobre o Coeficiente de Lastro (C):
O valor de C (kgf/cm
3
), determinado experimentalmente, varia de 3
(lastro de saibro sobre plataforma de m qualidade), a 18 (lastro de
pedra britada sobre plataforma de tima qualidade).
Brina (1979), sugere a adoo de:
- C = 15, para linhas de padro mais alto (sublastro compactado e
lastro de pedra britada) e
- 5 < C < 8, para linhas de padro inferior ou mdio.
Schramm, G. (1974), indica:
- C = 14,5 (valor mdio).
Hantzchel, (E.F. Alzacia-Lorena), determinou valores de C (kgf/cm
3
),
para lastro de pedra britada, sobre diversos tipos de plataforma:
- Saibro - 2,6 a 3,3;
- Areia 5,3 a 7,2;
- Argila compacta 6,8 a 7,5;
- Rocha 7,6 a 8,9;
- Fundao 15.
144
3.5.4. Escolha do Perfil de Trilho
A partir da determinao do momento mximo, o perfil de trilho ser
selecionado entre os padres fabricados, de modo que:
o = M
max
/ W s o
Onde:
- o - tenso de trabalho;
- W mdulo resistente do trilho (tabelado);
- o - tenso admissvel flexo (o = 1 500 kgf/cm
2
).
3.5.5. Exemplo de Aplicao do Mtodo de Zimmermann
Selecionar, entre os perfis de trilhos fabricados no Brasil, pela CSN, o
mais adequado de acordo com os dados abaixo fornecidos:
Dados:
- Peso por eixo: 20 t;
- Coeficiente de impacto: 1,3;
- Faixa de socaria : 70 cm;
- Taxa de dormentao: 1 750 p/km;
- Dimenses do dormente : 2,0 m x 0,20 m x 0,16 m;
- Coeficiente de lastro: C = 9 kgf/cm
3
;
- Mdulo de elasticidade: E = 2 100 000 kgf/cm
2
;
- Tenso admissvel flexo: o = 1 500 kgf/cm
2
.
Soluo:
a) a = comprimento convertido / taxa de dormentao
a = 1 000 / 1750 = 0,57 m = 57 cm;
b) D = 0,9 . C . b . c D = 0,9 x 0,009 x 20 x 70 = 11,34 tf/cm;
c) = ( 6 . E . I ) / ( D . a
3
) = (6 x 2 100 x 1 610,8) / (11,34 x 57
3
)
= 9,66 (para perfil TR 45);
d) 1 Hiptese: M
max
= [(7 + 8) / 8 . (5 + 2)] . P . C
d
. a
145
M
max
= [(7 + 8 x 9,66) / 8 x (5 + 2 x 9,66)] .P . C
d
.a
M
max
= 0,433 . P . C
d
.a;
2 Hiptese: M
max
= [ / (2 + 3)] . P . C
d
.a
M
max
= [9,66 / (2 + 3 x 9,66)] . P . C
d
.a
M
max
= 0,312 . P . C
d
.a
M
max
> M
max
( adotar o maior momento calculado), assim:
M
max
= M
max
M
max
= 0,433 x 10 tf x 1,3 x 57 cm = 321 tf.cm;
e) o = M
max
/ W = 321 / 205,6 (tab) = 1,56 tf / cm
2
= 1 560 kgf/cm
2
;
Concluso: para as condies dadas, o trilho de perfil TR 45 satisfaz
(no limite), pois 1 560 kgf/cm
2
~ 1 500 kgf/cm
2
.
3.5.6. Tenso no Contato Roda-Trilho
No caso de trfego de trens pesados (trens de minrio), alm da
verificao do trilho flexo, ser necessrio verificar se a tenso no
contato roda-trilho (esforo cortante), no ultrapassa um determinado
limite de tolerncia.
Assim, pelo critrio da AREA, adaptado da expresso de Thomas e
Hersch, temos:
t = (11 750 . P
0,333
) / (R
1
0,271
R
r
) s t
Onde:
- t - esforo cortante (em psi pounds / square inch ou lb/pol
2
);
- P carga dinmica (lb);
- R
o
raio nominal da roda (pol);
- R
1
= (R
r
x R
h
) / (R
h
R
r
);
- R
r
raio de curvatura do boleto;
- R
h
raio da roda na concavidade do friso;
- t - esforo cortante admissvel;
- t = 50 000 psi (3 515 kgf/cm
2
) para roda nova;
- t = 67 500 psi (4 745 kgf/cm
2
) para roda usada.
146
3.6. MTODOS MODERNOS DE CONSTRUO
3.6.1. Introduo
As mquinas pesadas de terraplenagem, a mecnica dos solos
(Geotecnia) e a aerofotogrametria foram introduzidas aps a 2 Guerra
Mundial, dando novas feies a tcnica de construes rodo-
ferrovirias.
A movimentao de cargas cada vez maiores a velocidades tambm
crescentes, impulsionadas pelo desenvolvimento da tecnologia dos
meios de transporte passaram a exigir, progressivamente, mais da via
frrea como um todo, considerando infra e superestrutura j na sua
construo. Assim tambm, posteriormente, nos procedimentos de
manuteno, passaram a determinar que a mesma seja feita de forma
racional e econmica.
3.6.2. Superestrutura Vinculada Infra-Estrutura
Em vista das exigncias tcnicas geradas por grandes cargas e altas
velocidades, as modernas ferrovias exigem infra-estruturas com altos
custos de construo. A qualidade da superestrutura fica assim
dependente da qualidade da infra-estrutura.
Desta forma, para suportar grandes cargas por eixo e altas velocidades,
chega-se, por exemplo, ao ponto de aplicarem-se conceitos inovadores
de projeto que determinam a construo da superestrutura apoiada
sobre uma laje de concreto contnua, na forma de um radier.
Outros mtodos mais avanados, como o chamado Mtodo
Endomtrico, levam em considerao em seus clculos, as cargas
repetidas que ocasionam a fadiga dos solos de fundao e dos aterros.
3.6.3. Influncia dos Tipos de Veculos em Circulao
Os esforos estticos e dinmicos devero ser considerados em funo
dos veculos em circulao (cargas e velocidades).
3.6.4. Elementos Constituintes da Superestrutura Moderna
Considera-se como Superestrutura Moderna aquela construda com
dormentes de concreto, trilhos longos soldados e fixaes elsticas.
147
A utilizao de trilhos longos soldados (TLS), ao invs de trilhos curtos,
com juntas de talas (que um dos pontos fracos da via convencional),
exigncia indispensvel e por isso amplamente adotada,
particularmente, em ferrovias de alta velocidade.
Neste contexto, a soldagem e o posterior transporte dos trilhos (TLS),
at a frente de montagem, so os servios de maior relevncia.
A soldagem dos TLS executada em dois estgios:
1 Estgio Os trilhos so pr-soldados em estaleiro, por processo
eltrico ou oxiacetilnico, em peas de comprimentos entre 150 e 300m;
2 Estgio Na instalao in-situ, as barras pr-soldadas, devem ser
ligadas em ambas as extremidades, aos trilhos adjacentes, por solda de
arco voltaico ou aluminotrmica.
Observao: os trilhos de comprimentos de 150 a 300 m pr-soldados,
so transportados em trens especiais, at o local de instalao.
As vias construdas com trilhos longos soldados, agregam as seguintes
vantagens, sobre as convencionais:
- maior intervalo entre as intervenes de manuteno da via;
- menor destruio dos elementos da via;
- menor oscilao dos carros e maior conforto no rolamento;
- menor produo de rudos e vibraes;
- maior produo para as socadoras de lastro.
Observao:
- As ferrovias para trens de alta velocidade tero sempre elevado custo
de implantao, porm acusam menores despesas durante a sua
manuteno.
3.6.5. Condies Geomtricas
Em ferrovias modernas, para trens de alta velocidade, so previstas
curvas com raios maiores que 3 000 m.
Nestes casos, as condies de transio das curvas devero ser
obedecidas, rigorosamente, em vista dos decorrentes esforos
transversais. Assim sendo, mquinas de correo geomtrica, com
preciso da ordem de dcimos de milmetros, precisaro ser utilizadas.
148
3.6.6. Processos Modernos de Construo
Outra forma de construo da superestrutura ferroviria, tambm
utilizada modernamente, aquela em que se montam as grades de
trilhos e dormentes, principalmente, tratando-se de dormentes de
concreto.
Tais grades so depois transportadas, em veculos especiais at a
frente de construo, onde so lanadas e instaladas com a utilizao
de guindastes, trelias lanadoras ou prticos mveis sob trilhos,
providos de talhas manuais que so usadas para a suspenso e
colocao das grades em seu local definitivo.
Fig. 72 - Sistema Drouard - Matisa(Suia).
Para tramos pr-fabricados de at 24m (Fonte: Togno)
Fig. 73- Prticos para lanamento de via pr-fabricada. (Fonte: Togno)
149
4. CONSERVAO DA VIA
4.1. INTRODUO
A circulao de trens impe s linhas, esforos cuja grandeza funo
das cargas e velocidades das composies.
Estes esforos atuam na infra-estrutura e na superestrutura com
conseqente desgaste no material, fadiga nas fixaes e alteraes no
nivelamento e no alinhamento da via.
Fatores externos, como precipitaes pluviomtricas, deslizamentos de
terra, etc., diminuem a resistncia da via, resultando em modificaes
em suas condies geomtricas.
Para controlar a deteriorao da linha causada por estes e outros
fatores, sistemas e mtodos de conservao de via precisaram ser
desenvolvidos e aperfeioados ao longo do tempo, o que aliado
modernizao do material rodante, vem permitindo velocidades e cargas
por eixo cada vez maiores, sobre a via.
4.2. MANUTENO DA VIA
A manuteno da via permanente, engloba todos os tipos de
intervenes necessrias, para que a via seja mantida em um estado de
integridade, no qual possa cumprir todas as suas funes de forma
eficiente e segura.
A manuteno abrange trs tipos distintos de atividades:
a) Trabalhos de conservao: feitos, em princpio pela prpria
operadora. Os servios mais comuns, na conservao da via
permanente, so:
a.1) limpeza de faixa
a.1.1) roada;
a.1.2) capina manual ou qumica (com utilizao de
herbicidas aplicados, anualmente, com
equipamentos especiais);
a.2) correo de bitola;
a.3) substituio de dormentes;
a.4) requadramento e re-espaamento de dormentes;
a.5) pregao e repregao;
150
a.6) puxamento da linha;
a.7) nivelamento contnuo da linha;
a.8) nivelamento, somente, das juntas;
a.9) construo ou desobstruo de valetas de crista, cortes ou
aterros;
a.10) limpeza e/ou recomposio de lastros;
a.11) substituio de trilhos gastos ou deficientes;
a.11) reparao de cercas;
a.12) reparao dos AMVs;
a.13) reparao, limpeza e pintura de obras de arte (pontes,
pontilhes, viadutos, etc.);
a.14) limpeza de bueiros, valetas e sarjetas;
a.15) ronda da linha.
b) Trabalhos de remodelao: so aqueles cuja execuo no
prpria de conservao ordinria, devido ao seu grande volume;
Exemplos:
- substituio integral de trilhos existentes por outros (novos ou
recuperados);
- recuperao de trilhos existentes, atravs de soldagem e
esmerilhamento, no local;
- correo de juntas deformadas;
- substituio de dormentes, em grande quantidade;
- grandes servios de drenagem da plataforma.
c) Trabalhos de renovao: so, geralmente, executados por firmas
empreiteiras e que devem ser programados, somente, quando o
desgaste ou fadiga do material estejam onerando em demasia, as
despesas de conservao;
4.3. MTODOS DE CONSERVAO DA VIA
Entre todos os mtodos de conservao de vias desenvolvidos, o mais
conhecido, o Mtodo de Conserva Cclica Programada (CCP).
A Conserva Cclica Programada tem por objetivos:
- a racionalizao dos trabalhos;
- obteno de uma superestrutura to perfeita quanto possvel, capaz
de suportar com segurana e eficcia o trfego de composies
velozes e pesadas;
- permitir a circulao dos trens dentro das melhores condies de
conforto;
151
- evitar que determinados componentes ou trechos de linha sejam
submetidos a esforos de fadiga, excessivos, acarretando
degradao rpida e irreversvel dos mesmos.
4.4. ORGANIZAO DA CONSERVA CCLICA PROGRAMADA
A organizao dos trabalhos de CCP baseia-se em certos princpios
gerais, adaptados s caractersticas de cada trecho, dependendo da
Classificao das Linhas, em grupos, sob o ponto de vista da carga
atuante. Assim, os trechos da linha so classificados em funo da
tonelagem mdia bruta diria, transportada:
- 1 Grupo T >120 000 (tf);
- 2 Grupo - 120 000 > T > 70 000;
- 3 Grupo - 70 000 > T > 40 000;
- 4 Grupo - 40 000 > T > 25 000;
- 5 Grupo - 25 000 > T > 12 500;
- 6 Grupo - 12 500 > T > 6 000;
- 7 Grupo - 6 000 > T > 3 000;
- 8 Grupo - 3 000 > T > 1 500;
- 9 Grupo - T < 1 500;
Esta classificao estabelece padres diferenciados relativos via,
dando condies para a distribuio dos recursos financiados, em
funo das reais condies de utilizao das linhas.
4.5. VALOR RELATIVO OU PESO DOS GRUPOS
Com esta classificao, possvel a distribuio de recursos, segundo
um critrio de trfego.
Admite-se que as despesas com manuteno cresam,
proporcionalmente, com o logaritmo de T, sendo assim, suficiente que
escolham-se valores proporcionais aos logaritmos das tonelagens de
cada trecho.
Assim, por exemplo, cada grupo poder ser representado conforme os
seguintes parmetros:
- 1 Grupo 12;
- 2 Grupo - 11;
- 3 Grupo - 09;
- 4 Grupo - 08;
152
- 5 Grupo - 07;
- 6 Grupo - 06;
- 7 Grupo - 05;
- 8 Grupo - 03;
Observaes:
- O parmetro 02 ser reservado para os desvios;
- Os AMVs (aparelhos de mudana de via) sero considerados como
equivalentes a:
- 0,10 km de linha corrente, quando em desvios;
- 0,25 km de linha corrente, quando em linha principal.
- Quando tratar-se de linha mista, todos os coeficientes sero
majorados em 15%.
Como na conservao, consumida importante parcela dos recursos
destinados via permanente, tanto em materiais com em mo de obra
direta, justifica-se a utilizao de critrios de mxima economia, na sua
gesto, com nfase aos trabalhos que sejam indispensveis para
assegurar trfego normal com a carga e a velocidade exigidas.
A substituio de materiais deve se feita em funo de critrios de
manuteno do conforto e da segurana, programando-se a maior
quantidade de tarefas em uma mesma fase de reviso, evitando-se
trabalhos esparsos que sempre se mostram mais onerosos e
demorados.
A mecanizao dos servios da via possibilita a organizao racional
dos trabalhos com melhor qualidade e menos perda de tempo.
A conservao, no mtodo CCP, engloba dois grupos de trabalho:
a) Trabalhos de Reviso Total (RT): um tipo de servio, feito em um
trecho da via, previamente, escolhido. Envolve uma concentrao de
esforos naquele local de modo que o mesmo seja dotado de
condies par suportar o trfego ferrovirio normal, durante um
determinado perodo, chamado de Ciclo de RT;
b) Trabalhos Fora de Reviso Total (FRT): o servio que se faz em
determinado trecho da via, visando dar-lhe mnimas condies de
suportar o trfego ferrovirio com segurana, at que se alcance o
perodo em que o mesmo ser submetido Reviso Total, de acordo
com o ciclo de RT, programado.
153
O mtodo CCP estipula que a totalidade da Turma da Seo ou
Residncia, seja dividida em tantos trechos, quantos forem os anos de
durao do Ciclo de RT.
Observaes:
- Ciclo o nmero de anos compreendidos entre duas revises
totais (RT), consecutivas, no mesmo trecho e que determinado em
funo dos Grupos de Linha;
- Sees devero ser divididas em fraes de mesma extenso, com
nmero igual ao n de ciclos.
A definio do ciclo deve obedecer ao seguinte quadro:
CLASSE DA LINHA GRUPOS CICLOS
DORMENTES DE
MADEIRA
DORMENTES DE
CONCRETO
O1
1 - 2
3 - 4
03 ANOS
O6 ANOS
5 - 6 04 ANOS
02 7 - 8 05 ANOS 08 ANOS
03 9 05 ANOS
Exemplo:
Estabelecer a diviso para um trecho de 240 km, em uma linha de 1
classe, com trfego de 20 000 t/dia, com dormentes de madeira.
Assim, conforme o quadro, teremos para este trecho, ciclos de 4 anos
(grupo 5 6), com sees de 60 km, cada:
ANO 1 SEO 2 SEO 3 SEAO 4 SEO
1 995 RT
1 996 RT
1 997 RT
1 998 RT
1 999 RT
4.6. PROGRAMAO DA CCP
A programao feita com base em prospeces, para a conserva.
Prospeces so levantamentos de dados, para a determinao do
montante de trabalho a ser executado e permitem o clculo da
quantidade de mo de obra (Homens-hora), necessrios para execut-
los e a estimativa das quantidades de materiais a serem fornecidos e a
programao deste fornecimento.
154
As prospeces envolvem AMVs, infra-estrutura e superestrutura da
linha e so feitas pelo Supervisor da Linha, auxiliado pelo Supervisor
Auxiliar e Conservadores de Via Permanente, sendo todos
supervisionados pelo Engenheiro Residente e seu Auxiliar.
Com o conhecimento da natureza e da quantidade dos servios, o
tempo de execuo, determinado com a utilizao do Caderno de
Estudos, onde se relacionam as QUANTIDADES DE SERVIOS por
cdigos e os respectivos COEFICIENTES DE PRODUTUVIDADE
(caderno de encargos).
Pelo produto destes dois fatores, determinada a quantidade de mo de
obra (Homens-hora), necessria para a execuo de cada servio.
Relacionam-se tambm, servios auxiliares e improdutivos (montagens
de andaimes e de acampamentos), bem como os nus decorrentes das
Leis Sociais, de modo a obter-se o total exato de Homens-hora,
necessrios e portanto, o custo total desta campanha.
5. GEOMETRIA DA VIA: CORREO DE GEOMETRIA E
SUPERELEVAO
5.1. INTRODUO
Geometria da Via o traado em planta, o perfil longitudinal e
transversal da via.
O objetivo final da manuteno da Via Permanente, o de assegurar s
linhas uma geometria compatvel com os padres exigidos de conforto e
segurana.
O trfego das composies provoca alteraes e deformaes na
geometria da via sendo, portanto, indispensvel proceder-se a correo
do mesmo.
Atualmente os servios de correo, so feitos em 95% dos casos com
o emprego de mquinas especiais, como por exemplo, a Mquina
Socadora e Alinhadora, (Fig. 75).
Uma mquina como essa, pode trabalhar conforme dois sistemas:
- Sistema Relativo;
- Sistema Absoluto.
155
No primeiro, a mquina trabalha com base nas condies da linha,
reduzindo os erros (Mtodo da Compensao). No Sistema Absoluto, a
mquina ignora as condies da linha e trabalha conforme os dados que
lhe so fornecidos. necessrio ento ter-se conhecimento prvio das
condies da via, quanto ao nivelamento e ao alinhamento.
Fig. 74 Mquina de Correo Geomtrica da Via Frrea. (Fonte: Furtado Neto)
Quanto ao alinhamento, nas curvas feito um levantamento de flechas,
in-loco. Nas tangentes, normalmente, usado um aparelho tico
(teodolito). Esses levantamentos permitem que sejam avaliadas as
condies reais do alinhamento da via tendo como base de comparao
o projeto geomtrico da mesma, para que ento, possam ser efetuadas
as correes necessrias.
Existem mtodos matemticos exatos para a correo de flechas
(Chapellet). So, via de regra, muito complexos e por isso, pouco
utilizados.
Os mtodos prticos so mais simples e mesmo que aproximados so,
perfeitamente, satisfatrios.
5.2. ESTUDO DOS PUXAMENTOS
Princpio dos Trs Pontos o princpio em que se baseia a correo
da curva e conforme o esquema abaixo consiste no seguinte:
O puxamento d, aplicado em um ponto C de uma curva, altera sua
flecha do mesmo comprimento (d), enquanto que as flechas dos arcos
vizinhos variam de (- d /2), ambos no mesmo sentido.
Assim, feitos diversos puxamentos nos pontos de estacas das curvas,
no havendo alterao na sua extenso, nem na posio de suas
tangentes, para que no se modifiquem as condies do traado, a
soma de suas flechas ter que permanecer constante, isto : a soma
156
das flechas no levantamento inicial ser igual soma das flechas aps o
puxamento. Logo:
f = f
C d
C
B D
d / 2
A E
Fig. 75 Esquema ilustrativo do Princpio dos Trs Pontos. (Fonte: Schechtel)
5.3. MTODO DAS FLECHAS PARA CORREO DAS CURVAS
Consiste em marcar no trilho externo da curva, pontos distanciados de
x metros (x = 10 m, em geral), a partir de um ponto da tangente,
prximo do TE. Esta marcao chamada de estaqueamento.
As estacas so numeradas ao longo da curva. Depois, so medidas
fechas em cada um destes pontos com uma corda de uns 20 m. (Utiliza-
se cordel de ao e rgua graduada).
As medidas so registradas em planilha e so tomadas, por
uniformidade, no ponto de bitola (16 mm abaixo do plano de rodagem,
na face interna do boleto).
Em trechos com curvas de raios pequenos (bitola mtrica), emprega-se
corda de 10 m. Se os raios das curvas forem maiores (bitola padro), a
corda ser de 20 m.
157
Fig. 76 Esquema de estaqueamento de uma curva. (Fonte: Brina)
5.4. GRFICO DE FLECHAS LEVANTADAS
As flechas obtidas so plotadas em um grfico. O eixo das abcissas
ser o dos pontos ou estacas marcados na curva. O das ordenadas ser
o das flechas referidas. Sero adotadas escalas compatveis com os
valores dos pontos a serem plotados.
Flechas
Estacas
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fig. 77 Diagrama de Flechas. (Fonte: Brina)
O diagrama terico da curva sem transio seria:
f
f = C
2
/ 8R
e
Fig. 78 Diagrama Terico de Flechas em Curva Sem Transio. (Fonte: Brina)
Digrama
Prtico
158
O diagrama terico de uma curva com transio seria:
f
f = C
2
/ 8R
e
T = TE EC CE T = ET
Fig. 79 Diagrama Terico de Flechas em Curva Com Transio. (Fonte: Brina)
Observaes:
- as retas inclinadas correspondem curva de transio (geralmente
uma espiral);
- os pontos TE, EC, CE e ET, so os chamados pontos de transio
(tangente / espiral; espiral / curva circular; curva circular / espiral;
espiral / tangente).
- os diagramas prticos so um pouco diferentes, tendo em vista que
em T e T, assim como, em EC e CE, as flechas so menores.
5.5. MTODO GRFICO COM CALCULADORES MECNICOS
Existem tambm, aparelhos mecnicos, parecidos com bacos,
baseados no Teorema dos Trs Pontos e que facilitam o processo de
clculo (Curviliner americano; Bienfait suio).
Fig. 80 Calculador BIENFAIT. (Fonte:Brina)
Diagrama
Prtico
159
A operao destes aparelhos , relativamente, simples. Existe um
mostrador com referncias mveis, onde se marcam as flechas. Os
valores das flechas so marcados na escala do prprio aparelho,
movendo-se as referncias mveis. Assim, fica materializado no
mostrador, o diagrama de flechas, deformado (ordenadas).
Em seguida, com os cursores, vai-se modificando o diagrama terico,
com duas retas inclinadas (transio) e um segmento central (circular).
Ao moverem-se os pontos de referncia o aparelho aplica,
automaticamente, o Teorema dos Trs Pontos. Obtido o diagrama
terico, basta ler no aparelho, na direo de cada ponto (estaca), o valor
final do puxamento a ser dado.
Em funo da flecha f = c
2
/ 8R, aps a aproximao ao diagrama ideal
(constante na parte circular), define-se o valor do raio R:
R = 50 000 / f ; ( corda de 20 m);
R = 12 500 / f ; (corda de 10 m).
Conhecidos o raio da curva e os comprimentos de transio,
transformam-se os mesmos em valores de flechas para as mquinas, de
modo que ao executar a correo do traado em planta e logo aps ter
feito um novo levantamento de flechas, estas acusem uma variao
mnima, em relao ao diagrama ideal.
5.6. QUANTO AO NIVELAMENTO
O nivelamento longitudinal feito atravs de nveis topogrficos
convencionais ou atravs de aparelhos ticos de nivelamento. Este
procedimento , em geral, usado nas tangentes.
Nas curvas , geralmente, usada uma rgua graduada, com nvel de
bolha, onde se mede a diferena de nvel de um trilho para outro, o que
caracteriza a superelevao.
Ao levantarem-se as flechas, em geral, tambm so levantadas as
superelevaes respectivas. Ao mesmo tempo em que so calculadas
as novas flechas, calculam-se tambm as superelevaes em cada
estaca, de acordo com o critrio estabelecido.
160
5.7. ESTUDO DA SUPERELEVAO
Como vimos, em uma via frrea, em um plano horizontal, a fora
centrfuga tende a deslocar o veculo no sentido do trilho externo,
causando forte atrito entre ele e os frisos das rodas. Se a F
c
exceder a
certos limites, poder haver o tombamento da composio.
Para compensar o efeito da F
c
, inclina-se a via de um ngulo o,
elevando-se o trilho externo da via atravs da inclinao do dormente,
de modo que se crie uma componente que equilibre a fora centrfuga. A
diferena de altura entre os trilhos, interno e externo, chamada de
superelevao.
5.7.1. Superelevao Terica
Superelevao terica aquela que permitiria equilibrar toda a
acelerao centrfuga (m/s
2
) decorrente do deslocamento de um trem a
uma velocidade v (m/s), em uma curva de raio r (m).
Fig. 81 Esquema de Foras Atuantes em uma Curva. (Fonte: Brina)
Neste esquema, temos:
- P peso do veculo;
- F
c
fora centrfuga [F
c
= m . (v
2
/ r)];
- B distncia de centro a centro de trilhos (B = b + c);
- b bitola (mm);
- c largura do boleto;
- v velocidade, em m/s;
- V velocidade, em km/h;
- r raio da curva, em m;
- R resultante de P e F
c
(normal ao plano dos trilhos);
- G centro de gravidade do veculo.
161
Projetando-se as foras que atuam em G, sobre o eixo xx:
P sen o = F
c
cos o
Como o muito pequeno, cos o = 1 , logo:
P sen o = F
c
mas: sen o = h / B P . h / B = F
c
= m. (v
2
/ r) P = m . g
m. g . (h / B) = m . (v
2
/ r)
h = (B . v
2
) / (g . r) = S
t
Mas, como: g = 9,81 m / s
2
e v = 1 000 V / 3 600 = V / 3,6, logo
S
t
= (B . V
2
) / (9,81 x 3,6
2
x r)
S
t
= (B . V
2
) / 127 . r
Pelas normas da RFFSA, para a bitola mtrica:
S
t
= (8,34 . V
2
) / r
Onde:
- B = 1060 mm
- V em km/h;
- r em m;
- S
t
Superelevao Terica.
5.7.2. Superelevao Prtica
a) Critrio Emprico - Em trechos em que circulam trens com diversas
velocidades, adota-se a superelevao prtica, como segue:
S
p
= 2 / 3 S
t
= 2 / 3 [(8,34 . V
2
) / r]
S
p
= (5,56 . V
2
) / r
Onde:
- V velocidade do trem mais rpido, no trecho;
- S
p
Superelevao Prtica.
162
Observao:
- Se for aplicada a Superelevao Terica (S
t
), usar V, igual
velocidade do trem mais lento.
b) Critrios Racionais
b.1) Critrio de Segurana ou de Estabilidade nas Curvas
Parte da F
c
no equilibrada, mas a estabilidade fica garantida por um
coeficiente de segurana, definido em funo da altura do centro de
gravidade da composio (G), em ralao aos trilhos.
b.2) Critrio do Conforto
a superelevao prtica que dada de modo que a acelerao
centrfuga no cause desconforto aos passageiros.
Assim, a parcela de reduo da superelevao devida acelerao
descompensada ser:
As = (B / g) .
Onde:
- acelerao descompensada
Logo:
S
p
= S
t
- As = S
t
[(B / g) . ]
Observaes:
1) A RFFSA adota, para bitola mtrica, os seguintes valores:
- trens de passageiros: = 0,55 m/s
2
;
- trens de carga vazios: = 0,429 m/s
2
;
- trens de carga carregados: = 0; S
p
= S
t
.
2) Calculada a superelevao pelos dois critrios, para uma
determinada curva de raio r, adota-se o maior dos dois valores
encontrados.
3) As normas brasileiras determinam que a resultante das foras
atuantes nos veculos deve ficar contida no tero mdio da bitola,
tanto para o trem mais rpido, quanto para um veculo parado sobre a
curva.
163
5.7.3. Limites de Superelevao
Pelas normas da RFFSA, a mxima superelevao, ser:
- 160 mm, para bitola larga (1 600 mm);
- 100 mm, para bitola estreita (1 000 mm).
5.7.4. Superelevao nas Curvas de Concordncia
Nas curvas de concordncia a superelevao deveria variar de 0 (zero)
a S, por valores, os menores possveis.
Sendo V, a velocidade em km/h, a variao deve situar-se entre os
seguintes valores (inclusive):
- 1 mm/m e no mximo, 1,5 mm, para V > 100 km/h;
- 1 mm/m e no mximo, 2.0 mm, para 100 km/h > V > 80 km/h;
- 2 mm/m e no mximo, 3,0 mm, para 80 km/h > V > 60 km/h;
- 3 mm/m e no mximo, 4,0 mm, para 60 km/h > V > 40 km/h;
- 4 mm/m, quando V 40 km/h.
Observaes:
- Quando o traado no permitir introduo da curva de concordncia
na extenso necessria, a transio da superelevao deve
estender-se ao trecho em tangente;
- Neste caso a velocidade dever ser V< 60 km/h.
5.7.5. Execuo da Superelevao
A correo da superelevao deve ser precedida, sempre, da correo
de curva com prvio levantamento das flechas, para uma determinada
corda. Admite-se, ser conhecida a curva pelas flechas corrigidas nos
diversos pontos de levantamento.
Quando o puxamento e o nivelamento so executados, a superelevao
dada pela prpria mquina que executa a operao, sendo
fundamental o estabelecimento prvio da velocidade e da extenso da
concordncia.
No caso de ser executada a superelevao automaticamente, por meio
de mquinas, basta que se fornea ao operador o valor de S.
164
5.7.6. Velocidade Limite
a velocidade mxima de trfego em uma curva, estando o veculo
sujeito acelerao descompensada mxima permitida e a curva com
mxima superelevao.
Para o clculo, basta aplicar na frmula da superelevao prtica, o
valor de superelevao mxima. Considerando V
Lim
, a velocidade
limite, temos:
S
max
= [(B . V
2
Lim
) / (g . r)] (B / g) .
V
Lim
= {[(B . + S
max
. g)] . r / B}
1/2
Observaes:
Para a RFFSA
1) Trens de passageiros, bitola mtrica
- = 0,55 m/s
2
e S
max
= 100 mm;
- V
Lim
= 4,37 (r)
1/2
.
2) Trens de carga vazios, bitola mtrica:
- = 0,429 m/s
2
e S
max
= 100 mm;
- V
Lim
= 4,18 (r)
1/2
.
3) Trens carregados, bitola mtrica:
- = 0 m/s
2
e S
max
= 100 mm;
- V
Lim
= 3,46 (r)
1/2
6. ESTAES, PTIOS E TERMINAIS
6.1. INTRODUO
Estaes, ptios e terminais, so instalaes to importantes quanto a
prpria via.
A eficincia de operao da via funo da adequao e funcionalidade
destas estruturas de apoio.
Os terminais so fundamentais na recepo, transbordo e expedio de
cargas e no atendimento ao pblico.
165
Uma grande parte dos custos totais do transportes ferrovirios,
principalmente, de cargas esta vinculado aos terminais, ptios e
estaes.
6.2. CONCEITUAO E CLASSIFICAO
6.2.1. Conceituao
Embora no haja uma ntida diferenciao entre os conceitos de
terminal, ptio e estao, j que todos tm por funo o atendimento
necessidades do sistema de transporte ferrovirio, relativas a recepo
classificao e despacho de cargas e passageiros, pode-se,
didaticamente, conceitu-los como segue:
a) Estao
O termo estao um substantivo com origem no verbo estar que
significa permanecer, ficar. Designa ento uma parada ou paragem, um
local de permanncia. Neste contexto, so instalaes que identificam,
geralmente, uma cidade ou vila ao longo da linha, pelas quais os trens
passam em desvio, diretos, ou parando na plataforma em horrios
determinados.
b) Ptio
O ptio uma parte integrante do terminal, composta por um sistema de
vias, em espao delimitado, destinado formao ou desmembramento
de trens, alm de reparao e abastecimento de combustvel,
lubrificantes, vistorias, etc. no qual, entretanto, a movimentao de
vages ou trens no obedece a horrios, mas a sinais e regras
prescritas ou a instrues especiais.
c) Terminal
Um terminal, em sentido amplo, qualquer ponto da via de transporte
ferrovirio, onde existam equipamentos e instalaes, para: carga e
descarga de mercadorias; baldeao e triagem; armazenamento e
manuteno; reparao e abastecimento dos veculos; embarque e
desembarque de passageiros; sem que seja necessrio, de acordo com
a modalidade a que serve atender a todos estes requisitos.
Os terminais diferenciam-se dos ptios, pela predominncia de maior
movimentao de cargas e descargas, ou ambas.
166
Sua posio no , necessariamente, num ponto final ou numa
extremidade de linha ou ramal. Neste caso a expresso terminal tem o
sentido de predominncia de chagada ou sada de carga.
6.2.2. Classificao
Terminais, ptios e estaes, podem ser classificados segundo dois
critrios:
a) Quanto posio, na via:
- De extremidades;
- Intermedirios.
b) Quanto funo exercida:
- Para passageiros;
- Para mercadorias;
- Para triagem ou classificao;
- Martimos ou porturios.
6.3. ESTAES
O termo Estao est, em geral, relacionado ao transporte,
atendimento e acomodao de passageiros.
6.3.1. Classificao
Por ordem de importncia, as estaes podem ser assim classificadas:
- Abrigos;
- Paradas:
- Estaes do tipo padro;
- Estaes especficas para passageiros;
- Grandes estaes centrais ou terminais;
- Estaes de integrao intermodais.
a) Abrigos
Pequena construo de madeira ou alvenaria, utilizada para paradas
facultativas dos trens de zona rural.
b) Parada
Consiste de uma pequena construo e de um desvio, para atender
pequeno movimento de passageiros e mercadorias e cruzamentos de
trens, em lugares de parada facultativa, em zona rural.
167
c) Estao do Tipo Padro
Possuem, alm de plataforma, um edifcio dotado de sala de espera
com sanitrios para os usurios, locais para bagagem e mercadorias,
e sala para o agente da estao. Dispem de vrios desvios para o
movimento dos trens.
d) Estaes Especficas para Passageiros
So compostas pelo edifcio dotado de toda a infra-estrutura para
receber e atender os passageiros durante o tempo de permanncia.
Observao:
O projeto de estaes de passageiros, embora ligado operao
ferroviria, muito mais um problema da rea da arquitetura do que
de engenharia civil.
6.4. PTIOS
6.4.1. Definio
Correspondem ao conjunto de instalaes ferrovirias e sistemas de
feixes de linhas, onde se processam:
- Fracionamento de composies;
- Formao de composies;
- Recepo, cruzamento e partida de trens;
- Estacionamento de vages e outros veculos;
- Manobras diversas.
6.4.2. Tipos Bsicos de Ptios
a) Ptios de Cruzamentos
So ptios destinados apenas para o cruzamento ou ultrapassagem
de trens.
So compostos de um desvio de comprimento til, suficiente para
conter o trem tipo que circula no trecho.
Poder, alm deste desvio principal, conter outro menor, para
estacionamento de vages e veculos avariados, retirados das
composies.
168
Fig. 82 Ptio de Cruzamento. (Fonte: Brina)
b) Ptios de Triagem
So caracterizados por permitirem operaes de fracionamento ou
formao de composies sendo, normalmente, situados em plos
industriais ou urbanos de grande porte, em entroncamentos de duas
linhas e nos pontos de quebra de trao (mudana do perfil da linha,
final de serra e incio de planalto).
c) Ptios Terminais
So caracterizados por possurem:
- Maior movimento de carga e descarga de mercadorias (Terminais
de Carga);
- Maior movimento de passageiros (Terminais de Passageiros).
6.4.3. Partes Componentes de um Ptio
a) Linhas
As linhas ou vias que compem os ptios e formam os feixes de
linhas, tm caractersticas especficas e podem ser descritas como
segue:
a.1) Linha Principal a linha de melhor traado do ptio, onde os
trens circulam sem que haja necessidade de mudana de direo;
a.2) Linha Secundria a linha que parte da principal, para a qual
so desviados os trens que devem aguardar cruzamento ou
ultrapassagem;
a.3) Linha de Circulao a linha destinada para deslocamento
de veculos e locomotivas de manobras de um extremo ao outro do
ptio;
a.4) Linhas Especficas so aquelas que tm funes bem
definidas nos feixes de linhas que compem os ptios:
- Linha de transferncia de carga;
- Linha de passagem;
- Linha de armazm;
169
- Linha de abastecimento;
- Linha de reparao;
- Linha de estacionamento de trens de socorro;
- Linhas diversas (outras).
b) Haste de Manobra
um segmento de linha, situado no extremo do ptio que serve para
a movimentao da composio ou parte dela, sem interferir em
outras correntes de trfego, garantindo uma elevada flexibilidade
operacional, isto , possibilitando executar vrias manobras,
simultaneamente.
d) Tringulo de Reverso
Aparelho de via usado para efetuar a mudana de sentido, no
deslocamento de um veculo.
e) Giradores
Equipamentos utilizados para girar veculos, instalados em ptios,
onde no possvel a construo de tringulos de reverso por falta
de espao, ou outros motivos.
f) Edifcios Administrativos
So as estaes.
g) Armazns e Barraces
Utilizados para armazenagem de cargas antes, durante e depois das
operaes de transporte.
h) Torre de Comando
Central de controle da via.
i) Iluminao
Instalaes eltricas completas, com cabos, postes, refletores,
transformadores, quadros de comando, rels e chaves que permitem
a operao noturna dos ptios de manobra.
6.4.4. Lay-Out dos Ptios
O lay-out dos ptios caracterizado pelo agrupamento das linhas que
os compem, em feixes de linhas que formam desvios e se prestam a
funes bem especficas. Assim, temos:
170
a) Feixes de Linhas Mltiplos
Ptios de maior importncia, devem possuir diversos feixes de
desvios que sero dispostos de acordo com as necessidades de
cada terminal e para os quais ser dirigida a composio ou suas
fraes, conforme a necessidade especfica do servio:
a.1) Feixe de recepo;
a.2) Feixe de separao (triagem);
a.3) Feixe de classificao (ou de formao);
a.4) Feixe de partida.
Fig. 83 Esquema de Disposio de Ptio Ferrovirio Completo. (Fonte: Brina)
Nesse exemplo, o trem ao ingressar no ptio, entra no feixe de
recepo, onde desligado da locomotiva que segue para a linha de
manuteno ou de reviso. Em seguida a composio fracionada com
utilizao de locomotiva de manobra.
Do feixe de recepo, os vages desligados, so conduzidos para o
feixe de triagem, onde os vages so separados por destino
geogrfico.
No feixe de classificao, completa-se a seleo dos vages,
colocando-os por ordem de destino.
No feixe de partida deve haver um nmero de desvios
correspondentes aos diferentes destinos.
O ptio pode necessitar de linhas independentes de acesso ao parque
de manuteno de locomotivas ou ao estacionamento.
Em ptios de menor importncia, os feixes de triagem e de classificao
podem ser englobados em um nico feixe.
171
b) Feixe de Linha nico
Ptios de pequena intensidade de movimentao so compostos
apenas por um nico feixe, com grande nmero de linhas, divididas,
em:
- Linha de recepo;
- Linha de triagem;
- Linhas de formao e partida;
- Linhas de estacionamento.
6.4.5. Ptio de Classificao por Gravidade
Quando a quantidade de vages a serem classificados elevadssima,
utiliza-se o sistema de classificao por gravidade que composto por
rampa e contra-rampa e localizado entre o ptio de recepo e o de
classificao.
A composio que se quer classificar e fracionar empurrada at a
rampa onde o vago ou grupo de vages so lanados numa contra-
rampa at alcanarem velocidade, dirigindo-se para uma linha pr-
estabelecida do feixe de classificao.
No trajeto entre a rampa e o feixe de classificao, existem dispositivos
retardadores que so conjuntos de frenagem que controlam a
velocidade dos vages que transitam sobre eles imprimindo-lhes, nas
rodas, uma fora retardadora para que os veculos atinjam a
extremidade da linha destinada ou para engatar suavemente os vages
que j estejam nesta linha.
Fig. 84 Esquema de Ptio de Gravidade. (Fonte: Brina)
Nestes ptios, a frenagem controlada por computadores, em funo
de dados fornecidos, tais como:
- Peso do vago;
172
- Extenso a percorrer;
- Velocidade de sada de contra-rampa (medida com radar);
- Condies da superfcie de rolamento dos trilhos (seco, mido).
6.5. TERMINAIS
6.5.1. Descrio e Organizao
Um terminal um conjunto de ptios, plataformas, galpes, vias frreas,
equipamentos para carga e descarga, oficinas, depsitos de
combustveis, de gua, etc., destinado a receber as composies
ferrovirias, para recepo, transbordo e expedio das suas cargas e
atendimento ao pblico usurio do sistema.
Os terminais so organizados visando-se:
- Reduo do tempo de carga e descarga;
- Aumento da produtividade das plataformas de carga e descarga;
- Reduo da ociosidade dos trabalhadores das plataformas;
- Diminuio da ocorrncia de avarias em embalagens e mercadorias;
- Eliminao da possibilidade de extravio de cargas e mercadorias
despachadas;
- Melhoria dos armazns de estocagem;
- Racionalizao da administrao;
- Prestao de atendimento eficiente ao usurio.
Assim, nos terminais ferrovirios:
- Chegam e transitam cargas e passageiros;
- Locomotivas so reabastecidas, lubrificadas e vistoriadas;
- Vages so submetidos triagem;
- Vages so carregados e descarregados
A eficincia de um terminal de cargas mede-se pelo tempo gasto desde
que a unidade de transporte tenha sido colocada no ptio, at o
momento em que aps a descarga no destino ou carga no armazm,
esteja novamente apta para ser recarregada ou re-engatada para seguir
viagem.
6.5.2. Tipos de Terminais
a) Terminais Porturios
- Sistemas onde se conjugam diferentes modais de transporte.
173
b) Terminais Intermodais
- Terminal de Combustvel;
- Terminal de Calcrio;
- Terminal de Minrio;
- Terminal de Contineres;
- Outros.
c) Pera Ferroviria
um sistema muito utilizado em terminais de calcrio, carvo e outros
minrios (granis).
Consiste em uma linha de traado circular em que se situa o dispositivo
de carregamento de composies de trens, em movimento contnuo.
A composio pesada na entrada e na sada, na mesma balana,
situada na entrada da pera.
d) Exemplo de um Terminal Simples de Cargas e Passageiros
Seja, por exemplo, o desenho esquemtico de um terminal ferrovirio,
abaixo representado:
7
P
9
5
A
E
3
1
12 2
11
4
6
8
10
Fig. 85 Esquema de um Terminal Simples de Carga. (Fonte: Schechtel)
Neste esquema, temos:
1 - Via de trfego;
2 - Via de cruzamento e ultrapassagem;
3 - Via de embarque e desembarque de passageiros;
174
4 - Via de formao de trens;
5 - Via de embarque e desembarque de carga armazenada;
6 - Via de formao de trens;
7 - Via de embarque e desembarque de carga direta;
8 Via de estacionamento;
9 - Haste de manobra;
10 - Ramal particular;
11 - Haste de manobras;
12 - Haste de manobras;
A - Armazenagem;
P - reas de estacionamento;
E - Estao de passageiros.
6.6. LOCALIZAO DOS PTIOS E TERMINAIS
Existem pontos de passagem do traado da ferrovia, onde obrigatria
a implantao de um ptio ou um terminal. Assim, so, por exemplo:
- plos geradores de receitas;
- entroncamentos ferrovirios;
- pontos de intermodalidades;
- ncleos habitacionais de importncia.
Outros pontos so tambm indicados pelas reas de estudos
operacionais, em funo da necessidade de capacitar o trecho, vazo
do nmero de trens necessrios para o escoamento do volume previsto
de mercadorias, neste trecho.
Tambm, necessrio prever dentro dos diversos patamares de
demanda futura, a insero de novos ptios de manobra no trecho, uma
vez que a reduo no tempo de percurso entre as estaes uma das
formas para aumento de vazo. Para tanto, o traado nesses locais
dever estar preparado par receber uma linha secundria.
6.7. PROJETOS DE PTIOS E TERMINAIS
6.7.1. Fatores Condicionantes
Embora existam algumas regras gerais para projetos, cada terminal (ou
ptio) representa um problema especial que deve ser resolvido tendo
em vista as condies e situaes locais e especficas.
175
Fig. 86 Ptio de Toronto (Canad). (Fonte: Togno)
Um terminal deve ser projetado de acordo com as necessidades
impostas pelo trfego e para ser eficiente deve contar com:
- Guindastes e prticos ou empilhadeiras, para movimentao das
cargas;
- Silos para carregamento rpido;
- Acessos rodovirios planejados;
- Iluminao projetada para atender o trabalho noturno;
- Sinalizao adequada;
- Sistema eficiente de comunicao com o centro de movimentao de
vages (torre de controle).
176
Diversos fatores tcnicos condicionam o posicionamento de ptios e
terminais. Entre eles, podemos citar:
- Topografia evitar grandes movimentos de terra;
- Geologia evitar afloramentos rochosos, talus e bacias
sedimentares;
- Geotecnia evitar solos compressveis de grande espessura e
extenso que tm um alto custo de remoo e substituio;
- Urbanismo evitar reas que gerem desapropriaes onerosas;
- Hidrologia evitar lugares sujeitos a inundaes ou que necessitem
de obras de drenagem onerosas;
- Planta e Perfil dos Ptios - o ptio dever ser retilneo, tanto quanto
possvel. Em perfil, o ptio dever ser em nvel ou ter, no mximo,
rampas de at 0,25%;
- Drenagem A seo transversal do ptio dever ter inclinao de
3%, para cada lado. Quando for, a seo, muito extensa, dever a
mesma ser dividida em faixas, com os mesmos 3% de inclinao.
Ateno especial dever ser dada s reas onde estaro situados os
AMVs.
6.7.2. Dimensionamento
Para um perfeito dimensionamento das necessidades de um terminal,
necessrio conhecer-se:
- O nmero de trens que chegam e partem, por dia;
- O nmero de veculos, por trem;
- O tempo de permanncia dos vages;
- O tempo de manuteno das locomotivas;
- O tempo de abastecimento das locomotivas.
Um ptio funcional deve ter as seguintes caractersticas:
- A menor movimentao possvel dos vages, sem retrocessos;
- Circulao, at a estao, por linhas externas ao feixe;
- Passagem de um feixe a outro, sem atravessarem-se os feixes
intermedirios.
177
7. MATERIAL RODANTE
7.1. INTRODUO
7.1.1. Definio
Material Rodante Ferrovirio todo e qualquer veculo ferrovirio, capaz
de deslocar-se sobre a via frrea.
7.1.2. Classificao do Material Rodante, em funo de sua
Finalidade Principal
- Material Rodante Ferrovirio:
a) Material de Trao
a.1) Locomotiva;
a.2) Trator de linha;
b) Material de Transporte
b.1) Auto-propulsado:
b.1.1) Auto-motriz;
b.1.2) Carro motor;
b.1.3) Metropolitano;
b.1.4) Auto de linha;
b.1.5) Carro de controle;
b.2) Rebocado:
b.2.1) Carro:
b.2.1.1) de 1 Classe;
b.2.1.2) de 2 Classe;
b.2.1.3) Suburbano;
b.2.1.4) metropolitano;
b.2.1.5) Pullmann;
b.2.1.6) Dormitrio;
b.2.1.7) Bar;
b.2.1.8) Buffet;
b.2.1.9) Restaurante;
b.2.1.10) Administrativo;
b.2.1.11) de Inspeo;
b.2.1.12) Correio;
b.2.1.13) Chefe;
b.2.1.14) Caboose;
b.2.1.15) Controle;
b.2.1.16) Pagador;
178
b.2.2) Vago (ver Anexos):
b.2.2.1) Fechado:
b.2.2.1.1) Carga geral;
b.2.2.1.2) Graneleiro;
b.2.2.1.3) Isotrmico;
b.2.2.1.4) Frigorfico;
b.2.2.1.5) Tanque:
b.2.2.1.5.1) Lquidos;
b.2.2.1.5.2) Pulverulentos;
b.2.2.1.5.3) Gases;
b.2.2.1.5.4) Pastosos;
b.2.2.2) Aberto:
b.2.2.2.1) Plataforma:
b.2.2.2.1.1) Comum;
b.2.2.2.1.2) Cofre de carga;
b.2.2.2.1.3) Automveis;
b.2.2.2.1.4) Piggy-back;
b.2.2.2.2) Gndola:
b.2.2.2.2.1) Caixa fixa;
b.2.2.2.2.2) Caixa basculante.
Resumidamente, o Material Rodante tambm pode ser classificado,
como segue:
a) Locomotivas veculos de trao;
b) Carros veculos para transporte de passageiros;
c) Vages veculos para transporte de carga.
7.2. CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DO MATERIAL RODANTE
a) Forma tronco-cnica das rodas, com friso no aro;
b) Disposio das rodas, em rodados (truques), com dois pares de
rodas paralelas;
c) Ligao rgida das rodas aos eixos;
d) Paralelismo de rodeiros conjugados;
e) Simetria em relao ao eixo (seo transversal).
7.3. PARTES FUNDAMENTAIS DO MATERIAL RODANTE
7.3.1. Rodas
179
a) Dimetro:
- Europa 0,90 s D s 1,0 m;
- Brasil e EUA - 0,74 s D s 0,91 m.
b) Partes Principais:
- Aro;
- Centro ou cubo.
c) Tipo de rodas mais utilizados:
c.1) Roda de ferro fundido coquilhado:
- So empregadas apenas em vages (exceto em vages
tanques ou para transporte de mercadorias perigosas);
- Tm como vantagens: menor preo; grande dureza; maior
coeficiente de atrito com as sapatas dos freios.
c.2) Roda de ao forjado e laminado:
- So utilizadas em locomotivas, carros e vages;
- So fabricadas a partir de um tarugo de ao. (O processo
inclui aquecimentos, prensagens, resfriamentos
controlados, tratamentos trmicos e usinagem).
c.3) Rodas de ao fundido:
- Inventadas para substituir as rodas de ferro fundido
(permitem velocidades e esforos de frenagem maiores);
- Usadas no Brasil, ainda, experimentalmente;
d) Aro:
- a parte da roda que constitui a superfcie de rodagem, sobre o
trilho.
e) Conicidade das rodas:
- As rodas ferrovirias tm forma tronco-cnica, de modo que os
centros dos eixos dos veculos sejam conduzidos pela ao da
gravidade, para o centro da via, evitando o contato permanente entre
frisos e trilhos, diminuindo o desgaste de ambos.
- Nas curvas, o atrito tambm menor;
Observaes:
- Verificou-se, entretanto que com aros cilndricos, o movimento
sinuoso, especialmente dos truques das locomotivas, menor;
- Com aros cilndricos tambm, menor o movimento de lacet;
f) Desgaste e reparao dos aros:
- Os aros deformam-se por desgaste, principalmente, nos frisos;
180
- Em geral, as duas rodas de um eixo so substitudas, aps trs
sucessivos torneamentos (trs vidas);
- A conicidade reduz o efeito de formao de sulcos na superfcie de
rodagem (pelo boleto).
g) Desgaste das rodas e do trilho:
- prefervel adotar a soluo de escolher trilhos mais duros que
causem mais desgaste nas rodas e nos frisos, porquanto, mais fcil
e econmico reparar as rodas do que promover a substituio dos
trilhos;
- O torneamento feito no material rodante, a cada 100 000 km;
- Algumas empresas costumam recompor os frisos das rodas por
soldagem, o que gera grande economia na manuteno;
Fig. 87 Rodas em Corte. (Fonte: Brina)
7.3.2. Eixos
A carga, em geral, apia-se externamente roda, sobre o
prolongamento do eixo.
Num eixo distinguem-se trs partes principais:
- Fuste ou corpo do eixo;
- Sees de calagem das rodas;
181
- Mangas.
Fig. 88 Eixo Ferrovirio. (Fonte: Brina)
a) Dimenses dos eixos:
A forma e as dimenses dos eixos so dadas em funo dos esforos a
que so submetidos, isto :
- Esforos cortantes (cisalhamento);
- Flexes.
TIPO MANGAS PESO BRUTO MXIMO (kgf)
A 3 x 7 30 000
B 4 x 8 47 000
C 5 x 9 64 000
D 5 x 10 80 000
E 6 x 11 100 000
F 6 x 12 119 000
Observaes:
1. Peso bruto mximo carga do vago sobre os trilhos;
2. Carga til peso bruto mximo, menos o peso do vago;
3. Lotao nominal um valor um pouco menor que a carga til (
marcada no vago).
b) Rodeiro:
o conjunto de duas rodas, caladas em um mesmo eixo.
182
Fig. 89 Rodeiro (Fonte: Brina)
As rodas so fixadas ao eixo, por presso, devendo o dimetro do furo,
ser menor que o do eixo.
7.3.3. Mancais
As cargas do material rodante so transmitidas aos eixos atravs dos
mancais. As mangas ficam encerradas dentro de um receptculo,
chamado de caixa do mancal, onde esto acondicionados os mancais,
A Caixa do Mancal composta, por:
a) Caixa;
b) Obturador;
c) Mancal, propriamente dito que pode ser:
c.1) De atrito so de bronze e podem ser de pea nica (sem
metal de anti-frico) ou de duas peas (com superfcie
interior revestida com capa de metal branco) (Fig. 90);
c.2) De rolamento contm rolamentos de esfera. No tm
aplicao muito difundida na indstria ferroviria por ficarem
os mesmos, sujeitos a choques violentos na passagem pelas
juntas, o que causa ruptura nas caixas de rolamentos e
lubrificao (Fig. 91).
Fig. 90 Mancal de atrito (Fonte: Brina)
183
Fig. 91 Mancal de rolamento (Fonte: Brina)
7.3.4. Suspenso
A Suspenso consiste em um sistema de molas interpostas entre a
caixa do mancal e o estrado que suporta a caixa do veculo.
A suspenso pode ser de dois tipos:
- De molas helicoidais ou sem atrito;
- De molas elpticas ou de atrito.
7.3.5. Estrado
a estrutura sobre a qual se assenta a caixa do veculo. Tem a dupla
funo de descarregar sobre as rodas, o peso da carga e transmitir os
esforos de trao e frenagem de um veculo a outro.
7.3.6. Truques
So pequenos veculos giratrios, de pequena base rgida que se
assentam, elasticamente, sobre os rodeiros e recebem o apoio da caixa,
por meio de pivs ou pies.
Cada pio montado sobre uma travessa, no sentido transversal do
veculo (travesso), suspenso, elasticamente, nos extremos.
A diferena entre os truques, para vages e para carros, reside na
flexibilidade dos sistemas de molas.
184
Fig. 92 Truque para Carro de Passageiros. (Fonte: Brina)
7.3.7. Engates Aparelhos de Trao e Choque
Os veculos de um trem transmitem, entre si, esforos de trao ou
compresso, conforme a variao da velocidade durante a marcha.
Para que seus efeitos mtuos se produzam sem choques violentos,
necessrio o emprego de engates elsticos, compostos de um aparelho
para absorver os esforos de trao e um dispositivo par absorver os
esforos de compresso.
necessria a existncia de uma folga nos engates, para haver
transmisso gradual do esforo da locomotiva, aplicado na partida do
trem. Esta folga , em geral, de .
Fig. 93 Aparelhos de engate e choque. (Fonte: Brina)
185
7.3.8. Caixa
A Caixa a chamada estrutura do carro.
O projeto e a construo de um Carro Ferrovirio Moderno, deve levar
em considerao as seguintes condies bsicas:
a) Deve ter a maior resistncia possvel, aos esforos mecnicos, no
s no servio normal, como tambm, em caso de colises,
abalroamentos e descarrilamentos;
b) Deve ter suficiente leveza e fraca resistncia aerodinmica;
c) Deve poder circular silenciosamente, o que exige rigidez nas juntas e
mxima estabilidade em velocidades elevadas;
d) Deve proporcionar economia na implantao e conservao, o que
exige uma construo simples, robusta e durvel e que permita fcil
manuteno;
Observaes:
- Atualmente, no Brasil, todos os carros so de construo metlica,
em geral de ao.
- Esto sendo testadas, tambm, a construo e utilizao de vages
de alumnio.
7.4. LOCOMOTIVAS
7.4.1. Definio
As Locomotivas so os principais veculos tratores das ferrovias,
servindo para a trao de composies de vages e/ou carros de todos
os tipos.
7.4.2. Classificao das Locomotivas
As locomotivas so classificadas, basicamente, segundo dois critrios:
a) Em funo do Motor Primrio
a.1) Locomotivas de Motor Trmico:
i) Locomotivas vapor;
ii) Locomotivas diesel;
iii) Locomotivas termonucleares;
iv) Locomotivas com turbinas gs;
186
v) Locomotivas de turbina vapor, com motor eltrico.
a.2) Locomotivas Eltricas.
b) Em funo de sua Utilizao
b.1) Locomotivas para trens de carga;
b.2) Locomotivas para servios de manobra;
b.3) Locomotivas para trens de passageiros;
b.4) Locomotivas de montanha (de grande peso e fcil inscrio em
curvas);
b.5) Locomotivas de cremalheira.
7.4.3. Locomotivas Diesel
So locomotivas que empregam como motor primrio, um motor diesel
de 2 ou 4 tempos, superalimentado, de alta rotao, ou seja, acima de
1 200 r.p.m., podendo chegar at 3 200 r.p.m., sendo dotadas de um
sistema de transmisso que pode ser mecnico, eltrico ou hidrulico.
Assim, em funo dos sistemas de transmisso podemos ter:
a) Locomotiva Diesel com Transmisso Mecnica:
- As dimenses e complexidade da transmisso aumentam com as
foras a serem transmitidas. Por esta razo, as locomotivas deste
tipo esto limitadas potncias abaixo de 400 Hp.
b) Locomotiva Diesel com Transmisso Hidrulica:
- Neste sistema, o motor diesel aciona uma bomba centrfuga que
aspira leo e injeta sobre as ps de uma turbina, a qual ligada por
meio de engrenagens, correntes, tirantes, etc., aos eixos dos veculos
de modo a transmitir o esforo-motor. O leo ao deixar a turbina,
entra novamente, na bomba, fechando o circuito.
- O rendimento deste tipo de transmisso atinge 85% e permite utilizar
maior potncia, em igualdade de peso, comparado s locomotivas
diesel eltricas.
- As locomotivas hidrulicas podem rebocar trens mais pesados, em
baixas velocidades ou em maiores rampas que as diesel eltricas, j
que as eltricas se superaquecem a velocidades menores que
20 km/h, ao passo que as hidrulicas aceitam velocidades menores
com muito maior fora de trao.
187
- As dieselhidrulicas, so fabricadas com potncias que variam entre
650 hp a 4 500Hp, com motor diesel de 1 500 hp (so empregadas
em trechos montanhosos).
- As velocidades mximas esto entre 100 km/h e 140 km/h, com
maiores foras de trao, entre 15% e 23%, das velocidades
mximas.
- Mquinas de pequeno porte (650 a 1 200 Hp), so ideais para
manobras e as demais para uso geral.
- Segundo Togno (1968), a economia em conservao e manuteno,
lhes to favorvel que de se esperar que as diesel-hidrulicas
substituam as diesel-eltricas, onde as instalaes fixas de
manuteno destas (DE), no tenham recebido grandes
investimentos.
c) Locomotivas Diesel com Transmisso Eltrica (DE):
- Nestas acoplado o motor diesel a um gerador que fornece corrente
para os motores eltricos engrenados nos rodeiros da locomotiva.
- A locomotiva DE , essencialmente, uma locomotiva eltrica com
uma usina geradora auto-contida (porttil).
Fig. 94 Locomotiva Diesel Eltrica. (Fonte: Brina)
188
d) Gerador de Auto-Excitao:
- Controlando-se a corrente de excitao do gerador, regula-se a sada
para a carga imposta aos motores.
e) Sistemas de Partida:
- Como necessrio um torque inicial, j que o motor diesel tem torque
nulo na partida, pode-se recorrer a um motor a gasolina acoplado ao
eixo ou usar bateria eltrica, fazendo o gerador funcionar como um
motor, para aplicar a compresso inicial do motor diesel.
- Diferentemente da locomotiva eltrica que possui disponibilidade
praticamente, ilimitada de potncia, a potncia de uma DE, limitada
pela capacidade do motor diesel.
189
III. ANEXOS
III.1. APARELHO DE MUDANA
DE VIA (Fonte: Semchechem)
190
III.2. TIPOS DE VAGES (Fonte: Furtado Neto)
191
192
III.3. TERMINOLOGIA BSICA
. Tonelada til (tu) total de carga movimentada no transporte
remunerado;
. Tonelada.Quilmetro til (tku) - Unidade de medida
equivalente ao transporte de uma tonelada til distncia de um
quilmetro;
. Tonelada.Quilmetro Bruto (tkb) Unidade de aferio do
trabalho equivalente ao deslocamento de uma tonelada de trem;
. Trem Conjunto de veculos, locomotivas e vages que formam
uma composio ferroviria. Para efeito de circulao, equiparam-
se aos trens as locomotivas e veculos isolados que trafegam nas
linhas frreas;
. Trem de Carga Trens que conduzem vages de cargas,
(animais, mercadorias, veculos, combustveis, etc);
. Trem de Passageiros Trem ferrovirio destinado a
transportes de passageiros;
. Trem.Quilmetro (trem.km) - Unidade de medida que
representa o movimento de um trem, ao longo de um quilmetro.
Apenas se deve considerar a distncia efetivamente percorrida;
. Velocidade Comercial do Trem Velocidade que corresponde
mdia do tempo gasto para percorrer a distncia entre dois
pontos, inclusive o tempo de parada nas estaes intermedirias;
. Velocidade de Percurso ou Marcha Velocidade que atribui
aos trens em movimento;
. Velocidade Mdia dos Trens Relao entre o nmero de
trens-quilmetro e o Nmero de trens-hora, realizados ao mesmo
tempo;
. Velocidade Mdia Comercial Mede a relao entre o trem.km
e o somatrio dos tempos totais, despendidos entre a formao e
o encerramento dos trens na malha;
193
. Velocidade Mdia de Percurso Mede a relao entre o
trem.km e o somatrio dos tempos de marcha;
. Acidente Ferrovirio - Ocorrncia em que coma a participao
direta de veculo ferrovirio, provocado dano a este, a instalao
fixa, a pessoa, animal e/ou outro veculo, etc;
. Trfego Mtuo - a operao em que uma concessionria,
necessitando ultrapassar os limites geogrficos de sua malha para
complementar uma prestao de servio pblico de transporte
ferrovirio, compartilha recursos operacionais, tais como: material
rodante, via permanente, pessoal, servios, e equipamentos, com
a concessionria em cuja malha se dar o prosseguimento ou
encerramento da prestao de servio. Tudo, mediante
remunerao ou compensao financeira;
. Direito de Passagem a operao em que uma
concessionria, mediante remunerao ou compensao
financeira, permite a outra, trafegar na sua malha para dar
prosseguimento, complementar ou encerrar uma prestao de
servio pblico de transporte ferrovirio, utilizando a sua via
permanente e o seu respectivo sistema de licenciamento de trens;
. Transporte Ferrovirio Comercial ou Remunerado
transporte efetuado para terceiros, contra pagamento;
. Transporte Ferrovirio de Servio Transporte executado pela
empresa para responder a necessidades internas quer esse
transporte produza ou no receitas para efeito de controle;
. Vago o veculo destinado ao transporte ferrovirio;
. Locomotiva Veculo ferrovirio que fornece a energia
necessria para por em movimento um trem;
. Carro de Passageiro Veculo ferrovirio destinado para
transporte de passageiros, tendo compartimentos com poltronas
ou leitos, banheiros, refeitrios, espao reservado para bagagens,
volumes, correios, etc;
. Nmero de Passageiros Transportados a quantidade de
passageiros transportados, embarcados ou transitados nos trens
de passageiros da concessionria;
194
. Nmero de Trens Formados a quantidade de trens
formados no transporte ferrovirio, incluindo cargas, passageiros e
servio;
. Passageiro.Quilmetro o trabalho equivalente ao transporte
de um passageiro distncia de um quilmetro;
. Produto Mdio Razo entre a receita operacional lquida e a
quantidade de tonelada.quilmetro til. Representa o valor mdio
da tku;
. Percurso Mdio a relao entre o somatrio do percurso
dos vages prprios, arrendados, alugados e de terceiros na
malha e a frota de vages em trfego;
. Distncia Total Percorrida (km) o somatrio do percurso
de todos os trens formados num determinado perodo;
. Tempo Total em Marcha (trem.hora) o somatrio dos
tempos, em horas, de circulao dos trens na prpria malha e em
outras malhas, descontados os tempos de parada em ptios para
recomposies ou em manobras, no perodo;
. Tempo Total Parado o somatrio dos tempos de parada, em
horas (no inclui trem em formao), de todos os trens formados
no perodo;
. Consumo de Combustvel (litro) a quantidade de
combustvel consumido pela frota de locomotivas utilizada pela
ferrovia para desempenho de suas operaes de transporte;
. Imobilizao Oficina (loco-hora e/ou vago-dia) o
somatrio dos tempos de imobilizao em oficinas, por modelo,
prprio, arrendado, alugado e de terceiros, num determinado
perodo;
. Frota Total em Trfego (operacional) So todas as
locomotivas disposio das concessionrias, sejam elas:
prprias, arrendadas da antiga RFFSA, de clientes, arrendadas de
terceiros, ou mesmo aquelas de outras concessionrias, colocadas
disposio mediante contrato;
195
. Faixa de Domnio - Faixa de terreno de pequena largura em
relao ao comprimento, em que se localizam as vias frreas e
demais instalaes da ferrovia, inclusive os acrscimos
necessrios sua expanso.
You might also like
- Manual de Ferrovias UFPRDocument202 pagesManual de Ferrovias UFPRNumismática OliveiraNo ratings yet
- Manual Didático de FerroviasDocument7 pagesManual Didático de FerroviasAdalberto TavaresNo ratings yet
- Manual Didático de Ferrovias UFPRDocument201 pagesManual Didático de Ferrovias UFPRÍtalo CarlosNo ratings yet
- Manual Didático de Ferrovias - Ufpr 2017Document203 pagesManual Didático de Ferrovias - Ufpr 2017Marcio Fialho100% (6)
- Características geométricas e elementos da via permanente ferroviáriaDocument67 pagesCaracterísticas geométricas e elementos da via permanente ferroviáriaEric Claudino100% (1)
- Manual para análise de viabilidade técnica e socioeconômica de projetos ferroviáriosDocument113 pagesManual para análise de viabilidade técnica e socioeconômica de projetos ferroviáriosjoao batista carvalho fariaNo ratings yet
- Ferro ViasDocument60 pagesFerro ViasMatheus ViniciusNo ratings yet
- Aparelho de Mudança de Via TangencialDocument24 pagesAparelho de Mudança de Via TangencialPlanejamento MediçãoNo ratings yet
- Seleção de Materiais para Trilhos FerroviáriosDocument30 pagesSeleção de Materiais para Trilhos FerroviáriosLiliane Gonçalves100% (1)
- Assentamento da Via FerroviáriaDocument49 pagesAssentamento da Via FerroviáriaMarcos Almeida100% (1)
- Elementos da via permanente ferroviáriaDocument56 pagesElementos da via permanente ferroviáriaigorfernandessNo ratings yet
- Rede Ferroviária FederalDocument8 pagesRede Ferroviária FederalGregory Reidell100% (1)
- ISF-221 - Projeto de Passagem em Nível PDFDocument17 pagesISF-221 - Projeto de Passagem em Nível PDFalex limaNo ratings yet
- Análise Comparativa de Custos Dos Modais Ferroviário e Rodoviário para o Transporte de Cargas Na AmazôniaDocument77 pagesAnálise Comparativa de Custos Dos Modais Ferroviário e Rodoviário para o Transporte de Cargas Na AmazôniaGuilherme Peres dos SantosNo ratings yet
- Telefonia 2017 PDFDocument211 pagesTelefonia 2017 PDFAndré Alexandrino100% (1)
- Vantagens dos trilhos longos soldados (TLS) na redução de juntas e manutenção de viasDocument30 pagesVantagens dos trilhos longos soldados (TLS) na redução de juntas e manutenção de viasNatanyNo ratings yet
- Solda em Trilhos FerroviáriosDocument69 pagesSolda em Trilhos FerroviáriosDoug WilsonNo ratings yet
- Aula 3 - 4 Sublastro e Lastro v5 2020 - 02Document61 pagesAula 3 - 4 Sublastro e Lastro v5 2020 - 02Natany100% (1)
- Desgaste Ondulatório em Caminhos de FerroDocument124 pagesDesgaste Ondulatório em Caminhos de FerrosergioNo ratings yet
- Escolha da bitola para a Linha 4 do Metrô do Rio de JaneiroDocument19 pagesEscolha da bitola para a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiroengeruy100% (1)
- Ferrovias PDFDocument49 pagesFerrovias PDFDavidAlexNo ratings yet
- Descarrilamento ferroviário: causas e análiseDocument14 pagesDescarrilamento ferroviário: causas e análiseKauêNo ratings yet
- Avarias de mangueiras de freio em vagõesDocument31 pagesAvarias de mangueiras de freio em vagõesEdilson AlvesNo ratings yet
- UFRGS sobre pátios ferroviários, triagem e equipamentosDocument40 pagesUFRGS sobre pátios ferroviários, triagem e equipamentosneilorst100% (1)
- Tipos de TrilhosDocument57 pagesTipos de TrilhosHermes RegenioNo ratings yet
- Ferrovias brasileiras: características e tipos de veículos sobre trilhoDocument30 pagesFerrovias brasileiras: características e tipos de veículos sobre trilhopercy f.f100% (1)
- Instalações e aparelhos para direcionar o tráfego ferroviárioDocument14 pagesInstalações e aparelhos para direcionar o tráfego ferroviárioAntónio Maheme100% (2)
- Modal FerroviárioDocument52 pagesModal Ferroviárioeduardotoniol100% (2)
- UFPA-Ferroviária: Tração múltipla e controle automático de potênciaDocument33 pagesUFPA-Ferroviária: Tração múltipla e controle automático de potênciajuliete sarrafNo ratings yet
- Gerador de alternativas para projeto de vagões ferroviáriosDocument68 pagesGerador de alternativas para projeto de vagões ferroviáriosThiago De Lima GontarskiNo ratings yet
- Apostila - Sistema de Controle de Frenagem para Trens MetropolitanoDocument167 pagesApostila - Sistema de Controle de Frenagem para Trens MetropolitanojeffersonNo ratings yet
- TCC AlbertoZambissaTecaPaca Final AssinadoDocument169 pagesTCC AlbertoZambissaTecaPaca Final AssinadoSullivan SantiagoNo ratings yet
- Via permanente ferroviária e seus elementos constituintesDocument99 pagesVia permanente ferroviária e seus elementos constituintesElisa Bernardes100% (1)
- Ferrovias para Voce Construir Frateschi PDFDocument60 pagesFerrovias para Voce Construir Frateschi PDFalienautico100% (2)
- MANUAL DIDATICO DE FERROVIAS 2012 - P01P90 - PRIMEIRA PARTE-2s PDFDocument90 pagesMANUAL DIDATICO DE FERROVIAS 2012 - P01P90 - PRIMEIRA PARTE-2s PDFnonatomartinsNo ratings yet
- WS IHHA - Via Permanente - Jun2012 - Port FinalDocument150 pagesWS IHHA - Via Permanente - Jun2012 - Port FinalRodrigo Franco100% (2)
- Material Rodante FerroviasDocument100 pagesMaterial Rodante FerroviasAislan ScaravattoNo ratings yet
- 3revista Ferroviária 04 2020Document52 pages3revista Ferroviária 04 2020Joao Vitor Fontana Battisti100% (1)
- Investimentos ferroviários nacionaisDocument37 pagesInvestimentos ferroviários nacionaisAl ber13 1No ratings yet
- GPAA - Contratação de Manutenção de Material RodanteDocument18 pagesGPAA - Contratação de Manutenção de Material RodanteezequielruasNo ratings yet
- Treinamento CDVS Revis O3Document203 pagesTreinamento CDVS Revis O3AbraãoRibeiroNo ratings yet
- Ferrovia sem trem: País tem mais da metade da malha declaradamente sem usoDocument84 pagesFerrovia sem trem: País tem mais da metade da malha declaradamente sem usoGiovanni Dias100% (2)
- Dormentes ferroviáriosDocument62 pagesDormentes ferroviáriosBruno Leonardo CostaNo ratings yet
- Curso Valec Secall Rev4Document88 pagesCurso Valec Secall Rev4jsecall100% (2)
- Sistemas Metro-Ferroviários AMVDocument6 pagesSistemas Metro-Ferroviários AMVf_778206304100% (1)
- Infraestrutura Ferroviária - Rev 20-06-2018Document45 pagesInfraestrutura Ferroviária - Rev 20-06-2018Olavo NetoNo ratings yet
- Amv PDFDocument16 pagesAmv PDFmarcelocrqr100% (1)
- Assentamento da linha férreaDocument19 pagesAssentamento da linha férreaElisa Bernardes100% (1)
- Paradas de Trens em Diferentes Inflexões de ViaDocument7 pagesParadas de Trens em Diferentes Inflexões de Viajefferson100% (1)
- Telecom FerroviasDocument3 pagesTelecom FerroviasPaulo FilomenoNo ratings yet
- Sistema Europeu de Sinalização FerroviáriaDocument12 pagesSistema Europeu de Sinalização FerroviáriaAntonio PradoNo ratings yet
- Desgaste em Rodas de Locomotivas Estudo de CasoDocument119 pagesDesgaste em Rodas de Locomotivas Estudo de CasoGuilherme RibeiroNo ratings yet
- Sinalizacao e Controlo de Trafego - Tema 8Document13 pagesSinalizacao e Controlo de Trafego - Tema 8Beloto Minzo100% (1)
- SEP Notas AulaDocument179 pagesSEP Notas AularafaelrqfNo ratings yet
- Projeto Sinalização FerroviáriaDocument6 pagesProjeto Sinalização Ferroviáriajacyaracosta6885No ratings yet
- Classificacao de Vagões - Gdu e GDTDocument11 pagesClassificacao de Vagões - Gdu e GDTJoão Carlos Ferreira MilagresNo ratings yet
- Lançamentos ferroviários de cimento e vagões no BrasilDocument14 pagesLançamentos ferroviários de cimento e vagões no BrasilLeo GirottiNo ratings yet
- Sistema multiporta com controle droop destinado à regeneração de energia em locomotivas diesel-elétricasFrom EverandSistema multiporta com controle droop destinado à regeneração de energia em locomotivas diesel-elétricasNo ratings yet
- Simbologia em SoldagemDocument9 pagesSimbologia em SoldagemevandronscNo ratings yet
- Apostila Corte Oxicorte PDFDocument16 pagesApostila Corte Oxicorte PDFAllan BarencoNo ratings yet
- Trelicas PlanasDocument25 pagesTrelicas PlanasAdilson Ribeiro JuniorNo ratings yet
- Regras para Construção e Classificação de Balsas para Serviço Offshore (2002)Document50 pagesRegras para Construção e Classificação de Balsas para Serviço Offshore (2002)eltioferdi100% (1)
- Pratica SmawDocument9 pagesPratica Smaw北見淳No ratings yet
- Solda em Arco, Tipos deDocument15 pagesSolda em Arco, Tipos devilmar konageski jr100% (1)
- Emendas de Solda CA50Document12 pagesEmendas de Solda CA50rogersampaiocostaNo ratings yet
- Regras para Construção e Classificação de Balsas para Serviço Offshore (2002)Document50 pagesRegras para Construção e Classificação de Balsas para Serviço Offshore (2002)eltioferdi100% (1)
- Patologia Das AlvenariasDocument81 pagesPatologia Das AlvenariasGil Januario ChindaiNo ratings yet
- Apostila Soldagem TubulacoesDocument160 pagesApostila Soldagem Tubulacoesjcscobucci100% (33)
- Processos de SoldagemDocument9 pagesProcessos de SoldagemJulio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- Patologias Causadas Por UmidadeDocument64 pagesPatologias Causadas Por Umidadeclaudiadias100% (1)
- CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SOLDAGEMDocument26 pagesCENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SOLDAGEMMcgregori AndradeNo ratings yet
- Un3-Condutores e EletrodutosDocument19 pagesUn3-Condutores e Eletrodutoscelio_seNo ratings yet
- Dimensionamento e Detalhamento de Armaduras de Um ReservatórioDocument30 pagesDimensionamento e Detalhamento de Armaduras de Um ReservatórioWilly Arzadum0% (1)
- Sinalização temporária em obras e serviços de conservaçãoDocument97 pagesSinalização temporária em obras e serviços de conservaçãoCaribageNo ratings yet
- Aula Mro 02Document29 pagesAula Mro 02Julio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- Es00316 PDFDocument3 pagesEs00316 PDFJulio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- Sinalização Areas EscolaresDocument96 pagesSinalização Areas EscolaresRaul FelipeNo ratings yet
- 01EngTrafego AFDocument32 pages01EngTrafego AFPaulo FerreiraNo ratings yet
- EIV Posto GaleãoDocument18 pagesEIV Posto GaleãoCassiano HerreraNo ratings yet
- Manual Gestao PredialDocument88 pagesManual Gestao PredialEmílio FerroNo ratings yet
- Manual de conservação preventiva para edificaçõesDocument243 pagesManual de conservação preventiva para edificaçõesRAfael Siqueira KramaNo ratings yet
- Volume1Document223 pagesVolume1srggscarelli5148No ratings yet
- Manual ManutencaoDocument31 pagesManual ManutencaoenelireNo ratings yet
- Aula Mro 03Document60 pagesAula Mro 03Julio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- EIV na prática municipalDocument30 pagesEIV na prática municipalJulio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- EIV na prática municipalDocument30 pagesEIV na prática municipalJulio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- Aula Mro 04 Estruturas BlogDocument63 pagesAula Mro 04 Estruturas BlogJosueNo ratings yet
- Aula Mro 01Document20 pagesAula Mro 01Julio Roberto Uszacki JuniorNo ratings yet
- Comparação Teorias Clássica x Relações HumanasDocument13 pagesComparação Teorias Clássica x Relações HumanasWagner CruzNo ratings yet
- Estrutura OrganizacionalDocument21 pagesEstrutura Organizacionaljosmeira100% (1)
- Tese Ana LopesDocument57 pagesTese Ana Lopesfernanda26563No ratings yet
- Usos da fotografia na pesquisa antropológicaDocument4 pagesUsos da fotografia na pesquisa antropológicaHippiasNo ratings yet
- CAM e o processo de manufatura assistida por computadorDocument38 pagesCAM e o processo de manufatura assistida por computadorDaniel Alves de AndradeNo ratings yet
- Retroescavadeira XT870BR-I manual peçasDocument352 pagesRetroescavadeira XT870BR-I manual peçasSISTEMA TRAZ VALOR100% (3)
- Carne HaccpDocument29 pagesCarne HaccpGabriela CruzNo ratings yet
- Arado Baldan ReversivelDocument16 pagesArado Baldan ReversivelGabriel MoreiraNo ratings yet
- Instalando XAMPPDocument9 pagesInstalando XAMPPRóbson ReisNo ratings yet
- A Preparação de Um Projeto de TeseDocument3 pagesA Preparação de Um Projeto de TeseLeandro Wallace MenegoloNo ratings yet
- Manual Piano Digital Casio Privia PX 160Document38 pagesManual Piano Digital Casio Privia PX 160Adelino da Silva100% (2)
- Manual NFSe Santana de ParnaíbaDocument98 pagesManual NFSe Santana de ParnaíbareinaldoNo ratings yet
- Manual Formando Niv Intermedio Plan Org Prod Modulo 2Document206 pagesManual Formando Niv Intermedio Plan Org Prod Modulo 2margareterochaNo ratings yet
- A3 (Artigo) - C. Da Silva PDFDocument13 pagesA3 (Artigo) - C. Da Silva PDFRobsonNo ratings yet
- Técnico Eletrônica EstágioDocument1 pageTécnico Eletrônica EstágioJohn ThompsonNo ratings yet
- Nova cabine melhora conforto e produtividade da linha de tratores TL da New HollandDocument8 pagesNova cabine melhora conforto e produtividade da linha de tratores TL da New HollandDouglas Gomes0% (1)
- Ninjatrader Futures Contract DetailsDocument3 pagesNinjatrader Futures Contract DetailsOsvaldo XavierNo ratings yet
- Introdução à robótica: histórico, tipos e aplicaçõesDocument24 pagesIntrodução à robótica: histórico, tipos e aplicaçõesDiogo Flores100% (1)
- BlueTec5 - Ônibus Mercedes-Benz 07.07.2011Document25 pagesBlueTec5 - Ônibus Mercedes-Benz 07.07.2011martecmec100% (6)
- Nx30xx Manual de UtilizacaoDocument454 pagesNx30xx Manual de UtilizacaoYur CorreaNo ratings yet
- Materiais poliméricos: histórico, definições, classificação e aplicaçõesDocument9 pagesMateriais poliméricos: histórico, definições, classificação e aplicaçõesRodrigo SousaNo ratings yet
- Fator de Enrolamento em Máquinas SíncronasDocument3 pagesFator de Enrolamento em Máquinas SíncronasRoger Halmenschlager da Silva100% (1)
- Decisões de Transporte e LogísticaDocument26 pagesDecisões de Transporte e LogísticabecliaNo ratings yet
- Rede de telecomunicações: estrutura e serviçosDocument230 pagesRede de telecomunicações: estrutura e serviçosAurélio Adolfo Nhancale100% (2)
- Norma CE PDFDocument74 pagesNorma CE PDFGilmar Garcia LopesNo ratings yet
- Literatura de cordel como fonte de informação diversaDocument19 pagesLiteratura de cordel como fonte de informação diversaPamela M SanNo ratings yet
- Análise Crítica de ProjetoDocument5 pagesAnálise Crítica de ProjetorafaelNo ratings yet
- SUPERATDAHDocument17 pagesSUPERATDAHVinicius SiqueiraNo ratings yet
- Resumo Fatura BBDocument1 pageResumo Fatura BBLice RochaNo ratings yet
- Catálogo de Peças para Lancer Maximus 12.000 THDocument102 pagesCatálogo de Peças para Lancer Maximus 12.000 THGabriel ZembraniNo ratings yet